O Sistema-Gr de composição musical baseada nos princípios de variação progressiva e Grundgestalt
|
|
|
- Isabel Carneiro Alencar
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 O Sistema-Gr de composição musical baseada nos princípios de variação progressiva e Grundgestalt Carlos de Lemos Almada (Universidade Federal do Rio de Janeiro) calmada@globo.com Resumo - Este artigo integra um abrangente projeto de pesquisa ligado a processos analíticos e composicionais fundamentados nos princípios da variação progressiva e da Grundgestalt, ambos elaborados por Arnold Schoenberg. Além de uma breve descrição sobre as bases teóricas e as motivações iniciais para a criação da pesquisa, o presente texto examina seu mais recente desdobramento, o Sistema-Gr de composição musical a partir de elementos previamente desenvolvidos em alguns estudos e que se encontram atualmente consolidados. São ainda apresentados dois novos conceitos o coeficiente de similaridade e a curva derivativa como aspectos centrais para a implementação do sistema. Palavras-chave Variação progressiva; Grundgestalt; Composição musical. The Gr-System for musical composition based on the principles of developing variation and Grundgestalt Abstract This paper is part of a broad research project associated to analytical and compositional procedures that are based on the principles of developing variation and Grundgestalt, both elaborated by Arnold Schoenberg. After a brief description of the theoretical fundamentals and motivations for the creation of the project, the present text examines its more recent branch, the Gr-System for musical composition from the elements previously developed in some studies, and which are currently consolidated. Two new concepts the similarity coefficient and the derivative curve are introduced as central aspects for the implementation of the system. Keywords Developing variation; Grundgestalt; Musical composition. Introdução Este artigo insere-se no estágio atual de um projeto de pesquisa por mim coordenado dentro do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que teve início em abril de Tal projeto fundamenta-se nos princípios da variação progressiva (originalmente, developing variation) e da Grundgestalt, que correspondem talvez às principais das muitas contribuições de Arnold Schoenberg ( ) para as teorias da Análise e da Composição musical. Tendo como fase inicial a elaboração de um modelo analítico dedicado ao exame estrutural de obras sob a perspectiva desses dois princípios, o projeto atualmente também encampa abordagens em sentido inverso, ou seja, voltadas para a composição, tomando como fundamentação os elementos conceituais, terminológicos, bem como a simbologia e os diversos recursos gráficos previamente desenvolvidos através de alguns estudos. O presente artigo inicia-se com duas breves seções introdutórias: a primeira delas comenta sucintamente os princípios que fundamentam a pesquisa global e a segunda apresenta os elementos essenciais que compõem o modelo
2 2 analítico referencial que dá origem à abordagem que é aqui focalizada. O corpo principal do estudo é dedicado aos estágios relacionados à elaboração e à consolidação do modelo composicional atualmente denominado Sistema-Gr de composição musical a partir dos conceitos de Grundgestalt e variação progressiva. Constam ainda do artigo comentários sobre as peculiaridades do sistema (em relação ao modelo analítico que lhe deu origem), afinidades com os outros campos do conhecimento, bem como alguns resultados já obtidos, visando sua implementação com a ajuda de ferramentas computacionais. 1. Grundgestalt e variação progressiva Os conceitos teóricos que fundamentam a pesquisa podem ser resumidos como se segue: O princípio da variação progressiva descreve essencialmente o conjunto de procedimentos composicionais empregados na contínua transformação de uma forma primordial (a Grundgestalt), originada da Ideia (die Idee), uma espécie de antevisão pelo compositor de uma peça completa. A Grundgestalt, tal como uma semente, conteria implícito, ao menos no caso idealizado, todo o conteúdo da peça a ser composta. A partir dessa forma arquetípica seriam, assim, derivados motivos, temas e mesmo materiais subordinados e contrastantes. Tal processo de crescimento orgânico que, em suma, consiste em variações sobre variações, é capaz de gerar linhagens consideravelmente extensas e complexas, incluindo formas híbridas (que, por sua vez, frequentemente tornam-se base para novas variações). Embora tenha sido formulado teoricamente por Schoenberg apenas a partir de 1919 (...), o conceito de Grundgestalt certamente já existia em seu pensamento em épocas bem mais remotas, como demonstra a própria produção musical de sua fase tonal. Tal conceito tem como fundamento filosófico a corrente do Organicismo, surgida no séc. XIX (cujas raízes associam-se ao pensamento de Goethe e Darwin). Ambos os princípios foram concebidos e desenvolvidos por Schoenberg a partir de análises de obras de seus reconhecidos mestres, entre outros, Bach, Mozart, Beethoven e, especialmente, Brahms, a quem deve o aperfeiçoamento de várias das técnicas de elaboração em sua própria música. Os diversos desdobramentos relacionados à variação progressiva e à Grundgestalt têm merecido considerável atenção nas últimas décadas e apresentam-se como objeto principal de vários estudos acadêmicos (...). Uma Grundgestalt pode se apresentar, nos casos mais simples, como um bloco monolítico uma única ideia indivisível ou como uma conjunção de componentes distintos. Pode ser ainda um elemento musical concreto (como o que é convencionalmente definido como um motivo) ou ser decomposta em abstrações (uma configuração rítmica, um conjunto de classes de alturas, um acorde etc.) que passam a ser individualmente tratadas como elementos básicos potenciais para derivação. (ALMADA, 2012b, p ) 2. Bases do modelo analítico de Grundgestalt/variação progressiva A concepção do modelo analítico foi motivada pela busca por um método que pudesse tratar a análise de obras concebidas por processos orgânicos, baseados no binômio Grundgestalt/variação progressiva, de maneira suficientemente sistemática, aprofundada e abrangente. Diversos estudos foram realizados a partir do estabelecimento das bases da pesquisa, aperfeiçoando gradualmente o modelo analítico, 1 o que refere-se não apenas à abrangência dos campos de atuação do modelo (em relação a estilo, repertório
3 3 e tipo de abordagem), como a questões conceituais, terminológico-simbólicas e a formulação de recursos gráficos especialmente desenvolvidos para solucionar os diversos problemas enfrentados. Embora por óbvias razões de espaço e foco não seja do escopo do presente artigo apresentar uma descrição detalhada do modelo analítico, é importante comentar alguns de seus principais pontos, especialmente aqueles que representam a fundamentação do Sistema Gr. 2 A premissa sobre a qual é baseada toda a pesquisa, em seus múltiplos desdobramentos, estabelece uma hipótese para o processo composicional associado à interação dos princípios da Grundgestalt e da variação progressiva. De acordo com tal hipótese, haveria dois planos simultâneos de ação para o compositor: um concreto e um abstrato. Sobre o primeiro deles desenvolveriam-se os acontecimentos reais (i.e., representados na partitura) introduzidos pela Grundgestalt. Como uma espécie de universo paralelo, o plano abstrato, atemporal e acessível apenas á mente do compositor, comportaria todo o procedimento derivativo, a partir de abstrações das componentes da semente geradora. Consideram-se dois tipos de domínios essenciais para as abstrações-componentes: intervalar (ou seja, sequências de intervalos, ascendentes e/ou descendentes), formando a categoria contorno intervalar (cti) e rítmico (sequências de durações, incluindo pausas eventuais, constituindo a categoria contorno rítmico, ctr). O domínio cti, por sua vez, pode ser ainda traduzido em dois subdomínios envolvendo classes de alturas: de maneira sequencial (categoria contorno melódico, ctm) ou simultânea (categoria acorde, ac). São tais componentes essenciais que formam a base para as inúmeras transformações subsequentes possíveis (via variação progressiva), cujas resultantes são então recombinadas e inseridas no plano concreto, realizando-se como formas-motivo 3 ou, na terminologia do modelo analítico, formas concretas. O exemplo 1 propõe uma esquematização do que foi acima apresentado. Exemplo nº 1. Esquema gráfico do processo composicional hipotético a partir da interação de Grundgestalt e variação progressiva.
4 4 Outro elemento de grande importância para o modelo é o conjunto de operações de transformação, que correspondem, em suma, aos agentes dos procedimentos de variação progressiva. As operações são como funções matemáticas aplicadas sobre as formas abstraídas (relativas a quaisquer dos domínios ou subdomínios acima descritos), de modo a produzir algum tipo de transformação estrutural. As variantes obtidas, por sua vez, tornam-se matrizes para aplicações recursivas de operações. O processo simula uma progressão de mutações genéticas que (pelo menos, em tese) distanciam-se quanto à similaridade das formas abstratas primordiais que lhes deram origem. É possível, assim, a produção de gerações de formas derivadas abstratas (denominadas Grundgestalten-intermediárias), resultando em linhagens consideravelmente extensas e complexas, porém organizadas hierarquicamente (ver exemplo 2). Exemplo nº2. Esquema gráfico do processo de geração de variantes abstratas (círculos) a partir de uma Grundgestalt (Gr) por variação progressiva, através da aplicação de operações de transformação (linhas), considerando três gerações. Nos estudos analíticos realizados foram catalogadas cerca de três dezenas de operações, classificadas de acordo com os domínios de aplicação e com suas capacidades de provocar modificações estruturais mais ou menos acentuadas. O exemplo 3 apresenta a aplicação de algumas das operações do modelo. 4
5 5 Exemplo nº 3. Alguns casos de aplicação de operações de transformação em formas abstratas: (a) domínio ctr; (b) domínio cti. 3. O modelo composicional como sistema formal: o Sistema-Gr O que é uma conveniente hipótese para a criação da metodologia do modelo analítico torna-se ponto de partida para a definição das estratégias construtivas dentro do modelo composicional. Embora seja firmemente baseado nos elementos conceituais e terminológicos que lhe dão origem, apresenta também estreitas afinidades com as teorias dos sistemas formais e com as gramáticas de re-escrita, 5 tomando de empréstimo diversos de seus termos e conceitos. Isso é especialmente favorável, considerando que a formalização do modelo propicia não apenas sua constituição como um sistema, mas também e principalmente a criação de ferramentas computacionais, um dos objetivos mais prementes do atual estágio da pesquisa. 6 O sistema composicional a partir deste ponto denominado Sistema-Gr (de Grundgestalt) toma como ponto inicial a existência de relações isomórficas entre alguns elementos estruturais musicais (alturas, intervalos e durações) e o conjunto dos números inteiros. A maior vantagem que advém de tal correspondência é permitir que os elementos musicais possam ser isolados e manipulados por intermédio de operações aritméticas. 7 A formalização tem início com as seguintes considerações básicas: I é o conjunto dos números inteiros, I = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...}. i é o conjunto dos intervalos melódicos simples, i I, i = {-11, -10,..., -1, +1, +2,...,+10, +11}, com a unidade correspondendo, isomorficamente, a um semitom e os sinais positivos e negativos a movimentos, respectivamente, ascendentes e descendentes. a é o conjunto das classes de alturas, a I, a = {0, 1, 2,..., 10, 11}, com seus elementos correspondendo, isomorficamente, à convenção adotada pela Teoria dos Conjuntos de Classes de Alturas (Pitch-Set Class Theory): 8 0 = Dó, 1 = Dó#,... d é o conjunto das durações, d = {..., -2, -1, +1, +2,...}, d I, com a unidade correspondendo, isomorficamente, a uma semicolcheia e os sinais negativos a pausas. 9 A partir disso, os domínios e subdomínios dentro do Sistema-Gr podem ser especificados como se segue:
6 6 contorno intervalar (cti): <ab...n>, 10 {a, b,..., n} i. Um elemento importante a se destacar em um cti (bem como nos demais contornos) é sua cardinalidade (c), correspondendo ao número de elementos que o formam. Ex: < >, c=4 (ver exemplo 4). 11 Exemplo nº4. cti < >. contorno rítmico (ctr): <ab...n>, {a, b,..., n} d. Ex: < >, c=5 (exemplo 5). Exemplo nº5. ctr < >. contorno melódico (ctm): <ab...n>, {a, b,..., n} a. Ex: <0629>, c=4 (exemplo 6). Exemplo nº6. ctm <0629>. acorde (ac): [a;b;...;n], {a, b,..., n} a. Para um ac a cardinalidade será sempre unitária, sendo a soma de seus elementos constituintes denominada densidade (d). Ex: [8;0;1;5], 12 c=1, d=4 (exemplo 7). Exemplo nº7. ac [8;0;1;5]. A próxima etapa do processo consiste em estabelecer correspondências entre alguns dos elementos do modelo analítico e a terminologia empregada para sistemas formais. Sendo assim, a Grundgestalt passa a ser denominada o axioma do sistema, identificada pela letra grega. As demais correspondências são as seguintes:
7 7 Grundgestalten-componentes o conjunto dos axiomascomponentes: + = { A, B,...}. Grundgestalten-abstrações o conjunto dos sub-axiomas, identificados pelos domínios referenciais (i para cti, r para ctr): s ={ A -i, A -r, B -i, B -r,...}. Grundgestalten-intermediárias (variantes) o conjunto dos teoremas abstratos: t = {t A1, t A2,..., t B1, t B2,... }. 13 Operações de transformação o conjunto de regras de produção de teoremas abstratos: RP = {p 1, p 2,...}. Formas concretas o conjunto de Teoremas: T={T 1, T 2,...}. São necessárias ainda as seguintes definições: Alfabeto do Sistema-Gr ( ): corresponde ao conjunto que compreende os seguintes constituintes: o axioma, os axiomascomponentes e os Teoremas. 14 Assim, é possível estabelecer que: = {, +, s, T}. O Sistema-Gr é então o par formado pelo alfabeto e o conjunto das regras de produção: <, RP>. 4. Composição no Sistema-Gr O processo composicional no sistema fundamenta-se em dois importantes conceitos: o coeficiente de similaridade e a curva derivativa. 4.1 Coeficiente de similaridade O coeficiente de similaridade (C s ) é um valor centesimal (entre 0,00 e 1,00) que busca medir o grau de semelhança de uma determinada variante produzida (teorema ou Teorema) em relação a um dos sub-axiomas referenciais (intervalar ou rítmico) que, por definição, apresentam C s unitário. Quanto maior for o coeficiente de similaridade mais intensa será a relação de parentesco entre origem e derivante. Em tese, variações mais distantes na linha do tempo (ou seja, no decorrer das gerações de produção dentro do plano abstrato) possuirão coeficientes de similaridade menores do que aquelas mais próximas do ponto inicial, como mostra o exemplo 8. O coeficiente de similaridade funciona, portanto, como uma espécie de identificador de uma forma produzida dentro do sistema. No plano abstrato, a determinação do C s é dependente da comparação entre os contornos da forma resultante (teorema) e da forma referencial (sub-axioma). No caso do subaxioma intervalar, a comparação é feita a partir de dois aspectos: (a) geral, envolvendo o conceito de classe de contorno (MORRIS, 1987) e (b) específico, no qual as direções e quantidades intervalares são consideradas. O exemplo 9 apresenta a comparação entre os contornos de um dado sub-axioma intervalar e os de alguns dos teoremas produzidos.
8 8 Exemplo nº8. Medição de coeficiente de similaridade de duas variantes (gerações 1 e 3), referente ao exemplo 2. Exemplo nº9. Comparação de contornos intervalares entre sub-axioma (a) e quatro teoremas (b-d)..as classes de contorno indicam o perfil básico da topografia intervalar. No caso do ex.9 (cardinalidade 3), há apenas duas classes possíveis (3-1 e 3-2),
9 9 porém com alternativas distintas de orientação (P e I, como indicam os gráficos ao lado das partituras), o que influencia, obviamente, a percepção da similaridade. Um algoritmo desenvolvido empiricamente para o cálculo do C s procura capturar da maneira mais precisa possível tais características, incluindo diferenças entre contornos de mesma classe e especificação (como o que acontece entre as formas (a) e (d) do exemplo 9) e relações de simetria, como inversão estrita (formas (a) e (b)). Os coeficientes de similaridade das variantes resultam de um conjunto de penalidades referentes ao grau de distanciamento que apresenta em relação ao contorno referencial. Os valores resultantes são apresentados no exemplo. 15 Um algoritmo similar é aplicado no domínio rítmico. Os Teoremas, ao serem inseridos no plano concreto, também precisam ser associados a coeficientes de similaridade. Seu cálculo é, no entanto, bem mais simples, resumindo-se a uma média aritmética dos valores C s das formas abstratas (teoremas) envolvidas (ver exemplo 10). Em última instância, os coeficientes de similaridade dos Teoremas é que são de fato relevantes para o Sistema-Gr, pois referem-se a estruturas musicais concretas. A importância dos valores C s dos teoremas (abstratos) reside justamente em propiciar a formação daqueles. Exemplo nº10. Cálculo do coeficiente de similaridade de um Teorema, a partir do processo de recombinação. 4.2 Curva derivativa O conceito de curva derivativa apresenta duas configurações possíveis: como curva de planejamento e como curva de realização (ou analítica). A curva derivativa de planejamento, associada à fase pré-composicional, estabelece, em essência, o comportamento derivativo do material a ser elaborado, em função de uma forma predeterminada. É plotada em um sistema plano definido por dois eixos ortogonais: no eixo das abcissas (x) posiciona-se a linha do tempo, representada pela segmentação formal. No eixo das ordenadas (y) é disposta a escala centesimal do coeficiente de similaridade. São adotados não valores específicos de C s (já que não é possível um grau de tal precisão neste estágio), mas faixas de comportamento, consideravelmente abrangentes: alta similaridade (C s entre 0,75 e 1,00), média similaridade (0,60-0,74), baixa similaridade/baixo contraste (0,40-0,59), médio contraste (0,25-0,39) e alto
10 10 contraste (0,00-0,24). 16 O exemplo 11 apresenta o planejamento derivativo de uma peça hipotética em forma-sonata. Exemplo nº11. Curva derivativa de planejamento. Como se pode observar, a curva básica determina áreas consideravelmente amplas (os retângulos com lados tracejados) dentro das quais se inserirão, na plotagem da curva analítica, as resultantes (ver mais adiante) dos Teoremas atuantes em cada segmento. 17 Percebe-se, portanto, que o comportamento derivativo do material a ser empregado (i.e., suas relações de similaridade e contraste com a origem) é estabelecido a priori pelo Sistema-Gr. Sendo assim, considerando o segmento Exposição, uma resultante que apresente valor C s igual a 0,77, 0,82 ou 0,95, por exemplo, é válida, porém não no caso de um valor 0,61, pois assim ficaria fora dos limites convencionados. Em outros termos, a curva cria condições para a seleção artificial (no sentido biológicoevolutivo) do material a ser empregado, antes mesmo de ele ter sido criado, o que representa um fator característico do sistema. A escolha do material é, portanto, condicionada a um comportamento derivativo pré-estabelecido. Pela configuração da curva é também possível visualizar um perfil abrangente das correlações de similaridade/contraste entre as seções da peça, resultando numa perspectiva global de tal aspecto. Dependendo do detalhamento intencionado para o planejamento formal, comportando segmentação das seções principais, é aconselhável que o planejamento derivativo seja também estendido às subseções delimitadas, aumentando assim seu grau de precisão. O exemplo 12 apresenta o detalhamento formal da seção Exposição do exemplo 11. As subseções resultantes são associadas às especificações dos comportamentos derivativos de seus respectivos conteúdos (os retângulos escuros dentro do retângulo com lados tracejados).
11 11 Exemplo nº12. Detalhamento da seção Exposição da curva derivativa de planejamento do ex.11. A curva de realização retrata o extremo oposto do processo composicional: do conjunto de estruturas musicais produzidas (ou seja, os Teoremas), o compositor a partir de sua experiência, intenções construtivas e de seu senso de forma seleciona aquelas que lhe pareçam as mais adequadas para cada segmento formal pré-estabelecido, tendo, no entanto, como orientação primordial, os comportamentos derivativos determinados a priori pela curva de planejamento. A curva de realização tem como base um sistema de eixos ortogonais semelhante àquele empregado para a curva de planejamento. Distingue-se, no entanto, pelo fato de que o eixo horizontal, além da forma, passa a apresentar também o tempo da peça, em segundos (assume-se que o detalhamento da estrutura formal nesse estágio já permita sua cronometragem). Além disso, o eixo vertical apresenta não mais as faixas de comportamento derivativo, mas a escala C s, em valores absolutos. A curva de realização consiste na plotagem das resultantes derivativas de cada segmento formal sobre o sistema de eixos. Uma resultante é uma linha horizontal que representa em média (não aritmética) todos os Teoremas atuantes em um determinado segmento. Seu cálculo é realizado a partir da fórmula apresentada no exemplo 13, onde R seg é a resultante derivativa de um segmento formal, C s/ti é o coeficiente de similaridade de um Teorema atuante genérico i (T i, considerando-se a atuação de n Teoremas no segmento), d i é a duração (em segundos) de T i.
12 12 Exemplo nº13. Fórmula de cálculo da resultante derivativa de um segmento formal O exemplo 14a ilustra a aplicação da fórmula da resultante, com uma curva de realização hipotética para a subseção introdutória que consta do planejamento do exemplo 12, considerando-se a seleção de sete Teoremas (T 1 -T 7 ), cada qual com suas respectivas durações em segundos (calculadas a partir do andamento estabelecido) e coeficientes de similaridade (exemplo 14b). Como se percebe, a linha resultante insere-se adequadamente no retângulo préestabelecido pelo planejamento para essa subseção. Exemplo nº14. Realização hipotética do planejamento proposto no exemplo 12 para a subseção Introdução : (a) curva analítica; (b) Teoremas atuantes, com respectivos coeficientes de similaridade e durações em segundos; (c) cálculo da resultante (de acordo com a fórmula do exemplo 13). O mesmo processo é então aplicado aos demais segmentos formais, possibilitando a geração da curva derivativa analítica definitiva. O exemplo 15 apresenta uma possível realização, a partir da curva de planejamento (os retângulos cinza correspondem às áreas delimitadas no exemplo 11).
13 13 Exemplo nº15. Uma possível curva derivativa analítica (definitiva) para a peça hipotética considerada (comparar com os exemplos 11, 12 e 14). Conclusões Embora encontre-se ainda em fase de implementação, passível, portanto, de aperfeiçoamentos, o Sistema-Gr apresenta-se como uma das ramificações mais promissoras do projeto de pesquisa como um todo. É importante acrescentar que o sistema está sendo atualmente aplicado como estratégia composicional em disciplina sob minha orientação da grade do curso de Mestrado (área de Composição) do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os resultados obtidos nos trabalhos discentes têm-se mostrado bastante satisfatórios, constituindo um ótimo teste prático dos elementos conceituais desenvolvidos pelo modelo. Acrescente-se que, a despeito do que possa parecer a princípio, o Sistema-Gr é consideravelmente flexível, pois não apresenta coerções composicionais, a não ser a orientação prévia de seleção do comportamento derivativo. A partir disso, o processo de criação transcorre da maneira convencional: o compositor, a cada momento, faz suas escolhas diante das alternativas disponíveis. Ainda que subordinadas aos coeficientes de similaridade, as possibilidades de produção de Teoremas são em tão grande número que as opções tornam-se virtualmente infinitas. Ou seja, as melhores composições serão aquelas que resultarem de escolhas no equilíbrio entre forma e conteúdo, como em qualquer outro sistema.
14 14 Como etapas futuras do projeto, além da constante busca pelo refinamento dos processos quantitativos estabelecidos empiricamente (como, por exemplo, para os cálculos de penalidades visando o estabelecimento dos coeficientes de similaridade dos teoremas) e por tornar o sistema cada vez mais consistente e robusto, duas novas e interessantes perspectivas se vislumbram: (a) a adaptação do método para a composição de música para cinema e para arranjos em música popular (áreas nas quais a extração de variantes de ideias básicas e seu emprego de maneira econômica são especialmente importantes); (b) a pesquisa para a composição integralmente via computador, a partir de um planejamento estabelecido, o que também pode ser associado a pesquisas do campo da inteligência artificial ligada a aspectos musicais, campo este bastante profícuo atualmente. Referências ALMADA, Carlos de L. Simbologia e hereditariedade na formação de uma Grundgestalt: a primeira das Quatro Canções Op.2 de Berg. PerMusi, Belo Horizonte, vol.26, p (no prelo). Aplicações composicionais de um modelo analítico para variação progressiva e Grundgestalt. Opus, Goiânia, v. 18, n. 1, 2012a (no prelo).. A estrutura derivativa e suas contribuições para a análise e para a composição musical. In: ENCONTRO DE MUSICOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO, IV, 2012, Ribeirão Preto. Anais... Ribeirão Preto: EDUSP, 2012b (no prelo).. Derivação temática a partir da Grundgestalt da Sonata para Piano op.1, de Alban Berg. In: II ENCONTRO INTERNACIONAL DE TEORIA E ANÁLISE MUSICAL. Anais... São Paulo: UNESP-USP-UNICAMP, 2011a, p A Variação Progressiva aplicada na geração de ideias temáticas. In: In: II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGIA. Anais... Rio de Janeiro: UFRJ, 2011b (no prelo). BARRETO, Jorge M. Sistemas formais. Texto do curso Teoria da Computação, Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: Acesso em: 7/9/2012. FORTE, Allen. The structure of atonal music. New Haven: Yale University Press, HOFSTADTER, Douglas R. Gödel, Escher, Bach: An eternal golden braid. Nova Iorque: Basic Books, JANOS, Michel. Matemática e natureza. São Paulo: Livraria da Física, LOURENÇO, Bruno F. etal. L-Systems, scores, and evolutionary technics. In: 6 TH SOUND AND MUSIC COMPUTING CONFERENCE. Porto (Portugal), 2009, p McCORMACK, John. Grammar based music composition. Computer Science Department. Monah University, Clayton Victoria (Austrália). Disponível em: Acesso em: 20/8/2012. MORRIS, Robert D. Composition with pitch-classes: A theory of compositional design. New Haven: Yale University Press, 1987.
15 15 PRUSINKIEWICZ, Przemyslaw & LINDENMAYER, Aristid. The algorithmic beauty of plants. Nova Iorque: Springer-Verlag, SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musical. (Eduardo Seicmann, trad.) São Paulo: EDUSP, WORTH, Peter & STEPNEY, Susan. Growing music: musical interpretation of L-System. Department of Computer Science, University of York, Inglaterra. Disponível em: <www-users.cs.york.ac.uk/susan/bib/ss/nonstd/eurogp05.pdf> Acesso em: 15/4/2012 Sobre o autor Carlos Almada é professor adjunto da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), atuando como docente nos níveis de graduação e pós-graduação. É doutor e mestre em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), ambos os cursos com pesquisas voltadas para análises estruturais da Primeira Sinfonia de Câmara op.9, de Arnold Schoenberg. É compositor, com diversas obras apresentadas em edições da Bienal de Música Brasileira Contemporânea, bem como registradas em CD s pela gravadora Ethos Brasil. Atua também na música popular como arranjador, com inúmeros trabalhos gravados recentemente. É pesquisador, com vários artigos publicados em periódicos acadêmicos, tendo apresentado comunicações nos quatro últimos congressos da ANPPOM, a partir de suas pesquisas. É autor dos livros Arranjo (Editora da Unicamp, 2001), A estrutura do choro (Da Fonseca, 2006) e Harmonia funcional (Editora da Unicamp, 2009), bem como coautor de uma série de 12 livros sobre música popular brasileira, publicados entre 1998 e 2010 pela editora americana MelBay. 1 ALMADA (2013, 2012a, 2012b, 2011a e 2011b). 2 Para maiores detalhes sobre a constituição do modelo analítico, ver ALMADA (2012a). 3 Originalmente, motive-forms, termo cunhado por Schoenberg para definir variantes com implicações estruturais (SCHOENBERG, 1991, p.36). 4 Por motivos de simplicidade, são listadas no exemplo apenas operações ditas abrangentes. É possível ainda considerar (principalmente sob a perspectiva do modelo composicional) a existência de operações seletivas (i.e., aquelas aplicadas a apenas um dos elementos de uma forma abstrata referencial), a partir de regras pré-determinadas, sejam elas baseadas em probabilidade ou em condições contextuais. 5 Para sistemas formais, ver HOFSTADTER (1999) e BARRETO (2012). Para processos de reescrita a partir de gramáticas construídas com a aplicação de algoritmos (como nos sistemas- L), ver PRUSINKIEWICZ & LINDENMAYER (1996), JANOS (2009), LOURENÇO (2009), McCORMACK (2012) e WORTH & STEPNEY (2012). 6 Um software para produção de variantes a partir de uma dada Grundgestalt está atualmente em fase de testes e será tema de um artigo futuro. 7 É preciso dizer, no entanto, que tal isomorfismo também faz parte da constituição do modelo analítico, contudo, com finalidades puramente descritivas, prescindindo do processo de formalização, a seguir descrito. Acrescente-se que, em relação ao original, algumas modificações foram realizadas, resultantes de refinamentos efetuados. 8 Ver FORTE (1973).
16 16 9 Observe-se que, por definição, o número zero não faz parte dos conjuntos i e d, pelo fato de ser inconcebível a existência intervalos ou durações nulos. 10 Os colchetes angulados < > indicam que os elementos neles formam um conjunto ordenado. 11 Observe-se que a cardinalidade c de um cti corresponde a um número c+1 de alturas, já que a medida de um intervalo pressupõe um ponto inicial. Este fato implica a necessidade de tradução de cti s em ctm s (cuja cardinalidade é igual ao número de elementos), de modo que possa existir compatibilidade na recombinação com contornos rítmicos (ctr s). 12 Os colchetes [ ] e a separação dos elementos por ponto-e-vírgula indicam simultaneidade. Por convenção, adota-se na notação o sentido esquerda-direita como correspondência isomórfica para grave-agudo. Observe-se ainda que para a correta construção dos subdomínios ctm e ac é necessário levar-se em conta as direções intervalares determinadas pelo cti referencial, ao qual estão subordinados. 13 Uma importante distinção que surge entre o Sistema-Gr e o modelo analítico que lhe deu origem é o fato de que a precisa identificação da geração na qual foi produzido a variante (ou teorema abstrato, no caso do sistema), imprescindível na análise derivativa, passa a ser irrelevante, pois os teoremas abstratos são apenas elementos transitórios no processo, como ficará evidente mais adiante. 14 Tanto os sub-axiomas quanto os teoremas abstratos ficam de fora do alfabeto, por consistirem em um mero estágio intermediário (dentro do plano abstrato) para a produção dos Teoremas definitivos (formas concretas). 15 Por motivo de simplicidade, o detalhamento do algoritmo não é aqui apresentado. É importante acrescentar que, tendo sido obtido pelo método empírico de tentativa e erro, o processo ainda não está consolidado, sendo, portanto, passível de aperfeiçoamentos, em busca da minimização de discrepâncias e incongruências de resultados. 16 Valores obtidos empiricamente. A rigor, os extremos deveriam ser excluídos das faixas, pois são reservados para situações bem específicas: identidade (C s =1,00) e contraste absoluto (0,00). 17 Pode-se, na verdade, considerar que as alturas dos retângulos são diretamente proporcionais às extensões formais a quais estão associados: quanto menor for o território a ser coberto, mais estreita deve ser a faixa de similaridade planejada.
Ciclo Hápticos 1. Para Quinteto de Sopros. Jorge Luiz de Lima Santos 2. Universidade Estadual de Campinas (Brasil)
 Ciclo Hápticos 1 Para Quinteto de Sopros Jorge Luiz de Lima Santos 2 Universidade Estadual de Campinas (Brasil) Resumo: Memorial e partitura de Ciclo Hápticos, escrita em 2014 para quinteto de sopros.
Ciclo Hápticos 1 Para Quinteto de Sopros Jorge Luiz de Lima Santos 2 Universidade Estadual de Campinas (Brasil) Resumo: Memorial e partitura de Ciclo Hápticos, escrita em 2014 para quinteto de sopros.
Como Modelar com UML 2
 Ricardo Pereira e Silva Como Modelar com UML 2 Visual Books Sumário Prefácio... 13 1 Introdução à Modelagem Orientada a Objetos... 17 1.1 Análise e Projeto Orientados a Objetos... 18 1.2 Requisitos para
Ricardo Pereira e Silva Como Modelar com UML 2 Visual Books Sumário Prefácio... 13 1 Introdução à Modelagem Orientada a Objetos... 17 1.1 Análise e Projeto Orientados a Objetos... 18 1.2 Requisitos para
Codex Troano: análise particional e principais gestos composicionais
 Codex Troano: análise particional e principais gestos composicionais MODALIDADE: COMUNICAÇÃO André Codeço dos Santos andrecdoeco@gmail.com Pauxy Gentil-Nunes pauxygnunes@gmail.com Resumo: Codex Troano
Codex Troano: análise particional e principais gestos composicionais MODALIDADE: COMUNICAÇÃO André Codeço dos Santos andrecdoeco@gmail.com Pauxy Gentil-Nunes pauxygnunes@gmail.com Resumo: Codex Troano
4 TEORIA MATEMÁTICA DA COMUNICAÇÃO DE SHANNON
 4 TEORIA MATEMÁTICA DA COMUNICAÇÃO DE SHANNON A Teoria Matemática da Comunicação, ou Teoria da Comunicação de Shannon foi proposta por Claude Shannon no final da década de 1940 como forma de sistematizar
4 TEORIA MATEMÁTICA DA COMUNICAÇÃO DE SHANNON A Teoria Matemática da Comunicação, ou Teoria da Comunicação de Shannon foi proposta por Claude Shannon no final da década de 1940 como forma de sistematizar
A RESPEITO DAS MATRIZES DE DESEMPENHO PERFORMANCE DECISÃO
 Prof. Dr. Khaled Ghoubar A RESPEITO DAS MATRIZES DE DESEMPENHO PERFORMANCE DECISÃO 1. A matriz direta de desempenho, para a seleção de um determinado objeto; 2. A matriz inversa de desempenho, para a identificação
Prof. Dr. Khaled Ghoubar A RESPEITO DAS MATRIZES DE DESEMPENHO PERFORMANCE DECISÃO 1. A matriz direta de desempenho, para a seleção de um determinado objeto; 2. A matriz inversa de desempenho, para a identificação
Revisão Bibliográfica
 Revisão Bibliográfica Ricardo de Almeida Falbo Metodologia de Pesquisa Departamento de Informática Universidade Federal do Espírito Santo Agenda Por onde começar? A Leitura e seu Registro Sistematizando
Revisão Bibliográfica Ricardo de Almeida Falbo Metodologia de Pesquisa Departamento de Informática Universidade Federal do Espírito Santo Agenda Por onde começar? A Leitura e seu Registro Sistematizando
Geometria Analítica. Geometria Analítica 28/08/2012
 Prof. Luiz Antonio do Nascimento luiz.anascimento@sp.senac.br www.lnascimento.com.br Conjuntos Propriedades das operações de adição e multiplicação: Propriedade comutativa: Adição a + b = b + a Multiplicação
Prof. Luiz Antonio do Nascimento luiz.anascimento@sp.senac.br www.lnascimento.com.br Conjuntos Propriedades das operações de adição e multiplicação: Propriedade comutativa: Adição a + b = b + a Multiplicação
Figura 9.1: Corpo que pode ser simplificado pelo estado plano de tensões (a), estado de tensões no interior do corpo (b).
 9 ESTADO PLANO DE TENSÕES E DEFORMAÇÕES As tensões e deformações em um ponto, no interior de um corpo no espaço tridimensional referenciado por um sistema cartesiano de coordenadas, consistem de três componentes
9 ESTADO PLANO DE TENSÕES E DEFORMAÇÕES As tensões e deformações em um ponto, no interior de um corpo no espaço tridimensional referenciado por um sistema cartesiano de coordenadas, consistem de três componentes
Este Fundamentos de Microeconomia é um texto cuidadosamente elaborado por professores com muitos anos de experiência no ensino de graduação
 PREFÁCIO A Economia é definida, em muitos livros, como a ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem utilizar recursos escassos para produzir bens e serviços, e como distribuir esta
PREFÁCIO A Economia é definida, em muitos livros, como a ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem utilizar recursos escassos para produzir bens e serviços, e como distribuir esta
Exemplo 13 figuras de tempo e suas relações básicas.
 3. FIGURAS DE TEMPO, PAUSAS Figuras de tempo: são usadas para representar as durações das notas. Assim como a representação das notas dentro da pauta, a representação das durações das notas são relativas,
3. FIGURAS DE TEMPO, PAUSAS Figuras de tempo: são usadas para representar as durações das notas. Assim como a representação das notas dentro da pauta, a representação das durações das notas são relativas,
MODELAGEM E SIMULAÇÃO
 MODELAGEM E SIMULAÇÃO Professor: Dr. Edwin B. Mitacc Meza edwin@engenharia-puro.com.br www.engenharia-puro.com.br/edwin Análise da Decisão Pela própria natureza da vida, todos nós devemos continuamente
MODELAGEM E SIMULAÇÃO Professor: Dr. Edwin B. Mitacc Meza edwin@engenharia-puro.com.br www.engenharia-puro.com.br/edwin Análise da Decisão Pela própria natureza da vida, todos nós devemos continuamente
MATA60 BANCO DE DADOS Aula 3- Modelo de Entidades e Relacionamentos. Prof. Daniela Barreiro Claro
 MATA60 BANCO DE DADOS Aula 3- Modelo de Entidades e Relacionamentos Prof. Daniela Barreiro Claro Agenda Modelo de Dados MER 2 de X; X=37 Modelo de Dados O Modelo de Dados é a principal ferramenta que fornece
MATA60 BANCO DE DADOS Aula 3- Modelo de Entidades e Relacionamentos Prof. Daniela Barreiro Claro Agenda Modelo de Dados MER 2 de X; X=37 Modelo de Dados O Modelo de Dados é a principal ferramenta que fornece
Unidade 2 Conceito de Funções
 Unidade 2 Conceito de Funções Conceito Sistema Cartesiano Ortogonal Estudo do domínio, contradomínio e imagem de função Representações de funções por meio de tabelas, gráficos e fórmulas Conceito de Função
Unidade 2 Conceito de Funções Conceito Sistema Cartesiano Ortogonal Estudo do domínio, contradomínio e imagem de função Representações de funções por meio de tabelas, gráficos e fórmulas Conceito de Função
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS
 Manual para a elaboração do TCC em formato Monografia Curso de Publicidade e Propaganda 1º/2015. Monografia: disposições gerais Monografia é uma das alternativas oferecidas pela UPM como Trabalho de Conclusão
Manual para a elaboração do TCC em formato Monografia Curso de Publicidade e Propaganda 1º/2015. Monografia: disposições gerais Monografia é uma das alternativas oferecidas pela UPM como Trabalho de Conclusão
Compressão de Imagens Usando Wavelets: Uma Solução WEB para a Codificação EZW Utilizando JAVA. Utilizando JAVA. TCC - Monografia
 Compressão de Imagens Usando Wavelets: Uma Solução WEB para a Codificação EZW Utilizando JAVA TCC - Monografia Wanderson Câmara dos Santos Orientador : Prof. Dr. Luiz Felipe de Queiroz Silveira 1 Departamento
Compressão de Imagens Usando Wavelets: Uma Solução WEB para a Codificação EZW Utilizando JAVA TCC - Monografia Wanderson Câmara dos Santos Orientador : Prof. Dr. Luiz Felipe de Queiroz Silveira 1 Departamento
CUFSA - FAFIL Graduação em Matemática TRIGONOMETRIA (Resumo Teórico)
 1 INTRODUÇÃO CUFSA - FAFIL Graduação em Matemática TRIGONOMETRIA (Resumo Teórico) ARCOS: Dados dois pontos A e B de uma circunferência, definimos Arco AB a qualquer uma das partes desta circunferência
1 INTRODUÇÃO CUFSA - FAFIL Graduação em Matemática TRIGONOMETRIA (Resumo Teórico) ARCOS: Dados dois pontos A e B de uma circunferência, definimos Arco AB a qualquer uma das partes desta circunferência
Curso de linguagem matemática Professor Renato Tião. Relações X Funções Considere a equação x + y = 5.
 Relações X Funções Considere a equação + =. Embora esta equação tenha duas variáveis, ela possui um número finito de soluções naturais. O conjunto solução desta equação, no universo dos números naturais,
Relações X Funções Considere a equação + =. Embora esta equação tenha duas variáveis, ela possui um número finito de soluções naturais. O conjunto solução desta equação, no universo dos números naturais,
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS ESCOLA DE ARQUIVOLOGIA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS ESCOLA DE ARQUIVOLOGIA MANUAL DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 TCC2 Direção da Escola de Arquivologia Coordenação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS ESCOLA DE ARQUIVOLOGIA MANUAL DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 TCC2 Direção da Escola de Arquivologia Coordenação
Desenvolvimento de programas. Análise do problema. Análise do problema. Análise do problema. Desenvolvimento do algoritmo. Codificação do programa
 Desenvolvimento de programas 1 Análise do problema Desenvolvimento do algoritmo Codificação do programa Compilação e execução Teste e depuração Análise do problema 2 Conhecer exatamente o que o problema
Desenvolvimento de programas 1 Análise do problema Desenvolvimento do algoritmo Codificação do programa Compilação e execução Teste e depuração Análise do problema 2 Conhecer exatamente o que o problema
Curso de Geomática Aula 2. Prof. Dr. Irineu da Silva EESC-USP
 Curso de Geomática Aula Prof. Dr. Irineu da Silva EESC-USP Sistemas de Coordenadas Determinar a posição de um ponto, em Geomática, significa calcular as suas coordenadas. Calcular as coordenadas de um
Curso de Geomática Aula Prof. Dr. Irineu da Silva EESC-USP Sistemas de Coordenadas Determinar a posição de um ponto, em Geomática, significa calcular as suas coordenadas. Calcular as coordenadas de um
Matemática tica Discreta Módulo Extra (2)
 Universidade Federal do Vale do São Francisco Curso de Engenharia da Computação Matemática tica Discreta Módulo Extra (2) Prof. Jorge Cavalcanti jorge.cavalcanti@univasf.edu.br - www.univasf.edu.br/~jorge.cavalcanti
Universidade Federal do Vale do São Francisco Curso de Engenharia da Computação Matemática tica Discreta Módulo Extra (2) Prof. Jorge Cavalcanti jorge.cavalcanti@univasf.edu.br - www.univasf.edu.br/~jorge.cavalcanti
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / PUC-Rio Departamento de Engenharia Mecânica. ENG1705 Dinâmica de Corpos Rígidos.
 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / PUC-Rio Departamento de Engenharia Mecânica ENG1705 Dinâmica de Corpos Rígidos (Período: 2016.1) Notas de Aula Capítulo 1: VETORES Ivan Menezes ivan@puc-rio.br
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / PUC-Rio Departamento de Engenharia Mecânica ENG1705 Dinâmica de Corpos Rígidos (Período: 2016.1) Notas de Aula Capítulo 1: VETORES Ivan Menezes ivan@puc-rio.br
Utilização de Algoritmos Genéticos para Otimização de Altura de Coluna da Matriz de Rigidez em Perfil no Método dos Elementos Finitos
 Utilização de Algoritmos Genéticos para Otimização de Altura de Coluna da Matriz de Rigidez em Perfil no Método dos Elementos Finitos André Luiz Ferreira Pinto Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Utilização de Algoritmos Genéticos para Otimização de Altura de Coluna da Matriz de Rigidez em Perfil no Método dos Elementos Finitos André Luiz Ferreira Pinto Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Modelo Geral do SIG 18/11/2014. Componentes, condicionantes, níveis de influência e abrangência do SIG
 Prof. William C. Rodrigues Copyright 2014. Todos direitos reservados. Componentes, condicionantes, níveis de influência e abrangência do SIG Modelo Geral do SIG Planejamentos Fator Humano SIG Estrutura
Prof. William C. Rodrigues Copyright 2014. Todos direitos reservados. Componentes, condicionantes, níveis de influência e abrangência do SIG Modelo Geral do SIG Planejamentos Fator Humano SIG Estrutura
Fundamentos de Teste de Software
 Núcleo de Excelência em Testes de Sistemas Fundamentos de Teste de Software Módulo 1- Visão Geral de Testes de Software Aula 2 Estrutura para o Teste de Software SUMÁRIO 1. Introdução... 3 2. Vertentes
Núcleo de Excelência em Testes de Sistemas Fundamentos de Teste de Software Módulo 1- Visão Geral de Testes de Software Aula 2 Estrutura para o Teste de Software SUMÁRIO 1. Introdução... 3 2. Vertentes
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, Editora Atlas, 2002....
 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, Editora Atlas, 2002.... 1 Como encaminhar uma Pesquisa? A pesquisa é um projeto racional e sistemático com objetivo de proporcionar respostas
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, Editora Atlas, 2002.... 1 Como encaminhar uma Pesquisa? A pesquisa é um projeto racional e sistemático com objetivo de proporcionar respostas
Gestão Estratégica da Qualidade
 UNIVERSIDADE DE SOROCABA Curso Gestão da Qualidade Gestão Estratégica da Qualidade Professora: Esp. Débora Ferreira de Oliveira Aula 2 16/08 Objetivo: relembrar o que foi dado, tirar possíveis dúvidas
UNIVERSIDADE DE SOROCABA Curso Gestão da Qualidade Gestão Estratégica da Qualidade Professora: Esp. Débora Ferreira de Oliveira Aula 2 16/08 Objetivo: relembrar o que foi dado, tirar possíveis dúvidas
SISTEMA DECIMAL. No sistema decimal o símbolo 0 (zero) posicionado à direita implica em multiplicar a grandeza pela base, ou seja, por 10 (dez).
 SISTEMA DECIMAL 1. Classificação dos números decimais O sistema decimal é um sistema de numeração de posição que utiliza a base dez. Os dez algarismos indo-arábicos - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - servem para
SISTEMA DECIMAL 1. Classificação dos números decimais O sistema decimal é um sistema de numeração de posição que utiliza a base dez. Os dez algarismos indo-arábicos - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - servem para
UNIP Ciência da Computação AES Análise Essencial de Sistemas MER (Modelo Entidade Relacionamento)
 MER (Modelo Entidade Relacionamento) O Modelo Entidade Relacionamento é uma ferramenta para modelagem de dados, utilizada durante a modelagem do projeto conceitual de banco de dados. A utilização do MER
MER (Modelo Entidade Relacionamento) O Modelo Entidade Relacionamento é uma ferramenta para modelagem de dados, utilizada durante a modelagem do projeto conceitual de banco de dados. A utilização do MER
ABORDAGEM DAS FUNÇÕES EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA NUMA PESPECTIVA CONCEITUAL E GRÁFICA NO ENSINO MÉDIO
 APÊNDICE 106 107 APÊNDICE A (ATIVIDADES REFORMULADAS) - CADERNO DE ATIVIDADES INVESTIGATIVAS ABORDAGEM DAS FUNÇÕES EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA NUMA PESPECTIVA CONCEITUAL E GRÁFICA NO ENSINO MÉDIO Mestrando:
APÊNDICE 106 107 APÊNDICE A (ATIVIDADES REFORMULADAS) - CADERNO DE ATIVIDADES INVESTIGATIVAS ABORDAGEM DAS FUNÇÕES EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA NUMA PESPECTIVA CONCEITUAL E GRÁFICA NO ENSINO MÉDIO Mestrando:
GERENCIAMENTO DE PROJETOS. Prof. Glauco Carvalho
 GERENCIAMENTO DE PROJETOS Prof. Glauco Carvalho 1. Gerência da integração do Projeto Processos: Possui 6 processos: Gerenciamento da integração do Projeto 1. Desenvolvimento do Termo de Abertura 2. Desenvolvimento
GERENCIAMENTO DE PROJETOS Prof. Glauco Carvalho 1. Gerência da integração do Projeto Processos: Possui 6 processos: Gerenciamento da integração do Projeto 1. Desenvolvimento do Termo de Abertura 2. Desenvolvimento
Informática. Banco de Dados Relacional. Professor Julio Alves.
 Informática Banco de Dados Relacional Professor Julio Alves www.acasadoconcurseiro.com.br Informática 1. BANCOS DE DADOS RELACIONAL Um BD relacional possui apenas um tipo de construção, a tabela. Uma
Informática Banco de Dados Relacional Professor Julio Alves www.acasadoconcurseiro.com.br Informática 1. BANCOS DE DADOS RELACIONAL Um BD relacional possui apenas um tipo de construção, a tabela. Uma
Introdução a Teste de Software
 Universidade Católica de Pelotas Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Disciplina de Qualidade de Software Introdução a Teste de Software Prof. Luthiano Venecian 1 Conceitos Teste de software
Universidade Católica de Pelotas Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Disciplina de Qualidade de Software Introdução a Teste de Software Prof. Luthiano Venecian 1 Conceitos Teste de software
Simulado 1 Matemática IME Soluções Propostas
 Simulado 1 Matemática IME 2012 Soluções Propostas 1 Para 0, temos: para cada um dos elementos de, valores possíveis em (não precisam ser distintos entre si, apenas precisam ser pertencentes a, pois não
Simulado 1 Matemática IME 2012 Soluções Propostas 1 Para 0, temos: para cada um dos elementos de, valores possíveis em (não precisam ser distintos entre si, apenas precisam ser pertencentes a, pois não
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2016 PROVA DE HABILIDADE ESPECÍFICA CURSO DE MÚSICA. Assinatura: PROVA COLETIVA
 PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2016 PROVA DE HABILIDADE ESPECÍFICA CURSO DE MÚSICA Nome do Candidato: Inscrição: Assinatura: PROVA COLETIVA 1- A prova está dividida em 4 questões com as seguintes pontuações:
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2016 PROVA DE HABILIDADE ESPECÍFICA CURSO DE MÚSICA Nome do Candidato: Inscrição: Assinatura: PROVA COLETIVA 1- A prova está dividida em 4 questões com as seguintes pontuações:
Lei de Coulomb. Interação entre Duas Cargas Elétricas Puntiformes
 Lei de Coulomb Interação entre Duas Cargas Elétricas Puntiformes A intensidade F da força de interação eletrostática entre duas cargas elétricas puntiformes q 1 e q 2, é diretamente proporcional ao produto
Lei de Coulomb Interação entre Duas Cargas Elétricas Puntiformes A intensidade F da força de interação eletrostática entre duas cargas elétricas puntiformes q 1 e q 2, é diretamente proporcional ao produto
Volta Redonda, março de 2009
 Trabalho de Conclusão de Curso TCC Prof. José Maurício dos Santos Pinheiro Núcleo de Graduação Tecnológica Volta Redonda, março de 2009 Agenda Objetivos Alcance Coordenação Orientação O Aluno Pesquisador
Trabalho de Conclusão de Curso TCC Prof. José Maurício dos Santos Pinheiro Núcleo de Graduação Tecnológica Volta Redonda, março de 2009 Agenda Objetivos Alcance Coordenação Orientação O Aluno Pesquisador
Sobre Metodologia Científica
 2013 Sobre Metodologia Científica Sergio Scheer TC022 Introdução a Engenharia UFPR Motivação Para que serve Metodologia Científica? Ciência e Conhecimento A produção de Conhecimento: Pesquisa O Processo
2013 Sobre Metodologia Científica Sergio Scheer TC022 Introdução a Engenharia UFPR Motivação Para que serve Metodologia Científica? Ciência e Conhecimento A produção de Conhecimento: Pesquisa O Processo
CÁLCULO NUMÉRICO. Profa. Dra. Yara de Souza Tadano
 CÁLCULO NUMÉRICO Profa. Dra. Yara de Souza Tadano yaratadano@utfpr.edu.br Aula 7 04/2014 Zeros reais de funções Parte 1 Objetivo Determinar valores aproximados para as soluções (raízes) de equações da
CÁLCULO NUMÉRICO Profa. Dra. Yara de Souza Tadano yaratadano@utfpr.edu.br Aula 7 04/2014 Zeros reais de funções Parte 1 Objetivo Determinar valores aproximados para as soluções (raízes) de equações da
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodológica científica. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, p
 LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodológica científica. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1993. p.238-243. 1. ARTIGOS CIENTÍFICOS Os artigos científicos são pequenos estudos, porém
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodológica científica. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1993. p.238-243. 1. ARTIGOS CIENTÍFICOS Os artigos científicos são pequenos estudos, porém
PRINCIPIOS NORTEADORES PARA ELABORAÇAO DO TRABALHO
 PRINCIPIOS NORTEADORES PARA ELABORAÇAO DO TRABALHO Identificar situação-problema : no âmbito das atribuições de coordenar, acompanhar e monitorar o processo de educação integral na Secretaria de Educação.
PRINCIPIOS NORTEADORES PARA ELABORAÇAO DO TRABALHO Identificar situação-problema : no âmbito das atribuições de coordenar, acompanhar e monitorar o processo de educação integral na Secretaria de Educação.
Compiladores. Introdução à Compiladores
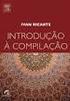 Compiladores Introdução à Compiladores Cristiano Lehrer, M.Sc. Introdução (1/2) O meio mais eficaz de comunicação entre pessoas é a linguagem (língua ou idioma). Na programação de computadores, uma linguagem
Compiladores Introdução à Compiladores Cristiano Lehrer, M.Sc. Introdução (1/2) O meio mais eficaz de comunicação entre pessoas é a linguagem (língua ou idioma). Na programação de computadores, uma linguagem
Árvore Binária de Busca Ótima
 MAC 5710 - Estruturas de Dados - 2008 Referência bibliográfica Os slides sobre este assunto são parcialmente baseados nas seções sobre árvore binária de busca ótima do capítulo 4 do livro N. Wirth. Algorithms
MAC 5710 - Estruturas de Dados - 2008 Referência bibliográfica Os slides sobre este assunto são parcialmente baseados nas seções sobre árvore binária de busca ótima do capítulo 4 do livro N. Wirth. Algorithms
MEDIDAS E INCERTEZAS
 MEDIDAS E INCERTEZAS O Que é Medição? É um processo empírico que objetiva a designação de números a propriedades de objetos ou a eventos do mundo real de forma a descrevêlos quantitativamente. Outra forma
MEDIDAS E INCERTEZAS O Que é Medição? É um processo empírico que objetiva a designação de números a propriedades de objetos ou a eventos do mundo real de forma a descrevêlos quantitativamente. Outra forma
Aula 3 - Modelo Entidade-Relacionamento
 Aula 3 - Modelo Entidade-Relacionamento 1. Conceitos básicos O modelo Entidade-Relacionamento (E-R) tem por base a percepção de que o mundo real é formado por um conjunto de objetos chamados de entidades
Aula 3 - Modelo Entidade-Relacionamento 1. Conceitos básicos O modelo Entidade-Relacionamento (E-R) tem por base a percepção de que o mundo real é formado por um conjunto de objetos chamados de entidades
Introdução à Programação
 Introdução à Programação Linguagens de Programação: sintaxe e semântica de linguagens de programação e conceitos de linguagens interpretadas e compiladas Engenharia da Computação Professor: Críston Pereira
Introdução à Programação Linguagens de Programação: sintaxe e semântica de linguagens de programação e conceitos de linguagens interpretadas e compiladas Engenharia da Computação Professor: Críston Pereira
Terminologia e conceitos de Metrologia
 A U A UL LA Terminologia e conceitos de Metrologia Um problema Muitas vezes, uma área ocupacional apresenta problemas de compreensão devido à falta de clareza dos termos empregados e dos conceitos básicos.
A U A UL LA Terminologia e conceitos de Metrologia Um problema Muitas vezes, uma área ocupacional apresenta problemas de compreensão devido à falta de clareza dos termos empregados e dos conceitos básicos.
Código da Disciplina CCE0047 AULA 3.
 Código da Disciplina CCE0047 AULA 3 http://cleliamonasterio.blogspot.com/ Representação de projetos de arquitetura NBR- 6492: INFORMAÇÕES NA PRANCHA: Nome dos ambientes: Em todo e qualquer projeto arquitetônico,
Código da Disciplina CCE0047 AULA 3 http://cleliamonasterio.blogspot.com/ Representação de projetos de arquitetura NBR- 6492: INFORMAÇÕES NA PRANCHA: Nome dos ambientes: Em todo e qualquer projeto arquitetônico,
1 bases numéricas. capítulo
 capítulo 1 bases numéricas Os números são representados no sistema decimal, mas os computadores utilizam o sistema binário. Embora empreguem símbolos distintos, os dois sistemas formam números a partir
capítulo 1 bases numéricas Os números são representados no sistema decimal, mas os computadores utilizam o sistema binário. Embora empreguem símbolos distintos, os dois sistemas formam números a partir
RELATÓRIO FINAL - INDICADORES - ESTUDANTES MEDICINA - SÃO CARLOS. Quadro 1: Resultados dos Indicadores para o curso de Medicina - Campus São Carlos
 RELATÓRIO FINAL - INDICADORES - ESTUDANTES MEDICINA - SÃO CARLOS Quadro 1: Resultados dos Indicadores para o curso de Medicina - Campus São Carlos INDICADOR CLASSIFICAÇÃO ÍNDICE DE AVALIAÇÃO GERAL SATISFAÇÃO
RELATÓRIO FINAL - INDICADORES - ESTUDANTES MEDICINA - SÃO CARLOS Quadro 1: Resultados dos Indicadores para o curso de Medicina - Campus São Carlos INDICADOR CLASSIFICAÇÃO ÍNDICE DE AVALIAÇÃO GERAL SATISFAÇÃO
PLANO DE RELACIONAMENTO NTO COM OS AGENTES PARA DESENVOLVIMENTO DE TEMAS RELACIONADOS À PREVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA CARGA - CRIAÇÃO DE COMISSÃO
 PLANO DE RELACIONAMENTO NTO COM OS AGENTES PARA DESENVOLVIMENTO DE TEMAS RELACIONADOS À PREVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA CARGA - CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE ESTUDOS DE PREVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA CARGA - CEPAC
PLANO DE RELACIONAMENTO NTO COM OS AGENTES PARA DESENVOLVIMENTO DE TEMAS RELACIONADOS À PREVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA CARGA - CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE ESTUDOS DE PREVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA CARGA - CEPAC
Comunicações: Co mentário sobre o artigo Determinação de g através da captação do so m d e impacto de corpos co m o solo
 DOI: http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2014v31n2p467 Comunicações: Co mentário sobre o artigo Determinação de g através da captação do so m d e impacto de corpos co m o solo (Cad. Bras. Ens. Fís., v.
DOI: http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2014v31n2p467 Comunicações: Co mentário sobre o artigo Determinação de g através da captação do so m d e impacto de corpos co m o solo (Cad. Bras. Ens. Fís., v.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Informática. Fundamentos de Computação Gráfica
 1. Imagens sísmicas Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Departamento de Informática Fundamentos de Computação Gráfica Aluno: Stelmo Magalhães Barros Netto Relatório do trabalho Imagens Sísmicas
1. Imagens sísmicas Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Departamento de Informática Fundamentos de Computação Gráfica Aluno: Stelmo Magalhães Barros Netto Relatório do trabalho Imagens Sísmicas
Informação Prova a Nível de Escola (Ao abrigo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de Julho)
 Informação Prova a Nível de Escola (Ao abrigo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de Julho) MATEMÁTICA Prova 82 2016 3.º Ciclo do Ensino Básico PROVA ESCRITA O presente documento visa divulgar informação relativa
Informação Prova a Nível de Escola (Ao abrigo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de Julho) MATEMÁTICA Prova 82 2016 3.º Ciclo do Ensino Básico PROVA ESCRITA O presente documento visa divulgar informação relativa
Sumário. Energia em movimentos 11/05/2015
 Sumário Unidade temática 2 Modelo da partícula material. Transferências de energia como trabalho. - Conceito de força (revisão). - As componentes duma força. - Trabalho de uma força constante e energia
Sumário Unidade temática 2 Modelo da partícula material. Transferências de energia como trabalho. - Conceito de força (revisão). - As componentes duma força. - Trabalho de uma força constante e energia
ORÇAMENTO EMPRESARIAL (parte 2)
 ORÇAMENTO EMPRESARIAL (parte 2) 2) TIPOS DE ORÇAMENTO 2.1) Orçamento de Tendências Uma prática muito comum tem sido utilizar os dados passados para projeções de situações futuras. Tal prática tem dado
ORÇAMENTO EMPRESARIAL (parte 2) 2) TIPOS DE ORÇAMENTO 2.1) Orçamento de Tendências Uma prática muito comum tem sido utilizar os dados passados para projeções de situações futuras. Tal prática tem dado
CAPÍTULO 1 Operações Fundamentais com Números 1. CAPÍTULO 2 Operações Fundamentais com Expressões Algébricas 12
 Sumário CAPÍTULO 1 Operações Fundamentais com Números 1 1.1 Quatro operações 1 1.2 O sistema dos números reais 1 1.3 Representação gráfica de números reais 2 1.4 Propriedades da adição e multiplicação
Sumário CAPÍTULO 1 Operações Fundamentais com Números 1 1.1 Quatro operações 1 1.2 O sistema dos números reais 1 1.3 Representação gráfica de números reais 2 1.4 Propriedades da adição e multiplicação
Introdução 5. Amplificador em base comum 6. Princípio de funcionamento 8 Com sinal de entrada positivo 8 Com sinal de entrada negativo 10
 Sumário Introdução 5 Amplificador em base comum 6 Princípio de funcionamento 8 Com sinal de entrada positivo 8 Com sinal de entrada negativo 10 Parâmetros do estágio amplificador em base comum 12 Ganho
Sumário Introdução 5 Amplificador em base comum 6 Princípio de funcionamento 8 Com sinal de entrada positivo 8 Com sinal de entrada negativo 10 Parâmetros do estágio amplificador em base comum 12 Ganho
A escala de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Médio
 A escala de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Médio LÍNGUA PORTUGUESA 3º ANO DO ENSINO MÉDIO (continua) 1 225-250 2 250-275 3 275-300 4 300-325 Nesse nível, o estudante pode ser capaz de identificar
A escala de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Médio LÍNGUA PORTUGUESA 3º ANO DO ENSINO MÉDIO (continua) 1 225-250 2 250-275 3 275-300 4 300-325 Nesse nível, o estudante pode ser capaz de identificar
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA ANEXO III
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA ANEXO III Fichas de Avaliação das Provas: Escrita, Didática e/ou Prática e de Títulos Porto Velho -RO SERVIÇO PÚBLICO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA ANEXO III Fichas de Avaliação das Provas: Escrita, Didática e/ou Prática e de Títulos Porto Velho -RO SERVIÇO PÚBLICO
PROJETO DE ESTRADAS Prof o. f D r D. An A de rson on Ma M nzo zo i
 PROJETO DE ESTRADAS Prof. Dr. Anderson Manzoli CONCEITOS: O diagrama de massas (ou de Brückner), facilita sobremaneira a análise da distribuição dos materiais escavados. Essa distribuição corresponde a
PROJETO DE ESTRADAS Prof. Dr. Anderson Manzoli CONCEITOS: O diagrama de massas (ou de Brückner), facilita sobremaneira a análise da distribuição dos materiais escavados. Essa distribuição corresponde a
CAPÍTULO V 5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 5.1 SÍNTESE DO TRABALHO DESENVOLVIDO
 182 CAPÍTULO V 5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 5.1 SÍNTESE DO TRABALHO DESENVOLVIDO Neste trabalho foi proposta uma metodologia para a automação da resseção espacial de imagens digitais baseada no uso hipóteses
182 CAPÍTULO V 5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 5.1 SÍNTESE DO TRABALHO DESENVOLVIDO Neste trabalho foi proposta uma metodologia para a automação da resseção espacial de imagens digitais baseada no uso hipóteses
Prova Brasil de Matemática - 9º ano: espaço e forma
 Avaliações externas Prova Brasil de Matemática - 9º ano: espaço e forma A análise e as orientações didáticas a seguir são de Luciana de Oliveira Gerzoschkowitz Moura, professora de Matemática da Escola
Avaliações externas Prova Brasil de Matemática - 9º ano: espaço e forma A análise e as orientações didáticas a seguir são de Luciana de Oliveira Gerzoschkowitz Moura, professora de Matemática da Escola
E. S. JERÓNIMO EMILIANO DE ANDRADE DE ANGRA DO HEROISMO. Conteúdo Programáticos / Matemática e a Realidade. Curso de Nível III Técnico de Laboratório
 E. S. JERÓNIMO EMILIANO DE ANDRADE DE ANGRA DO HEROISMO Curso de Nível III Técnico de Laboratório Técnico Administrativo PROFIJ Conteúdo Programáticos / Matemática e a Realidade 2º Ano Ano Lectivo de 2008/2009
E. S. JERÓNIMO EMILIANO DE ANDRADE DE ANGRA DO HEROISMO Curso de Nível III Técnico de Laboratório Técnico Administrativo PROFIJ Conteúdo Programáticos / Matemática e a Realidade 2º Ano Ano Lectivo de 2008/2009
Material Teórico - Módulo de Potenciação e Dízimas Periódicas. Números Irracionais e Reais. Oitavo Ano. Prof. Ulisses Lima Parente
 Material Teórico - Módulo de Potenciação e Dízimas Periódicas Números Irracionais e Reais Oitavo Ano Prof. Ulisses Lima Parente 1 Os números irracionais Ao longo deste módulo, vimos que a representação
Material Teórico - Módulo de Potenciação e Dízimas Periódicas Números Irracionais e Reais Oitavo Ano Prof. Ulisses Lima Parente 1 Os números irracionais Ao longo deste módulo, vimos que a representação
Normas ISO:
 Universidade Católica de Pelotas Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Disciplina de Qualidade de Software Normas ISO: 12207 15504 Prof. Luthiano Venecian 1 ISO 12207 Conceito Processos Fundamentais
Universidade Católica de Pelotas Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Disciplina de Qualidade de Software Normas ISO: 12207 15504 Prof. Luthiano Venecian 1 ISO 12207 Conceito Processos Fundamentais
P COM CONSIDERAÇÃO DE RIGIDEZ AXIAL
 P COM CONSIDERAÇÃO DE RIGIDEZ AXIAL As deformações e os esforços atuantes na estrutura de um edifício em concreto armado devidos ao seu peso próprio são em grande parte definidos pelo processo usado na
P COM CONSIDERAÇÃO DE RIGIDEZ AXIAL As deformações e os esforços atuantes na estrutura de um edifício em concreto armado devidos ao seu peso próprio são em grande parte definidos pelo processo usado na
Princípios da Engenharia de Software aula 03
 Princípios da Engenharia de Software aula 03 Prof.: José Honorato Ferreira Nunes Material cedido por: Prof.: Franklin M. Correia Na aula anterior... Modelos de processos de software: Evolucionário Tipos
Princípios da Engenharia de Software aula 03 Prof.: José Honorato Ferreira Nunes Material cedido por: Prof.: Franklin M. Correia Na aula anterior... Modelos de processos de software: Evolucionário Tipos
A modelagem é tida como a parte central de todas as atividades para a construção de um bom sistema, com ela podemos:
 Módulo 6 Análise Orientada a Objeto É interessante observar como a análise orientada a objeto utiliza conceitos que aprendemos há muito tempo: objetos, atributos, classes, membros, todos e partes. Só não
Módulo 6 Análise Orientada a Objeto É interessante observar como a análise orientada a objeto utiliza conceitos que aprendemos há muito tempo: objetos, atributos, classes, membros, todos e partes. Só não
II. Funções de uma única variável
 II. Funções de uma única variável 1 II.1. Conceitos básicos A otimização de de funções de de uma única variável consiste no no tipo mais elementar de de otimização. Importância: Tipo de problema encontrado
II. Funções de uma única variável 1 II.1. Conceitos básicos A otimização de de funções de de uma única variável consiste no no tipo mais elementar de de otimização. Importância: Tipo de problema encontrado
ÁLGEBRA LINEAR: aplicações de sistemas lineares
 ÁLGEBRA LINEAR: aplicações de sistemas lineares SANTOS, Cleber de Oliveira dos RESUMO Este artigo apresenta algumas aplicações de sistemas lineares, conteúdo estudado na disciplina de Álgebra linear da
ÁLGEBRA LINEAR: aplicações de sistemas lineares SANTOS, Cleber de Oliveira dos RESUMO Este artigo apresenta algumas aplicações de sistemas lineares, conteúdo estudado na disciplina de Álgebra linear da
Reações externas ou vinculares são os esforços que os vínculos devem desenvolver para manter em equilíbrio estático uma estrutura.
 52 CAPÍTULO V CÁLCULO DAS REAÇÕES EXTERNAS I. GENERALIDADES Reações externas ou vinculares são os esforços que os vínculos devem desenvolver para manter em equilíbrio estático uma estrutura. Os vínculos
52 CAPÍTULO V CÁLCULO DAS REAÇÕES EXTERNAS I. GENERALIDADES Reações externas ou vinculares são os esforços que os vínculos devem desenvolver para manter em equilíbrio estático uma estrutura. Os vínculos
Análise de Estabilidade Estrutural para uma Treliça Içadora de Aduelas de Concreto para Pontes.
 Análise de Estabilidade Estrutural para uma Treliça Içadora de Aduelas de Concreto para Pontes. Resumo André Durval de Andrade 1, Carlos Alberto Medeiros 2. 1 Mills Infraestrutura /Engenharia Nacional
Análise de Estabilidade Estrutural para uma Treliça Içadora de Aduelas de Concreto para Pontes. Resumo André Durval de Andrade 1, Carlos Alberto Medeiros 2. 1 Mills Infraestrutura /Engenharia Nacional
Para Rauen ( 2002) esquema é um tipo de produção textual que explicita a linha diretriz do autor de um documento de base.
 Esquema Textual Para Rauen ( 2002) esquema é um tipo de produção textual que explicita a linha diretriz do autor de um documento de base. Assim esquema é a apresentação do texto, colocando em destaque
Esquema Textual Para Rauen ( 2002) esquema é um tipo de produção textual que explicita a linha diretriz do autor de um documento de base. Assim esquema é a apresentação do texto, colocando em destaque
PROGRAMA e Metas Curriculares Matemática A. Estatística. António Bivar, Carlos Grosso, Filipe Oliveira, Luísa Loura e Maria Clementina Timóteo
 PROGRAMA e Metas Curriculares Matemática A Estatística António Bivar, Carlos Grosso, Filipe Oliveira, Luísa Loura e Maria Clementina Timóteo O tema da Estatística nos Cursos Científico-Humanísticos de
PROGRAMA e Metas Curriculares Matemática A Estatística António Bivar, Carlos Grosso, Filipe Oliveira, Luísa Loura e Maria Clementina Timóteo O tema da Estatística nos Cursos Científico-Humanísticos de
MODELO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL
 UNINGÁ UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGÁ FACULDADE INGÁ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO BANCO DE DADOS I MODELO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL Profº Erinaldo Sanches Nascimento Objetivos Descrever os princípios básicos
UNINGÁ UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGÁ FACULDADE INGÁ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO BANCO DE DADOS I MODELO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL Profº Erinaldo Sanches Nascimento Objetivos Descrever os princípios básicos
Teoria da Informação. Profa. Lillian Alvares Faculdade de Ciência da Informação Universidade de Brasília
 Teoria da Informação Profa. Lillian Alvares Faculdade de Ciência da Informação Universidade de Brasília Claude Elwood Shannon, 1948 Autor que estabeleceu os fundamentos da Teoria da Informação Teoria da
Teoria da Informação Profa. Lillian Alvares Faculdade de Ciência da Informação Universidade de Brasília Claude Elwood Shannon, 1948 Autor que estabeleceu os fundamentos da Teoria da Informação Teoria da
REFLEXÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE. BERNARDES, Ana Paula Fugazza¹ GASDA, Vera Lúcia Podewils 1 PEZENTI, Daiana¹ PINHEIRO, Shirla Regina²
 REFLEXÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE BERNARDES, Ana Paula Fugazza¹ GASDA, Vera Lúcia Podewils 1 PEZENTI, Daiana¹ PINHEIRO, Shirla Regina² Introdução: Em fevereiro de 2004, o Ministério da Saúde institui
REFLEXÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE BERNARDES, Ana Paula Fugazza¹ GASDA, Vera Lúcia Podewils 1 PEZENTI, Daiana¹ PINHEIRO, Shirla Regina² Introdução: Em fevereiro de 2004, o Ministério da Saúde institui
CLASSIFICAÇÃO DOS INTERVALOS MUSICAIS. Ex.
 LIÇÃO - 01 INTERVALO MUSICAL As notas musicais indicam as diferentes alturas do som. Assim sendo, entre estas diferentes alturas sonoras, obviamente, cria-se uma distância entre elas, a qual chamamos de
LIÇÃO - 01 INTERVALO MUSICAL As notas musicais indicam as diferentes alturas do som. Assim sendo, entre estas diferentes alturas sonoras, obviamente, cria-se uma distância entre elas, a qual chamamos de
ODP TC. Observatório da Despesa Pública. Manual de Identidade Visual
 ODP TC Manual de Identidade Visual Apresentação O é a unidade de produção de informações estratégicas para o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU e tem como principal
ODP TC Manual de Identidade Visual Apresentação O é a unidade de produção de informações estratégicas para o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU e tem como principal
AGG 209 INTRODUÇÃO À PETROFÍSICA AULA 1
 AGG 209 INTRODUÇÃO À PETROFÍSICA AULA 1 O QUE É PETROFÍSICA? O termo petrofísica foi introduzido por Archie (1950) para descrever o estudo das propriedades físicas das rochas que dizem respeito à distribuição
AGG 209 INTRODUÇÃO À PETROFÍSICA AULA 1 O QUE É PETROFÍSICA? O termo petrofísica foi introduzido por Archie (1950) para descrever o estudo das propriedades físicas das rochas que dizem respeito à distribuição
Instituto de Matemática e Estatística, UFF Março de 2011
 ,,,,, Instituto de Matemática e Estatística, UFF Março de 2011 ,, Sumário,,. finitos,. conjunto: por lista, por propriedade.. Igualdade,. Propriedades básicas.. ,, Christos Papadimitriou, Autor dos livros
,,,,, Instituto de Matemática e Estatística, UFF Março de 2011 ,, Sumário,,. finitos,. conjunto: por lista, por propriedade.. Igualdade,. Propriedades básicas.. ,, Christos Papadimitriou, Autor dos livros
Função Definida Por Várias Sentenças
 Ministrante Profª. Drª. Patrícia Aparecida Manholi Material elaborado pela Profª. Drª. Patrícia Aparecida Manholi SUMÁRIO Função Definida Por Várias Sentenças Lembrando... Dados dois conjuntos não vazios
Ministrante Profª. Drª. Patrícia Aparecida Manholi Material elaborado pela Profª. Drª. Patrícia Aparecida Manholi SUMÁRIO Função Definida Por Várias Sentenças Lembrando... Dados dois conjuntos não vazios
dia 10/08/2010
 Número complexo Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. http://pt.wikipedia.org/wiki/n%c3%bamero_complexo dia 10/08/2010 Em matemática, os números complexos são os elementos do conjunto, uma extensão
Número complexo Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. http://pt.wikipedia.org/wiki/n%c3%bamero_complexo dia 10/08/2010 Em matemática, os números complexos são os elementos do conjunto, uma extensão
O símbolo usado em diagramas de circuito para fontes de tensão é:
 Circuitos Elétricos Para fazer passar cargas elétricas por um resistor, precisamos estabelecer uma diferença de potencial entre as extremidades do dispositivo. Para produzir uma corrente estável é preciso
Circuitos Elétricos Para fazer passar cargas elétricas por um resistor, precisamos estabelecer uma diferença de potencial entre as extremidades do dispositivo. Para produzir uma corrente estável é preciso
CONSTRUÇÕES COM A RÉGUA E O COMPASSO, CONTRIBUIÇÕES E LIMITES DA GEOMETRIA DINÂMICA
 CONSTRUÇÕES COM A RÉGUA E O COMPASSO, CONTRIBUIÇÕES E LIMITES DA GEOMETRIA DINÂMICA Franck Bellemain Labma-IME-UFRJ, Rio de Janeiro f.bellemain@br.inter.net Mini-curso em laboratório de computadores. Geometrias
CONSTRUÇÕES COM A RÉGUA E O COMPASSO, CONTRIBUIÇÕES E LIMITES DA GEOMETRIA DINÂMICA Franck Bellemain Labma-IME-UFRJ, Rio de Janeiro f.bellemain@br.inter.net Mini-curso em laboratório de computadores. Geometrias
Gestão de Projetos. Aula 1. Organização da Disciplina. Organização da Aula 1. Contextualização. Fatos sobre Projetos. O Projeto
 Gestão de Projetos Organização da Disciplina Planejamento, projeto e Aula 1 viabilidades Estrutura do projeto Profa. Dra. Viviane M. P. Garbelini Dimensionamento e riscos do projeto Organização da Aula
Gestão de Projetos Organização da Disciplina Planejamento, projeto e Aula 1 viabilidades Estrutura do projeto Profa. Dra. Viviane M. P. Garbelini Dimensionamento e riscos do projeto Organização da Aula
TÓPICOS DA MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO FUNDAMENTAL ( DE ACORDO COM SAEB)
 TÓPICOS DA MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO FUNDAMENTAL ( DE ACORDO COM SAEB) I. PROCEDIMENTOS DE LEITURA Localizar informações explícitas em um texto. Inferir o sentido de uma palavra
TÓPICOS DA MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO FUNDAMENTAL ( DE ACORDO COM SAEB) I. PROCEDIMENTOS DE LEITURA Localizar informações explícitas em um texto. Inferir o sentido de uma palavra
Metodologia em. Design. 1ª Aula
 Metodologia em Design 1ª Aula A Disciplina: Estudo de etapas que compreendem o desenvolvimento de um projeto de Identidade Visual : Saber desenvolver um projeto para atingir os objetivos do cliente (visualmente);
Metodologia em Design 1ª Aula A Disciplina: Estudo de etapas que compreendem o desenvolvimento de um projeto de Identidade Visual : Saber desenvolver um projeto para atingir os objetivos do cliente (visualmente);
STV 15 SET na figura acima a freqüência das variações do sinal de onda quadrada da câmera mostradas no topo do padrão xadrez é de 0,11 MHz
 STV 15 SET 2008 1 FREQÜÊNCIAS DE VÍDEO ASSOCIADAS COM A VARREDURA HORIZONTAL no padrão xadrez da figura acima, o sinal de onda quadrada no topo representa as variações do sinal da câmera do sinal composto
STV 15 SET 2008 1 FREQÜÊNCIAS DE VÍDEO ASSOCIADAS COM A VARREDURA HORIZONTAL no padrão xadrez da figura acima, o sinal de onda quadrada no topo representa as variações do sinal da câmera do sinal composto
Recursos críticos disponíveis: Madeira 300 metros Horas de trabalho 110 horas
 I. Programação Linear (PL) 1. Introdução A Programação Linear é, no campo mais vasto da Programação Matemática, uma das variantes de aplicação generalizada em apoio da Decisão. O termo "Programação" deve
I. Programação Linear (PL) 1. Introdução A Programação Linear é, no campo mais vasto da Programação Matemática, uma das variantes de aplicação generalizada em apoio da Decisão. O termo "Programação" deve
CAPÍTULO 4 - OPERADORES E EXPRESSÕES
 CAPÍTULO 4 - OPERADORES E EXPRESSÕES 4.1 - OPERADORES ARITMÉTICOS Os operadores aritméticos nos permitem fazer as operações matemáticas básicas, usadas no cálculo de expressões aritméticas. A notação usada
CAPÍTULO 4 - OPERADORES E EXPRESSÕES 4.1 - OPERADORES ARITMÉTICOS Os operadores aritméticos nos permitem fazer as operações matemáticas básicas, usadas no cálculo de expressões aritméticas. A notação usada
5. Expressões aritméticas
 5. Expressões aritméticas 5.1. Conceito de Expressão O conceito de expressão em termos computacionais está intimamente ligado ao conceito de expressão (ou fórmula) matemática, onde um conjunto de variáveis
5. Expressões aritméticas 5.1. Conceito de Expressão O conceito de expressão em termos computacionais está intimamente ligado ao conceito de expressão (ou fórmula) matemática, onde um conjunto de variáveis
Revisando Banco de Dados. Modelo Relacional
 : Revisando Banco de Dados Banco de Dados (BD) é o arquivo físico, em dispositivos periféricos, onde estão armazenados os dados de diversos sistemas, para consulta e atualização pelo usuário. Sistema Gerenciador
: Revisando Banco de Dados Banco de Dados (BD) é o arquivo físico, em dispositivos periféricos, onde estão armazenados os dados de diversos sistemas, para consulta e atualização pelo usuário. Sistema Gerenciador
Pesquisa Operacional. Definição. Sumário 2/23/2016
 Pesquisa Operacional Prof. Adriano Maranhão Apresentação (Professor) Site: www.resenhadevalor.com.br Graduado em Ciências da Computação UVA/2009 Pós-graduado em Engenharia de Software INTA/2010 DTI/Sobral
Pesquisa Operacional Prof. Adriano Maranhão Apresentação (Professor) Site: www.resenhadevalor.com.br Graduado em Ciências da Computação UVA/2009 Pós-graduado em Engenharia de Software INTA/2010 DTI/Sobral
Vamos dar uma olhada nos Processos de Produção Musical mas, antes, começaremos com alguns Conceitos Básicos.
 Vamos dar uma olhada nos Processos de Produção Musical mas, antes, começaremos com alguns Conceitos Básicos. O processo da produção musical tem sete pontos bem distintos. Antes de entender melhor os sete
Vamos dar uma olhada nos Processos de Produção Musical mas, antes, começaremos com alguns Conceitos Básicos. O processo da produção musical tem sete pontos bem distintos. Antes de entender melhor os sete
Paradigmas da Engenharia de Software AULA PROF. ABRAHAO LOPES
 Paradigmas da Engenharia de Software AULA 03-04 PROF. ABRAHAO LOPES Introdução O processo de software é visto por uma sequência de atividades que produzem uma variedade de documentos, resultando em um
Paradigmas da Engenharia de Software AULA 03-04 PROF. ABRAHAO LOPES Introdução O processo de software é visto por uma sequência de atividades que produzem uma variedade de documentos, resultando em um
Curso de Matemática Aplicada.
 Aula 1 p.1/25 Curso de Matemática Aplicada. Margarete Oliveira Domingues PGMET/INPE Sistema de números reais e complexos Aula 1 p.2/25 Aula 1 p.3/25 Conjuntos Conjunto, classe e coleção de objetos possuindo
Aula 1 p.1/25 Curso de Matemática Aplicada. Margarete Oliveira Domingues PGMET/INPE Sistema de números reais e complexos Aula 1 p.2/25 Aula 1 p.3/25 Conjuntos Conjunto, classe e coleção de objetos possuindo
MATERIAIS ELASTOPLÁSTICOS
 MATERIAIS ELASTOPLÁSTICOS - DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO ELASTOPLÁSTICO Alguns elementos característicos dos ensaios de tração simples são analisados a seguir para identificar os fenômenos que devem ser
MATERIAIS ELASTOPLÁSTICOS - DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO ELASTOPLÁSTICO Alguns elementos característicos dos ensaios de tração simples são analisados a seguir para identificar os fenômenos que devem ser
Daniel Queiroz VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS
 Daniel Queiroz VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS INTRODUÇÃO O que é uma variável aleatória? Um tipo de variável que depende do resultado aleatório de um experimento aleatório. Diz-se que um experimento é
Daniel Queiroz VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS INTRODUÇÃO O que é uma variável aleatória? Um tipo de variável que depende do resultado aleatório de um experimento aleatório. Diz-se que um experimento é
