Seria Buda um desprezador do corpo? Nietzsche e questão do corpo no budismo. Would Buda be a body despiteer? Nietzsche and body question in buddhism
|
|
|
- Kléber Paiva Azambuja
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Seria Buda um desprezador do corpo? Nietzsche e questão do corpo no budismo Would Buda be a body despiteer? Nietzsche and body question in buddhism Derley Menezes Alves 1 Resumo Nosso objetivo neste artigo é comparar as concepções de corpo de Nietzsche e do budismo theravada. Pretendemos apontar como existem na comparação destas concepções semelhanças de superfície e diferenças que se apresentam ao analisarmos os conceitos mais de perto. A pergunta que orienta o artigo é: podemos pensar o budismo como uma modalidade de desprezo do corpo?. Palavras-chave: Nietzsche, budismo, corpo, meditação Abstract Our goal in this article is to compare the conceptions of body in Nietzsche s philosophy and in theravada buddhism. We intend to point out how there are superficial similarities between those conceptions that do not resist a closer look. The question that guides the article is: Can we think buddhism as a kind of despise of the body? Key-words: Nietzsche, buddhismo, body, meditation Nosso objetivo no presente trabalho é confrontar o diagnóstico de Nietzsche acerca do modo como as religiões pensam o corpo com o modo como o budismo lida com o corpo. Neste sentido iremos investigar num primeiro momento aquilo que o filósofo alemão tem a dizer acerca do corpo, sua crítica ao dualismo inerente à tradição ocidental, como o corpo se tornará, ao longo da 1 Doutorando em Ciências das Religiões na Universidade Federal da Paraíba. Professor do Instituto Federal de Sergipe (IFSE) 506
2 história do pensamento, um óbice à elevação humana e o caminho para superação desta barreira adotado pelas tradições religiosas ocidentais e orientais, a saber, o ascetismo. Num segundo momento passaremos a considerar as práticas meditativas do budismo theravada na medida em que estas lidam com o corpo enquanto foco de contemplação de modo que sejamos capazes de perceber em que medida o budismo se enquadra no esquema nietzschiano de leitura das religiões. Por fim tentaremos apresentar a título de conclusão uma resposta para a pergunta que dá título a este trabalho. 1. Nietzsche e o corpo Comecemos com algumas reflexões acerca do prefácio da Gaia Ciência. Trata-se de um livro importante para nosso tema, uma vez que ele resulta da superação de uma doença e pretende ser uma obra feita a partir da perspectiva da saúde recuperada que produz no pensador pensamentos mais alegres e como Nietzsche diz, cheios de gratidão. O retorno da saúde leva o filósofo a refletir acerca da relação entre doença e filosofia ou, dito de outro modo, entre corpo e filosofia. A doença se torna para Nietzsche, o psicólogo, oportunidade de estudo e este estudo o leva a descobrir para onde o corpo doente leva o espírito e a tese aqui é de que cobrimos com o manto da racionalidade nossas necessidades fisiológicas. Toda filosofia que põe a paz acima da guerra, toda ética que apresente negativamente o conceito de felicidade, toda metafísica e física que conhece um finale, um estado final de qualquer espécie, todo anseio predominantemente estético ou religioso por um Além, Ao-lado, Acima, Fora, permitem perguntar se não foi a doença que inspirou o filósofo 2. O corpo doente quer o fim das aflições, seja pela cura ou promessa de cura, seja pelo fim do próprio corpo. Fim da doença, fim da vida. A felicidade pode ser pensada como algo negativo, ao ligar à noção de qualquer coisa que esteja fora 2 Gaia ciência, prefácio, pag
3 deste mundo material e humano. Temos aqui a origem da metafísica e de seu dualismo. Buscar algo que não seja deste mundo é estar doente. E uma vez que é isto que filosofia e religião vêm perseguindo ao longo dos séculos, Nietzsche formula a hipótese de que talvez a filosofia possa ser entendida como uma mácompreensão do corpo. Esta má-compreensão foi responsável por todas as formas de dualismo, sejam os filosóficos, como em Platão e Descartes, sejam os religiosos, representados principalmente pelo cristianismo. Uma das consequências dessa visão dualista é que o caminho para o além passa pelo abandono, superação ou desprezo pelo corpo. Platão nos fala, n A República, acerca da necessidade de voltar os olhos da alma para cima, para o que não é material, como forma suprema de educação, a única capaz de produzir bons governantes-filósofos. O cristianismo nos ensina a praticar jejuns, renunciar ao sexo, ver o mundo como vale de lágrimas e buscar o reino que não é desse mundo. Estamos diante do que o Zaratustra chama de desprezadores do corpo. Zaratustra apresenta o dualismo corpo-alma como forma inocente e infantil de pensar. O sábio afirma a unidade: somos corpo e nada mais; alma é o nome de um algo no corpo. O corpo é compreendido como grande razão, uma multiplicidade com um só sentido, ao mesmo tempo guerra e paz, rebanho e pastor. Nesse sentido, razão como outro, como alma, não cabe. Se somos apenas corpo, a guerra e a paz que nele ocorrem não giram em torno da razão como força outra que deve exercer o poder como um tipo de rei-filósofo platônico. Somos pulsões e instintos e são eles que lutam para exercer controle sobre outras pulsões e instintos. O que chama espírito nada mais é do que a pequena razão, um tipo de instrumento a serviço da grande razão. De acordo com Marcos Alexandre Borges em artigo intitulado Nietzsche e a noção de corpo, esta tese de que somo apenas corpo deriva da biologia, notadamente dos biólogos Rudolf Virchow e Wilhelm Roux. Da multiplicidade de células estes estudiosos formulam a tese de que somos uma multiplicidade de 508
4 seres. Em Nietzsche isto implica que o corpo é o marco zero também para a investigação filosófica, ao invés da consciência, da alma ou da razão 3. Não há um eu como substância permanente fundamento do ser humano. Nietzsche distingue eu de si-mesmo. Si-mesmo que é o corpo é o que está por trás dos sentidos e do espírito, é o si-mesmo que faz o eu. O problema dos desprezadores do corpo é que eles estão submetidos ao si-mesmo sem o saber. E é o si-mesmo que cria prezar e desprezar e que neles quer perecer devido a sua incapacidade de criar para além de si. O Crepúsculo dos Ídolos aponta o surgimento do eu nas origens remotas da linguagem. Esta nos faz projetar no mundo tanto atos como agentes, atribuindo a eles um tipo de existência substancial característica do eu. Esta origem trivial do eu é esquecida e os filósofos, por o considerarem algo de elevado e mesmo divino no ser humano, e atribuem sua origem a um campo mais elevado, como Deus, ou um reino mais elevado de existência do qual se cai para a forma humana 4. As categorias da razão não poderiam proceder do mundo empírico, segundo tais pensadores. E na Índia, como na Grécia, foi cometido o mesmo erro: Devemos já ter habitado um mundo mais elevado (- em vez de um bem mais baixo: o que teria sido a verdade!) Devemos ter sido divinos, pois temos a razão! 5 Este postulado de outro mundo inverte as coisas e esta inversão faz com que a filosofia, ao longo de sua história, negue o mundo mediante a ficção de um além. Nietzsche toma como modelo dessa forma de ver as coisas o tipo de 3 Cabe perguntar: o não-eu ou não-alma budista (anatta) tem o mesmo estatuto desse nós proposto pela biologia? Entendemos que só parcialmente. A realização da insubstancialidade budista é uma conquista espiritual, trata-se de algo supramundano. O nós dos biólogos é o resultado de observações empíricas da natureza, de modo que de uma forma indireta apenas fortalece a tese budista. Sem falar que desse nós Nietzsche conclui que somos somente corpo, ao passo que no budismo, se não temos alma, temos uma continuidade consolidada na ideia de renascimento. 4 Paulo César de Souza, tradutor da obra, vê aqui referências tanto ao budismo (pela doutrina da reencarnação, como ele a chama) e ao platonismo (pela doutrina da migração das almas). 5 Crepúsculo dos Ídolos, III, 5 509
5 filosofia iniciado por Sócrates e Platão. Estamos diante de uma figura que entende a sabedoria como negação da vida, na medida em que só há paz no além, e todo esforço da racionalidade gira em torno de negar a vida sensível em busca do reino supramundano das ideias. Nietzsche vê aqui sinal de que os sábios seriam doentes e que haveria um componente fisiológico que emerge na consciência na forma de negação da vida. A feiura e a origem plebeia de Sócrates são apresentadas como evidência do caráter inferior e mesmo não-grego de seu pensamento. Nietzsche lê isso a partir das teorias científicas da época, que defendiam uma ligação entre traços físicos e traços de caráter. O uso socrático da dialética é visto pelo filósofo com uma forma de exercer vingança perante a nobreza, talvez um tipo de manifestação de ressentimento. Nietzsche vê na dialética um fator de decadência, posto que com ela se desenvolve um zelo desesperado pela razão. Ao pretender fundar a vida exclusivamente na racionalidade, os filósofos se converteram em moralistas, posto que a razão nega e inferioriza instintos e paixões. Para Nietzsche há aqui um erro, pois enquanto a vida ascende, a felicidade é igual a instinto. Este privilégio da razão que devemos buscar a verdade entendida como aquilo que é imutável, absoluto, incontestável do ponto de vista da lógica. O racional se identifica com o verdadeiro, e isto converte a filosofia numa arte de mumificação com vistas a alcançar algo de permanente, eterno, estável. Tudo que é vivo, dada a natureza fluida e mutável da vida, passa a ser objeção encarnada à visão do dualismo filosófico. Só destruindo a vida o filósofo conseguiria alimentar a ilusão do conhecimento do permanente. A sensualidade se torna a fonte do erro e da imoralidade na medida em que nos afasta do verdadeiro mundo; abandonar os sentidos é o caminho para o eterno. Nietzsche, por sua vez, aponta o aspecto positivo dos sentidos para a ciência. E que finos instrumentos de observação temos em nossos sentidos! Esse nariz, por exemplo, do qual nenhum filósofo falou ainda com respeito e gratidão, é, por ora, o mais delicado instrumento a nossa 510
6 disposição: ele pode constatar diferenças mínimas de movimento, que nem mesmo o espectroscópio constata 6. A própria ciência moderna é o resultado de aceitar os sentidos, descobriuse muito usando-os e ampliando suas capacidades mediante instrumentos. Na Genealogia da Moral temos um desdobramento dessa análise a partir da noção de ideal ascético 7. O que nos interessa nesse ponto é o elemento religioso criticado por Nietzsche neste momento, que parece se dividir em dois aspectos, a saber, postulação de algum tipo de além, conforme mencionado já na gaia ciência, e práticas ou exercícios espirituais que ajudam de algum modo a alcançar este Além. Ideais ascéticos são formas de negação da vida em nome de algo que viria depois da morte, algum tipo de recompensa supramundana. No campo religioso os ideais ascéticos se expressam nas figuras do sacerdote e do santo. O caminho pelo qual estes tipos de ascetas pretendem alcançar o supramundano passa por práticas espirituais que implicam submeter o corpo a alguma forma de rigor: jejuns e mortificações de toda sorte. Estas práticas produzem a sensação de domínio de si mesmo, o que confere ao asceta um ar de dignidade e superioridade. Neste sentido, podemos dizer que os ascetas negam a vida em nome de algo que é não-vida, posto que só com o fim da vida se alcança. Esta negação da vida, dirá Nietzsche, exibe um instinto de cura e proteção de uma vida que degenera. A vida torna-se suportável quando mascaramos nossas fraquezas com a ilusão do sentido. O rebanho que segue o sacerdote ascético precisa ser protegido dos que não são doentes, posto que doentes tendem a se ressentir dos que têm saúde. O sentido oferecido pelo sacerdote consiste em redirecionar o ressentimento, fazendo do sofrimento culpa do sofredor, mediante a noção de pecado. Embora o alvo de Nietzsche seja sempre e principalmente o cristianismo, ele apresenta exemplos tanto de tradições orientais quanto de 6 Crepúsculo dos ídolos III, 3. 7 Uma versão mais extensa dessa passagem acerca da genealogia encontra-se no artigo Crítica budista de Nietzsche, publicado pela revista Religare 9 (2), dezembro de
7 ocidentais. A conclusão a que Nietzsche chega é que as religiões são formas de combater a depressão ou tristeza dos fisiologicamente travados. Chegamos aqui ao que nos interessa, os exercícios espirituais. O objetivo destas práticas é diminuir o sentimento vital, evitando tudo que possa produzir afetos como amor ou ódio. O que o religioso chama de santificação ou renúncia de si seria, em termos fisiológicos hipnotizar-se e reduzir o próprio metabolismo. A interpretação dada a tal hipnose é supersticiosa. São dois os tipos de técnicas, conforme lemos nos parágrafos 18 e 19 da Genealogia, a saber, meios inocentes e meios culpados. No primeiro grupo temos a atividade maquinal e aquilo que Nietzsche chama de pequena alegria. Atividades maquinais desviam o foco do sofrimento real para elas mesmas, o que produz uma sensação de alívio, um esquecimento de si no ato mecânico executado. Pequena alegria trata-se de um tipo de exercício controlado da vontade: causar alegria a alguém, amor ao próximo, ajudar aqueles que sofrem. Com isso se produz um sentimento controlado de superioridade. Os meios culpados são caracterizados pela tentativa de produzir algum tipo de excesso de sentimento, uma descarga súbita de afeto para fugir da dor por algum tempo, como se fosse uma catarse imperfeita. Em ambos os casos, cumpre enfatizar, trata-se tão somente de combater sintomas, a doença segue intocada e tende, com o tempo a se agravar. A estrutura da estratégia aqui é afirmar que a origem do sofrimento é o pecado do próprio sofredor. Com isso temos uma diminuição dos sintomas. Como superar essa culpa? Mediante as práticas ascéticas. Só o ascetismo pode redimir da culpa, segundo a lógica do sacerdote ascético, e, ao mesmo tempo, a execução das práticas ascéticas produz, aos poucos, problemas de saúde, tanto coletivos quanto individuais. Exemplos deste tipo de fenômeno são casos de histeria coletiva, castração e mesmo a morte que resulta do enfraquecimento do corpo. Temos, portanto, em Nietzsche a negação da alma e de qualquer coisa que remonte a um além, um outro mundo, o supramundano, etc. Nada disso é real. 512
8 Somos, pois, somente o corpo, não há uma alma e aquilo que supomos ser permanente em nós, o eu, é apenas o resultado de deixar-se levar pela gramática e extrapolar o uso do pronome para o suposto outro mundo. Instaurase assim o dualismo e com ele a necessidade de inferiorizar ou mesmo eliminar o corpo para que a parte divina em nós a alma possa retornar, purificada, para o alto. A pergunta que fazemos agora é: o budismo apresenta este esquema dualista? 2. O budismo e o corpo Aparentemente o budismo pode ser enquadrado como defensor dos meios inocentes para superar o sofrimento. Cabe agora levantar algumas questões. Como o budismo entende o corpo? Qual a relação entre corpo e prática? Só há o corpo para o budismo? No que segue tentaremos responder tais questões. Antes de tudo, precisamos situar o corpo dentro da compreensão maior do budismo acerca do mundo. O Abhidhamma 8 apresenta uma distinção entre verdade última e verdade convencional. Esta diz respeito ao que o Buda apresenta nos suttas, nos quais temos todos os elementos mundanos misturados com o ensinamento. Exemplo disso é que nos suttas é comum o Buda falar acerca do eu, usar frases onde eu é sujeito, mesmo que, do ponto de vista de seu ensinamento não exista um eu substancial. Trata-se de um uso comum ou convencional. Ao adentrarmos o abhidhamma, todos estes elementos convencionais são deixados de lado. Esta coleção do cânone lida com aquilo que é verdadeiro em sentido último (paramattasacca). Seria uma apresentação do ensinamento depurada de elementos convencionais, o que explica a aridez deste conjunto de textos. 8 Nos baseamos amplamente em duas fontes quanto a esta análise. The abhidhamma in practice de N. K. G. Mendis, disponível em bem como no Abhidhammattha Sangaha, traduzido por Narada Maha Thera. 513
9 São quatro as realidades últimas, os componentes fundamentais da experiência humana do mundo, a saber, mente ou consciência (citta), fatores mentais (cetasikas), fenômenos físicos ou forma material (rupa) e por fim nibbana. Nibbana é incondicionado ao passo que os demais são realidades condicionadas, ou seja, surgem devido a certas condições e desaparecem quando as condições não estão mais lá para sustenta-las. Tais realidades também podem ser classificadas de outra forma: mente, fatores mentais e nibbana compondo nama ou mentalidade, ao passo que rupa compõe o aspecto material dos fenômenos. Citta e cetasikas são o aspecto condicionado de nama e junto com rupa compõem nama-rupa, o composto mente e matéria ou mentalidadematerialidade. É importante ressaltar que nama e rupa, isoladamente, não são dotados de nenhum poder ou capacidade para produzir ações. Rupa fornece os elementos para a experiência de um objeto, mas a experiência ocorre graças a nama. É nama que sente a dor de um ferimento, não rupa. Quem sente a fome é a mente, não o estômago, e é nama que faz com que o corpo sacie a fome. Ao analisar rupa em detalhes o abhidhamma apresenta 28 tipos divididos em dois grupos. De um lado os quatro elementos primários ou quatro grandes elementos e de outro os 24 secundários, dependentes do primeiro grupo. De acordo com o abhidhamma a menor unidade possível de matéria contém todos os quatro elementos primários em diferentes proporções, mas nenhum está ausente. Temos então o elemento terra (pathavi dhatu), elemento água (apo dhatu), elemento fogo (tejo dhatu) e por fim elemento vento (vayo dhatu). Tais elementos podem ser melhor compreendidos no contexto do budismo a partir dos adjetivos que descrevem suas funções. O elemento terra representa solidez, é ele que dá a matéria consistência em seus vários graus, do mais duro ao mais mole, é também ligado a extensão que um corpo ocupa no espaço e sua função é sustentar os demais fenômenos materiais. O elemento água tem a característica da adesão ou coesão, é ele que sustenta as partículas de matéria, impedindo que tudo se desagregue. A característica do fogo é o calor, a temperatura de um objeto e tem 514
10 a função de maturação. Liga-se também ao processo digestivo, visto como ligado ao calor. Por fim, o elemento ar ou vendo tem a característica do movimento, causa expansão e contração. Quanto aos 24 elementos secundários temos que estes se dividem em 2 grupos, 14 diretamente causados e 10 indiretamente causados. No primeiro grupo temos 5 receptores dos sentidos (matéria sensorial do olho, ouvido, nariz, língua e corpo), quatro elementos de estímulo (cor, som, odor e sabor), dois elementos sexuais (masculino e feminino), o coração ou elemento de base da mente, o elemento vital (que dá vida a matéria orgânica, nascido do kamma é produzido continuamente a cada momento, cessa com a morte), e por fim o elemento de nutrição ou essência nutritiva que sustenta o corpo. Os causados indiretamente são o elemento do espaço (mantem as unidades materiais separadas, impedindo sua fusão), dois elementos de comunicação (comunicação corporal e comunicação verbal, responsáveis pela comunicação entre os seres), três elementos alteráveis (flutuabilidade, flexibilidade e eficiência ou capacidade, responsáveis pela saúde e vigor do corpo) e por fim quatro elementos indicadores de fases (surgimento inicial, gênese subsequente, declínio e cessação, indicam a duração de um determinado elemento). Os elementos materiais são sempre encontrados em agrupamentos de 8 a 13 componentes. Tais conjuntos fundamentais são chamados kalapas e os fenômenos materiais surgem a partir de quatro causas: kamma, consciência, calor e alimento. O declínio da matéria se dá devido a ação do elemento fogo sobre os kalapas (forma invisível) e a outra maneira de declínio é a decrepitude visível que no caso dos seres humanos se revela nos cabelos brancos, rugas, doenças, etc. Por fim temos a morte dos fenômenos materiais que também se subdivide em dois aspectos, a dissolução contínua da matéria que ocorre sem que vejamos, e a morte visível marcada pelo fim do elemento vital. Podemos concluir, a partir do exposto neste ponto que não há um mal ou um bem inerente aos fenômenos materiais, eles apenas existem. Para que tenhamos raízes boas, más ou neutras, é preciso a interação entre matéria e 515
11 mente. O exemplo privilegiado dessa interação é o ser humano, posto que para o budismo ele entendido como composto de cinco grupos ou agregados. A palavra páli para agregados é khandha, que também pode ser traduzida como grupo, feixes ou coleções. Uma pessoa é, para além da unidade aparente a qual damos um nome e chamamos eu, a interação dessas cinco coisas, a saber, corporalidade (rupakhandha), sensações (vedanakhandha), percepções (saññakhandha), formações mentais (sankharakhandha) e consciência (viññanakhandha). Destes cinco agregados, nos deteremos na corporalidade para entender qual a relação do corpo humano com a teoria do abhidhamma acerca dos fenômenos materiais. A partir do primeiro discurso atribuído ao Buda, a saber, o Dhammacakkappavattana Sutta 9, temos um importante elemento para caracterizar os agregados, tal elemento é o apego ou upadana. Tal qualificação para os agregados aparece no contexto de exposição das quatro nobres verdades. Gostaria de destacar aqui a passagem que descreve a nobre verdade do sofrimento. Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhaṃ ariya saccaṃ: jāti pi dukkhā, jarā pi dukkhā (byādhi pi dukkho) maraṇam pi dukkhaṃ, a p piyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampicchaṃ na labhati tam pi dukkhaṃ; saṃkhittena pañc upādāna k khandhā. 10 Nossa tradução dessa passagem tem como base a tradução inglesa de Bhikkhu Bodhi como segue: Agora isso, bhikkhus, é a nobre verdade do sofrimento: nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento, doença é sofrimento, morte é sofrimento; união com o que desagrada é sofrimento; separação do que é prazeroso é sofrimento; não 9 The Connected Discourses of the Buddha: a translation of the Samyutta Nikaya, 56:11. Doravante usaremos as siglas SN para Samyutta Nikaya e MN para Majjhima Nikaya. 10 Fonte: 516
12 conseguir o que se deseja é sofrimento; em resumo, os cinco agregados sujeitos ao apego são sofrimento. 11 Gostaria de destacar nessa passagem a última afirmação: saṃkhittena pañc upādāna k khandhā, que pode ser traduzida como em resumo, os cinco agregados sujeitos ao apego são sofrimento. Que está sendo dito aqui? Que há uma condição que torna os cinco agregados sofrimento, e esta condição é a sujeição ao apego. Se não há o apego, não há mais sofrimento. Podemos inferir disso que o corpo, na medida em que é um dos agregados, só apresenta a característica de ser sofrimento enquanto há apego no conjunto dos agregados, ou seja, no ser humano. O corpo não é fundamentalmente sofrimento. Nos 12 elos do surgir condicionado upadana é o nono elo, precedido por tanha ou desejo sedento e dando origem ao tornar-se, ou seja, ao ser-existir. O corpo é impermanente, como tudo mais no Samsara, nesse sentido sujeito a acabar. Não há aqui maldade fundamental, apenas uma questão de fato. Importante lembrar aqui uma passagem do Grande Discurso Sobre o Símile da Pegada do Elefante, Majjhima Nikaya 28. Neste sutta temos Sariputta explicando precisamente o que são os cinco agregados sujeitos ao apego. Diz ele que o agregado da corporalidade ou forma consiste nos quatro grandes elementos e na forma deles derivada. Cada um dos elementos é explicado em seus aspectos externos e internos e se diz ainda nesse sutta que todos eles devem ser vistos como realmente são, a saber, isto não é meu, isto não sou eu, este não é meu eu. Ou seja, é preciso desconstruir o apego que nos leva a uma identificação com os agregados, no caso em questão, com o agregado da forma material. Estas observações nos levam a refletir acerca do que fazer para realizar esse objetivo. Mais uma vez buscaremos resposta para isto no Dhammacakkappavattana Sutta. As quatro nobres verdades oferecem um caminho para acabar com o sofrimento, e dois aspectos desse caminho são relevantes para nós, a saber, 11 SN 56:
13 vigilância correta e concentração correta. As práticas envolvendo o corpo se localizam aqui e aquela que nos interessa é a da vigilância 12. Vigilância é uma tradução possível para o termo inglês mindfulness (outra tradução, mais conhecida é atenção plena ou ainda plena conscientização). O termo páli é satipatthana, já em sua etimologia nos apresenta algumas questões polêmicas. Analayo entende o termo como composto pelas palavras sati, que significa vigilância e upatthana, cuja etimologia sugere expressões como colocar perto, estar presente, zelar, participar vigilantemente, entre outros. Segundo esta análise etimológica, satipatthana pode ser traduzida como presença da vigilância, zelo vigilante, cuidado vigilante. Esta leitura difere da tradição comentarial, que entende ser o termo vizinho de sati patthana ao invés de upatthana. Esta palavra seria derivada do sânscrito prasthana, que se traduz como fundamento ou fundação, sugerindo algo como ter a consciência como fundamento, ou seja, satipatthana seria a atitude vigilante e atenta da consciência para com seu objeto. Como a palavra patthana só ocorre a partir do Abidhamma tardio e dos comentários, Analayo entende que esta tradução não é adequada. Bhikkhu Bodhi em nota a sua tradução do sutta sustenta a mesma conclusão. Segundo ele, upatthana parece correto em termos etimológicos e tomando como referência o sânscrito smrtyupasthana. O sentido de fundamento, entretanto, acabou sendo o mais adotado pelos tradutores. É preciso ainda mencionar algo acerca do começo do sutta, mais precisamente o verso segundo. Ali temos o seguinte: Bhikkhus, este é o caminho direto para a purificação dos seres, para a superação da tristeza e da lamentação, para o desaparecimento da dor e da aflição, para a realização de Nibbana a saber, as quatro fundações da vigilância Na análise que segue, tomamos como base o livro Satipatthana: The Direct Path to Realization, resultado da tese de doutorado do monge theravada e estudioso Analayo Bhikkhu. Este livro é um estudo do Satipatthana Sutta, texto fundamental sobre a prática da meditação budista conforme a escola theravada. 13 Majjhima Nikaya 10, conforme a tradução inglesa de Bhikkhu Bodhi. A versão de Analayo mantem a expressão em pali, quatro satipatthanas ao invés de quatro fundamentos. 518
14 A expressão caminho direto é a tradução tanto de Bhikkhu Bodhi quanto Analayo para a expressão páli ekayano auam bhikkhave maggo. A forma mais comum de traduzir essa frase é utilizando expressões como único caminho. Bhikkhu Bodhi segue a observação de Ñanamoli segundo a qual ekayana magga sugere um caminho que segue numa única direção, daí a opção por caminho direto (direct path). Além disso, Bhikkhu Bodhi aponta ainda para a diferença entre satipatthana e outras práticas meditativas como as brahmaviharas e os jhāna que além de não levar necessariamente direto a nibbana, podem nos levar a desvios da meta. Satipatthana por seu turno conduz diretamente a libertação. A prática de satipatthana descreve em detalhe e define a vigilância correta, um dos aspectos do nobre caminho óctuplo mencionado acima. Ao analisar o Satipatthana Sutta, percebemos que a vigilância correta se apresenta na forma de quatro contemplações: corpo, sensações, mente e dhammas (por vezes traduzidos como fenômenos). Nosso interesse é analisar como o Buda orienta os discípulos a efetuar as várias formas de contemplação do corpo, lembrando que corpo é sofrimento, conforme mencionamos anteriormente. O sutta apresenta seis tipos de contemplação do corpo: vigilância da respiração, das posturas corporais, conhecimento claro das várias atividades e funções corporais, análise das partes do corpo, análise do corpo considerado em suas qualidades elementares e por fim a contemplação dos estágios de decomposição de um cadáver. É importante ressaltar que o ensinamento deste sutta é apresentado como sendo o caminho direto para a realização do fim do sofrimento. Neste sentido, devemos ter em mente que é isto que se pretende com estas contemplações do corpo. Comecemos nossa análise pela vigilância da respiração 14. A prática é descrita no sutta da seguinte forma: 14 Na tradição theravada a respiração aparece em primeiro, na tradição chinesa ela é a terceira forma, antecedida pelas posturas corporais, conforme observa Analayo. 519
15 E como, monges, um monge em relação ao corpo mantem a contemplação do corpo? Aqui, tendo ido à floresta, à raiz de uma árvore ou a uma cabana vazia ele se assenta; tendo cruzado as pernas, deixa o corpo ereto e estabelece a vigilância diante de si, vigilante ele inspira, vigilante ele expira 15. Temos aqui três coisas a observar. Em primeiro lugar os locais adequados para a prática, que deixam clara a importância do silêncio e do isolamento como fatores que favorecem o desenvolvimento da concentração. Em segundo lugar temos uma descrição da posição: sentado, pernas cruzadas, corpo ereto. Depois deve-se estabelecer a vigilância diante de si 16. Por fim temos a prática: observar vigilantemente inspiração e expiração, estar atento as variações tais como respirações mais longas ou mais curtas. Apenas estar atento, não se deve forçar a respiração a seguir ritmo algum. Acerca dos objetivos desta prática, diz-nos Analayo: Como uma prática de meditação, a vigilância da respiração tem um caráter pacífico e conduz a estabilidade tanto da postura quanto da mente. A estabilidade mental proporcionada pela vigilância da respiração atua, em particular, como antídoto para a distração e o pensamento discursivo. Conscientização da respiração pode também se tornar um fator estabilizador na hora da morte, assegurando que mesmo o último suspiro sega feito de modo vigilante 17. Depois de discernir ou perceber respirações longas e curtas o praticante teve treinar experimentando todo o corpo a cada inspiração e expiração. O uso do verbo treinar sugere que aqui temos um esforço a mais. Temos algumas interpretações sobre a expressão todo o corpo. Alguns entendem literalmente, ampliando a atenção da respiração para todo o corpo, os comentários entendem como algo que se chama de corpo da respiração, a saber, começo, meio e fim de 15 Satipatthana Sutta a partir da tradução inglesa feita por próprio Analayo. Todas as citações foram extraídas desta tradução. 16 Alguns entendem que isso quer dizer manter a atenção nas narinas, outros entendem ser uma expressão figurada para dizer manter a atenção em primeiro plano, acima de tudo mais. Esta última posição, segundo Analayo, faz mais sentido. 17 Analayo, pag
16 cada inspiração-expiração. O mais comum dos livros sobre esta prática é seguir a linha dos comentários. O último aspecto da vigilância da respiração é o treinar a respiração de modo a acalmar as formações corporais. De acordo com Analayo, temos duas interpretações que se coadunam com as anteriores acerca do corpo da respiração. Em um sentido, presente em outros discursos, formações corporais se referem a inspiração e expiração (MN I, 301 e S IV 293) 18 ; comentários apontam que isto se refere a manutenção de uma postura corporal confortavelmente imóvel, ou seja, acalma-se as inclinações para mover-se que surgem frequentemente quando se está meditando. Acalmar a respiração (primeira leitura) implica também acalmar o corpo (segunda leitura). Segundo Analayo, estabelecidas esta calma quanto a respiração e ao corpo, temos uma boa base para as demais contemplações presentes no sutta. Na sequência das contemplações do corpo temos duas práticas: conscientização quanto às quatro posturas e conhecimento claro quanto às atividades. O primeiro caso é descrito da seguinte forma: Quando andando, ele sabe eu estou andando ; quando parado, ele sabe eu estou parado ; quando sentado, ele sabe, eu estou sentado ; quando deitado, ele sabe eu estou deitado ; ou ele sabe adequadamente qualquer postura na qual o corpo esteja disposto. A descrição mostra que se trata de uma prática de fácil execução, basta que se cultive uma consciência do corpo em suas várias posturas ao longo do dia, não sendo necessária uma postura formal ou um momento ou lugar adequado para se praticar. Analayo aponta para o fato de que esta prática nos faz perceber relações entre estados mentais e corpo bem como nos leva a questionar a continuidade da identidade pessoal ao longo do tempo Analayo cita segundo a edição PTS. Na tradução de Bhikkhu Bodhi temos o MN 44 e o SN 41:6, respectivamente. 19 Dentre as quatro posturas o andar recebeu atenção especial ao longo do tempo, pois se configura numa prática bastante difundida no mundo budista, a chamada meditação andando. 521
17 Vejamos agora em que consiste o conhecimento claro das atividades. Quando avançando e retornando ele age com conhecimento claro; quando olhando para frente e olhando para longe ele age com conhecimento claro; quando flexionando e estendendo seus membros ele age com conhecimento claro; quando usando seu manto e carregando sua tigela e manto externo ele age com conhecimento claro; quando comendo, bebendo, consumindo comida e saboreando ele age com conhecimento claro; quando andando, parando, sentando, adormecendo, acordando, falando e mantendo silêncio ele age com conhecimento claro. A tradição dos comentários entende conhecimento claro em quatro aspectos, a saber, conhecimento claro do propósito, da adequação, da prática que se está fazendo e conhecimento claro da não-ilusão. Esta classificação tem origem nos comentários, embora seja possível encontrar base nos discursos para ela, sem entrar em todos os detalhes apresentaremos um pequeno sumário. Quando se fala em propósito a ideia é que o praticante mantenha sempre em mente que seu propósito sendo o progresso no caminho ele deve evitar aquilo que o desvia disso; quando se fala de adequação, sugere-se, segundo Analayo, que o comportamento do praticante deve ser adequado; no caso dos monges isso se liga com as várias regras cobre como se conduzir com vestimentas, comida, etc. Podemos ampliar isso para os leigos sugerindo que estes devem manter uma atitude geral de calma. No caso da prática a ideia é que o se tenha sempre em mente, de modo claro, qual sua esfera de influência, seu campo de cultivo, ou seja, que ele não perca de vista o caminho rumo ao fim do sofrimento. Por fim, o conhecimento claro da não-ilusão extrapola os limites da mera contemplação do corpo, significa compreender a natureza da realidade, diz-nos Analayo, algo a ser desenvolvido em todas as contemplações apresentadas pelo sutta. Chegamos, finalmente, as duas últimas contemplações. Estas possuem em comum o fato de serem formas analíticas de meditar, posto que consistem em Nos suttas amiúde vemos o Buda e seus monges praticando desta forma e se diz que é uma boa prática para a digestão, ajuda a combater sono e falta de concentração. 522
18 decompor o corpo em partes, de modo que se devote atenção a cada uma delas. A primeira é a contemplação das 32 partes do corpo e a segunda a contemplação do cadáver em 9 estágios de decomposição. A lista de 32 partes do corpo apresentada pelo sutta não pretende ser exaustiva, outros suttas apresentam variações. Porém, por ser esta a lista presente neste que é um dos mais importantes suttas do cânone, ela acaba sendo a mais conhecida. Vejamos o que diz o sutta: Ele analisa este mesmo corpo da sola dos pés até o topo do cabelo, coberto pela pele, como cheio de muitos tipos de impurezas assim: neste corpo há cabelos da cabeça, cabelos do corpo, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos, medula óssea, rins, coração, fígado, diafragma, baço, pulmões, intestino, mesentério, conteúdo do estômago, fezes, bile, muco, pus, sangue, gordura, sebo, lágrimas, sebo, saliva, catarro, óleo das juntas e urina. A primeira coisa que notamos é que as partes são apresentadas numa sequência de fora para dentro, do mais evidente e fácil de perceber para o mais sutil de ser percebido. Outro ponto importante é que a instrução diz par revisar o corpo como sendo cheio de muitos tipos de impurezas, o que nos faz refletir sobre o componente de desprezo do corpo que aparentemente também se faz presente no budismo. A tese que Analayo apresenta no que diz respeito a esta prática é nos levar a perceber que tanto os nossos corpos, quanto os corpos das outras pessoas não são atraentes. As consequências positivas dessa descoberta são várias: diminuição da vaidade e do desejo sensorial são dois exemplos. O desprezo pelo corpo é visto por Analayo como uma forma equivocada de conduzir a prática. Evidência disso pode ser encontrada no vinaya, numa passagem que descreve como um grupo de monges não soube praticar de modo apropriado e o desprezo pelo corpo surgiu neles com tal intensidade que alguns cometeram suicídio. Se entendemos que o objetivo dessa prática é diminuir o desejo pelo próprio corpo e pelos outros corpos, este seria o limite de sua execução, como o símile sugere, deve-se contemplar como se o corpo fosse um saco cheio de grãos. 523
19 Assim como examinar estes grãos provavelmente não provocaria nenhum tipo de reação afetiva, da mesma forma a contemplação dos constituintes anatômicos do corpo deve ser feita com uma atitude balanceada e desapegada, posto que o efeito é o resfriamento do desejo, não o estímulo da aversão 20. Temos na sequência a contemplação do corpo enquanto composto das quatro qualidades elementares, a saber, solidez, liquidez, temperatura e movimento (identificadas com os quatro elementos terra água fogo e ar). Ele analisa este mesmo corpo, onde quer que esteja colocado, onde quer que esteja disposto, como consistindo dos quatro elementos assim: neste corpo há o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo e o elemento ar. Analayo aponta para o fato de que a contemplação anterior, na medida em que lida com as partes do corpo, lida também com os aspectos de solidez e coesão, cobrindo, portanto, dois dos quatro elementos. Nesse sentido a presente contemplação é vista como um refinamento da anterior. Como fazer esta contemplação? Diz-nos Analayo: observando as qualidades em nosso corpo, ou seja, aquelas ligadas ao elemento terra e ao elemento água pela atenção as sensações físicas correspondentes; a qualidade ligada ao fogo, pela observação das variações de temperatura no corpo além de observar, na medida do possível o envelhecimento e a digestão, uma vez que tais processos são associados ao elemento fogo. Quanto ao elemento ar, devemos contemplar sua ação na circulação do sangue ou no processo de respiração. Ao contemplar o corpo como sendo composto dessas qualidades elementares, ocorre uma mudança de cognição, ou seja, passamos a não pensar mais no corpo como eu, mas sim como uma combinação destas quatro qualidades. Surge um certo nível de desapego em relação a nossa identidade com o corpo. Abre-se caminho para que o praticante possa perceber que seu corpo e o mundo 20 Analayo, p
20 material são desprovidos de substancia, as coisas são apenas gradações de solidez, coesão, etc., além de trazer a mente do praticante a verdade da impermanência, afinal sendo as coisas materiais compostas dos elementos e se estes são impermanentes. Finalmente chegamos a última contemplação do corpo, a contemplação dos nove estágios de decomposição de um cadáver. Eis a instrução: Como se ele vise um corpo jogado de lado em um campo de cremação morto há um, dois ou três dias, inchado, lívido e exsudando matéria sendo devorado por corvos, falcões, abutres, cães, chacais ou vários tipos de vermes...um esqueleto com carne e sangue sustentado pelos tendões, um esqueleto sem carne manchado com sangue sustentado pelos tendões...ossos desconectados espalhados por todas as direções, ossos completamente brancos, da cor de conchas...ossos empilhados, com mais de uma ano de idade...ossos podres se desfazendo em poeira ele compara seu próprio corpo com estas visões assim: este corpo também é da mesma natureza, ficará desse mesmo jeito, não está livre deste mesmo destino. Na Índia era comum a existência de campos de cremação e supõe-se que nem todos os corpos eram queimados de modo satisfatório ou mesmo alguns eram simplesmente jogados ali, por várias razões. No tempo do Buda é justo supor que monges procurassem esses locais para meditação, por vezes eles aparecem nas listas de locais apropriados para se praticar na solidão. Nesse contexto é que temos esta contemplação que podia naquele tempo ser feita vendo de fato os cadáveres. Hoje em dia, na falta destes locais, contemplamos com a mente estes aspectos com o objetivo de realizar a impermanência de modo interno, pois a última frase diz: este corpo é da mesma natureza e será assim no futuro, não há escapatória. Esta colocação ajuda a entender porque certas contemplações aparentemente demonizam o corpo, segundo expressão de Analayo. Ao apresentar o corpo ressaltando seus aspectos negativos, desagradáveis e indesejáveis tem-se por objetivo despertar no praticante o desapego e o insight 525
21 acerca da insubstancialidade. Do ponto de vista do ensinamento do Buda, sem estas conquistas nos manteremos presos ao Samsara. Não há melhor forma de perceber a impermanência do que notar a mesma no próprio corpo sujeito a envelhecimento, doença e morte. Em retrospecto temos, portanto, que o sutta apresenta seis tipos de contemplação do corpo: vigilância da respiração, das posturas corporais, conhecimento claro das várias atividades e funções corporais, análise das partes do corpo, análise do corpo considerado em suas qualidades elementares e por fim a contemplação dos estágios de decomposição de um cadáver. É importante ressaltar que o ensinamento deste sutta é apresentado como sendo o caminho direto para a realização do fim do sofrimento. Neste sentido, devemos ter em mente que é isto que se pretende com estas contemplações do corpo. Conclusões A primeira conclusão que se nos apresenta acerca do corpo é que, enquanto compreendido como parte de um dos agregados, o agregado da forma ou da matéria, e enquanto sujeito ao apego, é sofrimento. A partir da formulação da primeira nobre verdade temos os termos dos quais os cinco agregados sujeitos ao apego são a síntese: nascimento, envelhecimento, morte, tristeza, lamentação, dor, ligar-se ao que se detesta, afastar-se do que se gosta. Portanto, toda prática budista tem esse pano de fundo do corpo sujeito ao apego como um dos elementos componentes do problema a ser resolvido, a saber, sofrimento. Cabe destacar, entretanto, que não se trata exclusivamente do corpo, é preciso deixar claro que a sujeição ao apego é ponto chave nesse caso. Acabando com o apego, damos um fim ao sofrimento. Pelo exposto até aqui, podemos entender o budismo como uma modalidade de dualismo religioso desprezador do corpo? Palavras como 526
22 dualidade e não-dualidade, quando aplicadas ao budismo sempre trazem polêmica. Bhikkhu Bodhi aborda esta questão em um pequeno, porém polêmico artigo intitulado Dhamma and non-duality. 21 Neste texto, o monge defende a tese de que há tipos de abordagem quanto a prática espiritual caracterizadas seja pela ideia de uma unidade subjacente que pode se expressar mediante um atma ou a união com Brahma, como no caso do advaita, seja mediante a afirmação da identidade entre samsara e nirvana, segundo a visão mahayana. Falaremos aqui especificamente acerca dessa polêmica com o mahayana levantada pelo artigo. Em primeiro lugar, entendemos que o problema apresentado por Bhikkhu Bodhi aqui não se confunde com a questão do caminho do meio, ou seja, não se trata da mesma coisa tratada no cânone em passagens como o Kaccayanagotta Sutta. 22 Neste sutta concepções substancialistas de eternalismo e aniquilacionismo são criticadas e afirma-se que o sábio permanece no caminho do meio em relação a elas, considerando-as a partir do ensinamento dos 12 elos do surgir condicionado. O problema levantado por Bhikkhu Bodhi consiste na afirmação da identidade entre samsara e nirvana. Para este autor, tal afirmativa torna samsara indistinguível de nirvana, e isto não parece se harmonizar com a ideia de uma prática cujo objetivo é a realização de nibbana que implica, entre outras coisas, libertação em relação ao ciclo de renascimentos que é o samsara. Isto nos leva a concluir que o budismo theravada mantém uma diferença entre samsara e nibbana, ou seja, em alguma medida há a preservação de uma noção do transcendente enquanto outro em relação ao imanente. 23 Lembremos, porém, que a expressão imanência não descreve bem samsara, posto que reinos imateriais e transcendentes em relação ao reino humano também são parte dele. Neste sentido, embora o budismo theravada não apresente nem um dualismo nem um não-dualismo, entendemos que a existência de uma transcendência SN 12: Nem de longe pretendemos ter resolvido os problemas presentes no artigo de Bhikkhu Bodhi, especialmente se considerarmos um diálogo mais profundo com as tradições mahayana, notadamente o madhyamaka. Tal análise foge completamente aos objetivos deste texto. 527
23 enquanto alteridade e ao mesmo tempo meta da prática espiritual deixa aberta a possibilidade para uma leitura destas categorias como um tipo de versão budista da distinção entre este mundo e um outro mundo. A negação de um eu ou alma enquanto substância permanente não tira do budismo a dimensão da transcendência. Retomando a pergunta feita ao concluirmos nossa análise do pensamento de Nietzsche podemos afirmar que o budismo não apresenta um sistema dualista se com isso queremos dizer a colocação de dois mundos hierarquizados onde o material é inferior e deve ser desprezado em detrimento do superior. O budismo não demoniza o mundo material. Por outro lado, a unidade que Nietzsche defende se dá pela negação da transcendência e pela aceitação do único mundo, o mundo material. Nesse sentido temos uma diferença em relação ao budismo, de modo que seria possível, numa leitura nietzschiana classificar o budismo enquanto um tipo de dualismo, na medida em que há transcendência nesta tradição religiosa. No que diz respeito ao aspecto de desprezo pelo corpo como caminho para a transcendência, entendemos que no budismo há um duplo aspecto com relação a este ponto. Por um lado, o corpo é fonte de apego e continuidade de vida, em última instância uma peça daquilo que o Buda define como sofrimento. Por outro lado, é inegável que o caminho para o fim do sofrimento começa, na própria história do Buda, pelo abandono do desprezo ao corpo, bem como pelo abandono da excessiva complacência quanto ao corpo. Num primeiro momento o príncipe indiano abandona uma vida de luxos, para em seguida abandonar uma vida de desprezo pelo corpo e ascetismo extremado. Neste momento temos a decisão do Bodhisatta pela recuperação da sua saúde motivada pela lembrança de uma experiência de absorção contemplativa (interpretada posteriormente pelo Buda como sendo o primeiro jhāna). Tal experiência trouxe ao jovem Sidhattha um tipo de prazer caracterizado por ele como sem ligação com a sensualidade ou com 528
24 qualidades mentais prejudiciais. 24 Já no primeiro discurso temos a denúncia do ascetismo e dos rigores físicos como um extremo a ser evitado junto com a excessiva entrega aos prazeres. O caminho rumo a nibbana tem início, portanto, com a lembrança de um prazer diferente dos prazeres dos sentidos e para trilhar o caminho que esta lembrança trouxe, é preciso que o futuro Buda abandone as práticas ascéticas rigorosas, cuide e fortaleça o corpo. O desprezo pelo corpo é um extremo a ser evitado. No budismo há o reconhecimento do caráter impermanente do corpo e a sabedoria consiste em saber que, sabendo disso, estabeleçamos uma relação saudável com nosso corpo, para que possamos trilhar o caminho rumo a libertação do sofrimento. Este caminho não pode ser o do desprezo e violência contra o corpo. Além disso, temos a importante caracterização sujeito ao apego presente no primeiro discurso. O corpo em sua materialidade pura e simples não é nem bom, nem ruim, tais valorações só podem ser vinculadas a ele na medida em que há apego e só há apego porque há ignorância. O caminho do Buda é o da meditação, caminho gradual que nos ensina fundamentalmente a não tomar o corpo pelo que ele não é, a saber, algo permanente e imutável que nunca irá nos decepcionar. A prática budista começa pela aceitação do corpo em seus modos de existir: nota-se posturas, ciclos respiratórios, procura-se perceber suas várias partes, etc. Tudo isso se torna mais bem executado se o corpo do praticante não for submetido a rigores ascéticos extremos. Há no budismo uma luta contra o corpo? Se pensarmos na vida monástica, talvez isso seja verdade, considerando a exigência do celibato. Mas precisamos ter em mente que é da natureza do ensinamento que existam monges, monjas, leigos e leigas. Ninguém é obrigado ao celibato se não for monge, e se a vida monástica for insustentável para alguém, não há problemas em voltar a vida leiga 24 Conferir MN
25 e praticar como leigo. Como lida-se com a ideia de vários renascimentos, supõese que no tempo certo é possível a vida monástica. Podemos concluir afirmando que, antes de haver uma luta contra o corpo, o budismo apresenta uma aceitação do corpo, de suas limitações e possibilidades. Diante desta aceitação, torna-se possível trilhar o caminho rumo ao fim do sofrimento. Referências ANALAYO. Satipatthana, the direct path to realization. Cambridge: Windhorse Publication, 2003; ANURUDDHACARIYA, Bhadanta. A manual of Abhidhamma (Abhidhammata Sangaha. Translation and explanatory notes by Narada Maha Thera. Kuala Lumpur: Buddhist Missionary Society, 1979; BARRENECHEA, Miguel Angel de. Nietzsche: Corpo e Subjetividade. Fonte: BORGES, Marcos Alexandre. Nietzsche e a noção de corpo. Trilhas Filosóficas, Caicó, ano 1, n. 2, páginas do artigo, jul.-dez ISSN Disponível em: 8.html Acesso em: 04/06/2016; MENDIS, N. K. G. The Abhidhamma in Practice. Disponível em: Acesso em: 23/10/2016; NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2009;. A gaia ciência. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2001;. Crepúsculo dos ídolos. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2006;. Assim falou Zaratustra. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2011; 530
BHANTE HENEPOLA GUNARATANA
 Bhante Henepola Gunaratana é o abade fundador do Bhavana Society, Mosteiro Theravada de tradição de floresta, em West Virginia, EUA. Ele nasceu em uma zona rural do Sri Lanka e tornou-se monge aos 10 anos.
Bhante Henepola Gunaratana é o abade fundador do Bhavana Society, Mosteiro Theravada de tradição de floresta, em West Virginia, EUA. Ele nasceu em uma zona rural do Sri Lanka e tornou-se monge aos 10 anos.
Teorias éticas. Capítulo 20. GRÉCIA, SÉC. V a.c. PLATÃO ARISTÓTELES
 GRÉCIA, SÉC. V a.c. Reflexões éticas, com um viés político (da pólis) _ > como deve agir o cidadão? Nem todas as pessoas eram consideradas como cidadãos Reflexão metafísica: o que é a virtude? O que é
GRÉCIA, SÉC. V a.c. Reflexões éticas, com um viés político (da pólis) _ > como deve agir o cidadão? Nem todas as pessoas eram consideradas como cidadãos Reflexão metafísica: o que é a virtude? O que é
Os Fundamentos da Atenção Plena
 Satipatthâna Sutra Os Fundamentos da Atenção Plena ASSIM EU OUVI CONTAR : Em certa ocasião o Abençoado estava vivendo na região dos Kurus, onde havia uma cidade chamada Kammasadhamma. Ali ele se dirigiu
Satipatthâna Sutra Os Fundamentos da Atenção Plena ASSIM EU OUVI CONTAR : Em certa ocasião o Abençoado estava vivendo na região dos Kurus, onde havia uma cidade chamada Kammasadhamma. Ali ele se dirigiu
Clóvis de Barros Filho
 Clóvis de Barros Filho Sugestão Formação: Doutor em Ciências da Comunicação pela USP (2002) Site: http://www.espacoetica.com.br/ Vídeos Produção acadêmica ÉTICA - Princípio Conjunto de conhecimentos (filosofia)
Clóvis de Barros Filho Sugestão Formação: Doutor em Ciências da Comunicação pela USP (2002) Site: http://www.espacoetica.com.br/ Vídeos Produção acadêmica ÉTICA - Princípio Conjunto de conhecimentos (filosofia)
A ÉTICA NA HISTÓRIA DO PENSAMENTO
 SOFISTAS Acreditavam num relativismo moral. O ceticismo dos sofistas os levava a afirmar que, não existindo verdade absoluta, não poderiam existir valores que fossem validos universalmente. A moral variaria
SOFISTAS Acreditavam num relativismo moral. O ceticismo dos sofistas os levava a afirmar que, não existindo verdade absoluta, não poderiam existir valores que fossem validos universalmente. A moral variaria
Eckhart Tolle O PODER DO SILÊNCIO
 Eckhart Tolle O PODER DO SILÊNCIO SUMÁRIO Prefácio 7 CAPÍTULO UM Silêncio e calma 11 CAPÍTULO DOIS Além da mente pensante 16 CAPÍTULO TRÊS O eu autocentrado 24 CAPÍTULO QUATRO O Agora 31 CAPÍTULO CINCO
Eckhart Tolle O PODER DO SILÊNCIO SUMÁRIO Prefácio 7 CAPÍTULO UM Silêncio e calma 11 CAPÍTULO DOIS Além da mente pensante 16 CAPÍTULO TRÊS O eu autocentrado 24 CAPÍTULO QUATRO O Agora 31 CAPÍTULO CINCO
Revista Filosofia Capital ISSN Vol. 1, Edição 2, Ano BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO AO CONTEMPORÂNEO
 30 BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO AO CONTEMPORÂNEO Moura Tolledo mouratolledo@bol.com.br Brasília-DF 2006 31 BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO
30 BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO AO CONTEMPORÂNEO Moura Tolledo mouratolledo@bol.com.br Brasília-DF 2006 31 BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO
Platão, desiludido com a. escola de filosofia a Academia.
 Platão era filho da aristocracia ateniense. Foi discípulo de Sócrates. Sua obra reflete o momento caótico pelo qual passou Atenas no decorrer de sua vida A crise da sociedade ateniense está ligada à guerra
Platão era filho da aristocracia ateniense. Foi discípulo de Sócrates. Sua obra reflete o momento caótico pelo qual passou Atenas no decorrer de sua vida A crise da sociedade ateniense está ligada à guerra
PROGRAMA ANUAL DE CONTEÚDOS ENSINO FUNDAMENTAL II - 7ª SÉRIE PROFESSOR EDUARDO EMMERICK FILOSOFIA
 FILOSOFIA 1º VOLUME (separata) FILOSOFIA E A PERCEPÇÃO DO MUNDO Unidade 01 Apresentação O Começo do Pensamento - A coruja é o símbolo da filosofia. - A história do pensamento. O que é Filosofia - Etimologia
FILOSOFIA 1º VOLUME (separata) FILOSOFIA E A PERCEPÇÃO DO MUNDO Unidade 01 Apresentação O Começo do Pensamento - A coruja é o símbolo da filosofia. - A história do pensamento. O que é Filosofia - Etimologia
PLATÃO E O MUNDO IDEAL
 Introdução: PLATÃO E O MUNDO IDEAL - A importância do pensamento de Platão se deve justamente por conseguir conciliar os mundos: dos Pré-Socráticos, com suas indagações sobre o surgimento do Cosmo (lê-se:
Introdução: PLATÃO E O MUNDO IDEAL - A importância do pensamento de Platão se deve justamente por conseguir conciliar os mundos: dos Pré-Socráticos, com suas indagações sobre o surgimento do Cosmo (lê-se:
QUESTIONÁRIO DE FILOSOFIA ENSINO MÉDIO - 2º ANO A FILOSOFIA DA GRÉCIA CLÁSSICA AO HELENISMO
 QUESTIONÁRIO DE FILOSOFIA ENSINO MÉDIO - 2º ANO A FILOSOFIA DA GRÉCIA CLÁSSICA AO HELENISMO ESTUDAR PARA A PROVA TRIMESTRAL DO SEGUNDO TRIMESTRE PROFESSORA: TATIANA SILVEIRA 1 - Seguiu-se ao período pré-socrático
QUESTIONÁRIO DE FILOSOFIA ENSINO MÉDIO - 2º ANO A FILOSOFIA DA GRÉCIA CLÁSSICA AO HELENISMO ESTUDAR PARA A PROVA TRIMESTRAL DO SEGUNDO TRIMESTRE PROFESSORA: TATIANA SILVEIRA 1 - Seguiu-se ao período pré-socrático
9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II PROFESSOR DANILO BORGES
 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II PROFESSOR DANILO BORGES DAVID HUME - COMPAIXÃO Nascimento: 7 de maio de 1711 Edimburgo, Reino Unido. Morte: 25 de agosto de 1776 (65 anos) Edimburgo, Reino Unido. Hume nega
9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II PROFESSOR DANILO BORGES DAVID HUME - COMPAIXÃO Nascimento: 7 de maio de 1711 Edimburgo, Reino Unido. Morte: 25 de agosto de 1776 (65 anos) Edimburgo, Reino Unido. Hume nega
Filosofia (aula 20) Dimmy Chaar Prof. de Filosofia. SAE
 Filosofia (aula 20) Prof. de Filosofia SAE leodcc@hotmail.com Teorias Éticas - Antropocentrismo; - Reflexão Filosófica; - Ascensão da Burguesia; - Surgimento do Capitalismo; - Visa tornar-se senhor da
Filosofia (aula 20) Prof. de Filosofia SAE leodcc@hotmail.com Teorias Éticas - Antropocentrismo; - Reflexão Filosófica; - Ascensão da Burguesia; - Surgimento do Capitalismo; - Visa tornar-se senhor da
CONCEPÇÕES ÉTICAS Mito, Tragédia e Filosofia
 CONCEPÇÕES ÉTICAS Mito, Tragédia e Filosofia O que caracteriza a consciência mítica é a aceitação do destino: Os costumes dos ancestrais têm raízes no sobrenatural; As ações humanas são determinadas pelos
CONCEPÇÕES ÉTICAS Mito, Tragédia e Filosofia O que caracteriza a consciência mítica é a aceitação do destino: Os costumes dos ancestrais têm raízes no sobrenatural; As ações humanas são determinadas pelos
A ORIGEM DA FILOSOFIA
 A ORIGEM DA FILOSOFIA UMA VIDA SEM BUSCA NÃO É DIGNA DE SER VIVIDA. SÓCRATES. A IMPORTÂNCIA DOS GREGOS Sob o impulso dos gregos, a civilização ocidental tomou uma direção diferente da oriental. A filosofia
A ORIGEM DA FILOSOFIA UMA VIDA SEM BUSCA NÃO É DIGNA DE SER VIVIDA. SÓCRATES. A IMPORTÂNCIA DOS GREGOS Sob o impulso dos gregos, a civilização ocidental tomou uma direção diferente da oriental. A filosofia
ARISTÓTELES I) TEORIA DO CONHECIMENTO DE ARISTÓTELES
 AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. Todo exemplo citado em aula é, meramente,
AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. Todo exemplo citado em aula é, meramente,
3 CHAKRA Plexo solar ou umbilical
 3 CHAKRA Plexo solar ou umbilical Localização: Quatro dedos acima do umbigo (diafragma); Cor: Amarela; Cristais associados: Amarelos e dourados. Partes associadas: Pâncreas, fígado, glândulas suprarrenais,
3 CHAKRA Plexo solar ou umbilical Localização: Quatro dedos acima do umbigo (diafragma); Cor: Amarela; Cristais associados: Amarelos e dourados. Partes associadas: Pâncreas, fígado, glândulas suprarrenais,
3ªSÉRIE DO ENSINO MÉDIO DRUMMOND 2017 PROF. DOUGLAS PHILIP
 3ªSÉRIE DO ENSINO MÉDIO DRUMMOND 2017 PROF. DOUGLAS PHILIP 1. A frase mostra um dos principais objetivos de Francis Bacon (Chico Toicinho): demonstrar que o conhecimento consistia simplesmente em acreditar
3ªSÉRIE DO ENSINO MÉDIO DRUMMOND 2017 PROF. DOUGLAS PHILIP 1. A frase mostra um dos principais objetivos de Francis Bacon (Chico Toicinho): demonstrar que o conhecimento consistia simplesmente em acreditar
SOFISTAS E SÓCRATES Os sofistas são pensadores que questionam pela retórica o ideal democrático e racionalidade grega que colocava a centralidade da
 SOFISTAS E SÓCRATES Os sofistas são pensadores que questionam pela retórica o ideal democrático e racionalidade grega que colocava a centralidade da vida ética na coletividade e no bem comum. Neste sentido,
SOFISTAS E SÓCRATES Os sofistas são pensadores que questionam pela retórica o ideal democrático e racionalidade grega que colocava a centralidade da vida ética na coletividade e no bem comum. Neste sentido,
SOMOS LIVRES AO DECIDIR
 FILOSOFIA 2º ano Partindo do principio de que liberdade é LIBERDADE DE ESCOLHER Afinal, até onde alcança o poder da nossa liberdade? Nossas escolhas estão ligadas aos princípios morais da nossa sociedade;
FILOSOFIA 2º ano Partindo do principio de que liberdade é LIBERDADE DE ESCOLHER Afinal, até onde alcança o poder da nossa liberdade? Nossas escolhas estão ligadas aos princípios morais da nossa sociedade;
Aristóteles, Ética a Nicômaco, X 7, 1177 b 33.
 91 tornar-se tanto quanto possível imortal Aristóteles, Ética a Nicômaco, X 7, 1177 b 33. 92 5. Conclusão Qual é o objeto da vida humana? Qual é o seu propósito? Qual é o seu significado? De todas as respostas
91 tornar-se tanto quanto possível imortal Aristóteles, Ética a Nicômaco, X 7, 1177 b 33. 92 5. Conclusão Qual é o objeto da vida humana? Qual é o seu propósito? Qual é o seu significado? De todas as respostas
AMOR PROVADO Ninho Bagunçado (Décimo primeiro ao décimo nono ano)
 AMOR PROVADO Ninho Bagunçado (Décimo primeiro ao décimo nono ano) a) Manter uma identidade pessoal e uma identidade para o casamento > Dependência exagerada - A identidade do cônjuge é um reflexo do seu
AMOR PROVADO Ninho Bagunçado (Décimo primeiro ao décimo nono ano) a) Manter uma identidade pessoal e uma identidade para o casamento > Dependência exagerada - A identidade do cônjuge é um reflexo do seu
OS CICLOS DOS 7 ANOS
 OS CICLOS DOS 7 ANOS Os mistérios que envolvem a nossa vida, desde o nascimento, como as experiências, os fatos, os acontecimentos, bons e ruins, as pessoas que surgem ou desaparecem, de nossas vidas,
OS CICLOS DOS 7 ANOS Os mistérios que envolvem a nossa vida, desde o nascimento, como as experiências, os fatos, os acontecimentos, bons e ruins, as pessoas que surgem ou desaparecem, de nossas vidas,
Trabalho sobre: René Descartes Apresentado dia 03/03/2015, na A;R;B;L;S : Pitágoras nº 28 Or:.Londrina PR., para Aumento de Sal:.
 ARBLS PITAGORAS Nº 28 Fundação : 21 de Abril de 1965 Rua Júlio Cesar Ribeiro, 490 CEP 86001-970 LONDRINA PR JOSE MARIO TOMAL TRABALHO PARA O PERÍODO DE INSTRUÇÃO RENE DESCARTES LONDRINA 2015 JOSE MARIO
ARBLS PITAGORAS Nº 28 Fundação : 21 de Abril de 1965 Rua Júlio Cesar Ribeiro, 490 CEP 86001-970 LONDRINA PR JOSE MARIO TOMAL TRABALHO PARA O PERÍODO DE INSTRUÇÃO RENE DESCARTES LONDRINA 2015 JOSE MARIO
Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight
 Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight Antigo sistema de escrita usado em Creta (por volta do século IV A.C.) Abraão Carvalho 1 O conceito do que se convencionou pela
Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight Antigo sistema de escrita usado em Creta (por volta do século IV A.C.) Abraão Carvalho 1 O conceito do que se convencionou pela
OS FILÓFOFOS PRÉ-SOCRÁTICOS
 OS FILÓFOFOS PRÉ-SOCRÁTICOS São chamados de filósofos da natureza. Buscavam a arché, isto é, o elemento ou substância primordial que originava todas as coisas da natureza. Dirigiram sua atenção e suas
OS FILÓFOFOS PRÉ-SOCRÁTICOS São chamados de filósofos da natureza. Buscavam a arché, isto é, o elemento ou substância primordial que originava todas as coisas da natureza. Dirigiram sua atenção e suas
TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant ( )
 TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant (1724-1804) Obras de destaque da Filosofia Kantiana Epistemologia - Crítica da Razão Pura (1781) Prolegômenos e a toda a Metafísica Futura (1783) Ética - Crítica da
TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant (1724-1804) Obras de destaque da Filosofia Kantiana Epistemologia - Crítica da Razão Pura (1781) Prolegômenos e a toda a Metafísica Futura (1783) Ética - Crítica da
O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura
 O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura Jean Carlos Demboski * A questão moral em Immanuel Kant é referência para compreender as mudanças ocorridas
O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura Jean Carlos Demboski * A questão moral em Immanuel Kant é referência para compreender as mudanças ocorridas
Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen
 1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
Agenealogia dos Estudos Culturais é objeto de dissenso
 Cinqüentenário de um discurso cultural fundador WILLIAMS, R. Culture and society 1780-1950. [Londres, Longman, 1958]. Cultura e sociedade. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1969. Agenealogia dos Estudos
Cinqüentenário de um discurso cultural fundador WILLIAMS, R. Culture and society 1780-1950. [Londres, Longman, 1958]. Cultura e sociedade. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1969. Agenealogia dos Estudos
Aula 08 Terceiro Colegial.
 Aula 08 Terceiro Colegial Cristianismo: Entre a Fé e a Razão Busca por uma base racional para sustentar a fé Formulações filosóficas se estendendo por mais de mil anos Cristianismo Palavra de Jesus, que
Aula 08 Terceiro Colegial Cristianismo: Entre a Fé e a Razão Busca por uma base racional para sustentar a fé Formulações filosóficas se estendendo por mais de mil anos Cristianismo Palavra de Jesus, que
Racionalismo. René Descartes Prof. Deivid
 Racionalismo René Descartes Prof. Deivid Índice O que é o racionalismo? René Descartes Racionalismo de Descartes Nada satisfaz Descartes? Descartes e o saber tradicional Objetivo de Descartes A importância
Racionalismo René Descartes Prof. Deivid Índice O que é o racionalismo? René Descartes Racionalismo de Descartes Nada satisfaz Descartes? Descartes e o saber tradicional Objetivo de Descartes A importância
FILOSOFIA EDIEL NASCIMENTO
 FILOSOFIA EDIEL NASCIMENTO A mente que se abre para uma nova ideia, jamais retorna ao seu tamanho original. A. Einstein Ementa A disciplina de Filosofia aborda fundamentos filosóficos como instrumentais
FILOSOFIA EDIEL NASCIMENTO A mente que se abre para uma nova ideia, jamais retorna ao seu tamanho original. A. Einstein Ementa A disciplina de Filosofia aborda fundamentos filosóficos como instrumentais
Metafísica: Noções Gerais (por Abraão Carvalho in:
 : Noções Gerais (por Abraão Carvalho in: www.criticaecriacaoembits.blogspot.com) é uma palavra de origem grega. É o resultado da reunião de duas expressões, a saber, "meta" e "physis". Meta significa além
: Noções Gerais (por Abraão Carvalho in: www.criticaecriacaoembits.blogspot.com) é uma palavra de origem grega. É o resultado da reunião de duas expressões, a saber, "meta" e "physis". Meta significa além
ALBERTO MAGNO E TOMÁS DE AQUINO
 1 ALBERTO MAGNO E TOMÁS DE AQUINO A ESCOLÁSTICA E OS PRINCIPAIS REPRESENTANTES ALBERTO MAGNO TOMÁS DE AQUINO Buscaram provar a existência de Deus utilizando argumentos racionais. 2 A UNIDADE ENTRE A FÉ
1 ALBERTO MAGNO E TOMÁS DE AQUINO A ESCOLÁSTICA E OS PRINCIPAIS REPRESENTANTES ALBERTO MAGNO TOMÁS DE AQUINO Buscaram provar a existência de Deus utilizando argumentos racionais. 2 A UNIDADE ENTRE A FÉ
A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS
 A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS O que é a metafísica? É a investigação das causas primeiras de todas as coisas existentes e estuda o ser enquanto ser. É a ciência que serve de fundamento para
A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS O que é a metafísica? É a investigação das causas primeiras de todas as coisas existentes e estuda o ser enquanto ser. É a ciência que serve de fundamento para
FILOSOFIA 11º ano O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
 FILOSOFIA 11º ano O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA Governo da República Portuguesa Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva 1.1 Estrutura do ato de conhecer 1.2 Análise
FILOSOFIA 11º ano O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA Governo da República Portuguesa Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva 1.1 Estrutura do ato de conhecer 1.2 Análise
Platão a.c. Arístocles Platão (Amplo) Um dos principais discípulos de Sócrates
 PLATÃO Platão 432 347 a.c. Arístocles Platão (Amplo) Origem Aristocrática Um dos principais discípulos de Sócrates Platão foi o fundador da primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental, a
PLATÃO Platão 432 347 a.c. Arístocles Platão (Amplo) Origem Aristocrática Um dos principais discípulos de Sócrates Platão foi o fundador da primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental, a
22/08/2014. Tema 6: Ciência e Filosofia. Profa. Ma. Mariciane Mores Nunes. Ciência e Filosofia
 Tema 6: Ciência e Filosofia Profa. Ma. Mariciane Mores Nunes Ciência e Filosofia Ciência: vem do latim scientia. Significa sabedoria, conhecimento. Objetivos: Conhecimento sistemático. Tornar o mundo compreensível.
Tema 6: Ciência e Filosofia Profa. Ma. Mariciane Mores Nunes Ciência e Filosofia Ciência: vem do latim scientia. Significa sabedoria, conhecimento. Objetivos: Conhecimento sistemático. Tornar o mundo compreensível.
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA CURSO DE ENFERMAGEM DISCIPLINA: PRATICAS NATURAIS E VIVENCIS EM SAÚDE I Prof.ª DANIELLA KOCH DE CARVALHO
 UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA CURSO DE ENFERMAGEM DISCIPLINA: PRATICAS NATURAIS E VIVENCIS EM SAÚDE I Prof.ª DANIELLA KOCH DE CARVALHO Segundo Barros (2004), Dhyana é a palavra em sânscrito que
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA CURSO DE ENFERMAGEM DISCIPLINA: PRATICAS NATURAIS E VIVENCIS EM SAÚDE I Prof.ª DANIELLA KOCH DE CARVALHO Segundo Barros (2004), Dhyana é a palavra em sânscrito que
A IMPORTANCIA DA REFLEXÃO NO DIREITO ELEITORAL
 A IMPORTANCIA DA REFLEXÃO NO DIREITO ELEITORAL Michael Dionisio de SOUZA 1 Daiele dos Santos KAIZER 2 RESUMO A ideia de reflexão encontra-se ligada com o surgimento da filosofia, podendo ser considerada
A IMPORTANCIA DA REFLEXÃO NO DIREITO ELEITORAL Michael Dionisio de SOUZA 1 Daiele dos Santos KAIZER 2 RESUMO A ideia de reflexão encontra-se ligada com o surgimento da filosofia, podendo ser considerada
EGC - Engenharia e gestão do conhecimento Disciplina: Complexidade, conhecimento e sociedades em rede Professor: Aires Rover Aluna: Desirée Sant Anna
 OSHO - INTUIÇÃO EGC - Engenharia e gestão do conhecimento Disciplina: Complexidade, conhecimento e sociedades em rede Professor: Aires Rover Aluna: Desirée Sant Anna Maestri 2016/1 O LIVRO três partes
OSHO - INTUIÇÃO EGC - Engenharia e gestão do conhecimento Disciplina: Complexidade, conhecimento e sociedades em rede Professor: Aires Rover Aluna: Desirée Sant Anna Maestri 2016/1 O LIVRO três partes
PERÍODO GREGO e Psicologia
 PERÍODO GREGO e Psicologia De 700 a. C. ao início Era Cristã: (») Apogeu Conhecimento Humano :: Riqueza na Pólis (++) Produtos e Recursos O homem livre para se dedicar à Arte e Filosofia : Especulação
PERÍODO GREGO e Psicologia De 700 a. C. ao início Era Cristã: (») Apogeu Conhecimento Humano :: Riqueza na Pólis (++) Produtos e Recursos O homem livre para se dedicar à Arte e Filosofia : Especulação
Os Sociólogos Clássicos Pt.2
 Os Sociólogos Clássicos Pt.2 Max Weber O conceito de ação social em Weber Karl Marx O materialismo histórico de Marx Teoria Exercícios Max Weber Maximilian Carl Emil Weber (1864 1920) foi um intelectual
Os Sociólogos Clássicos Pt.2 Max Weber O conceito de ação social em Weber Karl Marx O materialismo histórico de Marx Teoria Exercícios Max Weber Maximilian Carl Emil Weber (1864 1920) foi um intelectual
Fobia Específica. Simpósio de Terapia Cognitivo Comportamental Instituto Brasileiro de Hipnose IBH
 Fobia Específica Simpósio de Terapia Cognitivo Comportamental Instituto Brasileiro de Hipnose IBH - 20015 A origem da palavra Fobia Phobos" significa "medo" e serve de raiz para a palavra fobia. Os critérios
Fobia Específica Simpósio de Terapia Cognitivo Comportamental Instituto Brasileiro de Hipnose IBH - 20015 A origem da palavra Fobia Phobos" significa "medo" e serve de raiz para a palavra fobia. Os critérios
Sócrates, Sofistas, Platão e Aristóteles (ética) Séc. III e IV a. C
 Sócrates, Sofistas, Platão e Aristóteles (ética) Séc. III e IV a. C Nunca deixou nada escrito Patrono da Filosofia Sh As principais fontes: Platão, Xenofonte e Aristóteles Questões Antropológicas O início
Sócrates, Sofistas, Platão e Aristóteles (ética) Séc. III e IV a. C Nunca deixou nada escrito Patrono da Filosofia Sh As principais fontes: Platão, Xenofonte e Aristóteles Questões Antropológicas O início
ENSINO RELIGIOSO - 9º ANO
 CONTEÚDOS ENSINO RELIGIOSO - 9º ANO Coleção Interativa UNIDADE 1 Preparo para o céu 1 - Rota errada A seriedade do pecado Características do pecado Solução 2- Giro de 180 graus Sentimento de culpa Verdadeiro
CONTEÚDOS ENSINO RELIGIOSO - 9º ANO Coleção Interativa UNIDADE 1 Preparo para o céu 1 - Rota errada A seriedade do pecado Características do pecado Solução 2- Giro de 180 graus Sentimento de culpa Verdadeiro
As origens da filosofia. Os filósofos pré-socráticos
 Na aula de hoje vamos estudar. As origens da filosofia. Os filósofos pré-socráticos O que chamamos de filosofia surgiu na Grécia Antiga. Os filósofos pré socráticos. Os jônios ou Escola de Mileto. Escola
Na aula de hoje vamos estudar. As origens da filosofia. Os filósofos pré-socráticos O que chamamos de filosofia surgiu na Grécia Antiga. Os filósofos pré socráticos. Os jônios ou Escola de Mileto. Escola
Nascido em Estagira - Macedônia ( a.c.). Principal representante do período sistemático.
 Aristóteles Nascido em Estagira - Macedônia (384-322 a.c.). Principal representante do período sistemático. Filho de Nicômaco, médico, herdou o interesse pelas ciências naturais Ingressa na Academia de
Aristóteles Nascido em Estagira - Macedônia (384-322 a.c.). Principal representante do período sistemático. Filho de Nicômaco, médico, herdou o interesse pelas ciências naturais Ingressa na Academia de
Filosofia Moderna: a nova ciência e o racionalismo.
 FILOSOFIA MODERNA Filosofia Moderna: a nova ciência e o racionalismo. Período histórico: Idade Moderna (século XV a XVIII). Transformações que podemos destacar: A passagem do feudalismo para o capitalismo
FILOSOFIA MODERNA Filosofia Moderna: a nova ciência e o racionalismo. Período histórico: Idade Moderna (século XV a XVIII). Transformações que podemos destacar: A passagem do feudalismo para o capitalismo
COMUNICAÇÃO APLICADA MÓDULO 4
 COMUNICAÇÃO APLICADA MÓDULO 4 Índice 1. Significado...3 1.1. Contexto... 3 1.2. Intertextualidade... 3 1.2.1. Tipos de intertextualidade... 3 1.3. Sentido... 4 1.4. Tipos de Significado... 4 1.4.1. Significado
COMUNICAÇÃO APLICADA MÓDULO 4 Índice 1. Significado...3 1.1. Contexto... 3 1.2. Intertextualidade... 3 1.2.1. Tipos de intertextualidade... 3 1.3. Sentido... 4 1.4. Tipos de Significado... 4 1.4.1. Significado
Curso TURMA: 2101 e 2102 DATA: Teste: Prova: Trabalho: Formativo: Média:
 EXERCÍCIOS ON LINE 3º BIMESTRE DISCIPLINA: Filosofia PROFESSOR(A): Julio Guedes Curso TURMA: 2101 e 2102 DATA: Teste: Prova: Trabalho: Formativo: Média: NOME: Nº.: Exercício On Line (1) A filosofia atingiu
EXERCÍCIOS ON LINE 3º BIMESTRE DISCIPLINA: Filosofia PROFESSOR(A): Julio Guedes Curso TURMA: 2101 e 2102 DATA: Teste: Prova: Trabalho: Formativo: Média: NOME: Nº.: Exercício On Line (1) A filosofia atingiu
MATERIAL COMPLEMENTAR. Teste Seus Chakras
 MATERIAL COMPLEMENTAR Teste Seus Chakras IMPORTANTE: Este teste tem como objetivo a percepção de si mesmo e o autoconhecimento. FUNCIONAMENTO A seguir você verá uma tabela com os principais sintomas de
MATERIAL COMPLEMENTAR Teste Seus Chakras IMPORTANTE: Este teste tem como objetivo a percepção de si mesmo e o autoconhecimento. FUNCIONAMENTO A seguir você verá uma tabela com os principais sintomas de
Prefácio 7. Sobre o autor 109 SUMÁRIO. Capítulo um: Silêncio e calma 11. Capítulo dois: Além da mente pensante 19. Capítulo três: O eu autocentrado 31
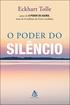 SUMÁRIO Prefácio 7 Capítulo um: Silêncio e calma 11 Capítulo dois: Além da mente pensante 19 Capítulo três: O eu autocentrado 31 Capítulo quatro: O Agora 41 Capítulo cinco: Quem você realmente é 49 Capítulo
SUMÁRIO Prefácio 7 Capítulo um: Silêncio e calma 11 Capítulo dois: Além da mente pensante 19 Capítulo três: O eu autocentrado 31 Capítulo quatro: O Agora 41 Capítulo cinco: Quem você realmente é 49 Capítulo
O corpo físico é mau e inferior à alma?
 O corpo físico é mau e inferior à alma? Compreendendo a natureza humana por Paulo Sérgio de Araújo INTRODUÇÃO Conforme a teoria das idéias (ou teoria das formas ) do filósofo grego Platão (428-347 a.c.),
O corpo físico é mau e inferior à alma? Compreendendo a natureza humana por Paulo Sérgio de Araújo INTRODUÇÃO Conforme a teoria das idéias (ou teoria das formas ) do filósofo grego Platão (428-347 a.c.),
Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein
 Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein NOME DO AUTOR: Priscilla da Veiga BORGES; André da Silva PORTO. UNIDADE ACADÊMICA: Universidade Federal de
Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein NOME DO AUTOR: Priscilla da Veiga BORGES; André da Silva PORTO. UNIDADE ACADÊMICA: Universidade Federal de
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ CURSO DE DIREITO. Método Dialético. Profª: Kátia Paulino
 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ CURSO DE DIREITO Método Dialético Profª: Kátia Paulino Dialética No dicionário Aurélio, encontramos dialética como sendo: "[Do gr. dialektiké (téchne), pelo lat. dialectica.]
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ CURSO DE DIREITO Método Dialético Profª: Kátia Paulino Dialética No dicionário Aurélio, encontramos dialética como sendo: "[Do gr. dialektiké (téchne), pelo lat. dialectica.]
Prefácio. Como tornar-se mais sábio e mais sereno? Como discernir o essencial do dispensável, o importante
 Prefácio Como tornar-se mais sábio e mais sereno? Como discernir o essencial do dispensável, o importante do urgente? Como aprender a relativizar o que nos acontece de bom e de não tão bom? Como ter uma
Prefácio Como tornar-se mais sábio e mais sereno? Como discernir o essencial do dispensável, o importante do urgente? Como aprender a relativizar o que nos acontece de bom e de não tão bom? Como ter uma
6. Conclusão. Contingência da Linguagem em Richard Rorty, seção 1.2).
 6. Conclusão A escolha de tratar neste trabalho da concepção de Rorty sobre a contingência está relacionada ao fato de que o tema perpassa importantes questões da reflexão filosófica, e nos permite termos
6. Conclusão A escolha de tratar neste trabalho da concepção de Rorty sobre a contingência está relacionada ao fato de que o tema perpassa importantes questões da reflexão filosófica, e nos permite termos
Locke ( ) iniciou o movimento chamado de EMPIRISMO INGLÊS. Material adaptado, produzido por Cláudio, da UFRN, 2012.
 Locke (1632-1704) iniciou o movimento chamado de EMPIRISMO INGLÊS. Material adaptado, produzido por Cláudio, da UFRN, 2012. Racionalismo x Empirismo O que diz o Racionalismo (Descartes, Spinoza, Leibiniz)?
Locke (1632-1704) iniciou o movimento chamado de EMPIRISMO INGLÊS. Material adaptado, produzido por Cláudio, da UFRN, 2012. Racionalismo x Empirismo O que diz o Racionalismo (Descartes, Spinoza, Leibiniz)?
CRISTO, IDEAL DA PROCURA DE DEUS COMO CONVERSÃO. CIMBRA 2014 MOSTEIRO DA TRANSFIGURAÇÃO SANTA ROSA RS
 CRISTO, IDEAL DA PROCURA DE DEUS COMO CONVERSÃO. CIMBRA 2014 MOSTEIRO DA TRANSFIGURAÇÃO SANTA ROSA RS Introdução A fidelidade ao espírito do evangelho e aos ensinamentos de São Paulo, o sentido da Igreja
CRISTO, IDEAL DA PROCURA DE DEUS COMO CONVERSÃO. CIMBRA 2014 MOSTEIRO DA TRANSFIGURAÇÃO SANTA ROSA RS Introdução A fidelidade ao espírito do evangelho e aos ensinamentos de São Paulo, o sentido da Igreja
ÉTICA PROFISSIONAL. Curso de Engenharia UNIP
 ÉTICA PROFISSIONAL Curso de Engenharia UNIP O QUE É ÉTICA? O QUE É ÉTICA? Tradicionalmente é entendida como um estudo ou uma reflexão sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Pode ser entendida também
ÉTICA PROFISSIONAL Curso de Engenharia UNIP O QUE É ÉTICA? O QUE É ÉTICA? Tradicionalmente é entendida como um estudo ou uma reflexão sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Pode ser entendida também
O CONHECIMENTO E SEUS NÍVEIS
 O CONHECIMENTO E SEUS NÍVEIS 1. O CONHECIMENTO é uma relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. O sujeito que conhece se apropria, de certo modo, do objeto conhecido. Através
O CONHECIMENTO E SEUS NÍVEIS 1. O CONHECIMENTO é uma relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. O sujeito que conhece se apropria, de certo modo, do objeto conhecido. Através
Introdução À Ética e a Moral. A verdadeira Moral zomba da Moral Blaise Pascal( )
 Introdução À Ética e a Moral A verdadeira Moral zomba da Moral Blaise Pascal(1623-1662) Ética ou Filosofia Moral: Parte da filosofia que se ocupa com a reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam
Introdução À Ética e a Moral A verdadeira Moral zomba da Moral Blaise Pascal(1623-1662) Ética ou Filosofia Moral: Parte da filosofia que se ocupa com a reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam
A filosofia de Espinosa
 A filosofia de Espinosa Para tratar de qualquer âmbito da filosofia de Espinosa, é necessário de antemão compreender a imagem de Deus feita pelo filósofo, bem como a importância d Ele para sua filosofia.
A filosofia de Espinosa Para tratar de qualquer âmbito da filosofia de Espinosa, é necessário de antemão compreender a imagem de Deus feita pelo filósofo, bem como a importância d Ele para sua filosofia.
Maria Luiza Costa
 45 ESTÉTICA CLÁSSICA E ESTÉTICA CRÍTICA Maria Luiza Costa m_luiza@pop.com.br Brasília-DF 2008 46 ESTÉTICA CLÁSSICA E ESTÉTICA CRÍTICA Resumo Maria Luiza Costa 1 m_luiza@pop.com.br Este trabalho pretende
45 ESTÉTICA CLÁSSICA E ESTÉTICA CRÍTICA Maria Luiza Costa m_luiza@pop.com.br Brasília-DF 2008 46 ESTÉTICA CLÁSSICA E ESTÉTICA CRÍTICA Resumo Maria Luiza Costa 1 m_luiza@pop.com.br Este trabalho pretende
Filosofia da Arte. Unidade II O Universo das artes
 Filosofia da Arte Unidade II O Universo das artes FILOSOFIA DA ARTE Campo da Filosofia que reflete e permite a compreensão do mundo pelo seu aspecto sensível. Possibilita compreender a apreensão da realidade
Filosofia da Arte Unidade II O Universo das artes FILOSOFIA DA ARTE Campo da Filosofia que reflete e permite a compreensão do mundo pelo seu aspecto sensível. Possibilita compreender a apreensão da realidade
A Alma Uma perspectiva bíblica e luterana. Jörg Garbers Ms. de Teologia
 A Alma Uma perspectiva bíblica e luterana Jörg Garbers Ms. de Teologia A alma A palavra alma é a tradução das palavras: Nefesch (hebraico no AT) Psyche(grego no NT) Popularmente a alma......é uma parte
A Alma Uma perspectiva bíblica e luterana Jörg Garbers Ms. de Teologia A alma A palavra alma é a tradução das palavras: Nefesch (hebraico no AT) Psyche(grego no NT) Popularmente a alma......é uma parte
O Céu e o Inferno e a Ciência Contemporânea
 V Congresso Espiritismo O Céu e o Inferno de Platão e Dante à Kardec O Céu e o Inferno e a Ciência Contemporânea Agosto de 2015 Claudio C. Conti www.ccconti.com Qual a melhor receita para uma vitamina
V Congresso Espiritismo O Céu e o Inferno de Platão e Dante à Kardec O Céu e o Inferno e a Ciência Contemporânea Agosto de 2015 Claudio C. Conti www.ccconti.com Qual a melhor receita para uma vitamina
O verdadeiro conhecimento ética utilitarista procede da razão
 CONTEÚDO FILOSOFIA Avaliação Mensal Professora Célia Reinaux 6º ANO Módulo Unidade 3 A sombra na madrugada Páginas 34 até 39 Um obstáculo na trilha Páginas 40 até 46 Filósofos trabalhados: René Descartes
CONTEÚDO FILOSOFIA Avaliação Mensal Professora Célia Reinaux 6º ANO Módulo Unidade 3 A sombra na madrugada Páginas 34 até 39 Um obstáculo na trilha Páginas 40 até 46 Filósofos trabalhados: René Descartes
CRÍTICA BUDISTA DE NIETZSCHE CRITICAL BUDDHIST OF NIETZSCHE
 CRÍTICA BUDISTA DE NIETZSCHE CRITICAL BUDDHIST OF NIETZSCHE Derley Menezes Alves Instituto Federal de Sergipe Resumo: O presente texto pretende tão somente ser uma primeira aproximação ao estudo das relações
CRÍTICA BUDISTA DE NIETZSCHE CRITICAL BUDDHIST OF NIETZSCHE Derley Menezes Alves Instituto Federal de Sergipe Resumo: O presente texto pretende tão somente ser uma primeira aproximação ao estudo das relações
Matéria para a Reunião Geral de Estudo - 30 de março (sáb.)
 Matéria para a Reunião Geral de Estudo - 30 de março (sáb.) 1 2 o inferno é a terra da luz tranquila Obs: Os textos desta apostila foram revisados com base na padronização dos termos, princípios e personagens
Matéria para a Reunião Geral de Estudo - 30 de março (sáb.) 1 2 o inferno é a terra da luz tranquila Obs: Os textos desta apostila foram revisados com base na padronização dos termos, princípios e personagens
Escritos de Max Weber
 Escritos de Max Weber i) 1903-1906 - A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1ª parte, em 1904; 2ª parte em 1905; introdução redigida em 1920); - A objetividade do conhecimento nas Ciências Sociais
Escritos de Max Weber i) 1903-1906 - A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1ª parte, em 1904; 2ª parte em 1905; introdução redigida em 1920); - A objetividade do conhecimento nas Ciências Sociais
A Filosofia e a Sociologia: contribuições para a Educação
 A Filosofia e a Sociologia: contribuições para a Educação Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação Semana I Prof. Ms. Joel Sossai Coleti O que é? O que é? Filosofia: disciplina que tem como objeto
A Filosofia e a Sociologia: contribuições para a Educação Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação Semana I Prof. Ms. Joel Sossai Coleti O que é? O que é? Filosofia: disciplina que tem como objeto
A Estética é uma especialidade filosófica que visa investigar a essência da beleza e as bases da arte. Ela procura compreender as emoções, idéias e
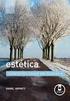 A Estética A Estética é uma especialidade filosófica que visa investigar a essência da beleza e as bases da arte. Ela procura compreender as emoções, idéias e juízos que são despertados ao observar uma
A Estética A Estética é uma especialidade filosófica que visa investigar a essência da beleza e as bases da arte. Ela procura compreender as emoções, idéias e juízos que são despertados ao observar uma
INTRODUÇÃO AO O QUE É A FILOSOFIA? PENSAMENTO FILOSÓFICO: Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior
 INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO: O QUE É A FILOSOFIA? Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior INTRODUÇÃO FILOSOFIA THEORIA - ONTOS - LOGOS VER - SER - DIZER - A Filosofia é ver e dizer aquilo que
INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO: O QUE É A FILOSOFIA? Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior INTRODUÇÃO FILOSOFIA THEORIA - ONTOS - LOGOS VER - SER - DIZER - A Filosofia é ver e dizer aquilo que
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1
 NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
CRONOLOGIA. Friedrich Nietzsche ( )
 CRONOLOGIA Friedrich Nietzsche (1844-1900) 1844 - Em Röcken, Prússia, a 15 de outubro, nasce Friedrich Nietzsche. 1869 - Torna-se professor de filologia clássica na Universidade de Basiléia. 1872 - Publica
CRONOLOGIA Friedrich Nietzsche (1844-1900) 1844 - Em Röcken, Prússia, a 15 de outubro, nasce Friedrich Nietzsche. 1869 - Torna-se professor de filologia clássica na Universidade de Basiléia. 1872 - Publica
QUEBRANDO BARREIRAS. Alexandre Luiz Demarchi
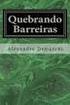 QUEBRANDO BARREIRAS Alexandre Luiz Demarchi Prefácio A vida apresenta-se como uma sequência de escolhas e cada um decide seu caminho. Nosso desenvolvimento vem de juntar as peças no grande quebra-cabeça
QUEBRANDO BARREIRAS Alexandre Luiz Demarchi Prefácio A vida apresenta-se como uma sequência de escolhas e cada um decide seu caminho. Nosso desenvolvimento vem de juntar as peças no grande quebra-cabeça
Unidade 2: Teoria Sociológica de Durkheim. Sociologia Geral - Psicologia Igor Assaf Mendes
 Unidade 2: Teoria Sociológica de Durkheim Sociologia Geral - Psicologia Igor Assaf Mendes Teorias e Perspectivas Sociológicas Funcionalismo: enfatiza que o comportamento humano é governado por estruturas
Unidade 2: Teoria Sociológica de Durkheim Sociologia Geral - Psicologia Igor Assaf Mendes Teorias e Perspectivas Sociológicas Funcionalismo: enfatiza que o comportamento humano é governado por estruturas
TEMA: O NOVO NASCIMENTO E A CONVERSÃO.
 TEMA: O NOVO NASCIMENTO E A CONVERSÃO. Texto: E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o SENHOR; e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu
TEMA: O NOVO NASCIMENTO E A CONVERSÃO. Texto: E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o SENHOR; e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu
Satipatthana Sutta. Seção da contemplação ou reflexão sobre: as partes do corpo as impurezas do corpo a repugnância ao corpo
 Satipatthana Sutta Seção da contemplação ou reflexão sobre: as partes do corpo as impurezas do corpo a repugnância ao corpo Bibliografia The Way of Mindfulness The Satipatthanna Sutta and Its Commentary,
Satipatthana Sutta Seção da contemplação ou reflexão sobre: as partes do corpo as impurezas do corpo a repugnância ao corpo Bibliografia The Way of Mindfulness The Satipatthanna Sutta and Its Commentary,
CONFLITO. Processo onde as partes envolvidas percebe que a outra parte frustrou ou irá frustrar os seus interesses.
 CONFLITO Conceito de Conflito Processo onde as partes envolvidas percebe que a outra parte frustrou ou irá frustrar os seus interesses. Fator inevitável seja na dinâmica pessoal ou organizacional. Existem
CONFLITO Conceito de Conflito Processo onde as partes envolvidas percebe que a outra parte frustrou ou irá frustrar os seus interesses. Fator inevitável seja na dinâmica pessoal ou organizacional. Existem
Então começamos por ali. Com quebracabeças. Cada um de vocês tem uma peça de um quebra-cabeça. Me fala um pouco sobre a sua peça. [Passa alguns minuto
 ACHANDO SEU LUGAR A tema ou o rumo deste estudo será Achando Seu Lugar. Muitos nós temos lugares onde sentimos em casa: onde achamos amor e aceitação, um pouco do significado e propósito que buscamos.
ACHANDO SEU LUGAR A tema ou o rumo deste estudo será Achando Seu Lugar. Muitos nós temos lugares onde sentimos em casa: onde achamos amor e aceitação, um pouco do significado e propósito que buscamos.
O Positivismo de Augusto Comte. Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior
 O Positivismo de Augusto Comte Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior Augusto Comte (1798-1857). Um dos pais fundadores da Sociologia. Obras principais: Curso de Filosofia Positiva. 6 volumes. (1830-1842).
O Positivismo de Augusto Comte Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior Augusto Comte (1798-1857). Um dos pais fundadores da Sociologia. Obras principais: Curso de Filosofia Positiva. 6 volumes. (1830-1842).
Fundamentos do Movimento Humano
 Fundamentos do Movimento Humano CORPOREIDADE Corporeidade é a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento relacional com o mundo. manifesta-se através do corpo, que interage
Fundamentos do Movimento Humano CORPOREIDADE Corporeidade é a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento relacional com o mundo. manifesta-se através do corpo, que interage
Nome: 1- FAÇA um desenho de uma célula, identificando as suas partes. a) DESCREVA a função de cada uma das partes da célula.
 Atividade de Estudo - Ciências 5º ano Nome: 1- FAÇA um desenho de uma célula, identificando as suas partes. a) DESCREVA a função de cada uma das partes da célula. b) Podemos afirmar que todas as células
Atividade de Estudo - Ciências 5º ano Nome: 1- FAÇA um desenho de uma célula, identificando as suas partes. a) DESCREVA a função de cada uma das partes da célula. b) Podemos afirmar que todas as células
Desapego. Os prazeres da alma. Escola de Evangelização de Pacientes. Grupo Espírita Guillon Ribeiro
 Desapego Os prazeres da alma Escola de Evangelização de Pacientes Grupo Espírita Guillon Ribeiro Faremos um estudo dos potenciais humanos, os quais denominamos de prazeres da alma sabedoria, alegria, afetividade,
Desapego Os prazeres da alma Escola de Evangelização de Pacientes Grupo Espírita Guillon Ribeiro Faremos um estudo dos potenciais humanos, os quais denominamos de prazeres da alma sabedoria, alegria, afetividade,
gote no sentido tailandês e especialmente não é o gote Idappaccayatā.
 O ABC do Buddhismo Amigos! Sei que vocês estão interessados no estudo e na procura do modo buddhista de abandono de todos os problemas da vida, os quais podem ser resumidos como sendo problemas do nascimento,
O ABC do Buddhismo Amigos! Sei que vocês estão interessados no estudo e na procura do modo buddhista de abandono de todos os problemas da vida, os quais podem ser resumidos como sendo problemas do nascimento,
AULA FILOSOFIA. O realismo aristotélico
 AULA FILOSOFIA O realismo aristotélico DEFINIÇÃO O realismo aristotélico representa, na Grécia antiga, ao lado das filosofias de Sócrates e Platão, uma reação ao discurso dos sofistas e uma tentativa de
AULA FILOSOFIA O realismo aristotélico DEFINIÇÃO O realismo aristotélico representa, na Grécia antiga, ao lado das filosofias de Sócrates e Platão, uma reação ao discurso dos sofistas e uma tentativa de
EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVOS GERAIS. Linguagem Oral e Escrita. Matemática OBJETIVOS E CONTEÚDOS
 EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVOS GERAIS Conhecimento do Mundo Formação Pessoal e Social Movimento Linguagem Oral e Escrita Identidade e Autonomia Música Natureza e Sociedade Artes Visuais Matemática OBJETIVOS
EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVOS GERAIS Conhecimento do Mundo Formação Pessoal e Social Movimento Linguagem Oral e Escrita Identidade e Autonomia Música Natureza e Sociedade Artes Visuais Matemática OBJETIVOS
FILOSOFIA E SOCIEDADE: O TRABALHO NA SOCIEDADE MODERNA
 FILOSOFIA E SOCIEDADE: O TRABALHO NA SOCIEDADE MODERNA FILOSOFIA E SOCIEDADE: O TRABALHO NA SOCIEDADE MODERNA O ser humano ao longo de sua existência foi construindo um sistema de relação com os demais
FILOSOFIA E SOCIEDADE: O TRABALHO NA SOCIEDADE MODERNA FILOSOFIA E SOCIEDADE: O TRABALHO NA SOCIEDADE MODERNA O ser humano ao longo de sua existência foi construindo um sistema de relação com os demais
O Yoga de Patañjali Yoga, jungere, jugum
 pat 1 29/1/16 14:52 Página 11 O Yoga de Patañjali Yoga, jungere, jugum Não é fácil definir o Yoga. Etimologicamente, o termo Yoga deriva da raiz yuj, «ligar», «manter unido», «jungir», «pôr sob o mesmo
pat 1 29/1/16 14:52 Página 11 O Yoga de Patañjali Yoga, jungere, jugum Não é fácil definir o Yoga. Etimologicamente, o termo Yoga deriva da raiz yuj, «ligar», «manter unido», «jungir», «pôr sob o mesmo
Revisão da literatura. Guilhermina Lobato Miranda
 Revisão da literatura Revisão da literatura Difícil de fazer A maioria dos estudantes de mestrado e doutoramento não sabe como fazer A maioria das revisões da literatura são fracas ou pobres Quando há
Revisão da literatura Revisão da literatura Difícil de fazer A maioria dos estudantes de mestrado e doutoramento não sabe como fazer A maioria das revisões da literatura são fracas ou pobres Quando há
O mar na gota de água
 O mar na gota de água! O mar na gota de água, Página 1 Há uma pergunta que tem de ser feita: seja o que for que esteja a acontecer na minha vida, em qualquer altura, em tempos de alegria, em tempos de
O mar na gota de água! O mar na gota de água, Página 1 Há uma pergunta que tem de ser feita: seja o que for que esteja a acontecer na minha vida, em qualquer altura, em tempos de alegria, em tempos de
DESCARTES E A FILOSOFIA DO. Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson
 DESCARTES E A FILOSOFIA DO COGITO Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson René Descartes (1596 1650) 1650) Ponto de partida - Constatação da crise das ciências e do saber em
DESCARTES E A FILOSOFIA DO COGITO Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson René Descartes (1596 1650) 1650) Ponto de partida - Constatação da crise das ciências e do saber em
Descartando Descartes
 Descartando Descartes Este livro foi criado com o proposito de ser independente e de ser, pessoalmente, o meu primeiro trabalho como escritor. Isaac Jansen - 2015 Quem foi René Descartes? Dono da razão,
Descartando Descartes Este livro foi criado com o proposito de ser independente e de ser, pessoalmente, o meu primeiro trabalho como escritor. Isaac Jansen - 2015 Quem foi René Descartes? Dono da razão,
contextualização com a intenção de provocar um melhor entendimento acerca do assunto. HEGEL E O ESPÍRITO ABSOLUTO
 AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. Todo exemplo citado em aula é, meramente,
AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. Todo exemplo citado em aula é, meramente,
CLÁSSICOS DA SOCIOLOGIA. Profº Ney Jansen Sociologia
 CLÁSSICOS DA SOCIOLOGIA Profº Ney Jansen Sociologia Ao problematizar a relação entre indivíduo e sociedade, no final do século XIX a sociologia deu três matrizes de respostas a essa questão: I-A sociedade
CLÁSSICOS DA SOCIOLOGIA Profº Ney Jansen Sociologia Ao problematizar a relação entre indivíduo e sociedade, no final do século XIX a sociologia deu três matrizes de respostas a essa questão: I-A sociedade
Roteiro de estudos para recuperação trimestral
 Roteiro de estudos para recuperação trimestral Disciplina: Professor (a): FILOSOFIA JOSÉ LUCIANO GABEIRL Conteúdo: Referência para estudo: A Filosofia de Aristóteles A Filosofia Helenística Idade Média
Roteiro de estudos para recuperação trimestral Disciplina: Professor (a): FILOSOFIA JOSÉ LUCIANO GABEIRL Conteúdo: Referência para estudo: A Filosofia de Aristóteles A Filosofia Helenística Idade Média
