A ATITUDE DE PIRRO. Luiz Bicca Doutor em Filosofia UERJ
|
|
|
- Lucas Arthur Capistrano Medina
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 A ATITUDE DE PIRRO Luiz Bicca Doutor em Filosofia UERJ RESUMO: Artigo em que pretendemos refletir sobre a atitude de Pirro, qualificada pelos conceitos de afasia, adiaforia e ataraxia, conforme narram-nos Diógenes Laércio (D.L. IX, 61 ss.) e Aristócles (apud. Eusébio de Cesaréia, Preparação para o Evangelho, ). PALAVRAS-CHAVE: Pirro. Atitude. Afasia. Adiaforia. Ataraxia. ABSTRACT: Paper in which we try to think about the Pyrrho s attitude, qualified by the aphasia, adiaphoria and ataraxia concepts, as narrated by Diogenes Laertius (D.L. IX, 61 ff.) and Aristocles (apud. Eusebius of Caesaria, Preparation for the Gospel, ). KEYWORDS: Pyrrho. Attitude. Aphasia. Adiaphoria. Ataraxia.
2 No anedotário a respeito de Pirro foi bastante enfatizado que ele permanecia sempre no mesmo estado interior.desse modo, se as circunstâncias exteriores mudavam, ele não alterava em nada suas disposições e suas resoluções. Coerente consigo mesmo, sabia alcançar a eudaimonia, mantendo sua independência em relação às coisas e aos eventos. Sobre Pirro diz Diógenes Laércio (Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, IX, 63): Ele retirava-se do mundo e vivia em solidão, raramente mostrando-se a seus pares; isso ele fazia porque ouviu um indiano repreender Anaxarco, dizendo que ele nunca estaria apto a ensinar aos outros o que é bom enquanto ele mesmo frequentasse a companhia de príncipes e poderosos. Ele [Pirro] conservaria a mesma conduta o tempo todo. E, certamente, a ele já se aplica o comentário de Benson Mates, no Prefácio de sua tradução das Hipotiposes Pirrônicas, acerca da sképtike agogé (expressão sobre a qual Mates enfatiza os significados: (1) de atitude ou postura diante da vida em geral (onde vida é social, cultural, e não somente biológica, natural); (2) de método, com destaque para o sentido de meth hódos: caminho ou via) e, em contraste com as religiões, que fazem da crença uma necessidade, algo que supostamente contribuiria para o bem-estar, o caminho pirrônico não exige crença em coisa alguma. Com efeito, a própria ausência de crença era apresentada como o que seria, em larga escala, responsável pela libertação das preocupações, medos, confusões e outras perturbações no espírito, de que os homens buscam alívio. Pirro e seus seguidores, ao que parece, não possuíam aquela inclinação, tão básica quanto comum, para se crer numa realidade exterior ou em coisas além das aparências. E mais ainda, discordavam da suposição elementar de que a felicidade pudesse depender, de algum modo, de crenças como essas. É de bom alvitre chamar atenção, aqui no início, para um aspecto: o termo pirrônico (ou pirronismo ) não deve ser tomado ou entendido como fazendo referência às ideias de Pirro ou a alguma doutrina que se pudesse ou devesse atribuir a ele logo ele, de quem se dizia não ter doutrina! mas sim, como Diógenes Laércio bem o acentua, por referência a alguém que supostamente vivesse da mesma maneira que Pirro (Vidas, IX, 70). Abstendo-se de afirmar que uma decisão é por natureza boa ou má, que tal ou qual ação deve ser feita ou não, o discípulo de Pirro não entra na controvérsia tradicional sobre o melhor gênero de vida. 2
3 Trata-se aqui, então, de apresentar os principais recursos e expedientes de que lançavam mão Pirro e seus seguidores na antiguidade, de modo a poderem atingir aquele estado de ânimo ou de espírito que configura a felicidade, a bem-aventurança, almejada por todas as correntes de pensamento da filosofia antiga, e que aparecia em vínculo profundo e inseparável com aquele ideal ou fim supremo da postura pirrônica: a tranquilidade da alma, a imperturbabilidade (ataraxia). (Desde já cabe acentuar uma diferença importante em relação aos céticos Acadêmicos: estes se distinguem dos seguidores de Pirro pelo aspecto de que nunca apresentam a investigação e a suspensão do juízo, a que se é levado pela atividade de investigar e examinar, como meios para a felicidade ou tranquilidade. Buscar a verdade não é visto como algo subordinado a nenhum outro fim.) Pirro foi adotado como figura encabeçadora de uma corrente de pensamento por céticos que viveram vários séculos depois dele. Após uma lacuna de mais de dois séculos, depois da geração imediata de seguidores, somente no Iº século A.C parece que sua postura intelectual volta à tona, com o movimento fundado por Enesidemo de Cnossos tradição essa, denominada pirrônica, à qual Sexto Empírico, mais tarde ainda, viria a pertencer. Richard Bett resume, logo no início de seu excelente estudo sobre Pirro (Pyrrho, his Antecedents, and his Legacy, Oxford, 2000) o que se tornou a interpretação predominante acerca de Pirro, que é a de Sexto Empírico, a qual teria sido retroprojetada, vindo a valer para Enesidemo e ainda para o longínquo Pirro (todos esses pensadores e seus seguidores são encaixados no esquema geral: pensadores que promovem oposições de opiniões ou de argumentos, vindo a produzir-se, de alguma forma, um equilíbrio entre os opostos (chamada isostenía), razão por que se promove uma suspensão do juízo ou de crença, à qual segue-se o que é buscado sobretudo pelos céticos antigos: a tranquilidade mental). A esse respeito, Bett mostra, de saída, sua insatisfação: a perspectiva geral de Pirro seria bem diferente daquela, de tal modo que o termo cético sequer mereceria ou deveria ser aplicado a Pirro; pois Pirro declarava (conforme veremos pela traduçãodo fragmento de Aristócles citado pelo bispo Eusébio de Cesaréia) a realidade como sendo inteiramente indeterminada e, nessa medida, recomendava que se adotasse um tipo de fala ou de discurso, ao pensarmos em descrever as coisas, que fosse consistente com aquela elementar indeterminação. Dessa maneira, se formos adotar os termos de Sexto como referência básica, o melhor seria até designá-lo como um dogmático do que como um cético, como veremos mais à frente. 3
4 Pirro, considerado o fundador do ceticismo, nasceu por volta do ano 365 A.C e morreu aproximadamente em 275 A.C. Como Sócrates, Pirro nada teria escrito. Mas, a se crer nas narrativas de seu discípulo Timon, de Sexto Empírico e de Diógenes Laércio, teria ele sido uma personalidade singular, de carisma extraordinário, além de ter sido, como observa Jacques Brunschwig, o pensador mais importante, na cultura grega, entre Aristóteles e os fundadores das escolas Helenísticas. 1 Sobre Pirro, além de Diógenes Laércio e Sexto Empírico, a principal fonte seria seu discípulo Timon, considerado por muitos o porta-voz de Pirro, o primeiro grande divulgador de suas idéias, autor de poemas, tragédias e sátiras. Curiosamente, o mais importante texto a descrever seu mestre Pirro, entre os que chegaram até nós, não é de sua autoria, conquanto seja tradicionalmente encarado como um depoimento que tem o caráter de um testemunho confiável acerca de Pirro: trata-se do já mencionado trecho recolhido por Eusébio de Cesaréia, em sua Preparação para o Evangelho, um fragmento do livro Peri Philosophias de Aristócles (aliás, um tratado de filiação ao aristotelismo e crítica ao pirronismo e a outras correntes filosóficas), e que tinha por título Contra aqueles que seguiam Pirro, chamados céticos ou eféticos, que afirmavam que nada é compreensível. Ao que parece, Pirro não teria sido, ele próprio, alguém muito preocupado com problemas gnosiológicos. É mais provável que seus sucessores, estes sim, tenham sido os responsáveis por provocar abalos na epistemologia dos antigos. Bem mais tarde, Sexto Empírico torna-se o divulgador de uma maneira de pensar e, sobretudo, de viver, da qual ele não se pretende absolutamente o inventor. O curioso é que Pirro tenha sido visto, na história, por uns, como uma espécie de moralista, avesso a doutrinas e discussões teóricas, e por outros como um cético radical! Aqui insistimos apenas com o aspecto de que a filosofia de Pirro seria, talvez, uma filosofia mais vivida que conceitualizada. Pirro não se prendia nem mesmo ao que poderíamos chamar de seu princípio indiferença que não é uma simples indiferença psicológica em relação às coisas, mas uma essencial não-diferença das coisas: quando Pirro dizia que as coisas são indiferentes, isso não tinha o sentido de que elas possuiriam, elas mesmas, a 1 A propósito das fontes: utilizo aqui, como textos de referência, além da tradução clássica de R.G. Bury (Outlines of Pyrrhonism, London, 1933) e da tradução mais recente de Benson Mates ( The Skeptic Way. Oxford: Oxford University Press, 1996 ), a tradução francesa recente de P. Pellegrin ( Esquisses Pyrrhoniennes. Paris, 1977 ) e a seleção de textos realizada por J.P. Dumont intitulada Les Sceptiques grecs. Paris: PUF, As Hipotiposes Pirrônicas serão doravante designadas aqui por HP; por seu turno, o conjunto de onze livros agrupados sob o título tradicional de Adversus Mathematicos será aqui abreviadamente referido por AM. 4
5 propriedade da indiferença, e sim o sentido de que nós não temos nenhum meio de introduzir entre elas diferenças que sejam objetivamente fundadas. No que diz respeito ao ceticismo, todo mundo acha que sabe o que é, nestes nossos tempos, qualquer um pensa dele ter uma noção ou fazer-se uma idéia, mesmo que vaga, -- a definição mais comum do cético sendo aquela que diz tratar-se de alguém que duvida de tudo. Carlos Lévy ressalta que é um mérito da pesquisa das últimas décadas, ao ter lançado algumas luzes sobre as diferenças entre este primeiro ceticismo (Pirro, Timon) e o neopirronismo desenvolvido no século I A.C a partir de Enesidemo: O Pirro revelado por estas pesquisas está, em certa medida, mais próximo de ser o defensor de uma ética da indiferença absoluta evocado por Cícero, do que do personagem que Sexto Empírico transforma na figura emblemática do ceticismo. 2 Pirro é apresentado, assim, como um pensador para o qual o fim moral foi uma experiência antes de tornar-se uma doutrina. Decerto, entre o ceticismo ascético, para alguns, até mesmo místico, de Pirro e o ceticismo dialético, mais argumentativo e sistemático, dos neopirrônicos do século I A.C (a linhagem inaugurada por Enesidemo, o possível criador dos diversos argumentos críticos componentes da tradição que também leva o nome de pirrônica) há consideráveis e significativas diferenças, como insiste Jacques Brunschwig: Quando se fala em ceticismo, as pessoas entendem geralmente uma filosofia que busca mostrar, por toda espécie de argumentos teóricos, que não existe nenhum fundamento sólido para o conhecimento ou mesmo para a crença: nem a sensação, nem o pensamento racional, nem nenhum outro meio imaginável. Pirro parecia apostar que podemos viver sem nenhuma crença, e até mesmo que este é o único meio de ser perfeitamente feliz. Os neopirrônicos irão divergir de seu mestre e pretenderão, com Enesidemo, que se Pirro filosofava de maneira cética, em sua vida quotidiana ele não deixava de agir com alguma previdência. 3 Podemos pensar que há algo de extremamente ambicioso, mesmo de sobrehumano, nas exigências próprias à atitude para a qual Pirro fornecia o modelo ou a imagem. Nessa medida é interessante mencionar, aqui no início já, aquela distinção que fazem muitos estudiosos recentes do ceticismo acerca de duas versões possíveis de ceticismo: um ceticismo selvagem ou rústico, que se proíbe toda espécie de crença, mesmo aquelas que governam habitualmente a vida cotidiana (este ceticismo só é compatível com a ação se admite-se que a vida prática pode guiar-se pelas aparências, 2 LÉVY, C. Les Scepticismes. Paris: PUF, BRUNSCHWIG, J. Philosophie grecque. Paris: PUF, 1998, pp. 464 s. 5
6 às quais o agente não atribui nenhum valor teorético (ou valor de verdade), e sim o caráter de mera convenção; e um ceticismo que, por contraste, chamam de urbano ou civilizado, que critica apenas as pretensões dos filósofos e dos homens de ciência de conhecer a natureza real e oculta das coisas, ceticismo este que não tem nenhum problema em dar assentimento, de forma fraca, bem entendido, ao que aparece ou se manifesta. Victor Brochard, em sua obra clássica sobre o ceticismo grego 4, afirma que este primeiro ceticismo não pode ainda ser considerado dialético, dado que Pirro, o fundador, detestava discussões sem fim e visava apenas alcançar equilíbrio e tranquilidade na alma. Nele, o ceticismo seria sobretudo prático. Somente mais tarde, a partir de Enesidemo, é que o ceticismo se tornará eminentemente dialético. Opinião semelhante sobre o ceticismo antigo é manifestada também por Hegel. É importante, porém, ressaltar que, ao enfatizar a natureza reflexiva de suas rejeições de posições, Sexto Empírico não deixa de advertir o eventual leitor para não adotar a indeterminação como algum ponto de vista supostamente superior. A dialética não deveria agarrar-se a nada mais que às asserções que ela busca refutar: ela não descreve nenhuma realidade última, não é um conjunto de premissas, mas um método ou uma técnica a ser aplicada a premissas. É um discurso filosófico destinado a eliminar discursos filosóficos. A suspensão cético-pirrônica não pretende fornecer nenhum novo lugar desde onde alguém deva posicionar-se. Ao discorrer sobre os primórdios do ceticismo, remontando à era do expansionismo de Alexandre, Brochard mostra-se adepto da tese do declínio social, político e cultural da pólis (algo comum entre historiadores e comentadores no século XIX) na raiz da atitude cética. Sobre Pirro, personagem quase lendária, dispomos apenas de referências por parte de autores que lhe são muito posteriores, como Sexto Empirico e Diógenes Laércio. Este último faz o elogio do caminho escolhido por Pirro no filosofar, no Livro IX das Vidas e doutrinas de filósofos ilustres: Posto que nada é belo, nada é horrível, nada é justo,nada injusto; desse modo é que, para tudo, vale em geral a proposição de que nada é em verdade, antes tudo que os homens fazem acontece em virtude de mera concordância convencionada e na medida do hábito; pois de todas as coisas vale dizer que é tanto isto quanto aquilo. A isto corresponde a atitude [de Pirro], de um modo geral, na vida [...] ele manifestava a mesma indiferença em relação a tudo [...] e não se deixava influenciar pelo poder da percepção sensível. 4 BROCHARD, V. Les Sceptiques grecs. A primeira edição é de A que foi utilizada aqui é da editora Vrin, Paris,
7 De Pirro de Élide, sabe-se que acompanhou Alexandre, o conquistador, ao Oriente e muito já se especulou e discutiu sobre as influências da sabedoria e das doutrinas hinduístas em seu pensamento. Este grego defrontara-se com a impassibilidade e a indiferença na vida cotidiana, mantidas por aqueles ascetas ou homens santos indianos, facilmente encontráveis, que foram chamados ginosofistas ou sábios nus pelos gregos. Daí dizer-se que Pirro parece ter levado consigo principalmente a lembrança daquela impassibilidade e daquele estranho desprendimento. Seria este, então, o estado de ânimo que ele se esforçaria para reproduzir, mais tarde, uma vez de volta à Grécia. Ao retornar a Atenas, torna-se alguém que se isola de um mundo do qual nada mais espera, levando um estilo de vida simples, quase monástico. Pirro renuncia a todas as discussões, que ele considera igualmente vãs. A propósito dessa viagem ao Oriente, acompanhando o expansionismo alexandrino, intérpretes recentes, como Frederic Cossuta 5, chamam a atenção para a experiência de desenraizamento que nela teria tido lugar, e que, longe de conduzir Pirro para algum além improvável, tê-lo-ia levado, ao contrário, ainda mais seguramente na direção da filosofia e da cidade, agora, sob o efeito de uma lucidez que vê, doravante, todas as coisas sob uma luz indiferente. Conquanto os ascetas indianos encontrados por Pirro se assemelhassem, em sua indiferença e despojamento (e noutros aspectos congêneres), a seus conterrâneos cínicos, todos os testemunhos e narrativas de viagem (da campanha de Alexandre) insistem sobre o peso e a importância desse contato com os ginosofistas na descoberta de uma nova atitude em filosofia por Pirro. Cossuta lembra que é bem verdade que o esforço filosófico de Pirro, quando de sua formação cínico-megárica, já servira para distanciá-lo de toda referência a algum princípio de permanência, por assim dizer. O encontro com os ascetas indianos teria servido para intensificar e radicalizar tendências ou intuições já, de algum modo, presentes em seu espírito: a conexão entre crítica dos sentidos e dos pré-julgamentos e condutas de impassibilidade; entre dúvida e indiferença, etc. Do mesmo modo, Marcel Conche também enfatizou as possíveis influências sofridas por Pirro em sua convivência com os ginosofistas : é provável que em contato com os sábios da Índia, Pirro tenha tido uma revelação própria, aquela da irrealidade de tudo que parece real, e da universalidade da aparência. E assim lhe veio ao espírito 5 COSSUTA, F., Le Scepticisme. Paris: PUF, 1994, pp. 10 ss. 7
8 que o caminho a seguir não iria da aparência ao ser, como acreditava Platão, mas ao contrário, do ser que não é senão o objeto de uma reificação ilusória à aparência pura e universal. 6 Conche, que em sua interpretação destaca também aspectos de proximidade entre o pirronismo original (o de Pirro e Timon) e os Cínicos, faz questão de apresentar este primeiro ceticismo como adversário da filosofia de Aristóteles. Conche assinala o desprezo de Aristóteles pelos povos do Oriente (citando trechos da Política, por exemplo, VII,7,1327b, ), referindo-se a ele como teórico de um pan-helenismo, que encontraria em Alexandre o meio de sua realização. Para isso, ao comentar a narrativa de Aristócles referida pelo bispo Eusébio em sua Preparação para o Evangelho 7 (É verdade que ele [Pirro] não deixou nenhum escrito, mas Timon, seu discípulo, diz que aquele que quer ser feliz tem de considerar três pontos: primeiro, qual é a natureza das coisas; em seguida, em que disposição devemos nos encontrar a respeito delas; finalmente, o que daí resultará para aqueles que estiverem nessa disposição. As coisas, diz ele [Timon], ele [Pirro] as mostra igualmente in-diferentes, i- mensuráveis, in-determinadas. É por isso que nem nossas sensações nem nossos juízos podem dizer o verdadeiro [ou: a verdade], nem se enganar. Por conseguinte, não é preciso atribuir-lhes a menor confiança, e sim ser sem julgamento, sem inclinação para nenhum lado, inabalável, dizendo de cada coisa que ela não é mais do que ela é, ou que ela é e não é, ou que ela nem é nem não é. Para aqueles que se encontrarem nestas disposições, o que daí resultará, diz Timon, é primeiro a afasia, depois a ataraxia). Conche dedica especial atenção ao aspecto de como o mencionado texto comporta uma negação ou recusa do princípio de não-contradição. O texto de Eusébio/Aristócles é então interpretado e comentado por Conche em relação à Metafísica de Aristóteles. Os princípios fundamentais da metafísica e da lógica são axiomas, não podem ser demonstrados, posto que toda demonstração os pressupõe; eles só podem ser defendidos, por uma argumentação dialética, que mostra 6 CONCHE, M. Pyrrhon ou l apparence. Paris: PUF, 1994, p Uma tradução diferente do mesmo trecho encontra-se em J.Annas / J. Barnes, The Modes of Scepticism: Timon, discípulo de Pirro, diz que qualquer um que pretenda viver uma vida feliz deve levar em conta as três seguintes questões: (i) o que são os objetos por natureza; (ii) qual deve ser a nossa atitude para com eles;(iii) o que resultará desta atitude. Em seguida, Timon declara que Pirro demonstrou que os objetos são igualmente indiferentes, irrepresentáveis e indeterminados, pois nem nossos sentidos, nem nossos pensamentos são falsos ou verdadeiros. Por esta razão não devemos neles confiar, mas permanecer sem julgar, sem inclinações e imóveis, dizendo de cada coisa que ela não é mais do que é, ou que nem é nem não é. Timon diz ainda que para os que tomam esta atitude o resultado é, em primeiro lugar, a nãoasserção e, em seguida, a tranquilidade. (The Modes of Scepticism, p. 101.). 8
9 como se enredam em dificuldades todos aqueles que os negam. Este é o caso do princípio de não-contradição, princípio sem o qual nenhum conhecimento seria possível e cuja negação significaria o impedimento puro e simples do saber. Ora, se o princípio de não-contradição é negado, as diferenças se tornam puramente aparentes. O ser dos entes se evapora. Conche pergunta, neste ponto, se não seria esta precisamente a intuição de Pirro, a desaparição de todas as coisas na universal aparência? E chama a atenção para o detalhe que a aparência enquanto nada não é aquele puro nada (como na Lógica de Hegel), um Nada meramente negativo, o simples contrário do puro Ser. Trata-se, em Pirro, vale dizer: de modo muito semelhante ao budismo! de dissociar o há ou existe do ser: o que há é a aparência. Nessa transmutação de todas as coisas em aparências (espécie de a-nihilação universal que deixa tudo subsistir), que é como Conche interpreta a atitude básica de Pirro, nela enxergando o princípio de toda uma sabedoria, esse nada mereceria ser comparado ao nada da angústia, tal como é pensado por Heidegger em Que é Metafísica? (1929). A intenção de Conche é mostrar que o princípio de não-contradição, enquanto princípio lógico e também ontológico, é atacado pelo où mallon pirrônico de maneira decisiva o que significa inserir-se naquela linhagem de negadores da possibilidade do conhecimento a que Aristóteles se refere nos livros K e L da Metafísica (Heráclito, Demócrito, Protágoras, para quem tudo seria verdadeiro ou nada seria verdadeiro, o que resulta rigorosamente no mesmo: impossibilitar o conhecimento). Ora, se não há mesmo conhecimento, não há sentido em se continuar buscando a verdade, continuar examinando o que quer que seja (aquela atitude zetética ) é assim que também Conche insiste em diferenciar o primeiro pirronismo (Pirro, Timon) da sképsis posterior (de Enesidemo a Sexto Empírico), que se vê justamente como zetética (entre outras coisas), muito mais tarde. Segundo nosso intérprete, o pirronismo original teria visto na própria ideia de Ser uma fonte radical de infelicidade para o homem fonte do desejo de fixidez, permanência das coisas, fonte do pensamento do não-passar, não fluir. A fala do pirrônico, porque ela se relativiza a si mesma, somente anula opiniões e doutrinas em suas pretensões unilaterais de ocupar exclusivamente o lugar da certeza. De Pirro diz-se que sua atitude era marcada por adiaforia e afasia; seria isso suficiente para apor-lhe a etiqueta de cético radical? (Podemos pensar que, tal como é costumeiramente entendido nos dias de hoje, um ceticismo radical é aquele ceticismo que duvida da própria possibilidade de conhecimento do mundo, esforçando-se em 9
10 exibir argumentos que se destinam a demonstrar que não possuímos o conhecimento que pensamos ter. A oposição ceticismo global versus localizado, como alguns preferem, e que tem a ver com amplitude, dimensão, combina-se com a oposição radical versus moderado : algumas vezes, o radicalismo significa o tamanho da desconfiança, o quanto se duvida; noutras ocasiões, o radicalismo é pensado segundo a intensidade da desconfiança em um dado ponto ou com a insistência em continuar, aprofundar, mais e mais, a dúvida ou a objeção em um mesmo ponto ou questão. Há ainda outra nuance para pensar-se a distinção radical/ mitigado: ela envolve ou pressupõe uma diferenciação entre o ser evidente ou aparente (do que se pretende conhecer) e o não ser evidente ou ser obscuro, oculto. Assim, o cético moderado admite que se possa ter algum saber sobre as coisas aparentes e nega somente o conhecimento do em si ; ao passo que o radical recusa toda possibilidade de conhecimento, pura e simplesmente.) Seria o ceticismo antigo alguma causa de desespero diante de situações marcadas por incerteza? Ou será que, inversamente, ele ensina-nos a conviver com aquela e propõe-nos, de forma surpreendente, assumir as incertezas como condição para uma vida mais feliz? A ataraxia cética não dispensa ninguém de ter que viver no meio dos homens de acordo com as aparências ou as coisas tal como elas aparecem, portanto, a ataraxia do sábio pirrônico não o dispensaria de ter sempre de novo que recomeçar o trabalho do pensamento. O equilíbrio não estaria adquirido de uma vez por todas, visto que somos constantemente solicitados pelos apelos contraditórios das sensações e das crenças. É preciso, então, constantemente lutar contra o desejo de certeza, reativar a dúvida para alcançar-se outra vez a ataraxia. O cético antigo, sobretudo o posterior, tem um compromisso básico com a prática da investigação e do exame, não com alguma teoria, é preciso notar bem. É preciso, nesse sentido, encarar uma questão básica: o pensamento de que é o comprometimento com crenças que gera ansiedade e perturbação. Há assim no pirronismo uma relação muito curiosa e original entre a postura suspensiva e a principal de todas as suas decorrências ou consequências: a ataraxia. Longe de conduzir o indivíduo à instabilidade e à inquietude (ao contrário do que comumente se pensa!) a indeterminação é libertadora, livrando-nos precisamente da ansiedade e da perturbação emocional e intelectual. A ataraxia ceticamente concebida apresenta-se como um esvaziamento, uma serenidade vazia de todo conteúdo representativo. Além disso, no pirronismo, há uma relação original também entre o 10
11 acesso a esta libertação e as necessidades da vida cotidiana: Pirro, a rigor, não propõe nem uma retirada do mundo, nem alguma forma de salvação humana mediante transformação política de acordo com algum tipo de idealização racionalizante. Antes, é proposto um modo de presença no mundo, que precisamente reintroduz e salva as aparências, o que se manifesta: seguir os fenômenos equivale a seguir os costumes e regras existentes, aceitar que a conduta seja regulada pelas necessidades da própria vida. Uma das originalidades dos pirrônicos na história do ceticismo é o uso ético que fazem do ceticismo: a filosofia, longe de ser o único caminho para se ter acesso à felicidade, a rigor pode impedir-nos de atingí-la, em função das controvérsias e problemas nos quais ela nos atira. Sexto Empírico, mais tarde, evitará fazer da ataraxia uma convicção ou crença férrea do cético, afirmando que este fim, a serenidade da mente, atinge-se por acaso, sem preocupação obsessiva com ela. Na verdade, há diferenças entre os antigos céticos quanto à ataraxia, variando esta de ser caracterizada por apathia (ausência de paixão e afetos ) em Pirro, à posição menos exigente de Sexto Empírico, que a vincula a uma moderação das afecções (metriopathia), que seria sempre possível no caso das afecções involuntárias, incontornáveis, como são as dores físicas. Em seu livro Contra os moralistas (A.M, XI) Sexto diz que aquele que suspende seu juízo sobre tudo o que deriva da esfera da opinião (opinião pública ou da gente) colhe os frutos da mais perfeita felicidade. Tranquilidade ou paz de espírito, a ataraxia parece tratar-se de uma concepção de felicidade que vem de fora da tradição platônico-aristotélica de pensamento ético. Como sublinha Gisela Striker, esta é a única concepção de eudaimonia na ética grega a identificar a felicidade com um estado de espírito ou da alma, fazendo-o depender inteiramente da atitude e das crenças de uma pessoa 8. A ataraxia, ainda que visada ou obtida de formas diferentes por epicuristas, estóicos e céticos, era uma meta, portanto um elemento importante a integrar qualquer das três orientações filosóficas. Os pirrônicos equacionaram tranquilidade e felicidade. Em sendo o melhor caminho para a ataraxia, o ceticismo seria o melhor também para a eudaimonia. Sexto Empírico argumenta que alguém que acredita que haja quaisquer bens ou males reais neste mundo jamais estará livre de ansiedade. Isto é assim, segundo Sexto, porque tal crença leva essa pessoa a perseguir intensamente aquilo que pensa ser bom e a evitar o que ela pensa ser mau; e caso este alguém, por acaso, venha a obter 8 STRIKER, G., Essays on hellenistic Epistemology and Ethics.Cambridge: Cambridge University Press,
12 qualquer dos bens que deseja, suas inquietações se renovarão porque agora ele se agitará pelo medo de perdê-lo. O cético, ao contrário, percebe que não há bens nem males reais, donde parar de se preocupar. Para os céticos, mudar o quadro de valores, adotar novos ou diferentes, não resolve o problema, porquanto a pessoa passará agora a inquietar-se, afligir-se com valores, em vez de intranquilizar-se com coisas, objetos, tomados como bons ou como bens. O cético pirrônico, se ele não chega a exigir uma apatia integral, de longínqua e monástica possibilidade, no sentido de que alguém pudesse ser totalmente inafetado ou imperturbado, ele pelo menos usufruirá da metriopatheia, um grau moderado de afecção, porque ele não tem quaisquer convicções acerca da bondade ou da maldade do que ele sente. O ponto decisivo, para os céticos, continua sendo que a crença firme em que algo seja, em si, um bem ou um mal gera necessariamente algum tipo de perturbação: medo, insegurança, ansiedade, aflição. Para um seguidor de Pirro, alcançar tranquilidade é uma questão de feliz coincidência, tem muito mais a ver com o acaso do que com uma disciplinada expectativa, um resultado que se pudesse com certeza aguardar. Ele é alguém que parece já estar feliz por estar buscando o conhecimento ou a verdade (o seu aspecto zetético), e não por julgar tê-la encontrado, no momento em que isto supostamente ocorresse. A tranquilidade cética parece somente poder ser alcançada se o indivíduo não decidir conquistá-la a qualquer preço. Parece que a felicidade assim concebida como um estado d alma, tão somente, conduz à conclusão de que nem o caráter moral de alguém, nem a verdade ou falsidade das convicções desse alguém tem algo a ver com a felicidade deste alguém. Em sua ataraxia, o pirrônico experimentaria algo como um sentimento de desprendimento, de distanciamento, de estabilidade interior em meio à impermanência, animado por uma serenidade feita de tranquilidade e paz. A atitude de Pirro seria assim, não tanto parecida com a dos cínicos em seu espalhafatoso protesto, e sim, até certo ponto, com a dos sábios ascetas indianos: importava-lhe buscar uma autonomia, uma libertação, que não implicasse nem negação, nem afirmação das coisas. A ataraxia pressupunha, sim, exercícios espirituais diversos, toda uma prática que servia, ao mesmo tempo, como uma espécie de pedagogia pelo exemplo (algo bem oriental!): em vez de longos discursos de orientação, a indicação do caminho, no máximo uma provocação discreta e sutil, talvez acompanhada de uma pitada de ironia, à maneira de Sócrates... Importa, neste ponto, vale repetir, é registrar aquele detalhe inédito do pensamento pirrônico um aspecto novo em solo grego 12
13 que fazia, agora, a felicidade ou a bem-aventurança ficar ligada à incerteza, e não à certeza, à segurança. O sábio pirrônico demonstra que aceita as aparências, no lugar e no tempo em que lhe é dado viver. Sua constituição dita-lhe suas necessidades, as leis e os costumes do lugar onde vive oferecem-lhe uma regra de vida. Não devemos, contudo, confundir este seu acordo com as coisas que aparecem, decorrente da lucidez do sábio cético, com uma atitude submissa ou conformista. O estado interior de indiferença, dado que tudo é indiferente, supõe apenas que não é possível preferir outra coisa ao que se tem, ou então, algo outro ao que se é. Tudo se passa como na famosa anedota a respeito de Pirro: a um objetor que lhe perguntou por que ele não se matava, posto que ele afirmava que a vida e a morte eram indiferentes, Pirro respondeu que era precisamente porque eram indiferentes... Ao afirmar, conforme se encontra no trecho de Eusébio de Cesaréia acima citado, que as coisas são indiferenciadas, indecidíveis (ou instáveis), indeterminadas, Pirro não pretenderia dizer que para nós elas não apresentam nenhuma configuração estável, mas que em si elas não possuem nenhuma propriedade distintiva inerente à natureza delas, que lhes daria um valor ontológico incontestável. As coisas manifestam-se, então, em e por um constante movimento. Elas parecem escapar-nos justamente quando estamos certos de tê-las apreendido. Não convém, por conseguinte, atribuir-lhes uma essência estável, nem ordená-las ou hierarquizá-las em função de um critério ontológico fixo. Pirro e seus discípulos rejeitavam teorias. Eles apenas tinham a convicção, muito prática, de ter encontrado a melhor maneira de viver. Victor Brochard assinala o aspecto de unidade entre o pensamento e a ação nesses primeiros céticos; Pirro praticava com serenidade a indiferença que ensinava: O ceticismo não era para ele um fim; era um meio. Ele o atravessava sem nele se deter. Das duas palavras que resumem todo o ceticismo, epoché e adiaforia, é a última que é a mais importante a seus olhos. Seus sucessores inverteram a ordem e fizeram da dúvida o essencial e da indiferença, ou antes, da ataraxia, o acessório. 9 A epokhé, a suspensão do juízo, no pirronismo inicial, conduz ainda a um silêncio no que concerne ao uso do verbo ser, leva o indivíduo a evitar fazer asserções (afasia ). (Na paior parte das vezes, traduzimos o termo epokhé por suspensão do juízo, acompanhando o que já é uma tradução quase estabelecida ou mesmo costumeira. Isso não quer dizer que o termo grego não seja referido de outras formas, 9 BROCHARD, V., op. cit., p
14 como chama atenção um estudo recente: MARCONDES, D. Juízo, suspensão de juízo e filosofia cética, in Sképsis, I, 1, 2007 ). A indiferença especulativa acompanha a indiferença prática. O sábio do pirronismo original é um homem em completo despojamento, capaz, nesse sentido, de alcançar a serenidade dos desejos e apetites, o equilíbrio perfeito de uma alma que coisa alguma consegue perturbar. Os discípulos de Pirro depois de terem extraído de seu pensamento e de sua postura fundamental o melhor que daí podiam extrair, vem a ser, uma regra de conduta para a vida, entregaram-se a outras tarefas. Timon, o mais conhecido dentre eles, possuía uma certa semelhança, em alguns de seus procedimentos, com os cínicos Antístenes e Diógenes, por exemplo, no recurso à sátira, à paródia, ao achincalhe, na relação com os adversários. O ceticismo original visava a uma espécie de salvação através da sabedoria. Nele, todavia, a dialética parecia uma potencialidade adormecida, que somente mais tarde irá expor-se plenamente à luz do dia, tornando-se um traço marcante do ceticismo. Na origem, seu método era uma askésis, um exercício ou uma disciplina moral, cujo fim era a quietude, a paz na vida. A suspensão tem a marcá-la um forte caráter de passividade: uma afecção, algo que sofremos ou que nos sobrevém, embora em alguns trechos de seus escritos a linguagem empregada por Sexto Empírico sugira-nos alguma coisa planejada, programada segundo decisão metódica. Como explica Roberto Bolzani, compreender a suspensão como algo que se nos impõe tem uma consequência da maior importância: ela nos fornece uma nova forma de ver o mundo 10. Sobre essa faceta de passividade que afeta o juízo ou o entendimento do pirrônico, Bolzani ressalta que isso significa que os argumentos dos dogmáticos é que têm que se impor como persuasivos. A disposição mental suspensiva exige isto daquele que é por ela possuído: Nada que não se evidencie como verdadeiro poderá ser aceito como tal, isso significando a necessidade de uma prova definitiva de sua verdade e a concomitante derrocada sem volta das posições conflitantes. [...] Não há, pois, pressupostos a serem aceitos sem mais. (Ibid.) Pois está em jogo aqui aquele aspecto de só valorizar-se o que aparece, não se preocupando com nenhuma realidade por trás disso, nem com substratos, substâncias. Não sendo nenhuma decisão metodológica, nem medida comprovadora de coerência 10 Ver BOLZANI, R. A Epokhé cética e seus pressupostos, in: SKÉPSIS, II, 3-4, 2008, p
15 doutrinária, a suspensão assemelhar-se-ia a uma disposição mental, de caráter acentuadamente intelectual, mais do que afetivo. O termo epokhé tem toda uma história, e isto apenas dentro do ceticismo antigo, como bem mostrou Pierre Couissin em seu, já clássico, artigo sobre a evolução desta noção 11. Segundo este pesquisador, o termo designa, de um modo geral, uma atitude dubitativa, seja do pirrônico, seja do neoacadêmico. Diógenes Laércio atribui a invenção deste termo ora a Pirro (Vidas, XI ), ora a Arcesilau (Vidas, IV). Mas para estabelecer-se sua origem, o fato de que nenhum dos dois pensadores tenha escrito nada (ou, pelo menos, que deles nada tenha chegado até nós) torna-se um problema. Como observa nosso comentador, Os filósofos da nova Academia se contentam em ignorar desdenhosamente o ceticismo de Pirro. Os pirrônicos, mais agressivos, reprovam aos Acadêmicos, ora com Timon, de serem plagiadores de Pirro, ora ao contrário, com Enesidemo, de serem no fundo uns dogmáticos: dogmáticos envergonhados e dissimulados ou dogmáticos negativos e inconscientes. (Couissin, p. 374). (Não é óbvio que o cético tenha que evitar toda confiança ou que seu comportamento tenha que ser caracterizado por dúvida e indecisão. Arne Naess insiste que o cético não tem necessariamente que ser um duvidador e afirma que, ao longo da história, grandes céticos foram também grandes campeões da confiança e do senso comum no agir, não importando quão brutal eles fossem ao criticar o pensamento comum em seu uso das noções de verdadeiro ou falso. Nessa medida, parece-me esclarecedora esta passagem: É importante distinguir dúvida e suspensão de juízo. A suspensão do juízo é o traço básico do cético quando confrontado com asserções dogmáticas. A questão de quanto, quão frequentemente, e em que sentido a dúvida tenha que ou é provável que vá acompanhar ou preceder a suspensão é uma questão em aberto. Não há razão para postular um estado dubitativo como um ingrediente principal ou uma característica constantemente acompanhante da mente de alguém que suspende o juízo. E no entanto é precisamente essa identificação da dúvida com a suspensão que tão frequentemente deforma as referências aos céticos gregos. 12 Este mesmo intérprete afirma mais à frente que 11 COUISSIN, P. L origine et l évolution de l epoché, in: Revue des études grecques, nº 42, 1929, pp Sua interpretação fala em atitude de dúvida no ceticismo pirrônico, diferentemente das interpretações mais recentes, no final do século XX, que procuram manter algo como uma dúvida filosófica, metódica, como estranha à postura do ceticismo antigo. 12 Naess, A. Scepticism, Londres: Routledge & Kegan Paul Books, 1968, pp
16 não há nenhuma base, na descrição que faz Sexto, para representar-se o cético maduro como uma pessoa que mostra indeterminação, irresolução, indecisão, vacilação, hesitação, suspense, perplexidade, atordoamento, embaraço, confusão, desorientação, descrença, incredulidade, desconfiança, acanhamento ou suspeita, como quer que esses termos caibam para descrever seu estado mental quando ele se põe a escutar dogmáticos. Não há nada a sugerir que o cético, enquanto uma pessoa real, devesse sentir-se obrigado a sair por aí duvidando ou buscando mais que os outros. Aliás, a ânsia de duvidar e buscar aplicar-se-ia mais ao dogmático, pois quanto mais se postula como verdadeiro e quanto mais enredado alguém se acha na intelectualização de atitudes, tanto mais há para se duvidar. Abstendose de dogmatizar, uma pessoa pode reduzir as ocasiões para duvidar. (Ibid., p. 53). Em suma, segundo Naess, o cético antigo está longe de ser um militante sistemático da dúvida; ele o é, da suspensão; mas isso já é uma outra história...) Alguns intérpretes crêem que a filosofia neoacadêmica formou-se independentemente do pirronismo, outros estimam que Arcesilau era tributário de Pirro. O caso é que, para fins de estabelecimento de quem seria o criador da epoché, Arcesilau pode ter conhecido o pensamento de Pirro, dele ter adotado tendências ou dimensões filosóficas, tê-lo utilizado contra o Pórtico, e ter sido, entretanto, o primeiro a designar sob o nome de epoché a atitude mental que comandava sua crítica. 13 Pois, afinal, como recorda Couissin, sob a influência de Pirro, um vento de ceticismo soprou sobre Atenas, atingindo diversos círculos filosóficos. Não chega a ser surpreendente a afirmação de que Arcesilau teria conhecido Pirro e que os antigos tinham-no na conta de um pirrônico. O comentário geral de Couissin, não obstante tantas observações contraditórias e tiradas de inimigos de Arcesilau é algo lacônico: apenas que uma influência de Pirro sobre Arcesilau não é de todo inadmissível; mas ela não é demonstrada pelos textos. Sexto, separado de Pirro por cinco séculos, apresenta Pirro como o protótipo do cético (H.P. I, 7). E quando ele opõe os céticos mais antigos aos que lhe são contemporâneos, Sexto insere Enesidemo entre os antigos (H.P. I, 36 e I, 164). Nas poucas narrativas que chegaram até nós, fato é que a conduta cética em Pirro e Timon aparece como uma atitude a respeito das coisas, antes que a respeito das ideias, ao passo que a epoché do pirronismo da era imperial é uma atitude essencialmente a respeito de ideias. 13 Como sugere Couissin, op cit., p
17 Neste ponto, caberia uma nota terminológica: referir-se a Pirro com o termo akatalepsia (ou por causa de seu emprego ) não seria uma decisão muito feliz, pois essa palavra é típica do vocabulário da Academia reformada por Arcesilau. Segundo Fócio, o patriarca de Constantinopla (séc. IX d.c ), Enesidemo, em seus Discursos Pirrônicos, teria reprovado nos Acadêmicos precisamente isto: o terem sido nada mais que acatalépticos. A se crer nele, os neoacadêmicos não negavam todo conhecimento, mas somente um tipo, o que se ligaria ou seria proporcionado pela impressão (ou representação) cataléptica (essa noção central da epistemologia do estoicismo). Quanto a Pirro, sua ideia essencial não é tanto de que as coisas escapem a nossa apreensão, e sim que elas se equivalem e são incapazes de nos fazer inclinar em um sentido ou noutro. Esta ideia da impossibilidade de escolha, exprimida pela fórmula este não mais que aquele (oú mallon), característica do pirronismo, distingue-se fortemente da crítica do conhecimento acadêmica, que permite, ao contrário, a escolha por meio do eulógon (o bem-falar como dizer o razoável ou plausível) e do pithanón (o persuasivo ou provável). Por tudo isso se pode ver que, no que concerne aos testemunhos, nenhum deles prova que Pirro tenha professado a epoché. A impressão com que fica o comentador é conclusiva: Pirro partiu da isostenia dos opostos nas coisas e adotou uma conduta de indiferença e impassibilidade a respeito das coisas: tudo é equivalente; não mais isto que aquilo; tudo me é igual. Já a epoché, ela não é uma conduta a respeito das coisas, é uma atitude mental: Pirro não tinha necessidade dela. Ela fica subentendida logicamente em sua maneira de se comportar, mas ela não era necessária a um misólogo que se interessava mais pela ação que pelo pensamento. Inútil ao ensinamento de Pirro, a epoché é inseparável do de Arcesilau: este sustentava que a compreensão (katalépsis, assentimento à representação compreensiva ) não existia, que tudo seria inapreensível, e que o sábio devia, por conseguinte, suspender o assentimento, não acerca de determinadas representações nãocompreensivas, mas em relação a todas as representações, posto que nenhuma é compreensiva. 14 Couissin vê, nesse sentido, a importância geral de Enesidemo na história do ceticismo como sendo a de infundir na linhagem pirrônica o espírito dialético dos filósofos da nova Academia, Arcesilau e Carnéades, sem repetir, contudo, o ensinamento destes filósofos. 14 Couissin, P., op cit., p
18 Contrariamente à interpretação de alguns filósofos dos séculos XVII-XVIII, em especial de Hume, há intérpretes no século XX que veem no pirronismo não um ceticismo radical, mas antes um ceticismo moderado, ao passo que o Acadêmico, com seu dogmatismo negativo, acabaria por revelar traços mais propriamente doutrinários que os pirrônicos. A grande maioria dos estudiosos entende que os pirrônicos se identificariam certamente com os Acadêmicos em torno da suposição de que a cada firmação p se poderia sempre, com boas razões, contrapor uma asserção não-p. Ou seja, ambas as vertentes compartilham o pensamento básico da contenção do juízo. Autores contemporâneos, como Bertrand Russel, vêem no ceticismo um risco de acolher ainda que longinquamente um pressuposto doutrinário: a diferenciação elementar entre aparência e realidade. Ora, essa é uma distinção comum, que faz parte da vida cotidiana das pessoas, e como tal, o cético (ao menos o pirrônico) não se põe pura e simplesmente, e unilateralmente, a negá-la, ou então, de maneira não menos simplista, a unificar os dois elementos que compõem esse par como sendo uma só e mesma coisa. O que ele faz é algo diferente: ele apenas suspende seu juízo em relação a qualquer proposição com a pretensão de estar dizendo algo verdadeiro a respeito de como as coisas realmente são. O importante na argumentação de Sexto, em geral, é que a suspensão (seja de juízo, crença ou assentimento), quanto a verdade e falsidade, não resulta em inatividade. Os impulsos naturais levam à ação. Um tal dogmatismo de fundo se deixaria entrever, como já salientamos, naquele posicionamento de Pirro mesmo, quando afirma que as coisas são igualmente sem diferença (adiáfora), imensuráveis e indeterminadas ; o que não impede que outros vejam no pensamento de Pirro de que não há nada de justo por natureza (conforme Diógenes Laércio, Vidas,IX, 61), uma clara recusa de qualquer interpretação objetivista dos valores. Para muitos intérpretes recentes, tanto a posição de Pirro sobre justiça natural quanto o ataque dialético de Carnéades às definições naturalistas de justiça (Cícero, República III,21) trazem consigo toda uma crítica às interpretações objetivistas dos valores. Não esquecendo que para o cético antigo era vital o pensamento de um agir sem crença dogmática, o que é compatível com a máxima da suspensão do juízo. Sobre as aparências, também Timon dela nos fala, em uma linha de suas Imagens (Indalmoi), ele que se tornou conhecido por escrever obras satíricas, nas quais desfechava ataques pessoais contra um grande número de autores dogmáticos, filósofos respeitados da tradição. Ele aí nos diz que onde quer que ela surja [ou chegue], em 18
19 toda parte ela é poderosa. Esta e outras frases de Timon parecem sugerir o que Enesidemo teria compreendido: que a aparência é para ser encarada como critério prático, um meio para decidir-se o que fazer ou como proceder. (Diógenes Laércio faz referências pouco abonadoras acerca de seu caráter, afirmando ainda que ele foi autor de poemas épicos, dramas, peças cômicas e poesias obscenas. Mas ele é também a principal fonte de relatos e descrições sobre seu mestre, Pirro, em sua obra intitulada Imagens (Indalmoi), de que restam alguns fragmentos 15. Aí tem lugar um autêntico culto a Pirro, na forma de poemas de louvor e apologia.) Já Richard Bett pergunta-se: e se em vez de aquela sentença significar uma recomendação (como é majoritariamente entendido), Timon lá estivesse lamentando a força das aparências, o seu poder de convercer-nos ou levar-nos a crer que elas são um bom portal para a realidade? Mas ele acaba tendendo a concordar, neste ponto, com a interpretação tradicional: É sem dúvida verdadeiro que Pirro e Timon tenham pensado acerca da maioria das pessoas que elas se deixassem levar pelas aparências das coisas. As coisas aparecem-nos, em dadas ocasiões, de determinados modos, e a maioria das pessoas supõe que elas são na realidade como elas aparecem. Pirro resiste a essa suposição, dado que ele considera que a realidade é de fato indeterminada, e é neste sentido que ele desconfia dos sentidos. Entretanto, é bastente compatível com isso que uma pessoa molde seu próprio comportamento pelas maneiras determinadas nas quais as coisas aparecem em dadas ocasiões (Bett, Pyrrho, p. 87). Timon estaria mostrando que Pirro não costumava ir além da experiência comum. O que as evidências disponíveis mostrariam é que, tanto no primeiro pirronismo quanto no posterior, aceitar as aparências era não só permitido, mas ainda usado como base para escolha e ação: no fragmento de Aristócles/ Eusébio, a asserção de que alguém não deva confiar em suas sensações ou opiniões não tem que ser interpretada como sugerindo que alguém deva ignorá-las por completo em seu comprtamento cotidiano; e a alternativa óbvia é a de que ela está dizendo que uma pessoa não deveria confiar nelas como revelando como as coisas são em suas verdadeiras naturezas que é o que, supostamente, a maioria das pessoas fazem. (Bett, p.91). A natureza das coisas, sendo aliás indeterminada, não poderia mesmo fornecer nenhuma base para o comportamento dos indivíduos. O pensamento de que podemos e 15 Ver: LONG, A.; SEDLEY, D. The hellenistic Philosophers, Cambridge University Press,
20 mesmo devemos apoiar-nos nas aparências para agir parece uma extensão bastante plausível das idéias presentes na passagem de Aristócles/ Eusébio. Como destaca Brunschwig, durante muito tempo pretendeu-se que tais imagens teriam um sentido e um valor negativos: elas significariam as aparências enganadoras, que poderiam tanto provir do mundo natural quanto do universo das convenções, como também das especulações dos filósofos. Mais recentemente, chegouse a propor uma interpretação, digamos, positiva do termo imagens : tratar-se-ia das representações que o sábio teria necessidade para viver e agir, que serviriam assim de guia para sua conduta. E ainda uma interpretação mista, onde as representações seriam tanto boas quanto más. Brunschwig propõe, por uma analogia com as Memoráveis de Xenofonte, que as imagens do título da obra de Timon têm a ver com representações de lembrança, de registro de memória, para fixar e conservar uma imagem de alguém e nada mais justo do que pensar que este alguém fosse o adorado mestre Pirro. Não de Pirro enquanto homem comum, através de uma coleção de anedotas sobre sua vida, mas de Pirro enquanto modelo de conduta e inventor de uma postura existencial, ética e psicológica, definindo-se principalmente pelas disposições da apatia, da afasia e da ataraxia. Mas os elogios a Pirro acabaram por mostrarem-se problemáticos aos olhos dos intérpretes, trazendo algumas dificuldades de compreensão, que surgem quando detalhes da apologia são confrontados com aspectos de crença ou interpretação estabelecida do que seja o pensamento do pirronismo. Perceber que os contrários são equivalentes é algo que supõe uma profunda conversão do olhar ou do pensamento à altura do esforço de perceber as coisas na realidade de sua isostenia e é este esforço e uma tal conversão que abrem caminho para que qualquer comum mortal possa alcançar aquela serenidade que Pirro parece ter atingido por uma espécie de graça. Donde a consideração de que ao homem que se fizer, ele mesmo, isostênico, por assim dizer, Pirro prometer, em primeiro lugar, a afasia e em seguida a serenidade,a ataraxia. Por razões diferentes, cada um destes termos coloca problemas 16. A afasia pode ser compreendida de duas maneiras bem distintas: como ausência de asserção definidora (ou determinante) ou ainda como um autêntico silêncio. A segunda 16 Ver a esse respeito o ensaio de Brunschwig, Le titre des Indalmoi de Timon. In: BRUNSCHWIG, J., Etudes sur les philosophies hellénistiques. Paris, PUF, Ver também, do mesmo autor, o excelente ensaio L aphasie pyrrhonienne. In: LÉVY, C.; PERNOT, L. (orgs.) Direl évidence. Paris, L Harmattan,
9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II PROFESSOR DANILO BORGES
 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II PROFESSOR DANILO BORGES DAVID HUME - COMPAIXÃO Nascimento: 7 de maio de 1711 Edimburgo, Reino Unido. Morte: 25 de agosto de 1776 (65 anos) Edimburgo, Reino Unido. Hume nega
9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II PROFESSOR DANILO BORGES DAVID HUME - COMPAIXÃO Nascimento: 7 de maio de 1711 Edimburgo, Reino Unido. Morte: 25 de agosto de 1776 (65 anos) Edimburgo, Reino Unido. Hume nega
FILOSOFIA HELENÍSTICA
 FILOSOFIA HELENÍSTICA Império de Alexandre Início do Reinado de Alexandre Conquista do Egito pelo Império Romano 336 a. C. 323 a. C. Morte de Alexandre 30 a. C. Características gerais: Sincretismo Cultural
FILOSOFIA HELENÍSTICA Império de Alexandre Início do Reinado de Alexandre Conquista do Egito pelo Império Romano 336 a. C. 323 a. C. Morte de Alexandre 30 a. C. Características gerais: Sincretismo Cultural
UNESP 2013 (Questão 12)
 UNESP 2013 (Questão 12) Do lado oposto da caverna, Platão situa uma fogueira fonte da luz de onde se projetam as sombras e alguns homens que carregam objetos por cima de um muro, como num teatro de fantoches,
UNESP 2013 (Questão 12) Do lado oposto da caverna, Platão situa uma fogueira fonte da luz de onde se projetam as sombras e alguns homens que carregam objetos por cima de um muro, como num teatro de fantoches,
Plano de Atividades Pós-Doutorado
 Plano de Atividades Pós-Doutorado O presente projeto de pesquisa tem a proposta de três bolsas de pósdoutorados, para candidatos selecionados com base em uma chamada internacional, de modo a desenvolverem
Plano de Atividades Pós-Doutorado O presente projeto de pesquisa tem a proposta de três bolsas de pósdoutorados, para candidatos selecionados com base em uma chamada internacional, de modo a desenvolverem
RESOLUÇÃO FILOSOFIA SEGUNDA FASE UFU SEGUNDO DIA
 RESOLUÇÃO FILOSOFIA SEGUNDA FASE UFU SEGUNDO DIA 1) Para Parmênides o devir ou movimento é uma mera aparência provocada pelos enganos de nossos sentidos. A realidade é constituída pelo Ser que é identificado
RESOLUÇÃO FILOSOFIA SEGUNDA FASE UFU SEGUNDO DIA 1) Para Parmênides o devir ou movimento é uma mera aparência provocada pelos enganos de nossos sentidos. A realidade é constituída pelo Ser que é identificado
A IMPORTÂNCIA DO FENÔMENO (PHAINÓMENON) NO PIRRONISMO DE SEXTO EMPÍRICO
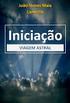 Juliomar M. Silva A IMPORTÂNCIA DO FENÔMENO (PHAINÓMENON) NO PIRRONISMO DE SEXTO EMPÍRICO Those Who say that the Sceptics reject what is apparent have not, I think, listened to what we say. As we Said
Juliomar M. Silva A IMPORTÂNCIA DO FENÔMENO (PHAINÓMENON) NO PIRRONISMO DE SEXTO EMPÍRICO Those Who say that the Sceptics reject what is apparent have not, I think, listened to what we say. As we Said
BuscaLegis.ccj.ufsc.br
 BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
Filosofia Grega Clássica - parte I: o período socrático séculos 5-4 a.c.
 Filosofia Grega Clássica - parte I: o período socrático séculos 5-4 a.c. Atenas no séc. 5 a.c.: - centro da vida social, política e cultural da Grécia - época da democracia, quando os cidadãos participavam
Filosofia Grega Clássica - parte I: o período socrático séculos 5-4 a.c. Atenas no séc. 5 a.c.: - centro da vida social, política e cultural da Grécia - época da democracia, quando os cidadãos participavam
ÉTICA ARISTOTÉLICA A ÉTICA EM ARISTÓTELES
 A ÉTICA EM ARISTÓTELES ÉTICA ARISTOTÉLICA - A Ética aristotélica faz parte do saber prático: distingue-se do saber teórico porque seu objetivo não é o conhecimento de uma realidade determinada, mas do
A ÉTICA EM ARISTÓTELES ÉTICA ARISTOTÉLICA - A Ética aristotélica faz parte do saber prático: distingue-se do saber teórico porque seu objetivo não é o conhecimento de uma realidade determinada, mas do
Sócrates, Sofistas, Platão e Aristóteles (ética) Séc. III e IV a. C
 Sócrates, Sofistas, Platão e Aristóteles (ética) Séc. III e IV a. C Nunca deixou nada escrito Patrono da Filosofia Sh As principais fontes: Platão, Xenofonte e Aristóteles Questões Antropológicas O início
Sócrates, Sofistas, Platão e Aristóteles (ética) Séc. III e IV a. C Nunca deixou nada escrito Patrono da Filosofia Sh As principais fontes: Platão, Xenofonte e Aristóteles Questões Antropológicas O início
QUESTIONÁRIO DE FILOSOFIA ENSINO MÉDIO - 2º ANO A FILOSOFIA DA GRÉCIA CLÁSSICA AO HELENISMO
 QUESTIONÁRIO DE FILOSOFIA ENSINO MÉDIO - 2º ANO A FILOSOFIA DA GRÉCIA CLÁSSICA AO HELENISMO ESTUDAR PARA A PROVA TRIMESTRAL DO SEGUNDO TRIMESTRE PROFESSORA: TATIANA SILVEIRA 1 - Seguiu-se ao período pré-socrático
QUESTIONÁRIO DE FILOSOFIA ENSINO MÉDIO - 2º ANO A FILOSOFIA DA GRÉCIA CLÁSSICA AO HELENISMO ESTUDAR PARA A PROVA TRIMESTRAL DO SEGUNDO TRIMESTRE PROFESSORA: TATIANA SILVEIRA 1 - Seguiu-se ao período pré-socrático
Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Clássica. Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes
 Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Clássica Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes Conteúdo (a) Nascimento da filosofia (b) Condições históricas para seu nascimento (c) Os principais períodos
Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Clássica Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes Conteúdo (a) Nascimento da filosofia (b) Condições históricas para seu nascimento (c) Os principais períodos
Clóvis de Barros Filho
 Clóvis de Barros Filho Sugestão Formação: Doutor em Ciências da Comunicação pela USP (2002) Site: http://www.espacoetica.com.br/ Vídeos Produção acadêmica ÉTICA - Princípio Conjunto de conhecimentos (filosofia)
Clóvis de Barros Filho Sugestão Formação: Doutor em Ciências da Comunicação pela USP (2002) Site: http://www.espacoetica.com.br/ Vídeos Produção acadêmica ÉTICA - Princípio Conjunto de conhecimentos (filosofia)
TEORIA DO CONHECIMENTO. Aulas 2, 3, 4,5 - Avaliação 1 Joyce Shimura
 TEORIA DO CONHECIMENTO Aulas 2, 3, 4,5 - Avaliação 1 Joyce Shimura - O que é conhecer? - Como o indivíduo da imagem se relaciona com o mundo ou com o conhecimento? Janusz Kapusta, Homem do conhecimento
TEORIA DO CONHECIMENTO Aulas 2, 3, 4,5 - Avaliação 1 Joyce Shimura - O que é conhecer? - Como o indivíduo da imagem se relaciona com o mundo ou com o conhecimento? Janusz Kapusta, Homem do conhecimento
"A verdade jamais é pura e raramente é simples." (Oscar Wilde)
 "A verdade jamais é pura e raramente é simples." (Oscar Wilde) Qual é a verdade? São possíveis várias realidades? É possível que haja mais verdades na realidade do que podemos perceber? As sensações podem
"A verdade jamais é pura e raramente é simples." (Oscar Wilde) Qual é a verdade? São possíveis várias realidades? É possível que haja mais verdades na realidade do que podemos perceber? As sensações podem
FILOSOFIA. Professor Ivan Moraes, filósofo e teólogo
 FILOSOFIA Professor Ivan Moraes, filósofo e teólogo Finalidade da vida política para Platão: Os seres humanos e a pólis têm a mesma estrutura: alma concupiscente ou desejante; alma irascível ou colérica;
FILOSOFIA Professor Ivan Moraes, filósofo e teólogo Finalidade da vida política para Platão: Os seres humanos e a pólis têm a mesma estrutura: alma concupiscente ou desejante; alma irascível ou colérica;
Sócrates: após destruir o saber meramente opinativo, em diálogo com seu interlocutor, dava início ã procura da definição do conceito, de modo que, o
 A busca da verdade Os filósofos pré-socráticos investigavam a natureza, sua origem de maneira racional. Para eles, o princípio é teórico, fundamento de todas as coisas. Destaca-se Heráclito e Parmênides.
A busca da verdade Os filósofos pré-socráticos investigavam a natureza, sua origem de maneira racional. Para eles, o princípio é teórico, fundamento de todas as coisas. Destaca-se Heráclito e Parmênides.
O conhecimento e a incerteza do ponto de vista do ceticismo
 O conhecimento e a incerteza do ponto de vista do ceticismo IF UFRJ Mariano G. David Mônica F. Corrêa O conhecimento e a incerteza do ponto de vista do ceticismo Aula 1: O conhecimento é possível? O ceticismo
O conhecimento e a incerteza do ponto de vista do ceticismo IF UFRJ Mariano G. David Mônica F. Corrêa O conhecimento e a incerteza do ponto de vista do ceticismo Aula 1: O conhecimento é possível? O ceticismo
AULA FILOSOFIA. O realismo aristotélico
 AULA FILOSOFIA O realismo aristotélico DEFINIÇÃO O realismo aristotélico representa, na Grécia antiga, ao lado das filosofias de Sócrates e Platão, uma reação ao discurso dos sofistas e uma tentativa de
AULA FILOSOFIA O realismo aristotélico DEFINIÇÃO O realismo aristotélico representa, na Grécia antiga, ao lado das filosofias de Sócrates e Platão, uma reação ao discurso dos sofistas e uma tentativa de
Curso TURMA: 2101 e 2102 DATA: Teste: Prova: Trabalho: Formativo: Média:
 EXERCÍCIOS ON LINE 3º BIMESTRE DISCIPLINA: Filosofia PROFESSOR(A): Julio Guedes Curso TURMA: 2101 e 2102 DATA: Teste: Prova: Trabalho: Formativo: Média: NOME: Nº.: Exercício On Line (1) A filosofia atingiu
EXERCÍCIOS ON LINE 3º BIMESTRE DISCIPLINA: Filosofia PROFESSOR(A): Julio Guedes Curso TURMA: 2101 e 2102 DATA: Teste: Prova: Trabalho: Formativo: Média: NOME: Nº.: Exercício On Line (1) A filosofia atingiu
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER
 RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant ( )
 TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant (1724-1804) Obras de destaque da Filosofia Kantiana Epistemologia - Crítica da Razão Pura (1781) Prolegômenos e a toda a Metafísica Futura (1783) Ética - Crítica da
TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant (1724-1804) Obras de destaque da Filosofia Kantiana Epistemologia - Crítica da Razão Pura (1781) Prolegômenos e a toda a Metafísica Futura (1783) Ética - Crítica da
Teorias éticas. Capítulo 20. GRÉCIA, SÉC. V a.c. PLATÃO ARISTÓTELES
 GRÉCIA, SÉC. V a.c. Reflexões éticas, com um viés político (da pólis) _ > como deve agir o cidadão? Nem todas as pessoas eram consideradas como cidadãos Reflexão metafísica: o que é a virtude? O que é
GRÉCIA, SÉC. V a.c. Reflexões éticas, com um viés político (da pólis) _ > como deve agir o cidadão? Nem todas as pessoas eram consideradas como cidadãos Reflexão metafísica: o que é a virtude? O que é
INTRODUÇÃO A LÓGICA. Prof. André Aparecido da Silva Disponível em:
 INTRODUÇÃO A LÓGICA Prof. André Aparecido da Silva Disponível em: http://www.oxnar.com.br/aulas 1 CIENCIA E LÓGICA RACIOCINIO LÓGICO NOTAÇÃO POSICIONAL PRINCIPIOS DA LÓGICA CONECTIVOS LÓGICOS REGRAS DE
INTRODUÇÃO A LÓGICA Prof. André Aparecido da Silva Disponível em: http://www.oxnar.com.br/aulas 1 CIENCIA E LÓGICA RACIOCINIO LÓGICO NOTAÇÃO POSICIONAL PRINCIPIOS DA LÓGICA CONECTIVOS LÓGICOS REGRAS DE
Filósofos Clássicos: Sócrates e o conceito de justiça
 Filósofos Clássicos: Sócrates e o conceito de justiça Sócrates Com o desenvolvimento das cidades (polis) gregas, a vida em sociedade passa a ser uma questão importante. Sócrates vive em Atenas, que é uma
Filósofos Clássicos: Sócrates e o conceito de justiça Sócrates Com o desenvolvimento das cidades (polis) gregas, a vida em sociedade passa a ser uma questão importante. Sócrates vive em Atenas, que é uma
Agenealogia dos Estudos Culturais é objeto de dissenso
 Cinqüentenário de um discurso cultural fundador WILLIAMS, R. Culture and society 1780-1950. [Londres, Longman, 1958]. Cultura e sociedade. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1969. Agenealogia dos Estudos
Cinqüentenário de um discurso cultural fundador WILLIAMS, R. Culture and society 1780-1950. [Londres, Longman, 1958]. Cultura e sociedade. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1969. Agenealogia dos Estudos
Aluno de Platão, Aristóteles passou a discordar de uma idéia fundamental de sua filosofia e, então, o pensamento dos dois se distanciou.
 Aristóteles. Aluno de Platão, Aristóteles passou a discordar de uma idéia fundamental de sua filosofia e, então, o pensamento dos dois se distanciou. Platão concebia a existência de dois mundos: O mundo
Aristóteles. Aluno de Platão, Aristóteles passou a discordar de uma idéia fundamental de sua filosofia e, então, o pensamento dos dois se distanciou. Platão concebia a existência de dois mundos: O mundo
A ÉTICA NA HISTÓRIA DO PENSAMENTO
 SOFISTAS Acreditavam num relativismo moral. O ceticismo dos sofistas os levava a afirmar que, não existindo verdade absoluta, não poderiam existir valores que fossem validos universalmente. A moral variaria
SOFISTAS Acreditavam num relativismo moral. O ceticismo dos sofistas os levava a afirmar que, não existindo verdade absoluta, não poderiam existir valores que fossem validos universalmente. A moral variaria
Teoria do Conhecimento:
 Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
FILOSOFIA BREVE PANORAMA GERAL FILOSOFIA ANTIGA
 FILOSOFIA BREVE PANORAMA GERAL FILOSOFIA ANTIGA SOBRE FILOSOFIA DEFINIÇÃO TRADICIONAL (segundo a perspectiva ocidental) TEOLOGIA CIÊNCIA certezas dúvidas Bertrand Russell (1872-1970) utiliza seus temas
FILOSOFIA BREVE PANORAMA GERAL FILOSOFIA ANTIGA SOBRE FILOSOFIA DEFINIÇÃO TRADICIONAL (segundo a perspectiva ocidental) TEOLOGIA CIÊNCIA certezas dúvidas Bertrand Russell (1872-1970) utiliza seus temas
DESCARTES E A FILOSOFIA DO. Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson
 DESCARTES E A FILOSOFIA DO COGITO Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson René Descartes (1596 1650) 1650) Ponto de partida - Constatação da crise das ciências e do saber em
DESCARTES E A FILOSOFIA DO COGITO Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson René Descartes (1596 1650) 1650) Ponto de partida - Constatação da crise das ciências e do saber em
FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS
 FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO - 36 Esperava-se que o estudante estabelecesse a distinção entre verdade e validade e descrevesse suas respectivas aplicações. Item
FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO - 36 Esperava-se que o estudante estabelecesse a distinção entre verdade e validade e descrevesse suas respectivas aplicações. Item
Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões
 Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões Questão nº 1 - Resposta B Justificativa: O amante do mito é de certo modo também um filósofo, uma vez que o mito se compõe de maravilhas
Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões Questão nº 1 - Resposta B Justificativa: O amante do mito é de certo modo também um filósofo, uma vez que o mito se compõe de maravilhas
ENTENDER PARA TRANSFORMAR. Escola Bíblica Dominical Classe Mocidade Luiz Roberto Carboni Souza Luiz Fernando Zanin dos Santos
 ENTENDER PARA TRANSFORMAR Escola Bíblica Dominical Classe Mocidade Luiz Roberto Carboni Souza Luiz Fernando Zanin dos Santos I - PLENITUDE DOS TEMPOS 4 mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu
ENTENDER PARA TRANSFORMAR Escola Bíblica Dominical Classe Mocidade Luiz Roberto Carboni Souza Luiz Fernando Zanin dos Santos I - PLENITUDE DOS TEMPOS 4 mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu
Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight
 Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight Antigo sistema de escrita usado em Creta (por volta do século IV A.C.) Abraão Carvalho 1 O conceito do que se convencionou pela
Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight Antigo sistema de escrita usado em Creta (por volta do século IV A.C.) Abraão Carvalho 1 O conceito do que se convencionou pela
Filosofia e Ética Professor Ronaldo Coture
 Filosofia e Ética Professor Ronaldo Coture Quais os conceitos da Disciplina de Filosofia e Ética? Compreender os períodos históricos do pensamento humano. Conceituar a teoria axiológica dos valores. Conceituar
Filosofia e Ética Professor Ronaldo Coture Quais os conceitos da Disciplina de Filosofia e Ética? Compreender os períodos históricos do pensamento humano. Conceituar a teoria axiológica dos valores. Conceituar
Metafísica & Política
 Aristóteles (384-322 a.c.) Metafísica & Política "0 homem que é tomado da perplexidade e admiração julga-se ignorante." (Metafisica, 982 b 13-18). Metafísica No conjunto de obras denominado Metafísica,
Aristóteles (384-322 a.c.) Metafísica & Política "0 homem que é tomado da perplexidade e admiração julga-se ignorante." (Metafisica, 982 b 13-18). Metafísica No conjunto de obras denominado Metafísica,
O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura
 O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura Jean Carlos Demboski * A questão moral em Immanuel Kant é referência para compreender as mudanças ocorridas
O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura Jean Carlos Demboski * A questão moral em Immanuel Kant é referência para compreender as mudanças ocorridas
INTRODUÇÃO AO O QUE É A FILOSOFIA? PENSAMENTO FILOSÓFICO: Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior
 INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO: O QUE É A FILOSOFIA? Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior INTRODUÇÃO FILOSOFIA THEORIA - ONTOS - LOGOS VER - SER - DIZER - A Filosofia é ver e dizer aquilo que
INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO: O QUE É A FILOSOFIA? Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior INTRODUÇÃO FILOSOFIA THEORIA - ONTOS - LOGOS VER - SER - DIZER - A Filosofia é ver e dizer aquilo que
PADRÃO DE RESPOSTA - FILOSOFIA - Grupo L
 PADRÃO DE RESPOSTA - FILOSOFIA - Grupo L 1 a QUESTÃO: (2,0 pontos) Avaliador Revisor No diálogo Fédon, escrito por Platão, seu personagem Sócrates afirma que a dedicação à Filosofia implica que a alma
PADRÃO DE RESPOSTA - FILOSOFIA - Grupo L 1 a QUESTÃO: (2,0 pontos) Avaliador Revisor No diálogo Fédon, escrito por Platão, seu personagem Sócrates afirma que a dedicação à Filosofia implica que a alma
Faculdade de ciências jurídicas. e sociais aplicadas do Araguaia Carolina e Maria Rosa
 Faculdade de ciências jurídicas e sociais aplicadas do Araguaia Carolina e Maria Rosa TEORIA GERAL DO CONHECIMENTO 06/47 20/03 Formas do Conhecimento SENSAÇÃO PERCEPÇÃO IMAGINAÇÃO MEMÓRIA LINGUAGEM RACIOCÍNIO
Faculdade de ciências jurídicas e sociais aplicadas do Araguaia Carolina e Maria Rosa TEORIA GERAL DO CONHECIMENTO 06/47 20/03 Formas do Conhecimento SENSAÇÃO PERCEPÇÃO IMAGINAÇÃO MEMÓRIA LINGUAGEM RACIOCÍNIO
Revista Filosofia Capital ISSN Vol. 1, Edição 3, Ano AS CONDUTAS DE MÁ-FÉ. Moura Tolledo
 39 AS CONDUTAS DE MÁ-FÉ Moura Tolledo mouratolledo@bol.com.br Brasília-DF 2006 40 AS CONDUTAS DE MÁ-FÉ Moura Tolledo 1 mouratolledo@bol.com.br Resumo A Má-Fé foi escolhida como tema, por se tratar de um
39 AS CONDUTAS DE MÁ-FÉ Moura Tolledo mouratolledo@bol.com.br Brasília-DF 2006 40 AS CONDUTAS DE MÁ-FÉ Moura Tolledo 1 mouratolledo@bol.com.br Resumo A Má-Fé foi escolhida como tema, por se tratar de um
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010
 NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010 12 Daniel José Crocoli * A obra Sobre ética apresenta as diferentes formas de se pensar a dimensão ética, fazendo
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010 12 Daniel José Crocoli * A obra Sobre ética apresenta as diferentes formas de se pensar a dimensão ética, fazendo
RESENHA. CETICISMO EM CHAVE DIALÉTICA BICCA, Luiz. Ceticismo antigo e dialética. Rio de Janeiro: Ed. 7 Letras/Puc-RJ, 2016.
 RESENHA CETICISMO EM CHAVE DIALÉTICA BICCA, Luiz. Ceticismo antigo e dialética. Rio de Janeiro: Ed. 7 Letras/Puc-RJ, 2016. Por Francisco Moraes (UFRRJ) O último livro de Luiz Bicca, Ceticismo antigo e
RESENHA CETICISMO EM CHAVE DIALÉTICA BICCA, Luiz. Ceticismo antigo e dialética. Rio de Janeiro: Ed. 7 Letras/Puc-RJ, 2016. Por Francisco Moraes (UFRRJ) O último livro de Luiz Bicca, Ceticismo antigo e
FILOSOFIA COMENTÁRIO DA PROVA DE FILOSOFIA
 COMENTÁRIO DA PROVA DE FILOSOFIA Mais uma vez a UFPR oferece aos alunos uma prova exigente e bem elaborada, com perguntas formuladas com esmero e citações muito pertinentes. A prova de filosofia da UFPR
COMENTÁRIO DA PROVA DE FILOSOFIA Mais uma vez a UFPR oferece aos alunos uma prova exigente e bem elaborada, com perguntas formuladas com esmero e citações muito pertinentes. A prova de filosofia da UFPR
IDEALISMO ESPECULATIVO, FELICIDADE E ESPÍRITO LIVRE CURSO DE EXTENSÃO 24/10/ Prof. Ricardo Pereira Tassinari
 IDEALISMO ESPECULATIVO, FELICIDADE E ESPÍRITO LIVRE CURSO DE EXTENSÃO 24/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 PSICOLOGIA: O ESPÍRITO 440 ( ) O Espírito começa, pois, só a partir do seu
IDEALISMO ESPECULATIVO, FELICIDADE E ESPÍRITO LIVRE CURSO DE EXTENSÃO 24/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 PSICOLOGIA: O ESPÍRITO 440 ( ) O Espírito começa, pois, só a partir do seu
Bem vindo à Filosofia. Prof. Alexandre Cardoso
 Bem vindo à Filosofia Prof. Alexandre Cardoso A criação da filosofia está ligada ao pensamento racional. Discutir, pensar e refletir para descobrir respostas relacionadas à vida. Os filósofos gregos deixaram
Bem vindo à Filosofia Prof. Alexandre Cardoso A criação da filosofia está ligada ao pensamento racional. Discutir, pensar e refletir para descobrir respostas relacionadas à vida. Os filósofos gregos deixaram
2º Momento Campo Argumentativo Argumento 1 -> Argumento 2 -> Argumento n Refutação de possíveis contra-argumentos
 Francisco Cubal Um discurso argumentativo é composto por: 1º Momento Introdução Tema (subtemas) Tese do Autor sobre esse tema 2º Momento Campo Argumentativo Argumento 1 -> Argumento 2 -> Argumento n Refutação
Francisco Cubal Um discurso argumentativo é composto por: 1º Momento Introdução Tema (subtemas) Tese do Autor sobre esse tema 2º Momento Campo Argumentativo Argumento 1 -> Argumento 2 -> Argumento n Refutação
Capítulo 1 Felicidade e filosofia no pensamento antigo
 Filosofia Capítulo 1 Felicidade e filosofia no pensamento antigo Você é feliz? Fontes da felicidade: coisas que tornam o indivíduo feliz. Bens materiais e riqueza. Status social, poder e glória. Prazeres
Filosofia Capítulo 1 Felicidade e filosofia no pensamento antigo Você é feliz? Fontes da felicidade: coisas que tornam o indivíduo feliz. Bens materiais e riqueza. Status social, poder e glória. Prazeres
ARISTÓTELES I) TEORIA DO CONHECIMENTO DE ARISTÓTELES
 AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. Todo exemplo citado em aula é, meramente,
AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. Todo exemplo citado em aula é, meramente,
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura
 O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
CONHECIMENTO, REALIDADE E VERDADE
 CONHECIMENTO, REALIDADE E VERDADE SERÁ QUE TUDO QUE VEJO É REAL e VERDADEIRO? Realidade Realismo A primeira opção, chamada provisoriamente de realismo : supõe que a realidade é uma dimensão objetiva,
CONHECIMENTO, REALIDADE E VERDADE SERÁ QUE TUDO QUE VEJO É REAL e VERDADEIRO? Realidade Realismo A primeira opção, chamada provisoriamente de realismo : supõe que a realidade é uma dimensão objetiva,
Introdução O QUE É FILOSOFIA?
 O QUE É FILOSOFIA? A filosofia não é uma ciência, nem mesmo um conhecimento; não é um saber a mais: é uma reflexão sobre os saberes disponíveis. É por isso que não se pode aprender filosofia, dizia kant:
O QUE É FILOSOFIA? A filosofia não é uma ciência, nem mesmo um conhecimento; não é um saber a mais: é uma reflexão sobre os saberes disponíveis. É por isso que não se pode aprender filosofia, dizia kant:
IDEALISMO ESPECULATIVO E A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO CURSO DE EXTENSÃO 22/10/ Prof. Ricardo Pereira Tassinari
 IDEALISMO ESPECULATIVO E A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO CURSO DE EXTENSÃO 22/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 20 Se tomarmos o pensar na sua representação mais próxima, aparece, α) antes
IDEALISMO ESPECULATIVO E A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO CURSO DE EXTENSÃO 22/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 20 Se tomarmos o pensar na sua representação mais próxima, aparece, α) antes
AULA DE FILOSOFIA. Prof. Alexandre Cardoso
 AULA DE FILOSOFIA Prof. Alexandre Cardoso A criação da filosofia está ligada ao pensamento racional. Discutir, pensar e refletir para descobrir respostas relacionadas à vida. Os filósofos gregos deixaram
AULA DE FILOSOFIA Prof. Alexandre Cardoso A criação da filosofia está ligada ao pensamento racional. Discutir, pensar e refletir para descobrir respostas relacionadas à vida. Os filósofos gregos deixaram
PENSAMENTO CRÍTICO. Aula 4. Profa. Dra. Patrícia Del Nero Velasco Universidade Federal do ABC
 PENSAMENTO CRÍTICO Aula 4 Profa. Dra. Patrícia Del Nero Velasco Universidade Federal do ABC 2016-2 Conceitos trabalhados até aqui: Inferência; Premissa; Conclusão; Argumento; Premissa Básica; Premissa
PENSAMENTO CRÍTICO Aula 4 Profa. Dra. Patrícia Del Nero Velasco Universidade Federal do ABC 2016-2 Conceitos trabalhados até aqui: Inferência; Premissa; Conclusão; Argumento; Premissa Básica; Premissa
Aristóteles e o Espanto
 Aristóteles e o Espanto - Para Aristóteles, uma condição básica para o surgimento do conhecimento no homem era o espanto, o qual poderia gerar toda condição para o conhecimento e a elaboração de teorias.
Aristóteles e o Espanto - Para Aristóteles, uma condição básica para o surgimento do conhecimento no homem era o espanto, o qual poderia gerar toda condição para o conhecimento e a elaboração de teorias.
A teoria do conhecimento
 conhecimento 1 A filosofia se divide em três grandes campos de investigação. A teoria da ciência, a teoria dos valores e a concepção de universo. Esta última é na verdade a metafísica; a teoria dos valores
conhecimento 1 A filosofia se divide em três grandes campos de investigação. A teoria da ciência, a teoria dos valores e a concepção de universo. Esta última é na verdade a metafísica; a teoria dos valores
Kant e o Princípio Supremo da Moralidade
 Kant e o Princípio Supremo da Moralidade ÉTICA II - 2017 16.03.2018 Hélio Lima LEITE, Flamarion T. 10 Lições sobre Kant. Petrópolis: Vozes, 2013 O Sistema kantiano Estética Transcendental Experiência Lógica
Kant e o Princípio Supremo da Moralidade ÉTICA II - 2017 16.03.2018 Hélio Lima LEITE, Flamarion T. 10 Lições sobre Kant. Petrópolis: Vozes, 2013 O Sistema kantiano Estética Transcendental Experiência Lógica
CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARENTIANO. Pós Graduação em Filosofia e Ensino da Filosofia. Sergio Levi Fernandes de Souza RA:
 CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARENTIANO Pós Graduação em Filosofia e Ensino da Filosofia Sergio Levi Fernandes de Souza RA: 1123930 Filosofia e Educação da Filosofia ESTADO E EDUCAÇÃO EM PLATÃO Santo André 2013
CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARENTIANO Pós Graduação em Filosofia e Ensino da Filosofia Sergio Levi Fernandes de Souza RA: 1123930 Filosofia e Educação da Filosofia ESTADO E EDUCAÇÃO EM PLATÃO Santo André 2013
O GRANDE RACIONALISMO: RENÉ DESCARTES ( )
 O GRANDE RACIONALISMO: RENÉ DESCARTES (1596-1650) JUSTIFICATIVA DE DESCARTES: MEDITAÇÕES. Há já algum tempo que eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras,
O GRANDE RACIONALISMO: RENÉ DESCARTES (1596-1650) JUSTIFICATIVA DE DESCARTES: MEDITAÇÕES. Há já algum tempo que eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras,
Processo de compreensão da realidade. Não é lenda Verdade Explicação do misterioso Expressão fundamental do viver humano
 Processo de compreensão da realidade Não é lenda Verdade Explicação do misterioso Expressão fundamental do viver humano Homero Ilíada Hesíodo Teogonia Odisseia A invenção da escrita Nova idade mental Surgimento
Processo de compreensão da realidade Não é lenda Verdade Explicação do misterioso Expressão fundamental do viver humano Homero Ilíada Hesíodo Teogonia Odisseia A invenção da escrita Nova idade mental Surgimento
FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA PROFESSOR: REINALDO SOUZA
 FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA PROFESSOR: REINALDO SOUZA Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. G. W. F. HEGEL (1770-1831) Século XIX Revolução Industrial (meados do século XVIII) Capitalismo; Inovações
FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA PROFESSOR: REINALDO SOUZA Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. G. W. F. HEGEL (1770-1831) Século XIX Revolução Industrial (meados do século XVIII) Capitalismo; Inovações
A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA
 MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
ENEM. Análise do critério dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação do texto
 ENEM Análise do critério dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação do texto O participante do ENEM tem de demonstrar domínio dos recursos coesivos, dos mecanismos linguísticos
ENEM Análise do critério dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação do texto O participante do ENEM tem de demonstrar domínio dos recursos coesivos, dos mecanismos linguísticos
Platão, desiludido com a. escola de filosofia a Academia.
 Platão era filho da aristocracia ateniense. Foi discípulo de Sócrates. Sua obra reflete o momento caótico pelo qual passou Atenas no decorrer de sua vida A crise da sociedade ateniense está ligada à guerra
Platão era filho da aristocracia ateniense. Foi discípulo de Sócrates. Sua obra reflete o momento caótico pelo qual passou Atenas no decorrer de sua vida A crise da sociedade ateniense está ligada à guerra
Ética e política da subjetividade: hermenêutica do sujeito e parrhesía em Michel Foucault.
 Ética e política da subjetividade: hermenêutica do sujeito e parrhesía em Michel Foucault. André Pereira Almeida Os últimos cursos e trabalhos de Foucault acerca da constituição do sujeito ético e político
Ética e política da subjetividade: hermenêutica do sujeito e parrhesía em Michel Foucault. André Pereira Almeida Os últimos cursos e trabalhos de Foucault acerca da constituição do sujeito ético e político
O conceito ética. O conceito ética. Curso de Filosofia. Prof. Daniel Pansarelli. Ética filosófica: conceito e origem Estudo a partir de Aristóteles
 Curso de Filosofia Prof. Daniel Pansarelli Ética filosófica: conceito e origem Estudo a partir de Aristóteles O conceito ética Originado do termo grego Ethos, em suas duas expressões Êthos (com inicial
Curso de Filosofia Prof. Daniel Pansarelli Ética filosófica: conceito e origem Estudo a partir de Aristóteles O conceito ética Originado do termo grego Ethos, em suas duas expressões Êthos (com inicial
FILOSOFIA 11º ano O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
 FILOSOFIA 11º ano O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA Governo da República Portuguesa Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva 1.1 Estrutura do ato de conhecer 1.2 Análise
FILOSOFIA 11º ano O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA Governo da República Portuguesa Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva 1.1 Estrutura do ato de conhecer 1.2 Análise
Lógica Proposicional. 1- O que é o Modus Ponens?
 1- O que é o Modus Ponens? Lógica Proposicional R: é uma forma de inferência válida a partir de duas premissas, na qual se se afirma o antecedente do condicional da 1ª premissa, pode-se concluir o seu
1- O que é o Modus Ponens? Lógica Proposicional R: é uma forma de inferência válida a partir de duas premissas, na qual se se afirma o antecedente do condicional da 1ª premissa, pode-se concluir o seu
REVISÃO GERAL DE CONTEÚDO 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II. Professor Danilo Borges
 REVISÃO GERAL DE CONTEÚDO 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II Professor Danilo Borges ATENÇÃO! Esta revisão geral de conteúdo tem a função de orientar, você estudante, para uma discussão dos temas e problemas
REVISÃO GERAL DE CONTEÚDO 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II Professor Danilo Borges ATENÇÃO! Esta revisão geral de conteúdo tem a função de orientar, você estudante, para uma discussão dos temas e problemas
Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen
 1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
Sobre este trecho do livro VII de A República, de Platão, é correto afirmar.
 O que é o mito da caverna? O que levou Platão a se decepcionar com a política? 3) Mas quem fosse inteligente (...) lembrar-se-ia de que as perturbações visuais são duplas, e por dupla causa, da passagem
O que é o mito da caverna? O que levou Platão a se decepcionar com a política? 3) Mas quem fosse inteligente (...) lembrar-se-ia de que as perturbações visuais são duplas, e por dupla causa, da passagem
CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA
 CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA O GRANDE RACIONALISMO O termo RACIONALISMO, no sentido geral, é empregado para designar a concepção de nada existe sem que haja uma razão para isso. Uma pessoa
CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA O GRANDE RACIONALISMO O termo RACIONALISMO, no sentido geral, é empregado para designar a concepção de nada existe sem que haja uma razão para isso. Uma pessoa
OS FILÓFOFOS PRÉ-SOCRÁTICOS
 OS FILÓFOFOS PRÉ-SOCRÁTICOS São chamados de filósofos da natureza. Buscavam a arché, isto é, o elemento ou substância primordial que originava todas as coisas da natureza. Dirigiram sua atenção e suas
OS FILÓFOFOS PRÉ-SOCRÁTICOS São chamados de filósofos da natureza. Buscavam a arché, isto é, o elemento ou substância primordial que originava todas as coisas da natureza. Dirigiram sua atenção e suas
O DASEIN E SUA CONDIÇÃO ONTOLÓGICA DE ANGÚSTIA. Greyce Kelly de Souza Jéferson Luís de Azeredo
 O DASEIN E SUA CONDIÇÃO ONTOLÓGICA DE ANGÚSTIA Greyce Kelly de Souza greycehp@gmail.com Jéferson Luís de Azeredo jeferson@unesc.net Resumo: Neste artigo pretende-se analisar a relação ontológica entre
O DASEIN E SUA CONDIÇÃO ONTOLÓGICA DE ANGÚSTIA Greyce Kelly de Souza greycehp@gmail.com Jéferson Luís de Azeredo jeferson@unesc.net Resumo: Neste artigo pretende-se analisar a relação ontológica entre
DOUTRINAS ÉTICAS FUNDAMENTAIS PROFA. ME. ÉRICA RIOS
 DOUTRINAS ÉTICAS FUNDAMENTAIS PROFA. ME. ÉRICA RIOS ERICA.CARVALHO@UCSAL.BR Ética e História Como a Ética estuda a moral, ou seja, o comportamento humano, ela varia de acordo com seu objeto ao longo do
DOUTRINAS ÉTICAS FUNDAMENTAIS PROFA. ME. ÉRICA RIOS ERICA.CARVALHO@UCSAL.BR Ética e História Como a Ética estuda a moral, ou seja, o comportamento humano, ela varia de acordo com seu objeto ao longo do
Método fenomenológico de investigação psicológica
 Método fenomenológico de investigação psicológica Método de investigação filosófico versus psicológico Teoria F Descrição Reduções Essência Intencionalidade P Descrição de outros sujeitos Redução fenomenológica
Método fenomenológico de investigação psicológica Método de investigação filosófico versus psicológico Teoria F Descrição Reduções Essência Intencionalidade P Descrição de outros sujeitos Redução fenomenológica
Disciplina: Filosofia Série: 10 Unidade: Primeira Content Area: Philosophy Grade 10 Quarter I
 Disciplina: Filosofia Série: 10 Unidade: Primeira Content Area: Philosophy Grade 10 Quarter I 1.1 1.2 1.3 Conhecimento filosófico, religioso, científico e senso comum. Filosofia e lógica. Milagre Grego.
Disciplina: Filosofia Série: 10 Unidade: Primeira Content Area: Philosophy Grade 10 Quarter I 1.1 1.2 1.3 Conhecimento filosófico, religioso, científico e senso comum. Filosofia e lógica. Milagre Grego.
1. A dialética de Hegel a) envolve duas etapas, formadas por opostos encontrados na natureza (dia-noite, claro-escuro, friocalor).
 Exercícios sobre Hegel e a dialética EXERCÍCIOS 1. A dialética de Hegel a) envolve duas etapas, formadas por opostos encontrados na natureza (dia-noite, claro-escuro, friocalor). b) é incapaz de explicar
Exercícios sobre Hegel e a dialética EXERCÍCIOS 1. A dialética de Hegel a) envolve duas etapas, formadas por opostos encontrados na natureza (dia-noite, claro-escuro, friocalor). b) é incapaz de explicar
Filosofia e Ética. Professor Ronaldo Coture
 Filosofia e Ética Professor Ronaldo Coture Quais os conceitos da Disciplina de Filosofia e Ética? Compreender os períodos históricos do pensamento humano. Conceituar a teoria axiológica dos valores. Conceituar
Filosofia e Ética Professor Ronaldo Coture Quais os conceitos da Disciplina de Filosofia e Ética? Compreender os períodos históricos do pensamento humano. Conceituar a teoria axiológica dos valores. Conceituar
ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL MÓDULO 2
 ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL MÓDULO 2 Índice 1. Ética Geral...3 1.1 Conceito de ética... 3 1.2 O conceito de ética e sua relação com a moral... 4 2 1. ÉTICA GERAL 1.1 CONCEITO DE ÉTICA Etimologicamente,
ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL MÓDULO 2 Índice 1. Ética Geral...3 1.1 Conceito de ética... 3 1.2 O conceito de ética e sua relação com a moral... 4 2 1. ÉTICA GERAL 1.1 CONCEITO DE ÉTICA Etimologicamente,
[ÉÅxÅ? VâÄàâÜt x fév xwtwx
 [ÉÅxÅ? VâÄàâÜt x fév xwtwx PENSAMENTO CLÁSSICO E CRISTÃO Prof. Walteno Martins Parreira Jr https://www.youtube.com/watch?v=stbbebwivvk 1 Século V a.c. Dá-se o nome de sofistas a um conjunto de pensadores
[ÉÅxÅ? VâÄàâÜt x fév xwtwx PENSAMENTO CLÁSSICO E CRISTÃO Prof. Walteno Martins Parreira Jr https://www.youtube.com/watch?v=stbbebwivvk 1 Século V a.c. Dá-se o nome de sofistas a um conjunto de pensadores
PLATÃO O MUNDO DAS IDEIAS
 AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas RUBENS expostos. RAMIRO Todo exemplo JR (TODOS citado
AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas RUBENS expostos. RAMIRO Todo exemplo JR (TODOS citado
INSTITUTO ÀGORA DE EDUCAÇÃO
 INSTITUTO ÀGORA DE EDUCAÇÃO Curso de filosofia RESENHA SOBRE: BLACKBUM, Simon. Para que serve filosofia?. Disponível em: http: www.criticanarede.com/fa_10exceto.html; SHAND, John. O que é filosofia?. Disponível
INSTITUTO ÀGORA DE EDUCAÇÃO Curso de filosofia RESENHA SOBRE: BLACKBUM, Simon. Para que serve filosofia?. Disponível em: http: www.criticanarede.com/fa_10exceto.html; SHAND, John. O que é filosofia?. Disponível
constituímos o mundo, mais especificamente, é a relação de referência, entendida como remissão das palavras às coisas que estabelece uma íntima
 1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
Nota sobre a Filosofia e o Espírito Critico
 Nota sobre a Filosofia e o Espírito Critico Alberto Cupani (*) Constitui um fenômeno freqüente na vida intelectual contemporânea a defesa da filosofia em nome da necessidade de cultivar o espirito critico
Nota sobre a Filosofia e o Espírito Critico Alberto Cupani (*) Constitui um fenômeno freqüente na vida intelectual contemporânea a defesa da filosofia em nome da necessidade de cultivar o espirito critico
A noção de epokhé no ceticismo pirrônico
 Revista Urutágua - revista acadêmica multidisciplinar www.uem.br/urutagua/005/10fil_tonnetti.htm Quadrimestral Nº 05 Dez/Jan/Fev/Mar Maringá - Paraná - Brasil - ISSN 1519.6178 Centro de Estudos Sobre Intolerância
Revista Urutágua - revista acadêmica multidisciplinar www.uem.br/urutagua/005/10fil_tonnetti.htm Quadrimestral Nº 05 Dez/Jan/Fev/Mar Maringá - Paraná - Brasil - ISSN 1519.6178 Centro de Estudos Sobre Intolerância
PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02
 PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02 2 A EPISTEMOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO Ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. Como podemos conhecer
PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02 2 A EPISTEMOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO Ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. Como podemos conhecer
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 1º Semestre de 2009 Disciplina Obrigatória Destinada: alunos de Filosofia Código: FLF0113 Sem pré-requisito Prof. Dr. João Vergílio Gallerani Cuter Prof. Dr. José Arthur Giannotti
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 1º Semestre de 2009 Disciplina Obrigatória Destinada: alunos de Filosofia Código: FLF0113 Sem pré-requisito Prof. Dr. João Vergílio Gallerani Cuter Prof. Dr. José Arthur Giannotti
TEORIA DO CONHECIMENTO O QUE É O CONHECIMENTO? COMO NÓS O ALCANÇAMOS?
 TEORIA DO CONHECIMENTO O QUE É O CONHECIMENTO? COMO NÓS O ALCANÇAMOS? Tem como objetivo investigar a origem, a natureza, o valor e os limites do conhecimento Vários filósofos se preocuparam em achar uma
TEORIA DO CONHECIMENTO O QUE É O CONHECIMENTO? COMO NÓS O ALCANÇAMOS? Tem como objetivo investigar a origem, a natureza, o valor e os limites do conhecimento Vários filósofos se preocuparam em achar uma
FILOSOFIA Conceito e delimitação
 FILOSOFIA Conceito e delimitação Conceito de Filosofia Filosofia significa philo= amigo, amor, Sophia= sabedoria. A filosofia busca dar profundidade e totalidade à aspectos referentes a vida como um todo;
FILOSOFIA Conceito e delimitação Conceito de Filosofia Filosofia significa philo= amigo, amor, Sophia= sabedoria. A filosofia busca dar profundidade e totalidade à aspectos referentes a vida como um todo;
Descartes e o Raciona. Filosofia 11ºAno Professor Paulo Gomes
 Descartes e o Raciona Filosofia 11ºAno Professor Paulo Gomes http://sites.google.com/site/filosofarliberta/ O RACIONALISMO -O Racionalismo é uma corrente que defende que a origem do conhecimento é a razão.
Descartes e o Raciona Filosofia 11ºAno Professor Paulo Gomes http://sites.google.com/site/filosofarliberta/ O RACIONALISMO -O Racionalismo é uma corrente que defende que a origem do conhecimento é a razão.
SOBRE O CÉREBRO HUMANO NA PSICOLOGIA SOVIÉTICA citações de Rubinshtein, Luria e Vigotski *
 SOBRE O CÉREBRO HUMANO NA PSICOLOGIA SOVIÉTICA citações de Rubinshtein, Luria e Vigotski * "O cérebro humano é a estrutura mais complexa de todo o universo conhecido" American Scientific (set. 1992) 1
SOBRE O CÉREBRO HUMANO NA PSICOLOGIA SOVIÉTICA citações de Rubinshtein, Luria e Vigotski * "O cérebro humano é a estrutura mais complexa de todo o universo conhecido" American Scientific (set. 1992) 1
John Locke. Trabalho apresentado pela aluna Luciana Cidrim. Recife, 08 de Setembro de 2015
 Universidade Católica de Pernambuco Programa de Pós- Graduação em Ciências da Linguagem Disciplina: Filosofia da Linguagem Prof. Dr. Karl Heinz EGen John Locke Trabalho apresentado pela aluna Luciana Cidrim
Universidade Católica de Pernambuco Programa de Pós- Graduação em Ciências da Linguagem Disciplina: Filosofia da Linguagem Prof. Dr. Karl Heinz EGen John Locke Trabalho apresentado pela aluna Luciana Cidrim
RESUMO. Filosofia. Psicologia, JB
 RESUMO Filosofia Psicologia, JB - 2010 Jorge Barbosa, 2010 1 Saber se o mundo exterior é real e qual a consciência e o conhecimento que temos dele é um dos problemas fundamentais acerca do processo de
RESUMO Filosofia Psicologia, JB - 2010 Jorge Barbosa, 2010 1 Saber se o mundo exterior é real e qual a consciência e o conhecimento que temos dele é um dos problemas fundamentais acerca do processo de
Revista Filosofia Capital ISSN Vol. 1, Edição 2, Ano BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO AO CONTEMPORÂNEO
 30 BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO AO CONTEMPORÂNEO Moura Tolledo mouratolledo@bol.com.br Brasília-DF 2006 31 BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO
30 BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO AO CONTEMPORÂNEO Moura Tolledo mouratolledo@bol.com.br Brasília-DF 2006 31 BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO
ALBERTO MAGNO E TOMÁS DE AQUINO
 1 ALBERTO MAGNO E TOMÁS DE AQUINO A ESCOLÁSTICA E OS PRINCIPAIS REPRESENTANTES ALBERTO MAGNO TOMÁS DE AQUINO Buscaram provar a existência de Deus utilizando argumentos racionais. 2 A UNIDADE ENTRE A FÉ
1 ALBERTO MAGNO E TOMÁS DE AQUINO A ESCOLÁSTICA E OS PRINCIPAIS REPRESENTANTES ALBERTO MAGNO TOMÁS DE AQUINO Buscaram provar a existência de Deus utilizando argumentos racionais. 2 A UNIDADE ENTRE A FÉ
