3 Narrativa e Identidade
|
|
|
- Juan Henrique Castelo Cortês
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 3 Narrativa e Identidade 10- Separe as histórias de que você gosta. O que você gosta nelas é uma parte de você, é preciso reconhecê-las antes de usá-las. (22 pílulas de sabedoria da Pixar para contar uma boa história, em Na fala, e por meio dela, fazemos sentido de nós mesmos e dos outros. Na construção de momentos de interação, junto com outras pessoas, construímos o modo como pensamos em nós mesmos e nos outros, e, constantemente, modificamos, desconstruímos e reconstruímos nossas identidades, segundo uma visão sociointeracional do discurso (Gumperz, 1982). A concepção de identidades (re)construídas na interação, especialmente em forma narrativa, tem sido utilizada por diversos pesquisadores da tradição sociolinguística, etnometodológica, da Análise da Conversa e da Psicologia Discursiva. Essas abordagens põem o foco na forma como os participantes na interação identificam a si próprios e aos outros em suas falas, ou seja, na organização interacional e linguística, assim como nas ocasiões e nos motivos que levam as múltiplas identidades a se tornarem relevantes. Em suma, o interesse repousa na forma como as histórias emergem na interação, na negociação dos participantes pelo espaço para seus relatos, e na organização dos turnos. Se nos construímos discursivamente nas interações como seres socialmente inseridos, podemos afirmar que quando nos colocamos no discurso, nos posicionamos socialmente, e construímos significados que dependem desses posicionamentos assumidos. Ao contarmos histórias, por exemplo, lançamos mão de um dos mais importantes recursos sociais para a (re)criação e manutenção de identidades. Como narradores podemos escolher quais experiências relatar e como apresentá-las para uma certa plateia num determinado contexto. Gostamos de ouvir e contar histórias quando estamos com outras pessoas nos mais variados momentos de
2 54 nossas vidas: no trabalho, na fila do mercado, no ônibus, numa festa, em casa com amigos, na escola. Nesse processo presente no nosso dia-a-dia, não somente o que está sendo dito, mas o local, o tipo de interação, quem são os participantes, são fatores que refletem as marcas identitárias que o narrador quer salientar naquele contexto (Norrick, 2005, p.139). A análise dessas histórias situadas em conversas espontâneas ou institucionais permite-nos olhar para a narrativa como uma prática social, na qual são co-construídas, tanto as identidades quanto a ordem social que cerca os indivíduos (Bastos, 2005, p. 75) Narrativas Canônicas O estudo da narrativa foi introduzido na Sociolinguística pelos trabalhos de Labov e Waletzky (1967) e Labov (1972). Para Labov e Waletzky, narrativas recapitulam experiências passadas que remetem a acontecimentos específicos, são estruturadas numa seqüência temporal, tem um ponto e são contáveis. Essas são características essenciais de uma narrativa. Uma narrativa sem ponto, sem razão de ser, pode despertar nos ouvintes numa reação de surpresa, a pergunta: e daí? A narrativa também deve ser contável, ou seja, falar sobre algo que vale a pena ser ouvido. Por exemplo, contar que o colega dança talvez não seja relevante, mas contar que o colega saiu dançando quando tocou uma determinada música, como relatado por um dos meninos em uma das transcrições que compõem a pesquisa, poderá despertar uma reação nos ouvintes: nossa, que estranho, mas por que ele fez isso? Labov e Waletzky (1967) estruturam a narrativa a partir de elementos optativos e obrigatórios. Normalmente, mas nem sempre, a narrativa se inicia com um resumo, que tem sua importância no sentido de enfatizar a reportabilidade do acontecido, e preparar a audiência para ouvir a história. O resumo inicial (não obrigatório) é seguido pela orientação, que informa sobre tempo, lugar, pessoas envolvidas na história. Em geral, mas não necessariamente sempre na mesma ordem, segue-se o único elemento obrigatório da narrativa, a ação complicadora, que consiste de, no mínimo, duas orações narrativas com verbos de ação no passado, ou
3 55 narrativa mínima. As orações narrativas são séries ordenadas de enunciados no passado (Bastos, 2005, p.75) e a ordem dos eventos apresentados não pode ser alterada. Se isso acontece, muda-se a interpretação da história sendo contada. Ainda são elencados mais dois elementos optativos: a resolução, ou resultado da ação, ou a finalização da ação complicadora, e a coda, que retorna o falante à situação presente Por que esta história é digna de ser contada? Em minha análise de dados, utilizo a metodologia laboviana de forma flexível, com foco em outro elemento identificado pelo autor, a avaliação, a qual sinaliza o ponto da narrativa, o seu porquê, a razão pela qual a história é digna de ser contada. Veremos mais adiante, que as narrativas dos adolescentes em minha pesquisa são ricas em recursos avaliativos, os quais informam sobre a carga dramática e emocional que os narradores dão a suas histórias. Existem dois tipos básicos de mecanismos de avaliação: externos e internos (Labov, 1972, p.370). No primeiro tipo, o narrador interrompe a sua história para explicar diretamente a seus ouvintes o quão maravilhosa ou terrível, por exemplo, foi a sua experiência. A avaliação interna, ao contrário, permite que o narrador não interrompa a sua história, mas demonstre a sua emoção ou opinião através de recursos discursivos. A seguir, apresento, de forma resumida, esses mecanismos. Labov nos apresenta quatro tipos de mecanismos externos de avaliação (1972, p ; Oliveira & Bastos, 2011, p.124): avaliação externa, encaixe de avaliações, ação avaliativa e avaliação pela suspensão da ação. A avaliação externa acontece quando o narrador interrompe a sua história, vira-se para os ouvintes e diz qual é o seu ponto. Também existem formas intermediárias de prover uma avaliação externa sem quebrar, explicitamente, o fluxo da narrativa, a mais simples delas quando o narrador atribui a ele mesmo uma avaliação. As avaliações encaixadas podem ocorrer em três diferentes formas. Na primeira, o narrador refere-se a seus sentimentos como algo acontecendo com ele naquele momento, ao invés de interromper a narrativa. Podem ser introduzidas falas relatadas que funcionam como
4 56 avaliadoras das ações e posições do narrador. As outras duas formas de encaixe de avaliação consistem em o narrador citar-se como se dirigindo a outra pessoa e introduzir uma terceira pessoa que avalia as ações do antagonista para o narrador (Labov, 1972, p.372,373). As ações avaliativas, que também conferem carga dramática à avaliação, permitem que o narrador conte algo sobre o que alguém fez, não o que alguém disse. Por fim, a avaliação pela suspensão da ação. Quando emoções são expressas simultaneamente à ação narrada, mas em sentenças separadas, a ação é interrompida. Essa interrupção chama a atenção para aquela parte da narrativa e indica que essa parte tem a ver com o ponto avaliativo. Labov explica que as orações narrativas são de fundamental simplicidade sintática e descreve a sua possível estrutura gramatical como uma série de oito elementos: conjunções, sujeito, verbo auxiliar, verbo no passado simples, complementos de variada complexidade, advérbios de modo, advérbios de lugar, e advérbios de tempo (Oliveira & Bastos, 2011, p.125). Como a complexidade sintática é relativamente rara em narrativas, possíveis desvios da simplicidade sintática introduzem uma força avaliativa marcada, ou seja, mecanismos internos de avaliação. Esses desvios podem ocorrer com a utilização de elementos sintáticos secundários, tais como (Labov, 1972, p ): intensificadores (gestos, fonologia expressiva, quantificadores, repetições), comparadores (através de dispositivos de comparação negativas, modais, comparativos, superlativos o narrador compara eventos que ocorreram com eventos que não ocorreram), correlativos (progressivos, por exemplo, que trazem juntos dois eventos que ocorreram) e explicativos (agregam qualificações e causas). A ocorrência destes mecanismos avaliativos, sejam eles externos ou internos, contém informações importantes sobre a carga dramática e o clima emocional da narrativa, e contribuem para construir o seu ponto, sem o qual a narrativa não existiria. Veremos na seção de análise de dados como alguns desses elementos são identificados nas narrativas co-construídas nas interações entre os adolescentes participantes nesta pesquisa.
5 Narrativas como Estórias de Vida Além da metodologia estrutural proposta por Labov e da utilização de suas categorias de forma flexível, considero apropriada a perspectiva de Linde (1993), que fala de narrativas como estórias de vida ( life stories ). Para a autora, estórias de vida expressam o que somos e como nos transformamos no que somos ao negociarmos um sentido de self com os outros. Numa conversa, o narrador escolhe aqueles eventos que devem ser conhecidos para que se saiba algo sobre ele. Segundo Linde, família, amigos, colegas de trabalho, tem diferentes expectativas sobre que tipo de informação deve ser compartilhada, característica que define o grau de intimidade que as pessoas tem, por exemplo. Quanto mais conhecemos uma pessoa, provavelmente, mais sabemos sobre a sua estória de vida, e, consequentemente, quanto mais conhecemos a estória de vida de uma pessoa, mais intimidade temos com ela. A estória de vida é uma unidade descontínua temporalmente, que consiste das histórias contadas por uma pessoa no curso de sua vida, e tem por características principais: ter um ponto sobre o falante e ter reportabilidade. A avaliação da história é um ponto sobre o narrador (ilustra algo sobre a personalidade do falante) e tem a ver com a maneira como a história é construída. Histórias com um ponto avaliativo sobre o narrador informam, direta ou indiretamente, eu sou tal e tal tipo de pessoa, uma vez que agi de tal e tal maneira (Linde, 1993, p.21). Outro tipo de avaliação que uma história pode expressar diz respeito a um determinado evento, pessoa ou situação. O narrador pode contar uma história para mostrar como lida com uma situação difícil; por exemplo, quando um adolescente fala de um sentimento de exclusão e de isolamento, e da forma como lida com essa questão. Esse tipo de história poderia fazer parte do repertório da estória de vida de uma pessoa. O segundo critério a definir uma estória de vida, a reportabilidade, diz respeito a certos tipos de eventos que são contáveis no decorrer de um longo período de tempo, como por exemplo, casamento, nascimento, doença, entre outros. A maneira como a pessoa escolhe as histórias que vai contar tem a ver com a sua criatividade e reflete o seu entendimento sobre os eventos de sua vida.
6 58 Estórias de vida mudam com o tempo, e em relação à situação interacional, já que cada vez que uma história é contada, acrescenta-se um detalhe lembrado, retira-se algo esquecido ou que não interessa contar naquele momento, enfim, muda-se um pouco a história. Ainda segundo Linde (p.3), as estórias de vida podem ser usadas para expressar e negociar pertencimento a um grupo e ao mesmo tempo mostrar que merecemos estar naquele grupo, uma vez que compreendemos e seguimos seus princípios morais. Narrativas que cumprem esse papel envolvem as ações de uma pessoa como membro de um grupo e constituem uma forma importante de estabelecer relações com os outros. Parece-me possível observar algumas semelhanças entre os meus dados e as estórias de vida de Linde, as quais descrevo a seguir. As histórias de meus adolescentes são contadas de forma a expressar ou negociar pertencimento a um grupo e, ainda, são compartilhadas e co-construídas sobre questões tais como sexualidade, comportamento, exclusão, discriminação, amizade, questões essas importantes em suas vidas de adolescentes. Penso que estes dados são relevantes, uma vez que é na adolescência, como dito anteriormente, que começamos a desenvolver nossas estórias de vida. Linde (2001) sugere que em contextos institucionais contar histórias seria uma atividade de grupo, e conhecer as histórias da instituição e saber contá-las de forma coerente com as histórias do grupo seria uma maneira de tornar-se membro dela. Fabricio e Bastos (2009) corroboram essa ideia ao tratarem do papel desempenhado pelo exercício da memória na (re)criação e manutenção da identidade de grupo. Segundo as autoras, o engajamento dos membros do grupo em práticas sociais de memória (do que já foi, o não mais ) e de expectação (do que está por vir, o não ainda ) contribui para a construção de uma identidade do grupo e para o estabelecimento de fronteiras em relação ao diferente (p.60). Arrisco-me a fazer um paralelo entre o grupo adolescente e uma instituição, e ao fazê-lo, busco compreender a formação do grupo e sua manutenção como tal, a partir do que Linde propõe sobre conhecer as suas histórias, sobre que valores essas histórias ilustram e ainda, quando seria apropriado contá-las. Levando em consideração os pontos levantados até aqui, pretendo fazer uma reflexão sobre o que
7 59 nos mostram as narrativas dos adolescentes a respeito da dinâmica da formação de grupos na escola. Por exemplo, como se manifesta um sentido de pertencimento ou de exclusão nas histórias co-construídas pelos adolescentes, como se constrói discursivamente uma identidade de grupo jovem em suas narrativas, e, finalmente, se existem realmente grupos nítidos e definidos como a mídia normalmente nos leva a acreditar Pequenas histórias O modelo laboviano para estudo de narrativas em entrevistas, baseado em experiências pessoais, eventos passados e em perguntas propostas pelo entrevistador, embora amplamente utilizado e extraordinariamente influente em pesquisas nas ciências sociais, tem também sido alvo de críticas de estudiosos da narrativa. Herman (2007, p.12) aponta para o fato de que esse modelo se aplica satisfatoriamente a histórias elicitadas em entrevistas; entretanto, não atende tão bem a outras situações nas quais histórias também são contadas, tais como conversas informais entre colegas, fofocas, ou conversas entre familiares à mesa de jantar. O próprio Labov (1972), na versão revisada de seu modelo analítico, admite uma possível necessidade de uma abordagem um pouco diferente da sua (Georgakopoulou, 2006, p.238, 239). Ele entende que o foco de seu trabalho tenha sido em narrativas em entrevistas sociolinguísticas, as quais tem uma plateia sempre atenta e são, essencialmente, monólogos, diferentemente de narrativas em conversas, onde existe uma competitividade natural na interação: essas narrativas são altamente fragmentadas e podem requerer uma abordagem diferente (Labov, 1997, p.397, apud Georgakopoulou, 2006, p.239). Histórias que fogem ao cânone narrativo tem sido enfocadas por diversos autores (Georgakopoulou, 2006; Bamberg & Georgakopoulou, 2008; Bastos, 2008). Georgakopoulou sugere que essas histórias, que estão à margem da pesquisa narrativa, merecem ser postas no mapa (2006, p.239). Para a autora, é importante que se legitimem essas histórias, até recentemente rejeitadas e chamadas de outras,
8 60 dando-lhes nome, e sugere o termo narrativas-em-interação, que, segundo ela, descreve o contexto onde ocorrem as histórias e enfatiza não somente o seu caráter dialógico, mas também o fato de ocorrerem em interações sociais. Além de nomeá-las é preciso documentar as formas e os contextos dessas outras histórias (Bamberg & Georgakopoulou, 2008, p.378), assim como buscar ferramentas analíticas adequadas para o estudo de histórias atípicas ou não-canônicas, uma vez que vem sendo reconhecida a sua relevância para a pesquisa sobre identidade. Ressalto aqui a perspectiva funcional das narrativas, ou melhor, as funções ou ações sociais que elas desempenham nas vidas das pessoas: como as pessoas realmente usam histórias em situações do seu dia-a-dia de modo a criar (e perpetuar) um sentido de quem são (Bamberg & Georgakopoulou, 2008, p. 379). Bamberg lhes deu o nome de small stories (Georgakopoulou, 2007, p.xii) por razões literais: são verdadeiramente curtas, e metafóricas: tendem a focar em aspectos momentâneos da experiência vivida. São pequenos relatos, se comparados às longas transcrições de entrevistas narrativas, e são um termo guarda-chuva que inclui uma série de atividades narrativas, a saber: relatos de eventos que estão em progresso ou são muito recentes, eventos futuros ou hipotéticos, eventos compartilhados, alusões a relatos anteriores, adiamentos de relatos, e até recusas a contar uma história. Georgakopoulou (ibid.) enumera três tipos de histórias pequenas: histórias a serem contadas ( stories to be told ), notícias recentes ( breaking news ), e projeções ( projections ). Enquanto a pesquisa baseada em narrativas grandes ou canônicas analisa as histórias como representações de mundo e de identidades, a pesquisa narrativa mais focada em histórias pequenas se interessa em como elas são usadas nas interações para que as pessoas construam um sentido de quem elas são. O enfoque em pequenas narrativas nos permite analisar histórias que estão de alguma forma ligadas ao cânone narrativo, pois tem uma orientação narrativa, mas por outro lado não seguem necessariamente o modelo laboviano de eventos no passado, articulados sintaticamente em orações independentes, com verbos de ação no passado. Georgakopoulou (2007) sugere a necessidade de um equilíbrio entre a análise
9 61 estrutural laboviana com categorias pré-estabelecidas e uma análise mais afinada com os estudos de narrativas como práticas sociais ao propor que O otimismo estruturalista em análise de narrativas é, sem duvida, coisa do passado. (...) A posição adotada aqui é a de que a estrutura pode ser reconceitualizada para abraçar as propriedades dinâmicas dos eventos narrativos. (p.86) A autora critica três áreas, em especial, do legado laboviano (idem, p.86) e, ao mesmo tempo, oferece uma reconceitualização da estrutura analítica. A primeira área a ser criticada diz respeito ao tratamento dado aos papeis (roles) dos participantes ao contar uma história, o que leva a assumir-se um esquema diádico que restringe os participantes a um falante apenas e a um ouvinte atento. Ao pensar no caráter dinâmico de uma interação, é preciso lembrar que nem sempre a sequência se apresenta dessa forma, ao contrário, as participações variam em extensão, variedade e sutileza (Ochs & Capps, 2001, cap.1, apud Georgakopoulou, 2007, p.67). Também é preciso considerar o caráter emergente da estrutura das narrativas, negociada e construída turno a turno, momento a momento na interação. Uma segunda área que merece atenção é a que se refere a um modelo no qual o narrador é o dono, tem o direito de posse da história, e que acaba por priorizar a experiência pessoal e eventos no passado como protótipos para a análise narrativa. Em relação a essa área, sugerese uma visão temporalizada ( temporalized ) da estrutura que percebe a narrativa como dialógica, intertextual e recontextualizável. Para entender o caráter relacional das histórias, é preciso que se reconheça que as mesmas podem ser parte de uma trajetória interacional. Por exemplo, um narrador pode abrir uma história e pedir para que outra pessoa continue, ou pode começar uma história e contar o resto depois, ou ainda histórias podem ser retiradas de um contexto original e transpostas para outros contextos. A terceira e última crítica está vinculada à visão laboviana da narrativa como uma unidade isolada que tem início, meio e fim. Georgakopoulou ensina, primeiramente, que essa estrutura não é representativa do que é possível observar em conversas. Além disso, não existe apenas um tipo de história, mas vários, que se distanciam do protótipo laboviano de história de experiências pessoais no passado. A autora ainda propõe dois componentes básicos para essas histórias: o enredo ( plotline ), que pode evoluir a partir de um incidente, de uma série de episódios
10 62 relacionados, ou de uma série de eventos que pode ou não levar a um climax, e a avaliação, que consiste principalmente de referências a outras histórias, a recursos compartilhados, e a avaliações dos personagens. Além desses componentes básicos, um novo modelo de análise de narrativas poderia permitir elementos livres, como sumário, resolução, coda, cuja presença varia de acordo com o diferente tipo de história. Como veremos mais adiante, buscarei valorizar trechos da interação que tenham apenas uma orientação narrativa. Tomada por inspiração na proposta laboviana, analisarei, sempre que possível, trechos narrativos onde identificaremos uma narrativa mínima e elementos (todos ou apenas alguns) da estrutura analítica proposta por Labov (1972). Algumas narrativas breves (algumas muito curtas) se aproximarão mais, outras nem tanto, do modelo canônico, mas sua análise nos permitirá observar que a situação e o propósito narrativos, as participações dos falantes, o caráter emergente da estrutura das narrativas, as avaliações dos personagens, são tão importantes, ou mais, do que a organização textual e temporal proposta pelo cânone laboviano Narrativas e posicionamentos A metodologia oferecida por Labov se concentra na forma da narrativa mais do que na sua função (Bamberg, 1997), uma vez que é preciso começar por identificar as orações narrativas, ou seja, a sequência verbal de ações que corresponde à sequência de eventos que, infere-se, ocorreram de fato. A metodologia laboviana possibilita uma análise estrutural da narrativa bastante útil, mas utilizada de forma flexível e dosada, na análise de meus dados. Entretanto, um relato inclui muito mais do que uma sequência de orações ordenadas temporalmente. Faz-se necessário considerar que funções poderiam ter outras partes do relato sem forma de narrativa canônica, ou como os grupos ou indivíduos se diferenciam nas maneiras como constroem as suas narrativas. Essa questão é abordada por Georgakopoulou (2006, p.235), ao sugerir que existem trechos das interações que tem orientação narrativa, mas que não se
11 63 enquadram na forma de uma narrativa canônica, a qual na verdade os ignora e suprime de sua análise por não seguirem uma estrutura tradicional. Para Bamberg e Georgakopoulou (2008, p.378), o estudo das narrativas abrange muito mais do que apenas uma preocupação com a forma, e apontam para a situação e o propósito discursivos como sendo elementos tão centrais quanto a organização semântica e temporal. Bamberg (1997) faz uma tentativa de unir a análise linguística estrutural de Labov e Waletzky, que, segundo ele, não deve ser descartada, à pragmática do narrar. O autor se alinha com Labov sobre a análise da narrativa ser também lingüística, e considera em sua abordagem, não só recursos lingüísticos, mas elementos extralinguísticos, que ele chama de recursos performáticos ( performance features ), como pistas de contextualização (Gumperz, 2002), por exemplo, que indicam como o narrador quer ser entendido. Para Gumperz, as pistas carregam significados que são construídos no processo interativo e apenas validados e reconhecidos em conjunto pelos participantes. As pistas de Gumperz podem ser linguísticas (e.g. uso de expressões formulaicas e escolhas lexicais), paralinguísticas (e.g. ritmo, pausa, hesitações), prosódicas (e.g. entonação, acento, tom de voz), e não-vocais (e.g. gestos, movimentos do corpo, do olhar). Em consonância com Gumperz, Tannen (1989, p.11) sugere estilos conversacionais, que se referem à escolha de aspectos da linguagem não só para construir o que se quer dizer, mas como se quer dizer. De acordo com a autora, as maneiras de contar histórias e reagir a elas também são parte integral do estilo conversacional dos participantes na interação. Alguns exemplos dos aspectos que utilizamos para construir significados são o tom da voz, as pausas, o ritmo (falar mais rápido ou mais devagar), a altura (falar mais alto ou mais baixo), o uso de repetição, o uso de perguntas, de risadas, de discurso reportado, entre outros (ibid, 1989, p.144,145). Essas são algumas das escolhas que ocasionam o efeito de um enunciado em uma determinada interação e influenciam avaliações não somente sobre o que foi dito, mas também sobre o falante. A abordagem proposta por Bamberg (1997), desenvolvida por ele mesmo (2002), e utilizada por Bamberg e Georgakopoulou (2008) de análise de posicionamentos na narrativa, se aproxima de Labov, pois tem em comum o elemento
12 64 avaliativo, uma maneira do falante mostrar a sua atitude sobre o que está sendo dito. A avaliação objetiva informar sobre o clima emocional da situação ou dos protagonistas, a razão de ser da narrativa, o porquê da história ser digna de ser contada, o ponto de vista do narrador em relação à história. Entretanto, a análise de posicionamento dá uma importância maior ao engajamento ativo dos falantes no processo de construção da narrativa. É uma maneira de abordar a avaliação que utiliza as sugestões de Labov e Waletzky, mas que considera a temporalidade como um entre outros aspectos da performance narrativa, e tem uma orientação mais funcionalista. Deve ser destacada, nesta abordagem, a multiplicidade de funções que uma narrativa pode ter, ou seja, uma história pode servir mais de um propósito: entreter, informar, aconselhar, vingar, por exemplo (Bamberg, 1997, p ), um de cada vez, ou todos ao mesmo tempo. É importante observar como os participantes na interação usam as suas histórias, como eles se colocam e se orientam ao contá-las, e como, ao fazê-lo, constroem um sentido de quem são. Assim, a análise de posicionamentos deve possivelmente ser melhor compreendida como aquela que garante maior centralidade ao engajamento ativo do falante no processo de construção da narrativa. (p.341) Na proposta de Davies e Harré (1990), o posicionamento na narrativa se apresenta como uma prática discursiva pela qual os selves são situados na conversa como participantes coerentes em histórias produzidas conjuntamente. Sua proposta se norteia por uma visão imanentista da linguagem, na qual a mesma só existe como exemplos concretos de linguagem em uso (p.43). Os autores apresentam a noção de posicionamento em contraste com papel, e citam essa mudança como necessária para o estudo dos indivíduos no mundo contemporâneo. Para eles, papel está ligado a aspectos estáveis, formais e ritualísticos, à visão transcendentalista da linguagem, enquanto posicionamento, um fenômeno conversacional, está mais ligado a aspectos dinâmicos da interação (p.43). Posicionamento é definido por eles como uma prática discursiva na qual os selves são alocados em conversas como participantes coerentes em histórias produzidas conjuntamente, de forma observável e intersubjetiva (p.48). Essa abordagem permite por o foco na forma como falantes e ouvintes se constituem no discurso e funciona como recurso para os mesmos
13 65 negociarem novos posicionamentos, os quais, reverberando a ideia de que não somos seres unitários, podem ser múltiplos e, algumas vezes, contraditórios. Tal forma de pensar e de analisar como as pessoas se posicionam no discurso explica, não somente as descontinuidades na produção do self nas práticas discursivas, mas também como essas práticas são interpretadas pelos participantes na interação (Davies & Harré, 1990, p.62). Moita Lopes (2009) alia posicionamentos à noção de performance. Para ele, as narrativas orais podem ser abordadas como performances no sentido de que ao narrar as suas histórias, além de relatar os eventos de uma narrativa, narradores se envolvem em uma performance de quem são e de como querem ser vistos. Na experiência de narrar, os participantes tomam decisões a respeito de que aspectos focalizar, de que posicionamentos ocupar, de como se relacionar com seus interlocutores na sua performance. Narrativas são, assim, performances de identidade (Mishler, 1999; Langellier, 2001; Bastos, 2005), pois ao criarmos cenários, personagens, sequências de ações para nossas histórias, e nos posicionarmos diante deles, sinalizamos quem somos. Além disso, ao contarmos uma narrativa pessoal, realçamos a experiência e criamos um contrato entre narrador e plateia, o qual dá lugar a uma performance (Maclean, 1988, apud Langellier, 2001, p.150). Outra contribuição valiosa para o estudo de narrativas como performances vem de Goffman (1974, p.506, apud Bastos, 2008), para quem a narrativa não é apenas o relatório de um evento, mas mais do que isso, é um show do falante, que envolve e emociona o ouvinte. O aspecto dramático da performance narrativa se caracteriza pela maneira como o narrador apresenta a sua experiência e a organiza temporalmente. Retomando ainda Moita Lopes (2009), o autor ressalta o valor icônico que performances culturais podem ter para os membros de uma comunidade, já que põem em evidência e ajudam a cristalizar valores e ideias preferidos pela comunidade com base no que os protagonistas ou narradores fazem e como são avaliados no narrar performativo (p.135). O modo como os participantes legitimam ou reagem a essas narrativas dependerá de como elas correspondem às normas e regras da comunidade. Assim, considerando que posicionamentos são cambiantes, dinâmicos e múltiplos e que as
14 66 performances são construídas no aqui e agora em tais posicionamentos, não só o indivíduo, mas a própria comunidade se constrói, se questiona, se modifica no discurso. Em comum nas vozes desses autores, a ideia de que ao se posicionarem, as pessoas produzem-se a si mesmas e às outras como seres sociais. Para os dados desta pesquisa, lanço mão da metodologia desenvolvida por Bamberg (1997, 2002, 2008), que propõe três níveis de análise de posicionamento. Para melhor compreender os três níveis são propostas algumas perguntas sobre cada um deles, que objetivam facilitar o trabalho do analista: Nível 1 Quem são os personagens e como são posicionados em relação uns aos outros nos eventos reportados? Neste nível é analisada a construção dos personagens como, por exemplo, protagonistas e antagonistas, e os recursos linguísticos que os marcam como agentes, em controle da ação, ou como personagens que estão à mercê de forças externas (Bamberg, 1997, p.337). Nível 2 Como o falante se posiciona (e é posicionado) frente a seus interlocutores? A fim de elaborar posições frente a plateias diversas são feitas diferentes escolhas linguísticas e de características de desempenho. Os participantes se envolvem na narrativa de forma a criar expectativas sobre a história relatada, fazem avaliações que podem fazer valer mais ou menos a pena contá-la ( tellability ), negociam a sequência do relato, mostrando que a relevância da história é alcançada na interação. Outra característica do segundo nível de análise diz respeito a como a história se encaixa em um contexto maior, o da entrevista de pesquisa. O narrador se posiciona para compartilhar aquilo que sabe, se envolvendo ou resistindo a fornecer uma resposta à pergunta do moderador, o que pode servir como índice de aceitação ou rejeição, por exemplo (Bamberg & Georgakopoulou, 2008, p ). Nível 3 Como o narrador se posiciona em relação a si mesmo? Que posições são tomadas diante de Discursos com D maiúsculo² (fora da situação)? Como a ² Segundo Gee (2011), discursos ligados a uma visão particular de mundo. Discursos com D maiúsculo são formas socialmente reconhecidas de interagir, pensar, falar, se comportar, crer, que identificam indivíduos de uma determinada comunidade.
15 67 linguagem é usada para defender os pontos de vista do narrador, suas crenças, que vão além daquela conversa? Quem sou eu nisso tudo? Os recursos linguísticos usados apontam não somente para o conteúdo da história e para os interlocutores. Segundo Bamberg (1997, p.337), na construção da narrativa e ao se posicionar frente a seus interlocutores, o narrador vai além de Como quero ser entendido por minha plateia? e busca construir uma resposta para a pergunta Quem sou eu? Em alguns dos estudos fundamentados pela abordagem aqui apresentada (Bamberg, 2002; Bamberg & Georgakopoulou, 2008), os fragmentos são analisados de forma segmentada, por níveis (1, 2, 3), um de cada vez. No meu entendimento, é importante que se observe que nem sempre os três níveis de posicionamento encontram-se presentes num trecho de narrativa, ou são relevantes para análise, e quando os três estão presentes, um deles pode se apresentar como preponderante sobre os outros, como veremos na seção de análise de dados. Procuro então utilizar esta abordagem para analisar meus dados de forma não segmentada, ou seja, não me proponho a fazer uma análise de cada um dos níveis em seções separadamente, mas busco enfocar os níveis de posicionamento que me parecerem mais relevantes em determinada sequência para uma análise mais detalhada. Com esta metodologia aliada ao uso flexível das categorias de Labov, espero poder discutir questões relativas às culturas jovens levantadas nas narrativas dos adolescentes, e caminhar na direção de um melhor entendimento de questões referentes à dinâmica de aproximação e afastamento, em especial, àquelas que dizem respeito aos processos de inclusão e exclusão co-construídas ao longo deste trabalho de pesquisa. Passo agora ao próximo capítulo, no qual serão apresentados o contexto e a metodologia de pesquisa.
1.1 Os temas e as questões de pesquisa. Introdução
 1 Introdução Um estudo de doutorado é, a meu ver, um caso de amor, e em minha vida sempre houve duas grandes paixões imagens e palavras. Escolhi iniciar minha tese com o poema apresentado na epígrafe porque
1 Introdução Um estudo de doutorado é, a meu ver, um caso de amor, e em minha vida sempre houve duas grandes paixões imagens e palavras. Escolhi iniciar minha tese com o poema apresentado na epígrafe porque
H003 Compreender a importância de se sentir inserido na cultura escrita, possibilitando usufruir de seus benefícios.
 2ª Língua Portuguesa 5º Ano E.F. Objeto de Estudo Usos e funções: código oral e código escrito Usos e funções: código oral e código escrito Usos e funções: norma-padrão e variedades linguísticas. Usos
2ª Língua Portuguesa 5º Ano E.F. Objeto de Estudo Usos e funções: código oral e código escrito Usos e funções: código oral e código escrito Usos e funções: norma-padrão e variedades linguísticas. Usos
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
 Competências de Interpretação CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 3.º Ciclo do Ensino Básico 7º Ano Departamento de Línguas Disciplina: Inglês Domínios Objeto de avaliação Domínios/ Metas de aprendizagem Instrumentos
Competências de Interpretação CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 3.º Ciclo do Ensino Básico 7º Ano Departamento de Línguas Disciplina: Inglês Domínios Objeto de avaliação Domínios/ Metas de aprendizagem Instrumentos
Aulas 21 à 24 TEXTO NARRATIVO
 Aulas 21 à 24 Prof. Sabrina Moraes TEXTO NARRATIVO Maioritariamente escrito em prosa, o texto narrativo é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de
Aulas 21 à 24 Prof. Sabrina Moraes TEXTO NARRATIVO Maioritariamente escrito em prosa, o texto narrativo é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de
AULA: MARCADORES CONVERSACIONAIS INTERACIONAIS
 AULA: MARCADORES CONVERSACIONAIS INTERACIONAIS 1. Preliminares Alguns desses marcadores podem ter a função concomitante de sequenciadores tópicos Grupos de marcadores interacionais aqui abordados o ah,
AULA: MARCADORES CONVERSACIONAIS INTERACIONAIS 1. Preliminares Alguns desses marcadores podem ter a função concomitante de sequenciadores tópicos Grupos de marcadores interacionais aqui abordados o ah,
META Apresentar rotinas de trabalho que promovam a familiaridade dos alunos com os diversos comportamentos leitores.
 ATIVIDADES PERMANENTES COM GÊNEROS TEXTUAIS Aula 8 META Apresentar rotinas de trabalho que promovam a familiaridade dos alunos com os diversos comportamentos leitores. OBJETIVOS Ao fi nal desta aula, o
ATIVIDADES PERMANENTES COM GÊNEROS TEXTUAIS Aula 8 META Apresentar rotinas de trabalho que promovam a familiaridade dos alunos com os diversos comportamentos leitores. OBJETIVOS Ao fi nal desta aula, o
2 O Discurso e a Fabricação do eu no ato de contar Estórias
 2 O Discurso e a Fabricação do eu no ato de contar Estórias 2.1 Introdução "enxugando os dedos na meada do discurso" (Roland Barthes) Neste capítulo, apresentarei a perspectiva teórica que orienta o presente
2 O Discurso e a Fabricação do eu no ato de contar Estórias 2.1 Introdução "enxugando os dedos na meada do discurso" (Roland Barthes) Neste capítulo, apresentarei a perspectiva teórica que orienta o presente
Descrição da Escala Língua Portuguesa - 7 o ano EF
 Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 150 identificam a finalidade de produção do texto, com auxílio de elementos não verbais e das informações explícitas presentes em seu título, em cartaz de propaganda
Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 150 identificam a finalidade de produção do texto, com auxílio de elementos não verbais e das informações explícitas presentes em seu título, em cartaz de propaganda
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IBN MUCANA
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IBN MUCANA INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA Inglês - Prova Escrita e Prova Oral 2016 11º Ano de Escolaridade (Decreto-lei nº 139/2012 de 5 de Julho) O presente documento
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IBN MUCANA INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA Inglês - Prova Escrita e Prova Oral 2016 11º Ano de Escolaridade (Decreto-lei nº 139/2012 de 5 de Julho) O presente documento
O Tom na fala: estratégias prosódicas
 O Tom na fala: estratégias prosódicas Marígia Ana de Moura Aguiar marigia.aguiar@gmail.com Agradeço a contribuição de meus alunos e companheiros do Grupo de Prosódia da UNICAP na construção desta apresentação.
O Tom na fala: estratégias prosódicas Marígia Ana de Moura Aguiar marigia.aguiar@gmail.com Agradeço a contribuição de meus alunos e companheiros do Grupo de Prosódia da UNICAP na construção desta apresentação.
4 O aprendizado de leitura no 2º ano e no 3º ano do ensino fundamental
 4 O aprendizado de leitura no 2º ano e no 3º ano do ensino fundamental O objetivo deste capítulo é esclarecer, detalhadamente, o leitor, sobre as habilidades desenvolvidas pelos alunos do 2º e do 3º anos
4 O aprendizado de leitura no 2º ano e no 3º ano do ensino fundamental O objetivo deste capítulo é esclarecer, detalhadamente, o leitor, sobre as habilidades desenvolvidas pelos alunos do 2º e do 3º anos
ELEMENTOS DE TEXTUALIDADE
 ELEMENTOS DE TEXTUALIDADE NOÇÃO DE TEXTO Texto ou discurso é uma ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão. Para ser considerada um texto, uma ocorrência linguística precisa ser percebida
ELEMENTOS DE TEXTUALIDADE NOÇÃO DE TEXTO Texto ou discurso é uma ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão. Para ser considerada um texto, uma ocorrência linguística precisa ser percebida
Perspectivas da Abordagem Sistêmico-Funcional
 Perspectivas da Abordagem Sistêmico-Funcional Ariel Novodvorski UFU Mestre em Estudos Linguísticos, Linguística Aplicada UFMG Fone: (34)3087-6776 E-mail: ariel_novodvorski@yahoo.com.br Data de recepção:
Perspectivas da Abordagem Sistêmico-Funcional Ariel Novodvorski UFU Mestre em Estudos Linguísticos, Linguística Aplicada UFMG Fone: (34)3087-6776 E-mail: ariel_novodvorski@yahoo.com.br Data de recepção:
Agrupamento de Escolas Nº 1 de Abrantes DISCIPLINA: PORTUGUÊS ANO: 8º ANO LETIVO 2013/2014
 ENSINO BÁSICO Agrupamento de Escolas Nº 1 de Abrantes Agrupamento de Escolas Nº 1 de Abrantes DISCIPLINA: PORTUGUÊS ANO: 8º ANO LETIVO 2013/2014 Oralidade Interpretar discursos orais com diferentes graus
ENSINO BÁSICO Agrupamento de Escolas Nº 1 de Abrantes Agrupamento de Escolas Nº 1 de Abrantes DISCIPLINA: PORTUGUÊS ANO: 8º ANO LETIVO 2013/2014 Oralidade Interpretar discursos orais com diferentes graus
A ORGANIZAÇÃO DOS DESCRITORES NA PROVINHA BRASIL
 00604 Resumo A ORGANIZAÇÃO DOS DESCRITORES NA PROVINHA BRASIL Célia Aparecida Bettiol Arliete Socorro Da Silva Neves O presente texto faz parte de um trabalho em andamento e se constitui em pesquisa documental,
00604 Resumo A ORGANIZAÇÃO DOS DESCRITORES NA PROVINHA BRASIL Célia Aparecida Bettiol Arliete Socorro Da Silva Neves O presente texto faz parte de um trabalho em andamento e se constitui em pesquisa documental,
Descrição da Escala Língua Portuguesa - 5 o ano EF
 Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental < 125 identificam o sentido de expressão típica da fala coloquial utilizada em segmento de história em quadrinhos; e o local em que se desenrola o enredo, em anedota.
Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental < 125 identificam o sentido de expressão típica da fala coloquial utilizada em segmento de história em quadrinhos; e o local em que se desenrola o enredo, em anedota.
Linguagem como Interlocução em Portos de Passagem
 Linguagem como Interlocução em Portos de Passagem (Anotações de leitura por Eliana Gagliardi) Geraldi, em seu livro Portos de Passagem, São Paulo, Martins Fontes, 1991, coloca-nos que o ensino de Português
Linguagem como Interlocução em Portos de Passagem (Anotações de leitura por Eliana Gagliardi) Geraldi, em seu livro Portos de Passagem, São Paulo, Martins Fontes, 1991, coloca-nos que o ensino de Português
Jornal América em Ação- Um projeto para um saber interdisciplinar
 Jornal América em Ação- Um projeto para um saber interdisciplinar O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência que está sendo desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental América:
Jornal América em Ação- Um projeto para um saber interdisciplinar O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência que está sendo desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental América:
LÍNGUA PORTUGUESA 1º ANO
 Escutar para aprender e construir conhecimentos LÍNGUA PORTUGUESA 1º ANO COMPREENSÂO DO ORAL Prestar atenção ao que ouve de modo a tornar possível: -apropriar-se de padrões de entoação e ritmo; - memorizar
Escutar para aprender e construir conhecimentos LÍNGUA PORTUGUESA 1º ANO COMPREENSÂO DO ORAL Prestar atenção ao que ouve de modo a tornar possível: -apropriar-se de padrões de entoação e ritmo; - memorizar
Informação Prova de Equivalência à Frequência Espanhol
 Informação Prova de Equivalência à Frequência Espanhol Prova 368 2016 10.º e 11.º Anos de Escolaridade (Continuação) O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de Equivalência à Frequência,
Informação Prova de Equivalência à Frequência Espanhol Prova 368 2016 10.º e 11.º Anos de Escolaridade (Continuação) O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de Equivalência à Frequência,
Ano Letivo: 2014 / 2015 Ano de Escolaridade: 1º
 1.º CEB Agrupamento de Escolas Ano Letivo: 2014 / 2015 Ano de Escolaridade: 1º Saber escutar para reproduzir pequenas mensagens e Compreensão do oral Leitura Escrita para cumprir ordens e pedidos Prestar
1.º CEB Agrupamento de Escolas Ano Letivo: 2014 / 2015 Ano de Escolaridade: 1º Saber escutar para reproduzir pequenas mensagens e Compreensão do oral Leitura Escrita para cumprir ordens e pedidos Prestar
PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) ENSINO SECUNDÁRIO 2016/2017
 Critérios Específicos de Avaliação PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) ENSINO SECUNDÁRIO 2016/2017 Domínio de Avaliação Saber e Saber Fazer Instrumentos de Avaliação Domínios a desenvolver Descritores
Critérios Específicos de Avaliação PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) ENSINO SECUNDÁRIO 2016/2017 Domínio de Avaliação Saber e Saber Fazer Instrumentos de Avaliação Domínios a desenvolver Descritores
FORMAÇÃO DO TRABALHADOR E O DESENVOLVIMENTO DO SEU CONHECIMENTO. Resumo
 FORMAÇÃO DO TRABALHADOR E O DESENVOLVIMENTO DO SEU CONHECIMENTO Carolina Vivian da Cunha-UNISC GE: Memórias, Trajetórias e Experiência na Educação. Resumo A formação dos trabalhadores é um assunto a ser
FORMAÇÃO DO TRABALHADOR E O DESENVOLVIMENTO DO SEU CONHECIMENTO Carolina Vivian da Cunha-UNISC GE: Memórias, Trajetórias e Experiência na Educação. Resumo A formação dos trabalhadores é um assunto a ser
Dança em cadeira de rodas e inclusão. Prof. Dr. Maria Beatriz Rocha Ferreira
 Dança em cadeira de rodas e inclusão Prof. Dr. Maria Beatriz Rocha Ferreira No último século ocorreram mudanças sociais importantes no mundo. Podemos observar mudanças de comportamentos, de organização
Dança em cadeira de rodas e inclusão Prof. Dr. Maria Beatriz Rocha Ferreira No último século ocorreram mudanças sociais importantes no mundo. Podemos observar mudanças de comportamentos, de organização
MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA AVALIA BH 1º, 2º E 3º CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
 MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA AVALIA BH 1º, 2º E 3º CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Na realização de uma avaliação educacional em larga escala, é necessário que os objetivos da
MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA AVALIA BH 1º, 2º E 3º CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Na realização de uma avaliação educacional em larga escala, é necessário que os objetivos da
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO EVANGE GUALBERTO
 Plano de Aula INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO EVANGE GUALBERTO PLANO DE AULA: ALFABETIZANDO E LETRANDO ATRAVÉS DE CONTOS
Plano de Aula INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO EVANGE GUALBERTO PLANO DE AULA: ALFABETIZANDO E LETRANDO ATRAVÉS DE CONTOS
LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA
 AULA 1 PG 1 Este material é parte integrante da disciplina Linguagem e Argumentação Jurídica oferecido pela UNINOVE. O acesso às atividades, as leituras interativas, os exercícios, chats, fóruns de discussão
AULA 1 PG 1 Este material é parte integrante da disciplina Linguagem e Argumentação Jurídica oferecido pela UNINOVE. O acesso às atividades, as leituras interativas, os exercícios, chats, fóruns de discussão
Do lugar de cada um, o saber de todos nós 5 a - edição COMISSÃO JULGADORA orientações para o participante
 Do lugar de cada um, o saber de todos nós 5 a - edição - 2016 COMISSÃO JULGADORA orientações para o participante Caro(a) participante da Comissão Julgadora da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo
Do lugar de cada um, o saber de todos nós 5 a - edição - 2016 COMISSÃO JULGADORA orientações para o participante Caro(a) participante da Comissão Julgadora da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO Disciplina: Inglês
 Produção CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO Disciplina: Inglês Ensino Básico Ano letivo: 2017/2018 7º ANO Perfil de Aprendizagens Específicas O aluno é capaz: Compreender textos orais e audiovisuais
Produção CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO Disciplina: Inglês Ensino Básico Ano letivo: 2017/2018 7º ANO Perfil de Aprendizagens Específicas O aluno é capaz: Compreender textos orais e audiovisuais
Da teoria da ação mediada ao modelo topológico de ensino.
 Da teoria da ação mediada ao modelo topológico de ensino. A idéia de ação mediada que trazemos para compreender a sala de aula inspira-se nos estudos de James Wertsch, discutidas em seu livro Mind as Action
Da teoria da ação mediada ao modelo topológico de ensino. A idéia de ação mediada que trazemos para compreender a sala de aula inspira-se nos estudos de James Wertsch, discutidas em seu livro Mind as Action
TEXTO E ELEMENTOS DE TEXTUALIZAÇÃO. PROF. Nathan Bastos de Souza UNIPAMPA 2017/1
 TEXTO E ELEMENTOS DE TEXTUALIZAÇÃO PROF. Nathan Bastos de Souza UNIPAMPA 2017/1 O QUE É UM TEXTO? Texto é o produto de uma atividade discursiva em que alguém diz algo a alguém (GERALDI,1997,p.98). Um texto
TEXTO E ELEMENTOS DE TEXTUALIZAÇÃO PROF. Nathan Bastos de Souza UNIPAMPA 2017/1 O QUE É UM TEXTO? Texto é o produto de uma atividade discursiva em que alguém diz algo a alguém (GERALDI,1997,p.98). Um texto
Quanto aos textos de estrutura narrativa, identificam personagem, cenário e tempo.
 Língua Portuguesa - Ensino Médio SISPAE 2013 01 Abaixo do Básico 1º e 2º ano até 200 pontos Neste Padrão de Desempenho, os estudantes se limitam a realizar operações básicas de leitura, interagindo apenas
Língua Portuguesa - Ensino Médio SISPAE 2013 01 Abaixo do Básico 1º e 2º ano até 200 pontos Neste Padrão de Desempenho, os estudantes se limitam a realizar operações básicas de leitura, interagindo apenas
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TURMA º PERÍODO - 7º MÓDULO AVALIAÇÃO A1 DATA 10/09/2009 ENGENHARIA DE USABILIDADE
 ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TURMA 2008 4º PERÍODO - 7º MÓDULO AVALIAÇÃO A1 DATA 10/09/2009 ENGENHARIA DE USABILIDADE 2009/2 GABARITO COMENTADO QUESTÃO 1: 1. Considere as afirmações a seguir:
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TURMA 2008 4º PERÍODO - 7º MÓDULO AVALIAÇÃO A1 DATA 10/09/2009 ENGENHARIA DE USABILIDADE 2009/2 GABARITO COMENTADO QUESTÃO 1: 1. Considere as afirmações a seguir:
TEXTOS SAGRADOS. Noções introdutórias
 TEXTOS SAGRADOS Noções introdutórias A ORIGEM Os Textos Sagrados, via de regra, tiveram uma origem comum: Experiência do sagrado. Oralidade. Pequenos textos. Primeiras redações. Redação definitiva. Organização
TEXTOS SAGRADOS Noções introdutórias A ORIGEM Os Textos Sagrados, via de regra, tiveram uma origem comum: Experiência do sagrado. Oralidade. Pequenos textos. Primeiras redações. Redação definitiva. Organização
AS FORMAS BÁSICAS DE COMPOSIÇÃO DO TEXTO
 AS FORMAS BÁSICAS DE COMPOSIÇÃO DO TEXTO O texto pode ser: Argumentativo Dissertativo Descritivo narrativo Argumentativo Tipo de texto em que se sobressai a preocupação do autor em persuadir e convencer
AS FORMAS BÁSICAS DE COMPOSIÇÃO DO TEXTO O texto pode ser: Argumentativo Dissertativo Descritivo narrativo Argumentativo Tipo de texto em que se sobressai a preocupação do autor em persuadir e convencer
COMO ESCREVER UM ARTIGO CIENTÍFICO?
 COMO ESCREVER UM ARTIGO CIENTÍFICO? Objetivos Apresentar algumas idéias que podem facilitar a elaboração de artigos com qualidade Elaborar artigos com qualidade requer esforço, determinação e aprendizado
COMO ESCREVER UM ARTIGO CIENTÍFICO? Objetivos Apresentar algumas idéias que podem facilitar a elaboração de artigos com qualidade Elaborar artigos com qualidade requer esforço, determinação e aprendizado
Método de Pesquisa: Estudo de Caso. Baseado no livro do YIN. Elaborado por Prof. Liliana
 Método de Pesquisa: Baseado no livro do YIN Elaborado por Prof. Liliana - 2012 Estudo de Caso O estudo de caso como estratégia de pesquisa Os estudos de caso são especialmente indicados como estratégia
Método de Pesquisa: Baseado no livro do YIN Elaborado por Prof. Liliana - 2012 Estudo de Caso O estudo de caso como estratégia de pesquisa Os estudos de caso são especialmente indicados como estratégia
As línguas de sinais, usadas pelas comunidades surdas, são constituídas de elementos próprios
 LIBRAS Estrutura gramatical da LIBRAS A língua de sinais tem gramática? A língua de sinais é mímica? As línguas de sinais, usadas pelas comunidades surdas, são constituídas de elementos próprios uma língua
LIBRAS Estrutura gramatical da LIBRAS A língua de sinais tem gramática? A língua de sinais é mímica? As línguas de sinais, usadas pelas comunidades surdas, são constituídas de elementos próprios uma língua
INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA. Prova
 INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA Espanhol - Prova Escrita e Prova Oral Prova 368 2017 11º Ano de Escolaridade (Decreto-lei nº 139/2012 de 5 de Julho) O presente documento visa divulgar a informação
INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA Espanhol - Prova Escrita e Prova Oral Prova 368 2017 11º Ano de Escolaridade (Decreto-lei nº 139/2012 de 5 de Julho) O presente documento visa divulgar a informação
Processo de Admissão de Novos Estudantes Conteúdos programáticos para candidatos que ingressarão no. 3º ano do Ensino Médio MATEMÁTICA
 Processo de Admissão de Novos Estudantes 2017 Conteúdos programáticos para candidatos que ingressarão no 3º ano do Ensino Médio MATEMÁTICA HABILIDADES CONTEÚDOS Identificar padrões numéricos ou princípios
Processo de Admissão de Novos Estudantes 2017 Conteúdos programáticos para candidatos que ingressarão no 3º ano do Ensino Médio MATEMÁTICA HABILIDADES CONTEÚDOS Identificar padrões numéricos ou princípios
INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA. Prova
 INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA Espanhol - Prova Escrita e Prova Oral Prova 375 2017 11º Ano de Escolaridade (Decreto-lei nº 139/2012 de 5 de Julho) O presente documento visa divulgar a informação
INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA Espanhol - Prova Escrita e Prova Oral Prova 375 2017 11º Ano de Escolaridade (Decreto-lei nº 139/2012 de 5 de Julho) O presente documento visa divulgar a informação
5 A pesquisa de campo
 58 5 A pesquisa de campo Neste capítulo, apresenta-se a pesquisa qualitativa realizada junto a 9 mães, investigando, a partir das várias transformações pelas quais elas passaram, as representações que
58 5 A pesquisa de campo Neste capítulo, apresenta-se a pesquisa qualitativa realizada junto a 9 mães, investigando, a partir das várias transformações pelas quais elas passaram, as representações que
Tecendo contos O contar histórias na sala de aula
 Tecendo contos O contar histórias na sala de aula A história Oralidade e imaginário na sala de aula Fonte: www.shutterstock.com a revalorização do ato de contar histórias. contar histórias, um ritual afetivo
Tecendo contos O contar histórias na sala de aula A história Oralidade e imaginário na sala de aula Fonte: www.shutterstock.com a revalorização do ato de contar histórias. contar histórias, um ritual afetivo
SISTEMA ANGLO DE ENSINO. Tipo D4-08/2010 G A B A R I T O
 Prova Anglo P-01 Tipo D4-08/2010 G A B A R I T O 01. D 07. A 13. D 19. C 02. B 08. B 14. A 20. D 03. C 09. C 15. B 21. A 04. A 10. A 16. D 22. C 05. C 11. D 17. B 00 06. B 12. B 18. D DESCRITORES, RESOLUÇÕES
Prova Anglo P-01 Tipo D4-08/2010 G A B A R I T O 01. D 07. A 13. D 19. C 02. B 08. B 14. A 20. D 03. C 09. C 15. B 21. A 04. A 10. A 16. D 22. C 05. C 11. D 17. B 00 06. B 12. B 18. D DESCRITORES, RESOLUÇÕES
Processo de Admissão de Novos Estudantes Conteúdos programáticos para candidatos que ingressarão no. 1º ano do Ensino Médio MATEMÁTICA
 Processo de Admissão de Novos Estudantes 2016 Conteúdos programáticos para candidatos que ingressarão no 1º ano do Ensino Médio MATEMÁTICA CONTEÚDOS Efetuar cálculos com números reais envolvendo as operações
Processo de Admissão de Novos Estudantes 2016 Conteúdos programáticos para candidatos que ingressarão no 1º ano do Ensino Médio MATEMÁTICA CONTEÚDOS Efetuar cálculos com números reais envolvendo as operações
VOCÊ CONHECE A SUA HISTÓRIA? PRODUÇÃO DE JOGO SOBRE A GUERRA DO CONTESTADO
 VOCÊ CONHECE A SUA HISTÓRIA? PRODUÇÃO DE JOGO SOBRE A GUERRA DO CONTESTADO CONTE, Higor Donato Lazari 1 ; LIDANI, Rangel 2 ; GRÜMM, Cristiane A. Fontana 3 ; LIMA, Adriano Bernardo Moraes 4 Instituto Federal
VOCÊ CONHECE A SUA HISTÓRIA? PRODUÇÃO DE JOGO SOBRE A GUERRA DO CONTESTADO CONTE, Higor Donato Lazari 1 ; LIDANI, Rangel 2 ; GRÜMM, Cristiane A. Fontana 3 ; LIMA, Adriano Bernardo Moraes 4 Instituto Federal
TEXTO E TEXTUALIDADE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
 TEXTO E TEXTUALIDADE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO O que é texto? TEXTO - escrito ou oral; O que as pessoas têm para dizer umas às outras não são palavras nem frases isoladas, são textos; TEXTO - dotada de unidade
TEXTO E TEXTUALIDADE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO O que é texto? TEXTO - escrito ou oral; O que as pessoas têm para dizer umas às outras não são palavras nem frases isoladas, são textos; TEXTO - dotada de unidade
Conceituação. Linguagem é qualquer sistema organizado de sinais que serve de meio de comunicação de ideias ou sentimentos.
 Linguagem e Cultura Conceituação Linguagem é qualquer sistema organizado de sinais que serve de meio de comunicação de ideias ou sentimentos. Cultura é todo saber humano, o cabedal de conhecimento de um
Linguagem e Cultura Conceituação Linguagem é qualquer sistema organizado de sinais que serve de meio de comunicação de ideias ou sentimentos. Cultura é todo saber humano, o cabedal de conhecimento de um
Não considerada: 0 pontos Precário: 40 pontos Insuficiente: 80 pontos Mediano: 120 pontos Bom: 160 pontos Ótimo: 200 pontos
 Competências ENEM Antes de relacionarmos as cinco competências do ENEM, esclarecemos que a prova de redação vale 1000 pontos no total (dividindo esse valor entre os 5 aspectos, cada um deles tem peso de
Competências ENEM Antes de relacionarmos as cinco competências do ENEM, esclarecemos que a prova de redação vale 1000 pontos no total (dividindo esse valor entre os 5 aspectos, cada um deles tem peso de
Período Gênero textual Expectativa
 DISCIPLINA: Produção de texto ANO DE REFERÊNCIA: 2016 PROFESSORAS RESPONSÁVEIS: 6ºano Período Gênero textual Expectativa P35 Compreender o papel do conflito gerador no desencadeamento dos episódios narrados.
DISCIPLINA: Produção de texto ANO DE REFERÊNCIA: 2016 PROFESSORAS RESPONSÁVEIS: 6ºano Período Gênero textual Expectativa P35 Compreender o papel do conflito gerador no desencadeamento dos episódios narrados.
11.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)
 INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA INGLÊS Maio de 2017 Prova 367 2017 11.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) Introdução Prova escrita e oral O presente documento
INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA INGLÊS Maio de 2017 Prova 367 2017 11.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) Introdução Prova escrita e oral O presente documento
A TEORIA SÓCIO-CULTURAL DA APRENDIZAGEM E DO ENSINO. Leon S. Vygotsky ( )
 A TEORIA SÓCIO-CULTURAL DA APRENDIZAGEM E DO ENSINO Leon S. Vygotsky (1896-1934) O CONTEXTO DA OBRA - Viveu na União Soviética saída da Revolução Comunista de 1917 - Materialismo marxista - Desejava reescrever
A TEORIA SÓCIO-CULTURAL DA APRENDIZAGEM E DO ENSINO Leon S. Vygotsky (1896-1934) O CONTEXTO DA OBRA - Viveu na União Soviética saída da Revolução Comunista de 1917 - Materialismo marxista - Desejava reescrever
COLÉGIO LA SALLE BRASÍLIA
 COLÉGIO LA SALLE BRASÍLIA SGAS Quadra 906 Conjunto E Brasília - DF Telefone: (61) 3443-7878 Site: www.lasalledf.com.br E-mail: lasalledf@lasalledf.com.br DIRETRIZES CURRICULARES Série: Maternal 2 1º Período
COLÉGIO LA SALLE BRASÍLIA SGAS Quadra 906 Conjunto E Brasília - DF Telefone: (61) 3443-7878 Site: www.lasalledf.com.br E-mail: lasalledf@lasalledf.com.br DIRETRIZES CURRICULARES Série: Maternal 2 1º Período
Acção Espaço Tempo Personagem Narrador
 Acção Espaço Tempo Personagem Narrador A acção é constituída por sequências narrativas (acontecimentos) provocadas ou experimentadas pelas personagens, que se situam num espaço e decorrem num tempo, mais
Acção Espaço Tempo Personagem Narrador A acção é constituída por sequências narrativas (acontecimentos) provocadas ou experimentadas pelas personagens, que se situam num espaço e decorrem num tempo, mais
Síntese da Planificação da Disciplina de Língua Portuguesa 5 º Ano
 Síntese da Planificação da Disciplina de Língua Portuguesa 5 º Ano Período Dias de aulas previstos 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 1.º período 13 12 12 12 14 2.º período 10 11 11 12 12 3.º período 9 9 9 9 10 (As Aulas
Síntese da Planificação da Disciplina de Língua Portuguesa 5 º Ano Período Dias de aulas previstos 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 1.º período 13 12 12 12 14 2.º período 10 11 11 12 12 3.º período 9 9 9 9 10 (As Aulas
Ler além da sala de aula. Prof.ª Marcia Regina Malfatti Pedro Emeief Carlos Drummond de Andrade
 Ler além da sala de aula Prof.ª Marcia Regina Malfatti Pedro Emeief Carlos Drummond de Andrade Nossa conversa de hoje... Para que serve o Livro e a Leitura Ampliando e Aprendendo Organizando Ideias, superando
Ler além da sala de aula Prof.ª Marcia Regina Malfatti Pedro Emeief Carlos Drummond de Andrade Nossa conversa de hoje... Para que serve o Livro e a Leitura Ampliando e Aprendendo Organizando Ideias, superando
ENEM 2012 Questões 108, 109, 110, 111, 112 e 113
 Questões 108, 109, 110, 111, 112 e 113 108. Na leitura do fragmento do texto Antigamente constata-se, pelo emprego de palavras obsoletas, que itens lexicais outrora produtivos não mais o são no português
Questões 108, 109, 110, 111, 112 e 113 108. Na leitura do fragmento do texto Antigamente constata-se, pelo emprego de palavras obsoletas, que itens lexicais outrora produtivos não mais o são no português
AS CATEGORIAS DA NARRATIVA
 AS CATEGORIAS DA NARRATIVA ACÇÃO ESPAÇO TEMPO PERSONAGENS NARRADOR MODALIDADES DE DISCURSO ACÇÃO É constituída por sequências narrativas provocadas pelas personagens e situa-se num espaço e num tempo mais
AS CATEGORIAS DA NARRATIVA ACÇÃO ESPAÇO TEMPO PERSONAGENS NARRADOR MODALIDADES DE DISCURSO ACÇÃO É constituída por sequências narrativas provocadas pelas personagens e situa-se num espaço e num tempo mais
Programa de Idiomas Inglês. Proposta: O programa de idiomas em Língua Inglesa adota um modelo sequencial de ensino e uma abordagem comunicativa
 Programa de Idiomas Inglês Proposta: O programa de idiomas em Língua Inglesa adota um modelo sequencial de ensino e uma abordagem comunicativa visando a compreensão do idioma nas quatro habilidades básicas
Programa de Idiomas Inglês Proposta: O programa de idiomas em Língua Inglesa adota um modelo sequencial de ensino e uma abordagem comunicativa visando a compreensão do idioma nas quatro habilidades básicas
A Leitura em Voz Alta
 A Leitura em Voz Alta A Leitura em voz alta Escolher bem os livros As listas de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura para os diferentes anos de escolaridade podem apoiar a selecção de obras
A Leitura em Voz Alta A Leitura em voz alta Escolher bem os livros As listas de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura para os diferentes anos de escolaridade podem apoiar a selecção de obras
CONCURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/2014 FORMULÁRIO DE RESPOSTA AOS RECURSOS - DA LETRA PARA A LETRA
 QUESTÃO: 01 Na argumentação, a autora recorre a todas as estratégias arroladas na questão, exceto a indicada pelo Gabarito. Assim, por exemplo, a dados estatísticos: aqui, dois terços dos usuários ainda
QUESTÃO: 01 Na argumentação, a autora recorre a todas as estratégias arroladas na questão, exceto a indicada pelo Gabarito. Assim, por exemplo, a dados estatísticos: aqui, dois terços dos usuários ainda
Unidade 1 O que é o Celpe-Bras?
 Unidade 1 O que é o Celpe-Bras? UNIDADE 1 1. O que é o Celpe-Bras? O Celpe-Bras é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação
Unidade 1 O que é o Celpe-Bras? UNIDADE 1 1. O que é o Celpe-Bras? O Celpe-Bras é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação
Anexo B Relação de Assuntos Pré-Requisitos à Matrícula
 Anexo B Relação de Assuntos Pré-Requisitos à Matrícula MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL 6º ANO Ensino
Anexo B Relação de Assuntos Pré-Requisitos à Matrícula MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL 6º ANO Ensino
UNICAMP II GÊNEROS DISCURSIVOS. CRÔNICA: Trata fatos do cotidiano cujo objetivo é despertar no leitor reflexão. CONTEÚDO:
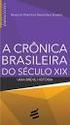 UNICAMP II GÊNEROS DISCURSIVOS CRÔNICA: Trata fatos do cotidiano cujo objetivo é despertar no leitor reflexão. CONTEÚDO: Temas cotidianos; Tom de realidade; Conteúdo subjetivo por não ser fiel à realidade.
UNICAMP II GÊNEROS DISCURSIVOS CRÔNICA: Trata fatos do cotidiano cujo objetivo é despertar no leitor reflexão. CONTEÚDO: Temas cotidianos; Tom de realidade; Conteúdo subjetivo por não ser fiel à realidade.
1ª edição Projeto Timóteo Como Pregar Mensagens Bíblicas Apostila do Orientador
 Como Pregar Mensagens Bíblicas Projeto Timóteo Apostila do Orientador Como Pregar Mensagens Bíblicas Projeto Timóteo Coordenador do Projeto Dr. John Barry Dyer Equipe Pedagógica Marivete Zanoni Kunz Tereza
Como Pregar Mensagens Bíblicas Projeto Timóteo Apostila do Orientador Como Pregar Mensagens Bíblicas Projeto Timóteo Coordenador do Projeto Dr. John Barry Dyer Equipe Pedagógica Marivete Zanoni Kunz Tereza
Língua Portuguesa 8º ano
 Escutar para Aprender e Construir Conhecimento Tipologia textual: texto conversacional. Variação e normalização linguística. Língua padrão (traços específicos). Língua Portuguesa 8º ano Conteúdos 1º Período
Escutar para Aprender e Construir Conhecimento Tipologia textual: texto conversacional. Variação e normalização linguística. Língua padrão (traços específicos). Língua Portuguesa 8º ano Conteúdos 1º Período
A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS. Patrícia Cugler 1 Nathalia Azevedo 2, Lucas Alencar, Margareth Mara 4
 A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS Patrícia Cugler 1 Nathalia Azevedo 2, Lucas Alencar, Margareth Mara 4 1 IFRJ/Licenciando, patriciacugler@gmail.com 2 IFRJ/Licenciando,
A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS Patrícia Cugler 1 Nathalia Azevedo 2, Lucas Alencar, Margareth Mara 4 1 IFRJ/Licenciando, patriciacugler@gmail.com 2 IFRJ/Licenciando,
História de um primeiro amor Sugestão de Leitura
 História de um primeiro amor Sugestão de Leitura Convidamos você e seus alunos adolescentes a conhecerem mais uma história de amor comovente: História de um primeiro amor, do escritor Drummond Amorim.
História de um primeiro amor Sugestão de Leitura Convidamos você e seus alunos adolescentes a conhecerem mais uma história de amor comovente: História de um primeiro amor, do escritor Drummond Amorim.
Aula 6 GERATIVISMO. MARTELOTTA, Mário Eduardo. Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 2012, p
 Aula 6 GERATIVISMO MARTELOTTA, Mário Eduardo. Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 2012, p. 113-126 Prof. Cecília Toledo- cissa.valle@hotmail.com Linguística Gerativa Gerativismo Gramática Gerativa
Aula 6 GERATIVISMO MARTELOTTA, Mário Eduardo. Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 2012, p. 113-126 Prof. Cecília Toledo- cissa.valle@hotmail.com Linguística Gerativa Gerativismo Gramática Gerativa
Informação - Prova de Equivalência à Frequência
 Informação - Prova de Equivalência à Frequência 12º Ano de Escolaridade [Dec.Lei nº 139/2012] Cursos Científico-Humanísticos Prova 358 / 2016 Inglês (Continuação anual) 1ª e 2ª Fases A prova é composta
Informação - Prova de Equivalência à Frequência 12º Ano de Escolaridade [Dec.Lei nº 139/2012] Cursos Científico-Humanísticos Prova 358 / 2016 Inglês (Continuação anual) 1ª e 2ª Fases A prova é composta
A CONSTITUIÇÃO DO PARÁGRAFO:
 A CONSTITUIÇÃO DO PARÁGRAFO: Olá a todos! Vamos assistir a uma Apresentação da Profa. Dra. Marcela Silvestre sobre a Constituição do Parágrafo. Ao final desta espera-se que você aprenda sobre a construção
A CONSTITUIÇÃO DO PARÁGRAFO: Olá a todos! Vamos assistir a uma Apresentação da Profa. Dra. Marcela Silvestre sobre a Constituição do Parágrafo. Ao final desta espera-se que você aprenda sobre a construção
Minicurso: Jogos e Dinâmicas de Grupo. Fabiana Sanches e Rosa Maria
 Minicurso: Jogos e Dinâmicas de Grupo Fabiana Sanches e Rosa Maria As dinâmicas são instrumentos, ferramentas que estão dentro de um processo de formação e organização, que possibilitam a criação e recriação
Minicurso: Jogos e Dinâmicas de Grupo Fabiana Sanches e Rosa Maria As dinâmicas são instrumentos, ferramentas que estão dentro de um processo de formação e organização, que possibilitam a criação e recriação
Discurso e texto. L. PORTUGUESA 1ª série do Ensino Médio Professora Marianna Aguiar
 Discurso e texto L. PORTUGUESA 1ª série do Ensino Médio Professora Marianna Aguiar Discurso e texto: contexto de produção, circulação e recepção de textos. A linguagem é uma prática social humana de interação
Discurso e texto L. PORTUGUESA 1ª série do Ensino Médio Professora Marianna Aguiar Discurso e texto: contexto de produção, circulação e recepção de textos. A linguagem é uma prática social humana de interação
Engenharia Cartográfica Comunicação e Expressão. Maria Cecilia Bonato Brandalize º Semestre
 Engenharia Cartográfica Comunicação e Expressão Maria Cecilia Bonato Brandalize 2015 1º Semestre O que é gênero? São as características peculiares a cada tipo de texto ou fala, ou seja, a maneira como
Engenharia Cartográfica Comunicação e Expressão Maria Cecilia Bonato Brandalize 2015 1º Semestre O que é gênero? São as características peculiares a cada tipo de texto ou fala, ou seja, a maneira como
Quando dividimos uma oração em partes para estudar as diferentes funções que as palavras podem desempenhar na oração e entre as orações de um texto, e
 MORFOSSINTAXE Quando analisamos a que classe gramatical pertencem as palavras de determinada frase, estamos realizando sua análise morfológica. A morfologia é a parte da gramática que estuda a classificação,
MORFOSSINTAXE Quando analisamos a que classe gramatical pertencem as palavras de determinada frase, estamos realizando sua análise morfológica. A morfologia é a parte da gramática que estuda a classificação,
Education and Cinema. Valeska Fortes de Oliveira * Fernanda Cielo **
 Educação e Cinema Education and Cinema Valeska Fortes de Oliveira * Fernanda Cielo ** Rosália Duarte é professora do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, da PUC do Rio de
Educação e Cinema Education and Cinema Valeska Fortes de Oliveira * Fernanda Cielo ** Rosália Duarte é professora do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, da PUC do Rio de
texto narrativo ação espaço tempo personagens narrador. narração descrição diálogo monólogo
 Português 2014/2015 O texto narrativo conta acontecimentos ou experiências conhecidas ou imaginadas. Contar uma história, ou seja, construir uma narrativa, implica uma ação, desenvolvida num determinado
Português 2014/2015 O texto narrativo conta acontecimentos ou experiências conhecidas ou imaginadas. Contar uma história, ou seja, construir uma narrativa, implica uma ação, desenvolvida num determinado
Informação Prova de Equivalência à Frequência de Inglês. Prova Escrita + Oral
 Informação Prova de Equivalência à Frequência de Inglês Prova Escrita + Oral Código 21 9ºAno de Escolaridade Ensino Básico 2016/2017 1. Introdução O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos
Informação Prova de Equivalência à Frequência de Inglês Prova Escrita + Oral Código 21 9ºAno de Escolaridade Ensino Básico 2016/2017 1. Introdução O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos
7.1 Contribuições para a teoria de administração de empresas
 7 Conclusões Esta tese teve por objetivo propor e testar um modelo analítico que identificasse como os mecanismos de controle e as dimensões da confiança em relacionamentos interorganizacionais influenciam
7 Conclusões Esta tese teve por objetivo propor e testar um modelo analítico que identificasse como os mecanismos de controle e as dimensões da confiança em relacionamentos interorganizacionais influenciam
PROJETO DE LÍNGUA PORTUGUESA
 ASSOCIAÇÃO ESCOLA 31 DE JANEIRO 2012/13 PROJETO DE LÍNGUA PORTUGUESA TRANSVERSALIDADE NA CORREÇÃO DA ESCRITA E DA EXPRESSÃO ORAL DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS INTRODUÇÃO A língua
ASSOCIAÇÃO ESCOLA 31 DE JANEIRO 2012/13 PROJETO DE LÍNGUA PORTUGUESA TRANSVERSALIDADE NA CORREÇÃO DA ESCRITA E DA EXPRESSÃO ORAL DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS INTRODUÇÃO A língua
AULA 12: O PAR DIALÓGICO PERGUNTA-RESPOSTA
 AULA 12: O PAR DIALÓGICO PERGUNTA-RESPOSTA 1. Introdução Necessidade de descrição do par dialógico pergunta-resposta (P- R): elementos cruciais da interação humana Análise tipológica do par P-R quanto
AULA 12: O PAR DIALÓGICO PERGUNTA-RESPOSTA 1. Introdução Necessidade de descrição do par dialógico pergunta-resposta (P- R): elementos cruciais da interação humana Análise tipológica do par P-R quanto
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE Ano letivo de 2016 / 2017 GESTÃO DE CONTEÚDOS Ensino regular Português - 6.º Ano Unidades de Ensino / Conteúdos Nº Aulas Previstas (45 min) Unidades Abordadas: Unidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE Ano letivo de 2016 / 2017 GESTÃO DE CONTEÚDOS Ensino regular Português - 6.º Ano Unidades de Ensino / Conteúdos Nº Aulas Previstas (45 min) Unidades Abordadas: Unidade
significados que pretende comunicar em um determinado contexto sócio-cultural. A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) leva em consideração que as
 1 Introdução No nosso dia-a-dia, estamos a todo momento emitindo opiniões, defendendo ideias. Opinamos em casa, no trabalho, na escola, na rua, em todos os lugares. Opinar, argumentar, persuadir o outro
1 Introdução No nosso dia-a-dia, estamos a todo momento emitindo opiniões, defendendo ideias. Opinamos em casa, no trabalho, na escola, na rua, em todos os lugares. Opinar, argumentar, persuadir o outro
Professora: Jéssica Nayra Sayão de Paula Disciplina: Introdução aos estudos linguísticos II
 Professora: Jéssica Nayra Sayão de Paula Disciplina: Introdução aos estudos linguísticos II Alguns fenômenos da língua que constituem evidência sintática para o fato de que a sentença é uma estrutura hierárquica.
Professora: Jéssica Nayra Sayão de Paula Disciplina: Introdução aos estudos linguísticos II Alguns fenômenos da língua que constituem evidência sintática para o fato de que a sentença é uma estrutura hierárquica.
Interpretação de Textos a Partir de Análises Isoladas
 Interpretação de Textos a Partir de Análises Isoladas Análise Estética (formal) Análise Estilística (figuras de linguagem) Análise Gramatical (morfossintática) Análise Semântica (de significado) Análise
Interpretação de Textos a Partir de Análises Isoladas Análise Estética (formal) Análise Estilística (figuras de linguagem) Análise Gramatical (morfossintática) Análise Semântica (de significado) Análise
DELF-DALF Público Geral e DELF Profissional
 DELF-DALF Público Geral e DELF Profissional 1) Apresentação geral O DELF («Diplôme d Etudes en Langue Française» - Diploma de Estudos em Língua Francesa) e o DALF («Diplôme Approfondi de Langue Française»
DELF-DALF Público Geral e DELF Profissional 1) Apresentação geral O DELF («Diplôme d Etudes en Langue Française» - Diploma de Estudos em Língua Francesa) e o DALF («Diplôme Approfondi de Langue Française»
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado
 Escola Secundária Dr. Ginestal Machado Planificação anual de Movimento Curso técnico profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação MODULO 1 CONSCIENCIALIZAÇÃO CORPORAL - Compreender a importância
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado Planificação anual de Movimento Curso técnico profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação MODULO 1 CONSCIENCIALIZAÇÃO CORPORAL - Compreender a importância
Engenharia de Software Aula 2.3 Processos da Engenharia de Requisitos. Prof. Bruno Moreno
 Engenharia de Software Aula 2.3 Processos da Engenharia de Requisitos Prof. Bruno Moreno bruno.moreno@ifrn.edu.br Engenharia de Requisitos O objetivo do processo de Engenharia de Requisitos é criar e manter
Engenharia de Software Aula 2.3 Processos da Engenharia de Requisitos Prof. Bruno Moreno bruno.moreno@ifrn.edu.br Engenharia de Requisitos O objetivo do processo de Engenharia de Requisitos é criar e manter
Koch, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997, 124 p.
 Koch, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997, 124 p. Resenhado por: Adriana Sidralle Rolim O texto e a construção dos sentidos é um livro que aborda questões referentes ao
Koch, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997, 124 p. Resenhado por: Adriana Sidralle Rolim O texto e a construção dos sentidos é um livro que aborda questões referentes ao
6LET062 LINGUAGEM E SEUS USOS A linguagem verbal como forma de circulação de conhecimentos. Normatividade e usos da linguagem.
 HABILITAÇÃO: BACHARELADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS 1ª Série 6LET063 LINGUAGEM COMO MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA Linguagem como manifestação artística, considerando os procedimentos sócio-históricos e culturais.
HABILITAÇÃO: BACHARELADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS 1ª Série 6LET063 LINGUAGEM COMO MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA Linguagem como manifestação artística, considerando os procedimentos sócio-históricos e culturais.
Profª Daniela Cartoni
 Etapa da Negociação Planejamento, estratégias e táticas Profª Daniela Cartoni daniela_cartoni@yahoo.com.br Etapas da negociação Uma negociação é um processo de comunicação interativa que pode ocorrer quando
Etapa da Negociação Planejamento, estratégias e táticas Profª Daniela Cartoni daniela_cartoni@yahoo.com.br Etapas da negociação Uma negociação é um processo de comunicação interativa que pode ocorrer quando
O TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
 O TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Edilva Bandeira 1 Maria Celinei de Sousa Hernandes 2 RESUMO As atividades de leitura e escrita devem ser desenvolvidas com textos completos
O TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Edilva Bandeira 1 Maria Celinei de Sousa Hernandes 2 RESUMO As atividades de leitura e escrita devem ser desenvolvidas com textos completos
Os gêneros textuais em sala de aula: Apresentação do oral e da escrita nas sequências didáticas
 Os gêneros textuais em sala de aula: Apresentação do oral e da escrita nas sequências didáticas * Maria De Lourdes Da Silva Leandro (DLA-UEPB) ** Débora Fialho Vitorino (DLA-UEPB) Francinete Alves Diniz
Os gêneros textuais em sala de aula: Apresentação do oral e da escrita nas sequências didáticas * Maria De Lourdes Da Silva Leandro (DLA-UEPB) ** Débora Fialho Vitorino (DLA-UEPB) Francinete Alves Diniz
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA EDITORA MODERNA
 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA EDITORA MODERNA Professor, nós, da Editora Moderna, temos como propósito uma educação de qualidade, que respeita as particularidades de todo o país. Desta maneira, o apoio ao
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA EDITORA MODERNA Professor, nós, da Editora Moderna, temos como propósito uma educação de qualidade, que respeita as particularidades de todo o país. Desta maneira, o apoio ao
ESCOLA SECUNDÁRIA DR. GINESTAL MACHADO. Planificação Anual - Ano letivo 20123/2014
 Planificação Anual - Ano letivo 20123/2014 Módulo 1- Eu e o Mundo Profissional Disciplina de Inglês- Cursos Profissionais 10º Ano Duração de Referência: 27horas (18 blocos) - diagnostica a sua situação
Planificação Anual - Ano letivo 20123/2014 Módulo 1- Eu e o Mundo Profissional Disciplina de Inglês- Cursos Profissionais 10º Ano Duração de Referência: 27horas (18 blocos) - diagnostica a sua situação
EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVOS GERAIS. Linguagem Oral e Escrita. Matemática OBJETIVOS E CONTEÚDOS
 EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVOS GERAIS Conhecimento do Mundo Formação Pessoal e Social Movimento Linguagem Oral e Escrita Identidade e Autonomia Música Natureza e Sociedade Artes Visuais Matemática OBJETIVOS
EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVOS GERAIS Conhecimento do Mundo Formação Pessoal e Social Movimento Linguagem Oral e Escrita Identidade e Autonomia Música Natureza e Sociedade Artes Visuais Matemática OBJETIVOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COORDENADORIA DE CONCURSOS CCV
 Questão: 02 O candidato alega que, na questão 02, tanto a alternativa E como a alternativa A apresentam-se corretas, visto que as linhas 12 e 13 mostram que os violinistas mais relaxados também tinham
Questão: 02 O candidato alega que, na questão 02, tanto a alternativa E como a alternativa A apresentam-se corretas, visto que as linhas 12 e 13 mostram que os violinistas mais relaxados também tinham
1 PROJETO DE PESQUISA 1.1 TÍTULO DO PROJETO: 1.2 NOME DO AUTOR(A): 1.3 NOME DO ORIENTADOR(A): 1.4 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 1.5 LINHA DE PESQUISA:
 Logo da IES UNIVERSIDADE/FACULDADE...... Coordenação do Curso de....... 1 PROJETO DE PESQUISA 1.1 TÍTULO DO PROJETO: 1.2 NOME DO AUTOR(A): 1.3 NOME DO ORIENTADOR(A): 1.4 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 1.5 LINHA
Logo da IES UNIVERSIDADE/FACULDADE...... Coordenação do Curso de....... 1 PROJETO DE PESQUISA 1.1 TÍTULO DO PROJETO: 1.2 NOME DO AUTOR(A): 1.3 NOME DO ORIENTADOR(A): 1.4 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 1.5 LINHA
1.1. Identificar os elementos de composição de obras de artes visuais Usar vocabulário apropriado para a análise de obras de artes visuais.
 Conteúdo Básico Comum (CBC) em Arte do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano Os tópicos obrigatórios são numerados em algarismos arábicos Os tópicos complementares são numerados em algarismos romanos Eixo
Conteúdo Básico Comum (CBC) em Arte do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano Os tópicos obrigatórios são numerados em algarismos arábicos Os tópicos complementares são numerados em algarismos romanos Eixo
