Devolução versus Contra-devolução!(*) Uma tendência incontornável para o contrato didático.
|
|
|
- Luísa Garrau Philippi
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Devolução versus Contra-devolução!(*) Uma tendência incontornável para o contrato didático. (JONNAERT, Philippe. Dévolution versus contre-dévolution! Un tandem incontournable pour le contrat didactique. In: RAISKY, Claude; CAILLOT, Michel (éds) Au-delà des didactiques, le didactique:débats autour de concepts fédérateur. Belgium: De Boeck & Larcier S.A. 1996, 278p.) As relações do professor e do aluno são condicionadas por um projeto social exterior que se impõe a ambos. Os paradoxos da relação didática mostram que o modelo mecanicista exposto até aqui é inadequado salvo para as seqüências não didáticas: um jogo onde um dos jogadores atua abertamente sobre seus parceiros a fim de lhes modificar no curso da partida, é evidentemente de natureza totalmente diferente os jogos evocados mais altos, onde as regras restantes são fixas no curso de uma partida. Esses paradoxos implicam duas conseqüências: necessidade de uma resolução temporal, e a fim de permitir o avanço da relação, necessidade de um bloqueio temporal de certas condições da situação pelas convenções provisórias, implícitas ou explícitas. Essa convenção desvia-se do objeto e do jogo da relação didática. A forma geral dessas condições é o contrato didático. (...) o contrato é específico dos conhecimentos em jogo e portanto necessariamente perecível: os conhecimentos e o saber evoluem e se transformam, enquanto que o contrato pedagógico tende a ser estável. Os momentos de ruptura permitem a evidência experimental do contrato didático (Brousseau, 1988: 322) INTRODUÇÃO O texto de orientação do simpósio interrogou cada um dos participantes para a questão seguinte: os instrumentos conceituais desenvolvidos pelas correntes atuais de pesquisa e de teorização didática permitem uma análise pertinente dos saberes, em relação aos saberes ou ainda dos processos de transformação das relações dos saberes, até mesmo da modificação dos saberes eles mesmos? Essa questão é complexa, até mesmo múltipla. Ela permite entretanto ser distribuída sobre diferentes dimensões da relação didática. Vários ângulos de abordagem são possíveis portanto. Em seu significado, essa questão é interessante. Essa questão é portanto totalmente aberta? Em sua formulação, a interpelação feita ao pesquisador coloca no coração da relação didática a problemática da relação com o saber. Ela se inquieta por uma orientação precisa sugerida pela reflexão: conceder aos diferentes tipos de relações dos saberes uma importância particular. Ela quer dizer que uma relação didática não é didática caso ela se articule em torno de uma dialética de saberes em presença? Seria um ponto de vista interessante, mas muito restritivo. O leitor não deve perder de vista que a reflexão teórica e a pesquisa em didática definem seu campo sobretudo ao exterior que ao interior da relação didática. A dialética dos saberes é uma das características da relação didática, ela não é toda a relação didática. Senão, porque o didático se interessaria pelo tempo longo da psicogênese da aquisição do conhecimento, porque falaria de transferência ou ainda de situações não didáticas? No texto, Brousseau relembra o caráter perecível do contrato didático. A relação didática não dura além do contrato. Ao contrário, o aluno, ele, realiza um processo de construção de conhecimento que dura bem mais além da relação didática. Este é um paradoxo fundamental da reflexão que elege a relação didática como objeto de estudo. A relação didática é (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 1
2 precária, mas ela possui o objetivo de desenvolver em cada aluno um processo em longo termo de construção do conhecimento. Esse é outro paradoxo na relação didática. Seguramente serão abordados nesse texto. Mas antes de tudo no primeiro paradoxo, no seio desta aparente contradição, que se situa a discussão calcada nessa linha. O texto propõe, com efeito, uma discussão sobre certas dimensões do contrato didático. Ele é todavia útil em precisar que a fonte de leitura do autor, a propósito das diferentes dimensões da relação didática, é fundamentalmente construtivista. A relação didática retém portanto sua atenção para o que é um lugar de construção do conhecimento pelo indivíduo. A relação didática é, nesse caso, mais interessante que seu indivíduo e encontra as situações no seio das quais pode utilizar seus próprios conhecimentos para se adaptar, evoluir, confirmar ou negar, ou ainda tão simplesmente utilizar. Desde então, se várias questões se põem na análise dos conceitos didáticos, é evidente que a dialética dos saberes presentes em uma relação didática será o coração das preocupações deste texto. O olhar sobre o contrato didático é então construtivista. Ou talvez o contrário? Após ter colocado o adorno do contrato didático (que é o centro da discussão proposta no texto) um rápido retrato da relação didática será sugerido. Rapidamente, o leitor descobrirá que o jogo dessa relação social particular se joga entre diferentes relações com os saberes que podem entrar em conflitos. Uma relação didática, os resultados assimétricos do saber e um quadro temporal específico permitem entrever todo o dinamismo do contrato didático. Dinâmico e precário, certamente! Nessa base, diferentes dimensões do contrato didático são abordadas. Os resultados assimétricos do saber desviam-se das principais regras. Mas, no interior desse sutil jogo de regras, qual é o lugar do aluno? Em uma abordagem construtivista, o texto define que uma devolução didática não é possível desde que o aluno se ponha a jogar as regras da contra-devolução. Devolução, rupturas e contradevolução didáticas são os principais paradoxos que professor e alunos manipulam em torno de seus papeis. Esse jogo em torno das regras muito particulares do contrato didático permite ao aluno inserir-se de modo otimizado no processo longo de construção e de desenvolvimento dos conhecimentos. 1. O QUADRO GERAL DE UMA REFLEXÃO SOBRE O CONTRATO DIDÁTICO Colocado o adorno de nosso propósito sobre o contrato didático, nós precisamos por sua vez o tipo de relações com os saber para a qual ele é questão e gênero de relação e que é exigido nesse contexto particular de contrato didático. 1.1 Uma multitude de relações com os saberes e uma relação didática. Todo contrato didático é por sua vez único e instável. Ele deve esta dupla especificidade aos múltiplos produtos dos saberes presentes na relação didática. Do exterior, um observador não adverte a ilusão que o único saber presente em uma relação didática é aquele falado pelo professor, saber transparente, extraído de manuais e de programas escolares, de produções e de livros diversos. Ele não tem certeza que este saber de referência se reflete de primeira em uma espécie de espelho de cotovia, provocando uma multitude de reações da parte destes com aqueles ele é chamado a interagir durante a relação didática. Esse saber de referência, objeto exógeno, repercute-se assim em uma série de relações que cada aluno, cada professor, mantém com ele durante a relação didática. Essas relações suportam mais ou menos fortemente os efeitos de certas mediações. Essas relações (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 2
3 com os saberes evoluem, fluem e se modificam no curso da relação didática. Certamente, o saber de referência não é único e as relações se orientam rumo a outros saberes que não aqueles propostos como referências. Toda relação com os saberes de referência pode por sua vez tornar-se objeto de interação com outros saberes. O saber único, a norma, o saber de referência é muito rapidamente contrariado, contradito, posto em julgamento, questionado por outros saberes e o saber da relação didática torna-se múltiplo. Ele se obriga a falar desde então de relação de saberes em respeito a essa pluralidade. Do começo ao fim da relação didática, ele suporta transformações, modificações, de fato em alterações mais ou menos importantes. Ao término de uma relação didática, nenhuma das partes mantém ainda o saber das relações idêntico àqueles que desenvolveu até então. No seio de uma relação didática as relações com os saberes são pessoais, de fato privadas. Eles são feitos de diversas representações, eles evocam conhecimentos variados. Eles tornam-se subjetivos por eles mesmos, alunos e professores. Eles variam então de uma classe a outra, de um grupo de alunos a outro, de um professor a outro, mesmo se o saber escolar de referência é idêntico em todas as classes, mesmo se este saber é extraído das mesmas bibliografias e de programas escolares, mesmo se um estudo da transposição didática deste saber é descrito em um mesmo encaminhamento até que este se torne um objeto de ensino. Não existe a relação com um saber universal, único, e que se insere em qualquer espécie de saber fazer adquirido pelos alunos em relação a uma disciplina escolar dada. Esse saber-padrão, ou saber-canalizado do saber escolar, transparece no entanto ainda hoje em todos os programas escolares. Certamente, o objetivo primeiro de uma relação didática é de provocar uma confrontação, uma reposição em julgamento ou uma conformação, uma adaptação, uma evolução, uma mudança, uma complexificação nessa relação privada que cada um mantém o saber em jogo. Certamente, igualmente, o professor não organiza suas atividades do nada! Ele busca critérios para balizar o encaminhamento de seus alunos. Esses critérios, ele os acha nos programas e manuais escolares que descrevem a disciplina e os conteúdos a serem ensinados. Certamente enfim, uma análise do conteúdo é totalmente indispensável à organização de uma atividade de ensino e aprendizagem, esse é um dos setores que a didática das disciplinas está certamente a desenvolver, em renovar e em fazer surgir da restrita abordagem curricular. Mas, imediatamente quando alguém abre a porta de uma sala de aula e empreende uma relação didática, as relações de saber presentes são de outra ordem. A primeira relação de saber na qual o aluno é necessariamente confrontado tão logo entre na dinâmica da relação didática, este acesso é antes todo o seio da relação. O professor não poderia imaginar, ao entrar no jogo, em impor a todos seus alunos uma relação única ao objeto de estudo, o qual se propõe a empreender durante uma seqüência de ensino e aprendizagem. Não há, de uma parte um aluno-padrão, e de outra parte uma matéria escolar unívoca. Não existe uma disciplina a ensinar única e universal, do exterior, dirigida ao aluno, todos os alunos, porque não existe uma única maneira de conhecer aquele saber. Mas, esta perspectiva construtivista, justamente, suscita qual a repercussão nas práticas cotidianas de ensino? Nada menos certo! De modo geral, considerar o saber dos estudantes, como o promotor da tese construtivista, não parece apenas modificar o protocolo de ensino habitual, se não a ordem do ensino em causa. De fato, o ponto de vista do estudante será mais solicitado (este é o maior efeito do construtivismo sobre a pedagogia). Mas, o mais freqüente, tudo se passa como se essa solicitação não tenha outra finalidade que de repetir, nem que não seja, nesse ponto de vista, e certamente, em referência ao saber a ensinar, sem atenção para a natureza e o suporte, eventualmente (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 3
4 distintos, que caracterizam esse olhar do saber desenvolvido pelo aluno. Nessa perspectiva, essa não é então a complexificação do saber do aluno que se distingue, mas antes o eminente desvio entre o que ele sabe e o saber a ensinar. (Larochelle e Bednarz, 1994) A tese construtivista propõe uma via. Ela é a outra da qual consiste em querer padronizar as relações de saberes de todos os alunos comparados a uma mesma disciplina escolar. Esse último entretanto é posto fora de curso pelas relações privadas que cada aluno mantém efetivamente com o saber. O resultado dessa relação privada e individual com o saber e a existência, em uma mesma classe, de um grande número de desvio entre as relações que os alunos mantém com o saber e estes, freqüentemente únicos, quer impor a cada um deles. O projeto do professor, na antítese construtivista, é então o de amenizar este desvio. Nesse caso, o professor ignora esta multiplicidade de relações de saberes àquela que ele necessariamente confrontou cada vez que ele reencontra um grupo de alunos em uma relação didática. Por definição, o contrato se inscreve nessa multiplicidade de relações com os saberes em jogo em uma relação didática. Cada relação, individual e privada, com os saberes em jogo em uma relação didática é uma regra implícita do contrato didático. Cada uma destas relações faz então parte integrante de toda a reflexão sobre o contrato didático. Nós não podemos fazer economia. Nós evocaremos tanto as relações específicas dos saberes, tanto uma relação dita didática. Do que se fala? Após ter rapidamente recordado o leitor sobre o que nós entendemos por relação didática, nós precisaremos o tipo de relação com os saberes do qual fazemos referência. 1.2 A relação didática define as primeiras dimensões do quadro geral do funcionamento do contrato didático Todo o contrato didático se inscreve por ele mesmo no interior de uma relação bem particular: a relação didática. Mas, qual é essa relação didática e quais são seus componentes essenciais? Sem entrar em uma descrição fina da relação didática, nós pincelamos entretanto um retrato grosseiro. Parafraseando Perret-Clermont, Brun, Conne, Saada e Schubauer-Leoni, (1982), nós dizemos que nos basta, para falar da relação didática em sentido amplo, de nos achar em um contexto onde há intenção de ensinar alguma coisa a alguém. O estudo da relação didática se inscreve no contexto mais vasto definido pela escola em seu projeto de ensino. A didática das matemáticas é por sua vez um ensaio fundamental de resposta à transformação dos conhecimentos colocados em mudanças nessas transformações a parte que revê os fenômenos de transmissão cultural, quer dizer o saber, por intermédio da instituição, em particular a escola, portadora da intenção de ensinar. (Brun, 1994, p.70) Essa intenção de ensinar permite a contextualização da relação didática. Aliás, tudo se passa em um quadro espaço-temporal claramente circunscrito: o espaço e tempo escolar. Essa intenção de ensinar supõe colocar em relação diferentes elementos. Schubauer-Leoni (1986) nos recorda utilmente: os conteúdos de saber e a transposição didática que subsistem depois do meio científico até a escola; os mestres e sua relação com os saberes no quadro da formação ensinada, sua relação com a pesquisa em ligação notadamente com a formação continuada; (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 4
5 os alunos e sua atividade sócio-cognitiva; a situação definida em sentido amplo pelo sistema educativo e em sentido restrito pela situação-problema. (p.139) Em um sentido mais restrito, a relação didática poderia então ser definida pelas trocas organizadas localmente entre o professor, os alunos e o objeto preciso de ensino. Nós retornamos à metáfora do triângulo da relação didática, triângulo aliás freqüentemente contestado por ser reducionista ao extremo. O triângulo didático é mais certamente o modelo mais antigo que permite ajustar na relação o professor, o aluno e a matéria a ensinar. Ele ressalta o processo sobre ensino/aprendizagem de uma maneira simplificada. Ainda que seja recolocar aqui uma redução da realidade possuída ao extremo. (Besure e D Hoest, 1989) 1.3 Uma relação ternária A relação didática é caracterizada pelo conjunto das mudanças entre os alunos, o saber (ou qualquer objeto de ensino) e o professor. Ela é então uma relação ternária. E se a metáfora do triângulo nos fornece uma redução ao extremo, ele permite no entanto visualizar uma superfície e mais particularmente a área das interações entre três pólos solidários. Cada um desses pólos simboliza uma família de variáveis: as variáveis estabelecidas pelo próprio professor, as definidas pela personalidade de cada um dos alunos em particular, mas também pelos alunos constituídos em um grupo-classe, aquelas enfim estabelecidas pelo saber ou por outro objeto de ensino e pela sua transposição didática. A complexidade da relação ternária está na solidariedade funcional dessas três famílias de variáveis (Jonnaert, 1988). A metáfora do triângulo não permite uma abordagem simplificada das regras que organizam essa relação: nenhum dos três pólos do triângulo pode se isolar dos outros. Toda a análise pertinente do funcionamento da relação didática supõe que a abordagem de uma das três famílias de variáveis se realiza em referência às duas outras. Em falta, o pesquisador isenta necessariamente o campo da relação didática. Assim, se é possível dele tratar da transposição didática a propósito de um saber dado fora do campo da relação didática, uma tal abordagem restante, ainda que teórica, em um momento preciso, ela não se articula à estrita dimensão de uma relação didática dada. Aliás, a relação específica que cada um dos outros participantes da relação didática (professor, conteúdo de saber e aluno) mantém respectivamente com seus saberes, constitui a variável motora da relação didática. Bem mais, são as relações com os saberes, as mudanças das relações de saberes e as rupturas das relações de saberes que dão esse dinamismo à dialética professor, aluno e saber. Em ausência da relação com os saberes, não há relação didática. Assim, toda a transposição didática, para ser pertinente, deve entrar nessas interações. Em sua falta, o trabalho se impede lá onde começa a relação didática. 1.4 Transposição didática e objeto de aprendizagem Toda a didática se define e se identifica pela especificidade das múltiplas relações em um certo campo do conhecimento. É nesse campo de conhecimento que se elaboram, que entram em conflito ou que se modificam a relação com os saberes: seja para aprender, seja para ensinar, mas também seja ligado ao trabalho da transposição didática. A transposição didática define-se por ela mesma um certo número de relações com os saberes. Se o trabalho da transposição didática se desenvolve exclusivamente fora da relação didática, ele é de (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 5
6 pouco interesse para o desenvolvimento dos conhecimentos entre os indivíduos. Ele não se aplica então mais que a um currículo antigo em definição de conteúdos de aprendizagens escolares. A transposição didática bem se define como o estudo da transformação de um objeto de saber em um objeto de ensino, este objeto de ensino se transforma no curso da relação didática em um objeto de aprendizagem. Portanto, este objeto de aprendizagem não pode ser definido a priori, fora da relação didática, fora das transformações que cada um trás em suas negociações próprias de apropriação e de autoconstrução dos conhecimentos. Toda a transposição didática se prolonga então na relação didática por ela mesma. São estudos que aportam sobre as múltiplas mutações que sofre um saber a ensinar e, então, se transforma em um saber a aprender. Essas múltiplas relações, essas numerosas rupturas, essa instabilidade das relações de saberes definindo os lugares e os espaços onde o contrato didático joga suas influências, posicionam sua dinâmica, encontra toda sua identidade. Bem mais, em cada uma dessas dimensões da relação didática se constitui uma das múltiplas regras sobre as quais o contrato encontra seu assento. Enfim, a dificuldade de definir a priori número entre eles, particularmente aquelas ligadas ao saber, caracteriza o contrato didático em face de outros tipos de contratos, como por exemplo, um contrato pedagógico. Se o contrato didático é bem localizado em uma relação didática, essas são as múltiplas relações com os saberes e o pouco de transparência desses últimos lhe fornece sua identidade. Mas de qual ordem são as relações de saberes e porque evocar uma pluralidade de saberes e escrever mais freqüentemente a palavra saber no plural? 1.5 Os saberes e as relações assimétricas com os saberes fornecendo o quadro de regras de um contrato didático Classicamente, tudo se passa como se a transposição didática pudesse, por um golpe de mágica reger, ela somente, a problemática dos saberes na presença de uma dialética de uma relação didática. A transposição didática não seria uma ilusão curricular se ela deixasse nos professores a impressão de que somente a disciplina de referência é importante. Essa que é o objeto de um estudo curricular, essa que é traduzida em elementos de um programa escolar, essa que constitui o alimento primeiro dos manuais escolares, essa que ocupa freqüentemente a maior parte do programa de formação do professor: o que dizer, um professor de matemática é bem um professor de matemática! Tudo será de tal sorte simples! No interior da relação didática, o aluno e o professor certamente não ocupam posições simétricas em suas respectivas relações com os saberes (ou em todo outro objeto de ensino e aprendizagem que está em jogo na relação didática). Bem mais, essa assimetria se observa não somente entre as diferentes relações de saberes do professor e seus alunos, mas igualmente entre as diferentes relações de saberes entre os próprios alunos. E está em todo o interesse da relação didática! Falando de aluno e de professor, pode-se afirmar que: o segundo não somente sabe mais que o primeiro, mas a responsabilidade de organizar a situação de ensino reputa favorável na aprendizagem do primeiro (Johsua e Dupin, 1993, p.249). Nós diremos mais simplesmente que um e outro conhecem por outro lado sem estabelecer hierarquia quantitativa entre estes últimos. A característica fundamental de uma relação didática reside provavelmente nessa existência de assimetria entre as relações que cada um mantém com os saberes. Bem mais, o porque dessa assimetria existir que a relação didática encontra razão de ser em um momento dado: a função da relação didática é de fazer evoluir esta relação com os saberes. (figura 1) (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 6
7 Figura 1: as relações assimétricas com os saberes. Ademais, se a relação com os saberes do aluno é um certo começo da relação didática, ele deve ter trocado o termo desse último, senão, porque organizar essas mudanças entre um professor, os alunos e o (os) saber (es)? A função primeira de uma relação didática é de permitir ao aluno a mudar sua relação inicial com os saberes, mas não importa qual o preço! Essa relação que cada um mantém com o saber é importante; ela permite com efeito diferenciar o contrato didático de um outro engajamento, no interior do qual a relação com os saberes não é objeto. O jogo das relações estabelecidas pelo professor e aluno em torno do saber determina as rupturas e as mudanças de papéis sucessivos no interior da relação didática. Essa assimetria torna-se o motor da relação didática, ela define o lugar e a responsabilidade de cada um, alunos e professor, na gestão das relações com os saberes. Mas, o professor não detém nem todas as chaves nem todos os poderes. 1.6 As Regras Flexíveis O trabalho de análise da evolução de um contrato didático permite indicar a divisão e a delimitação do poder de cada uma das partes da relação didática em suas respectivas relações com os saberes. Esse trabalho permite igualmente observar como algumas regras de um contrato didático não são irreversíveis. Cada um pode, em um momento dado, mudar de papel e de função: se o professor pode devolver, o aluno deve poder contra-devolver. Se as relações com os saberes evoluem no curso de uma relação didática, as regras que regem o contrato didático devem igualmente poder mudar. Se a baliza e os suportes que o professor fornece aos alunos devido a relação didática são suficientes, a todo momento e em função das relações com os saberes que ele conduz, o aluno deve poder exigir do professor que mude de papel. Se o sistema de regras do contrato didático deve ser rígido e imutável, paralisa cada um em um papel único, nenhuma aprendizagem será possível. Jogando a regra da devolução, o professor pode exigir do aluno que tome por ele mesmo o ritmo da aprendizagem. Mas, isso não é suficiente. Se ele é bloqueado na situação que o professor lhe propõe e que não pode mais avançar em seu próprio ritmo de aprendizagem, por sua vez, o aluno tem o direito (volta a deter) de reclamar ao professor em retomar uma de suas funções em aplicar uma outra regra do jogo que essa da devolução. O aluno deve poder contradevolver, o papel de cada um, aluno e professor, na organização da evolução do saber no (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 7
8 interior da relação didática é fundamental. Esses papéis são definidos, freqüentemente muito implicitamente, no interior do jogo das regras do contrato didático: Como em particular são organizadas as responsabilidades recíprocas de alunos e do professor na gestão dos saberes? Como eles evoluem no curso do ensino? Um contrato didático, muito freqüentemente implica, mas bem presente, fornecer aos atores da situação os reparos essenciais para responder a estas questões. (Johsua e Dupin, 1993, p.251) Essas múltiplas relações com os saberes, mas sobretudo sua instabilidade e sua movimentação no interior da relação didática, constitui o principal motor desta última. Eles gerenciam as regras do contrato didático mas ele exige em certos momentos a abolição. Cada uma dessas relações de saberes será uma das chaves da compreensão de uma relação didática e de sua evolução. O quadro geral do contrato didático (diferentes relações de saberes e uma relação didática) se inscreve em uma certa organização temporal. Ele leva a ter uma escala temporal curta e uma escala temporal longa. Nas linhas que se seguem nós descreveremos diferentes abordagens da dimensão temporal da relação didática. 2. O QUADRO TEMPORAL ESPECÍFICO DO CONTRATO DIDÁTICO O contrato didático ocorre em dimensões temporais bem particulares. Várias abordagens dessa dimensão são propostas na literatura, elas são certamente diferentes mas complementares. Nós estamos imbuídos a falar sucessivamente das escalas temporais definidas por Vergnaud, do conceito de zona proximal de desenvolvimento proposta por Vygotsky e das diferentes formas de situações didáticas sugeridas por Brousseau. Com efeito, nós percebemos não somente uma complementaridade nessas três abordagens, mas sobretudo uma visão comum do quadro temporal de uma relação didática. Enfim, essa perspectiva do tempo na relação didática define as regras temporais estritas do contrato didático. Quando nós evocamos o tempo da relação didática, muito freqüentemente esse é assimilado ao tempo do horário escolar, como se uma aprendizagem escolar pudesse se inscrever totalmente em um corte temporal artificial e de tal sorte reduzido! 2.1 Escalas temporais curtas e escalas temporais longas Em um contexto escolar, o conhecimento do aluno se desenvolve no tempo através de uma série de interações adaptativas com as situações preparadas, no conhecimento em causa, para ele, pelo professor. Em um primeiro tempo, o aluno domina pouco, realmente não muito, esta situação. Em um segundo tempo, essas últimas estão de mais a mais sob seu próprio controle. Esses dois tempos, um tempo curto, este da relação didática e um tempo longo, este da psicogênese da aquisição do conhecimento, constituem conforme Vergnaud, a dupla dimensão temporal da relação didática. (figura 2) (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 8
9 Figura 2: a dupla dimensão temporal da relação didática. Uma dupla escala temporal aparece desde que nós analisamos os processos de aquisição dos conhecimentos em um aluno que aprende. A escala temporal curta concerne a evolução das práticas e das concepções de um aluno confrontado a uma nova situação. Nós podemos considerar que neste primeiro tempo da relação didática, momento durante o qual o aluno não tem ainda mais que uma relação fraca com o saber (este que será o objeto de uma aprendizagem). Esse é o momento de todos os riscos, esse de uma evolução mais ou menos rápida das práticas e das concepções, ou ao contrário, dos bloqueios mais ou menos duráveis em face dessa situação por vezes dificilmente dominada pelo aluno. Mas, além dessa escala temporal curta (no interior da qual pode estar circunscrito o tempo da relação didática), existe o tempo longo da psicogênese do conhecimento que se expõe durante anos, e que se desenvolve bem além da relação didática: esse é o tempo longo do desenvolvimento dos conhecimentos entre o indivíduo. A pesquisa em didática deve ter em conta esses dois aspectos complementares. Sem um conhecimento claro do tempo longo de aquisição dos conhecimentos, o professor pode cair em graves desilusões. Em um conhecimento prático e teórico do tempo curto da aquisição dos conhecimentos em situação, ele arisca ser singularmente demolido por propor aos alunos situações suscetíveis de fazer evoluir suas concepções. (Vergnaud, 1983, p.24). Esse tempo longo é importante. Ele permite estabelecer as hierarquias entre as situações abordáveis ou não por um sujeito. Ele oferece ao professor a legitimação de sua exposição. Mas, sobretudo, é o tempo longo que coloca em perspectiva as relações com os saberes que existem no seio de uma mesma relação didática. É o tempo longo que permite a definição de projetos. É enfim esse mesmo tempo longo que oferece a possibilidade aos saberes escolares, se eles são pertinentes, de sair do estrito quadro escolar. Os conhecimentos que o aluno constrói não são saberes em desuso, saídos de um museu qualquer de saberes da escola. O andamento da escala temporal curta para o tempo longo da psicogênese da aquisição dos conhecimentos clarifica um bom número de regras implícitas do contrato didático. A mais evidente é provavelmente aquela de utilizar os saberes escolares, freqüentemente evocados pelos estudantes:... a que isto me servirá?. Essa regra do contrato didático (que abrange um bom número de alunos, particularmente nas formações com finalidade profissional, buscando a utilidade imediata para eles do que se aprende na escola) bloqueia, de fato imobiliza, freqüentemente, certos saberes escolares na escala (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 9
10 temporal curta. A não transferibilidade de certas competências, supostamente adquiridas por ocasião de certos cursos para outros ensinamentos, é um indício. Por exemplo, quando os aspirantes a professor fazem uso, por ocasião de seus estágios de ensino, das competências didáticas supostamente adquiridas por ocasião do curso de didática? A transferibilidade de saberes de uma situação estritamente didática, isto é, confinada no espaço e nos tempos escolares, supõe que o professor seja capaz de colocar na perspectiva para um tempo longo que ele trabalha hic et nunc (aqui e agora), em uma escala temporal curta, com seus alunos. Essa distinção entre as duas escalas temporais são complementadas pelo conceito de zona de desenvolvimento proximal, definida por Vygotsky. 2.2 O conceito de zona de desenvolvimento proximal: uma outra abordagem dos tempos da relação didática. Essa abordagem da dupla dimensão temporal da aquisição de conhecimentos pode ser utilmente articulada com o conceito de zona proximal de desenvolvimento tal qual foi proposto por Vygotsky. Para este último, a aprendizagem escolar dá nascimento, revela, anima uma série de processos de desenvolvimento internos que, em um momento dado, não são acessíveis ao aluno (a criança) que em um quadro da comunicação com o adulto ou com os pares (nós podemos associar esta primeira frase da aquisição de um conhecimento ao tempo curto). Uma vez interiorizados, essas aquisições tornam-se uma conquista da criança (este tempo de interiorização pode ser associado ao tempo longo). Há então um tempo de aprendizagem que se passa sob o controle do adulto (o professor no quadro de uma relação didática) e um momento a partir do qual o aluno pode agir somente com suas aquisições. A zona proximal de desenvolvimento é a diferença entre o nível de tratamento de uma situação sob a direção e com o auxílio do adulto e o nível de tratamento obtido somente pelo aluno; a aprendizagem está terminada: Considerado desse ponto de vista, a aprendizagem não coincide com o desenvolvimento, mas ativa o desenvolvimento mental da criança, em despertar os processos evolutivos que não podem ser atualizados sem ele. Ele desenvolve assim um momento construtivo essencial do desenvolvimento das características humanas, não naturais, adquiridas no curso do desenvolvimento histórico. (Vygotsky, 1985, p.112) Esse conceito de zona proximal de desenvolvimento é interessante. Com efeito, ele faz sair a relação didática do estrito quadro temporal escolar e ele dá uma dimensão muito dinâmica. A aquisição dos saberes escolares (colocados sob a tutela de um mestre e realizado em uma escala temporal curta) não é mais estritamente reduzida ao tempo (muito limitado) da relação didática, ao contrário, ele é mais estreitamente associado ao desenvolvimento psicogenético dos conhecimentos de um indivíduo em uma escala temporal longa. Pode ser ele o contrário? Para uma tal abordagem, Vygotsky associa estreitamente aprendizagens escolares e desenvolvimento intelectual do indivíduo. Em uma tal perspectiva (antes desenvolvimental) as relações com os saberes não podem ser assimétricas e evolutivas. Mas, as relações entre mestre e aluno serão também assimétricas pois, segundo Vygotsky, tudo se passa como a aprendizagem escolar estando a princípio sob o único controle do mestre. Esse não é o prosseguimento que o aluno toma senão que adquire uma autonomia suficiente pela relação com o mestre, mas também pela relação com aquisições novas que ele deve a conquistas próprias. Essa proposta de Vygotsky, escrita pouco antes de sua morte são, entretanto, de uma atualidade brilhante. Do reducionismo da metáfora triangular, ela se opõe um dinamismo que faz sair a relação didática do quadro temporal. Ele faz deixar o tempo real da atividade (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 10
11 escolar (tempo curto) para associar estreitamente o tempo longo do desenvolvimento psicogenético dos conhecimentos do indivíduo que aprende. Em uma tal perspectiva, a aprendizagem escolar precede e estimula o desenvolvimento, ele não se contenta em seguílo. A relação didática encontra subitamente sua real dimensão e sua verdadeira função. Ela não pode mais se justificar por ela mesma e para ela mesma. Um pouco como se ela pudesse existir simplesmente porque há matérias escolares a ensinar e professores que lhes ensinam. Colocada em uma tal perspectiva, ela se compreende fundamentalmente pela relação que um indivíduo mantém com os saberes em construção e um professor que o auxilia nesse processo dinâmico de elaboração dos conhecimentos. As relações com os saberes são então a principal razão de ser da relação didática, mas elas são de recolocar em uma perspectiva temporal longa (aquela do desenvolvimento psicogenético dos conhecimentos). Ela não pode ser então reduzida a simples relação a um conteúdo de saber saído de disciplinas escolares freqüentemente obsoletas. 2.3 Da situação didática à situação não didática passando pela situação a-didática, ou a colocação em perspectiva da relação didática. Evidentemente, as perspectivas desenvolvidas nas linhas que precedem não podem mais se contentar com a situação didática stricto sensu. A dimensão vygotskiana nos obriga a repensar a clássica tripla relação didática e a buscar o dinamismo que está em seu seio. Resta no nível da relação didática stricto sensu (aquela relação que se passa entre um mestre, seus alunos e um saber, em um momento dado e em um espaço dado) não permitindo confinar esta última em uma escala temporal curta. Nesse caso, o processo de aprendizagem escolar continua fechado no tempo e no espaço escolar. Perspectiva (mesmo ausência de perspectiva) absolutamente insustentável. Essa evolução temporal da relação didática (de uma escala temporal curta para uma escala temporal longa), nós a reencontramos na descrição de três níveis de situação didática de Brousseau (1986). Portanto, na situação didática, o aluno, o mestre e o saber evoluem para a situação a-didática e em chegada, in fine, a situações não didáticas. De qual se fala? Retomamos sucessivamente esses três conceitos, mostramos a seguir como eles são relacionados entre eles, descobrimos enfim como eles são articulados a uma escala temporal longa Uma situação didática Uma situação didática se desenvolve entre um mestre, um saber e os alunos, no quadro espaço-temporal da classe. As intenções de ensinar do mestre estão fixadas claramente. As atividades que ele coloca em jogo para continuar o objetivo de fazer aprender pelo aluno este que a intenção dele ensinar. Por seu lado, o aluno não é tolo, ele sabe que o que o professor propõe foi determinado para ele fazer descobrir um saber novo. No estado didático inicial, o mestre mantém uma relação privilegiada com o saber. Do ponto de vista da relação com o saber, há uma dissimetria que é constitutiva do sistema didático. Nós não dizemos que o aluno não mantém qualquer relação com o saber antes do ensinamento, mas simplesmente que no estado inicial, esta relação é pouco adequada ou inadequada. Sem a hipótese dessa dissimetria, o sistema didático não tem razão de ser. Nós (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 11
12 qualificamos de estado didático um estado no qual a relação do aluno com o saber é inexistente, ou bem inadequada, na visão da relação privilegiada do mestre com o saber. (Margolinas, 1993, p228) Uma situação a-didática Uma situação é a-didática quando o aluno é capaz de utilizar suas aquisições para tratar de fora de toda intenção de ensino do professor. Entretanto, o aluno está consciente que os saberes que ele utiliza para tratar essa situação são pertinentes e sobretudo são esses vistos pelo professor. Em outros termos, o aluno está reconhecendo uma situação na qual ele pode utilizar suas aquisições apesar da ausência de indicações do professor no sentido da utilização desses saberes. Além disso, as aquisições que ele utiliza são aquelas das disciplinas ensinadas: o estado a-didático constitui um estado intermediário onde o mestre está presente, mas no qual o aluno tem seu próprio movimento. (Margolinas, 1993, p229) Essa situação é próxima da situação de transferência de um primeiro nível quer dizer aquele no qual o aluno utiliza, no seio de uma mesma disciplina, as aquisições de uma aprendizagem anterior para tratar uma situação nova (sempre na mesma disciplina): Um primeiro nível de transferência tem lugar quando um aprendiz utiliza uma aprendizagem para realizar uma outra aprendizagem no interior de um conteúdo disciplinar dado. (Côté, 1986, p180) Uma situação não didática Em uma situação não didática a relação do aluno com o saber é independente da relação do mestre com o saber. Esse tipo de situação não é organizada para permitir a aprendizagem. A situação não didática não é sem evocar as transferências do segundo e terceiro níveis (Côté, 1986). No segundo nível, a transferência tem lugar quando as aquisições realizadas em uma disciplina facilitam a realização de uma aprendizagem em uma outra disciplina ou permite responder a certas exigências da vida cotidiana. Há uma transferência plenamente realizada quando o aprendiz utiliza as aquisições de conhecimento para solucionar problemas complexos; há uma transferência de aprendizagem nesse caso se a solução encontrada é nova para o sujeito. É o terceiro nível de transferência. A situação não didática poderia então conhecer diferentes níveis de realização correspondente aos níveis de transferência dois e três. No quadro das atividades realizadas em classe, em função do grau de controle exercido pelo professor, o aluno vive em situações didáticas e a-didáticas. Todavia, toda relação didática contém o projeto de sua própria extinção: em um momento dado, ela não pode mais ter função. Tanto que ela persiste, a aprendizagem não está ainda no lugar ou não está ainda terminada. O objetivo das situações didáticas e a-didáticas é de se destruir para permitir ao aluno utilizar suas aquisições em novos contextos: em situações não didáticas (fig. 3). O processo é portanto fechado? Nós não pensamos que um conhecimento adquirido não é jamais definitivo. (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 12
13 Figura 3: em direção à situação não didática. O esquema linear (partindo das situações didáticas para as situações não didáticas) é simplista: ele não é suficiente para explicar ou compreender a construção de um conhecimento, ele não mostra mais que um caminho é possível, e além disso! As linhas que precedem têm mostrado toda a dinâmica que pode ter uma relação didática aceita e sair de um estrito tempo curto da construção dos saberes e se colocar definitivamente em uma perspectiva temporal longa: aquela da situação a-didática. Os conceitos evocados dão conta dessa perspectiva em longo termo então da relação didática que não é o ponto de partida, de fato simplesmente um momento de ativação na psicogênese dos conhecimentos de um indivíduo. Assim posicionado o contrato didático em seu contexto, esse das relações com os saberes, uma relação didática e um quadro temporal bem particular, nós podemos enfim evocar nas linhas que se seguem o conceito maior deste artigo. 3. O CONTRATO DIDÁTICO PROPRIAMENTE FALANDO 3.1 O propósito do pai fundador! Após ter precisado o contexto de nossa reflexão, precisamos enfim o conceito que retém mais particularmente nossa atenção nessas linhas: o contrato didático. O conceito de contrato didático é abordado nas reflexões das didáticas das matemáticas. Eles dizem do contrato que ocorre em uma relação que determina explicitamente por uma pequena parte, mas sobretudo implicitamente, o que cada parte, professor e aluno, tem responsabilidade de gerenciar e então será responsável, de uma maneira ou de outra, diante do outro. Esse sistema de obrigações recíprocas assemelha-se a um contrato. O que nos interessa é o contrato didático, quer dizer a parte do contrato que é específico do conteúdo (Brousseau, 1986, p51) Há nessa primeira abordagem do conceito que nos interessa vários elementos importantes, nós retemos três: (1) a idéia da divisão das responsabilidades: a relação didática não está sob o controle exclusivo do professor; a responsabilidade do aluno é tomada em consideração: ele deverá aceitar seu ofício de aluno para saber aprender; esta idéia (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 13
14 da divisão das responsabilidades é importante para compreender nosso propósito relativo a devolução didática. (2) A tomada em conta do implícito: a relação didática funciona tanto, senão mais, sob o <não dito> que sob as regras formuladas explicitamente; o contrato didático se inquieta desses <não ditos> bem mais, ele se dá um valor também importante que as regras formuladas explicitamente e pelas quais professor e aluno são vinculados. (3) A relação com o saber: este que é específico do contrato didático, este é tomar em consideração a relação que cada um dos participantes mantém com o saber; o contrato didático deverá então ter em conta a assimetria das relações com os saberes em jogo na relação didática; bem mais, cada uma dessas relações se deve por ela mesma de uma das regras do contrato didático. Em certa ótica (limitação e divisão de responsabilidades, tomada em consideração que é implícita; a relação assimétrica com os saberes), a idéia de contrato é um paradoxo. Aliás, o lugar implícito é muito importante em uma relação didática para falar de convenção entre as partes como se entenderia no direito de entender quando alguém evoca um contrato no seio jurídico e no seio estrito do termo. Mas, ele está no interesse do conceito de contrato didático: jogar sob os paradoxos da relação didática. 3.2 Os espaços de diálogo a ampliar Integrar o triplo espaço clássico da relação didática (aquele das variáveis ligadas ao aluno, aquele das variáveis ligadas ao professor e aquele das variáveis ligadas ao saber), o contrato didático tem por função principal criar ambiente de diálogo entre estas três famílias de variáveis por vezes postas duas a duas. Na figura 4, os ambientes específicos a cada um dos três participantes (os ambientes 1, 3 e 6) são aqueles no interior dos quais estes últimos são únicos, confrontados por eles mesmos. Uma interação didática não pode se limitar a esses últimos: ele será um diálogo de surdos ou antes três monólogos. A função de um contrato didático é ampliar o ambiente 7, aquele no interior do qual as três partes se encontram efetivamente, tudo se respeitando a especificidade de cada um. Ampliando o espaço de diálogo entre as três partes, o contrato didático permite reduzir o ambiente de risco, quer dizer aquele no interior do qual um dos três participantes arisca se isolar em um monólogo pouco fértil. Tanto que se esse espaço de diálogo não é mais definido, alguma interação não pode se estabelecer entre os participantes e, então, o contrato didático não existe. Um contrato didático não se define então a priori, em uma análise simplista e externa das variáveis didáticas. Ao contrário, ele exige de cada um dos participantes a elaboração de uma zona de encontro com cada um dos outros participantes, mas ele exige também que cada um se conserve em espaços privados, dos jardins secretos que o protegem. Em outros termos, um contrato didático não é colocar a nu os participantes: ele cria simplesmente um espaço de diálogo entre estes últimos tudo em relação a cada um deles. A função de um contrato didático não é de transformar todo o implícito em explícito, mas de equilibrar os dois a fim de criar uma zona de trocas entre as partes: um espaço de diálogo. Nesse sentido, o contrato didático não pode existir que não no seio de uma relação didática, no interior mesmo da classe. Nesse sentido também, não poderá ter dois contratos didáticos idênticos, não existe um padrão de contrato didático. (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 14
15 Se o conceito de contrato didático permite compreender o dinamismo da relação didática, inversamente, este funcionamento da classe que permite decodificar o contrato didático. Ou, a classe, esta pessoa plural, não se atrapalha para manifestar claramente tanto as especificidades que são características e seu costume, mesmo são caracteres ou ainda são índole. Há então duas classes idênticas, não mais que poder e ter dois contratos estritamente idênticos. Bem mais, o contrato didático evolui, muda, adapta-se aos caprichos da personalidade, freqüentemente instável e imprevisível, da classe. A primeira função do contrato didático será de definir um espaço de diálogo entre as diferentes partes (fig.4). Essas zonas de mudanças esquivam-se além disso dos locais privilegiados de interações entre professor, alunos e saber. Figura 4: função do contrato didático: ampliar o espaço de diálogo, reduzir as áreas de risco. Na falta de um tal espaço de diálogo, nada pode passar. Cada um se isola em sua própria esfera, em sua bolha, e cada um atribui ao outro o lugar morto. A primeira função do contrato didático é então de acessar e antes de tudo de criar o diálogo onde ele existe pouco: o diálogo entre o professor, o aluno e o saber. 3.3 Uma organização em torno de um sistema de regras O contrato didático organiza certamente a limitação e a divisão das responsabilidades do professor e do aluno (Chevallard e Johsua, 1982, p214), mas esta só pode se fazer em torno de uma série de regras, que regem o funcionamento mesmo da classe e de diferentes ordens de relações e de interações definidas pela relação didática (professor/alunos, professor/aluno, aluno/aluno, aluno/alunos/ alunos/alunos, do modo que as relações de saberes foram evocadas nas linhas precedentes). Esse tipo de contrato não será mais didático se ele reger somente as relações sociais. Essas mudanças e essas interações tornam-se didáticas porque são originadas em torno de um duplo projeto de ensino e de aprendizagem. Esse contrato didático é complexo, ele não é transparente. Se certas regras são evidentes para cada um dos participantes engajados na relação didática, outras regras permanecem implícitas. Certas regras (particularmente aquelas que definem as relações que cada um mantém privadamente com o saber) freqüentemente são dificilmente acessíveis. Essas últimas são portanto muito importantes na gestão da relação didática pelo (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 15
16 professor. São elas que determinarão a pertinência das situações propostas pelo professor. Essas regras são parte integrante do campo conceitual do saber que é o centro da relação didática considerada. São elas, igualmente, que colocam o aluno em tal ou tal dimensão temporal da construção dos conhecimentos: o tempo curto ou o tempo longo. 3.4 Quatro ordens de critérios para as regras Mas, globalmente, as diferentes regras evocadas podem fazer o objeto de uma rápida classificação, mesmo se elas são múltiplas e de diversas ordens. Para organizar essas regras, nós destacamos essencialmente quatro ordens de critérios: Primeira ordem de critério: o nível de explicitação das regras: explícitas e formuladas; tácitas e convencionadas; tácitas e não convencionadas; implícitas e inconscientes. Segunda ordem de critérios: o nível de negociação das regras: unilateral (impostas unilateralmente por um dos participantes da relação didática); negociadas. Terceira ordem de critérios: a origem das regras: externas (impostas do exterior da classe: regulamento da escola por exemplo); internas (específica ao grupo-classe considerado). Quarta ordem de critérios: o grau de espontaneidade das regras: espontâneas (elas emergiram do interior mesmo do grupo-classe em questão); preexistentes (elas existem antes da constituição do grupo-classe). 3.5 Um instantâneo Essas quatro ordens de critérios de regras permitem uma análise fina do contrato didático para a pesquisa das combinações dessas regras entre elas. A explicitação do contrato didático, é o instante durante o qual cada um exprime o que se empenha a fazer, mas também o que espera do outro é então um momento importante. Ele permite por exemplo realizar um instantâneo (no sentido fotográfico do termo) do que se passa nesse momento na classe. Esse primeiro clichê não é certamente imutável, pois essas regras vão rapidamente se arrumar, as rupturas irão aparecer. Aliás, esse clichê não se permite ver. Numerosas regras restam no domínio do implícito, notadamente aquelas que regem as relações individuais com os saberes. Esses últimos exigem do professor a utilização das técnicas específicas para torná-las explícitas. O contrato didático joga com esses diferentes tipos de regras. Cada um as utiliza em diferentes momentos da relação didática para fazer progredir as próprias relações com os saberes mas também aquelas dos outros participantes da relação didática. Porque as relações com os saberes são fundamentais, uma relação didática é um conjunto particular das relações sociais. As interações sociais jogam uma função dinâmica também fundamental aos diferentes níveis de relações com os saberes. A análise de um contrato didático não permite (*) Tradução livre ( versão preliminar-2003) de Elio Carlos Ricardo 16
O ENSINO POR COMPETÊNCIAS, AS RELAÇÕES COM OS SABERES E O CONTRATO DIDÁTICO
 O ENSINO POR COMPETÊNCIAS, AS RELAÇÕES COM OS SABERES E O CONTRATO DIDÁTICO Elio Carlos Ricardo UFSC RESUMO - Embora a noção de formação por competências ainda não esteja bem clara, discute-se suas potencialidades
O ENSINO POR COMPETÊNCIAS, AS RELAÇÕES COM OS SABERES E O CONTRATO DIDÁTICO Elio Carlos Ricardo UFSC RESUMO - Embora a noção de formação por competências ainda não esteja bem clara, discute-se suas potencialidades
Contrato didático e (in)disciplina. Professora: Dra. Eduarda Maria Schneider
 Contrato didático e (in)disciplina Professora: Dra. Eduarda Maria Schneider Objetivos Trabalhar o Contrato Didático como um conceito da didática e importante teoria na compreensão das diversas situações
Contrato didático e (in)disciplina Professora: Dra. Eduarda Maria Schneider Objetivos Trabalhar o Contrato Didático como um conceito da didática e importante teoria na compreensão das diversas situações
Universidade de São Paulo Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Enf. Psiquiátrica e Ciências Humanas. Profa. Karina de M. Conte
 Universidade de São Paulo Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Enf. Psiquiátrica e Ciências Humanas Profa. Karina de M. Conte 2017 DIDÁTICA II Favorecer a compreensão do processo de elaboração, gestão,
Universidade de São Paulo Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Enf. Psiquiátrica e Ciências Humanas Profa. Karina de M. Conte 2017 DIDÁTICA II Favorecer a compreensão do processo de elaboração, gestão,
ENTREVISTA PROF. DR ELIO CARLOS RICARDO 1
 ENTREVISTA PROF. DR ELIO CARLOS RICARDO 1 Livre-docente de Ensino de Ciências e Matemática, Faculdade de Educação da USP. Entrevista concedida à TV SENAI/SC por ocasião de Formação continuada, no âmbito
ENTREVISTA PROF. DR ELIO CARLOS RICARDO 1 Livre-docente de Ensino de Ciências e Matemática, Faculdade de Educação da USP. Entrevista concedida à TV SENAI/SC por ocasião de Formação continuada, no âmbito
O processo de ensino e aprendizagem em Ciências no Ensino Fundamental. Aula 2
 O processo de ensino e aprendizagem em Ciências no Ensino Fundamental Aula 2 Objetivos da aula Conhecer os a pluralidade de interpretações sobre os processos de ensino aprendizagem em Ciências; Discutir
O processo de ensino e aprendizagem em Ciências no Ensino Fundamental Aula 2 Objetivos da aula Conhecer os a pluralidade de interpretações sobre os processos de ensino aprendizagem em Ciências; Discutir
4.3 A solução de problemas segundo Pozo
 39 4.3 A solução de problemas segundo Pozo Na década de noventa, a publicação organizada por Pozo [19] nos dá uma visão mais atual da resolução de problemas. A obra sai um pouco do universo Matemático
39 4.3 A solução de problemas segundo Pozo Na década de noventa, a publicação organizada por Pozo [19] nos dá uma visão mais atual da resolução de problemas. A obra sai um pouco do universo Matemático
O ENSINO NA CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
 O ENSINO NA CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA Autor: EDILSON JOSÉ DE CARVALHO E ANA ALICE Introdução Este trabalho é uma síntese das aulas da professora Ana Alice, que administrou a disciplina:
O ENSINO NA CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA Autor: EDILSON JOSÉ DE CARVALHO E ANA ALICE Introdução Este trabalho é uma síntese das aulas da professora Ana Alice, que administrou a disciplina:
Didática das Ciências Naturais
 ESPECIALIZAÇAO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO Didática das Ciências Naturais Prof. Nelson Luiz Reyes Marques ESPECIALIZAÇAO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO Necessidades formativas do professor
ESPECIALIZAÇAO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO Didática das Ciências Naturais Prof. Nelson Luiz Reyes Marques ESPECIALIZAÇAO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO Necessidades formativas do professor
Gilmara Teixeira Costa Professora da Educação Básica- Barra de São Miguel/PB )
 GT 4 LINGUAGENS, LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO. Gilmara Teixeira Costa (gilmara-teixeira-01@hotmail.com/ Professora da Educação Básica- Barra de São Miguel/PB ) Juliana Maria Soares dos Santos (PPGFP UEPB)¹
GT 4 LINGUAGENS, LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO. Gilmara Teixeira Costa (gilmara-teixeira-01@hotmail.com/ Professora da Educação Básica- Barra de São Miguel/PB ) Juliana Maria Soares dos Santos (PPGFP UEPB)¹
A TEORIA SÓCIO-CULTURAL DA APRENDIZAGEM E DO ENSINO. Leon S. Vygotsky ( )
 A TEORIA SÓCIO-CULTURAL DA APRENDIZAGEM E DO ENSINO Leon S. Vygotsky (1896-1934) O CONTEXTO DA OBRA - Viveu na União Soviética saída da Revolução Comunista de 1917 - Materialismo marxista - Desejava reescrever
A TEORIA SÓCIO-CULTURAL DA APRENDIZAGEM E DO ENSINO Leon S. Vygotsky (1896-1934) O CONTEXTO DA OBRA - Viveu na União Soviética saída da Revolução Comunista de 1917 - Materialismo marxista - Desejava reescrever
OBJETIVOS DE ENSINO- APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA. Docente: Dra. Eduarda Maria Schneider
 OBJETIVOS DE ENSINO- APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA Docente: Dra. Eduarda Maria Schneider E-mail: emschneider@utfpr.edu.br O que são objetivos de ensino/aprendizagem? O que espero que meu aluno aprenda?
OBJETIVOS DE ENSINO- APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA Docente: Dra. Eduarda Maria Schneider E-mail: emschneider@utfpr.edu.br O que são objetivos de ensino/aprendizagem? O que espero que meu aluno aprenda?
PROBLEMÁTICA E PROBLEMA DE PESQUISA
 PROBLEMÁTICA E PROBLEMA DE PESQUISA O primeiro item importante de um projeto de pesquisa é a formulação do problema, o segundo e o terceiro itens são os objetivos, o quadro teórico e a metodologia, respectivamente.
PROBLEMÁTICA E PROBLEMA DE PESQUISA O primeiro item importante de um projeto de pesquisa é a formulação do problema, o segundo e o terceiro itens são os objetivos, o quadro teórico e a metodologia, respectivamente.
ARTIGO. As concepções de desenvolvimento e aprendizagem na teoria psicogenética de Jean Piaget.
 ARTIGO 13 As concepções de desenvolvimento e aprendizagem na teoria psicogenética de Jean Piaget. Ana Lúcia Jankovic Barduchi Mestre em Psicologia pela USP, Doutoranda em Educação pela Unicamp. Professora
ARTIGO 13 As concepções de desenvolvimento e aprendizagem na teoria psicogenética de Jean Piaget. Ana Lúcia Jankovic Barduchi Mestre em Psicologia pela USP, Doutoranda em Educação pela Unicamp. Professora
HIPÓTESES E ESTRATÉGIAS DE LEITURA ALGUMAS CONSIDERAÇÕES¹
 HIPÓTESES E ESTRATÉGIAS DE LEITURA ALGUMAS CONSIDERAÇÕES¹ ¹ Material organizado por Rosa M.A. Barros e Ione Cardoso Oliveira a partir dos textos das Unidades 6 a 8 do Módulo 1 - PROFA HIPÓTESES DE LEITURA
HIPÓTESES E ESTRATÉGIAS DE LEITURA ALGUMAS CONSIDERAÇÕES¹ ¹ Material organizado por Rosa M.A. Barros e Ione Cardoso Oliveira a partir dos textos das Unidades 6 a 8 do Módulo 1 - PROFA HIPÓTESES DE LEITURA
Produzido pela Ciência Química. Presente nos Parques. Presente nos Museus de Ciências. Presente nos livros didáticos. Presente nas escolas ...
 Como é o Conhecimento Químico? Produzido pela Ciência Química Presente nos Parques Presente nos Museus de Ciências Presente nos livros didáticos Presente nas escolas... A transposição didática põe em evidência
Como é o Conhecimento Químico? Produzido pela Ciência Química Presente nos Parques Presente nos Museus de Ciências Presente nos livros didáticos Presente nas escolas... A transposição didática põe em evidência
Atuação do professor em Sala de Aula e Inovação do Ensino. Anne L. Scarinci
 Atuação do professor em Sala de Aula e Inovação do Ensino Anne L. Scarinci Problema motivador Indício: truncamento da seqüência pedagógica Caracterizar a atuação do professor em sala de aula Onde buscamos
Atuação do professor em Sala de Aula e Inovação do Ensino Anne L. Scarinci Problema motivador Indício: truncamento da seqüência pedagógica Caracterizar a atuação do professor em sala de aula Onde buscamos
A Informática Na Educação: Como, Para Que e Por Que
 RBEBBM -01/2001 A Informática Na Educação: Como, Para Que e Por Que Autores:José A. Valente Afiliação:Departamento de Multimeios e Nied - Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Campinas - SP javalente@unicamp.br
RBEBBM -01/2001 A Informática Na Educação: Como, Para Que e Por Que Autores:José A. Valente Afiliação:Departamento de Multimeios e Nied - Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Campinas - SP javalente@unicamp.br
Transposição Didática e o Ensino de Ciências e Biologia
 Transposição Didática e o Ensino de Ciências e Biologia Disciplina: Didática Aplicada ao Ensino de Ciências e Biologia Docente: Dra. Eduarda Maria Schneider Objetivos Debater sobre os saberes científicos
Transposição Didática e o Ensino de Ciências e Biologia Disciplina: Didática Aplicada ao Ensino de Ciências e Biologia Docente: Dra. Eduarda Maria Schneider Objetivos Debater sobre os saberes científicos
CURSO O JOGO COMO ESPAÇO DE ALFABETIZAÇÃO CORPORAL II FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. Prof. Fabio D Angelo Novembro 2017
 II FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR MÓDULO 4 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL CURSO O JOGO COMO ESPAÇO DE ALFABETIZAÇÃO CORPORAL Prof. Fabio D Angelo Novembro 2017 O JOGO
II FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR MÓDULO 4 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL CURSO O JOGO COMO ESPAÇO DE ALFABETIZAÇÃO CORPORAL Prof. Fabio D Angelo Novembro 2017 O JOGO
Água em Foco Introdução
 Água em Foco Introdução O Água em Foco tem como principais objetivos: (I) a formação inicial, com os alunos do Curso de Licenciatura em Química da UFMG, e continuada de professores, para trabalhar com
Água em Foco Introdução O Água em Foco tem como principais objetivos: (I) a formação inicial, com os alunos do Curso de Licenciatura em Química da UFMG, e continuada de professores, para trabalhar com
O USO DO JOGO CORRIDA DAS FUNÇÕES E A RELAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO LOGARÍTMICA E FUNÇÃO EXPONENCIAL
 O USO DO JOGO CORRIDA DAS FUNÇÕES E A RELAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO LOGARÍTMICA E FUNÇÃO EXPONENCIAL Amanda Gonçalves Figueiredo Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ leona_shyla@hotmail.com 1. INTRODUÇÃO
O USO DO JOGO CORRIDA DAS FUNÇÕES E A RELAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO LOGARÍTMICA E FUNÇÃO EXPONENCIAL Amanda Gonçalves Figueiredo Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ leona_shyla@hotmail.com 1. INTRODUÇÃO
Metodologias ativas na EaD. Sandra Rodrigues
 Metodologias ativas na EaD Sandra Rodrigues Metodologias ativas na EaD EaD no Brasil principais características Caminhos naturais para aprendizagem ativa nessa modalidade Participação e engajamento como
Metodologias ativas na EaD Sandra Rodrigues Metodologias ativas na EaD EaD no Brasil principais características Caminhos naturais para aprendizagem ativa nessa modalidade Participação e engajamento como
PSICOLOGIA SOCIAL I. Psicologia Geral e Psicologia Social. De que trata a Psicologia Social? 21/08/2016
 PSICOLOGIA SOCIAL I A psicologia social e seu objeto de estudo: QUESTÕES PRELIMINARES Profa. Dra. Rosana Carneiro Tavares A HISTÓRIA DA PSICOLOGIA SOCIAL ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO De que trata a Psicologia
PSICOLOGIA SOCIAL I A psicologia social e seu objeto de estudo: QUESTÕES PRELIMINARES Profa. Dra. Rosana Carneiro Tavares A HISTÓRIA DA PSICOLOGIA SOCIAL ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO De que trata a Psicologia
orientar. Esta obra tenta, pois, pôr ordem no afluxo de elementos que balizam o campo psicossocial. A fim de perseguir essa intenção, privilegiou-se
 INTRODUÇÃO Cem anos após o nascimento da Psicologia Social, é a partir de agora possível fazer o balanço da evolução desta disciplina. Nessa perspectiva, Elementos de Psicologia Social responde a um duplo
INTRODUÇÃO Cem anos após o nascimento da Psicologia Social, é a partir de agora possível fazer o balanço da evolução desta disciplina. Nessa perspectiva, Elementos de Psicologia Social responde a um duplo
O que um professor de química precisa saber e saber fazer
 O que um professor de química precisa saber e saber fazer Contribuições de estudos Visões de ensino como uma técnica, basta combinar, de modo eficaz, os meios e os fins. componentes afetivos processo de
O que um professor de química precisa saber e saber fazer Contribuições de estudos Visões de ensino como uma técnica, basta combinar, de modo eficaz, os meios e os fins. componentes afetivos processo de
CUBO MÁGICO: uma estratégia pedagógica utilizada nas aulas de matemática 1
 CUBO MÁGICO: uma estratégia pedagógica utilizada nas aulas de matemática 1 Renata Cleiton Piacesi Corrêa 2 ; Vitoria Cardoso Batista 3 INTRODUÇÃO O ensinar e aprender a matemática nas salas de aula da
CUBO MÁGICO: uma estratégia pedagógica utilizada nas aulas de matemática 1 Renata Cleiton Piacesi Corrêa 2 ; Vitoria Cardoso Batista 3 INTRODUÇÃO O ensinar e aprender a matemática nas salas de aula da
Sala 8 Gestão Pedagógica E. E. PROFA. NIDELSE MARTINS DE ALMEIDA
 Expectativas de aprendizagem: transposição do currículo prescrito para a prática docente Sala 8 Gestão Pedagógica E. E. PROFA. NIDELSE MARTINS DE ALMEIDA Professor(es) Apresentador(es): ALEX SILVIO DE
Expectativas de aprendizagem: transposição do currículo prescrito para a prática docente Sala 8 Gestão Pedagógica E. E. PROFA. NIDELSE MARTINS DE ALMEIDA Professor(es) Apresentador(es): ALEX SILVIO DE
Quando dividimos uma oração em partes para estudar as diferentes funções que as palavras podem desempenhar na oração e entre as orações de um texto, e
 MORFOSSINTAXE Quando analisamos a que classe gramatical pertencem as palavras de determinada frase, estamos realizando sua análise morfológica. A morfologia é a parte da gramática que estuda a classificação,
MORFOSSINTAXE Quando analisamos a que classe gramatical pertencem as palavras de determinada frase, estamos realizando sua análise morfológica. A morfologia é a parte da gramática que estuda a classificação,
O CONSTRUTIVISMO NA SALA DE AULA PROFA. DRA. PATRICIA COLAVITTI BRAGA DISTASSI - DB CONSULTORIA EDUCACIONAL
 O CONSTRUTIVISMO NA SALA DE AULA 1. OS PROFESSORES E A CONCEPÇÃO CONSTRUTIVISTA Construtivismo é um referencial explicativo que norteia o planejamento, a avaliação e a intervenção; A concepção construtivista
O CONSTRUTIVISMO NA SALA DE AULA 1. OS PROFESSORES E A CONCEPÇÃO CONSTRUTIVISTA Construtivismo é um referencial explicativo que norteia o planejamento, a avaliação e a intervenção; A concepção construtivista
OFICINA: Aprendizagem no Ensino Superior. FORMADORAS: Profa. Blaise K. C. Duarte Profa. Lourdes Furlanetto Profa. Luciane Nesello
 OFICINA: Aprendizagem no Ensino Superior FORMADORAS: Profa. Blaise K. C. Duarte Profa. Lourdes Furlanetto Profa. Luciane Nesello IDENTIFICAÇÃO: Aprendizagem no Ensino Superior FORMADORES (AS): PLANO DE
OFICINA: Aprendizagem no Ensino Superior FORMADORAS: Profa. Blaise K. C. Duarte Profa. Lourdes Furlanetto Profa. Luciane Nesello IDENTIFICAÇÃO: Aprendizagem no Ensino Superior FORMADORES (AS): PLANO DE
FUNDAMENTOS DA SUPERVISÃO ESCOLAR
 FUNDAMENTOS DA SUPERVISÃO ESCOLAR Profª. Carla Verônica AULA 03 SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO Identificar os princípios da gestão participativa; Analisar a dialética do ambiente escolar; Perceber
FUNDAMENTOS DA SUPERVISÃO ESCOLAR Profª. Carla Verônica AULA 03 SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO Identificar os princípios da gestão participativa; Analisar a dialética do ambiente escolar; Perceber
Da teoria da ação mediada ao modelo topológico de ensino.
 Da teoria da ação mediada ao modelo topológico de ensino. A idéia de ação mediada que trazemos para compreender a sala de aula inspira-se nos estudos de James Wertsch, discutidas em seu livro Mind as Action
Da teoria da ação mediada ao modelo topológico de ensino. A idéia de ação mediada que trazemos para compreender a sala de aula inspira-se nos estudos de James Wertsch, discutidas em seu livro Mind as Action
Relações pedagógicas. Professor aluno. Ensino aprendizagem. Teoria e prática. Objetivo e avaliação. Conteúdo e método
 Relações pedagógicas Professor aluno Ensino aprendizagem Teoria e prática Objetivo e avaliação Conteúdo e método A linha mestra que norteia qualquer ação na educação está relacionada à relação humana.
Relações pedagógicas Professor aluno Ensino aprendizagem Teoria e prática Objetivo e avaliação Conteúdo e método A linha mestra que norteia qualquer ação na educação está relacionada à relação humana.
10 Ensinar e aprender Sociologia no ensino médio
 A introdução da Sociologia no ensino médio é de fundamental importância para a formação da juventude, que vive momento histórico de intensas transformações sociais, crescente incerteza quanto ao futuro
A introdução da Sociologia no ensino médio é de fundamental importância para a formação da juventude, que vive momento histórico de intensas transformações sociais, crescente incerteza quanto ao futuro
AULA 04. Profª DENISE VLASIC HOFFMANN,Jussara Avaliar respeitar primeiro, educar depois.
 AULA 04 Profª DENISE VLASIC HOFFMANN,Jussara Avaliar respeitar primeiro, educar depois. Jussara Hoffmann Avaliar respeitar primeiro, educar depois Interesse questões avaliativas As crianças permanecem
AULA 04 Profª DENISE VLASIC HOFFMANN,Jussara Avaliar respeitar primeiro, educar depois. Jussara Hoffmann Avaliar respeitar primeiro, educar depois Interesse questões avaliativas As crianças permanecem
Atena Cursos - Curso de Capacitação - AEE PROJETO DEFICIÊNCIA DA LEITURA NA APRENDIZAGEM INFANTIL
 Atena Cursos - Curso de Capacitação - AEE PROJETO DEFICIÊNCIA DA LEITURA NA APRENDIZAGEM INFANTIL Aluna: Iara Escandiel Colussi Data: 12/06/2015 Introdução Este projeto apresenta algumas situações de dificuldade
Atena Cursos - Curso de Capacitação - AEE PROJETO DEFICIÊNCIA DA LEITURA NA APRENDIZAGEM INFANTIL Aluna: Iara Escandiel Colussi Data: 12/06/2015 Introdução Este projeto apresenta algumas situações de dificuldade
Formação do professor da EB. Ainda parte do problema
 Formação do professor da EB Ainda parte do problema O que dizem os estudos O investimento no professor é o mais sustentável e o de melhor relação custobenefício. A variação na qualidade dos professores
Formação do professor da EB Ainda parte do problema O que dizem os estudos O investimento no professor é o mais sustentável e o de melhor relação custobenefício. A variação na qualidade dos professores
EB1/PE DE ÁGUA DE PENA
 EB1/PE DE ÁGUA DE PENA 2010 2014 1.Introdução 2.Enquadramento legal 3.Diagnóstico avaliação do projecto anterior 4.Identificação de prioridades de intervenção 5.Disposições finais 6.Avaliação 1.Introdução
EB1/PE DE ÁGUA DE PENA 2010 2014 1.Introdução 2.Enquadramento legal 3.Diagnóstico avaliação do projecto anterior 4.Identificação de prioridades de intervenção 5.Disposições finais 6.Avaliação 1.Introdução
Atividades de orientação em docência: desafios e oportunidades
 Atividades de orientação em docência: desafios e oportunidades Jessica Moreira Lopes Cardoso 1 (IC)*, Ângela Maria Barbosa Pires 2 (PG) jessicacardoso22@outlook.com 1 Creche Municipal Colandy Godoy de
Atividades de orientação em docência: desafios e oportunidades Jessica Moreira Lopes Cardoso 1 (IC)*, Ângela Maria Barbosa Pires 2 (PG) jessicacardoso22@outlook.com 1 Creche Municipal Colandy Godoy de
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
 Prof. Me. Luana Serra Secretaria Municipal de Educação de Santos DOCUMENTO PRELIMINAR PARA A CONSTRUÇÃO DA DA EDUCAÇÃO INFANTIL Material adaptado de Beatriz Ferraz Educação Infantil na BNCC A Base Nacional
Prof. Me. Luana Serra Secretaria Municipal de Educação de Santos DOCUMENTO PRELIMINAR PARA A CONSTRUÇÃO DA DA EDUCAÇÃO INFANTIL Material adaptado de Beatriz Ferraz Educação Infantil na BNCC A Base Nacional
AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS. A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos
 AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos fundamentais da concepção atual de aprendizagem. Esta participação deve, porém, ser orientada tendo
AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos fundamentais da concepção atual de aprendizagem. Esta participação deve, porém, ser orientada tendo
Competências e Habilidades 1
 Competências e Habilidades 1 Competências e Habilidades são responsáveis por operacionalizar as intenções formativas de todos os componentes curriculares, disciplinas ou não, de uma determinada Matriz
Competências e Habilidades 1 Competências e Habilidades são responsáveis por operacionalizar as intenções formativas de todos os componentes curriculares, disciplinas ou não, de uma determinada Matriz
Formas de organizar os conteúdos CONTEÚDOS ESCOLARES
 Formas de organizar os conteúdos CONTEÚDOS ESCOLARES Multidisciplinaridade: é a organização de conteúdos mais tradicional. Os conteúdos escolares são apresentados por matérias independentes umas das outras.
Formas de organizar os conteúdos CONTEÚDOS ESCOLARES Multidisciplinaridade: é a organização de conteúdos mais tradicional. Os conteúdos escolares são apresentados por matérias independentes umas das outras.
CEI MUNDO PARA TODO MUNDO. Bases pedagógicas e de gestão
 CEI MUNDO PARA TODO MUNDO Bases pedagógicas e de gestão BASES PEDAGÓGICAS Garantir educaçao inclusiva como fundamento de toda açao pedagógica. Garantir o acesso a educação de qualidade como direito de
CEI MUNDO PARA TODO MUNDO Bases pedagógicas e de gestão BASES PEDAGÓGICAS Garantir educaçao inclusiva como fundamento de toda açao pedagógica. Garantir o acesso a educação de qualidade como direito de
EDUCAÇÃO COM AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR X ALUNO: ELEMENTO SIGNIFICATIVO PARA A APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL
 EDUCAÇÃO COM AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR X ALUNO: ELEMENTO SIGNIFICATIVO PARA A APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL Rosemeire Chagas Matias de Oliveira (Autor) meirebeatriz@hotmail.com Patrícia Formiga
EDUCAÇÃO COM AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR X ALUNO: ELEMENTO SIGNIFICATIVO PARA A APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL Rosemeire Chagas Matias de Oliveira (Autor) meirebeatriz@hotmail.com Patrícia Formiga
CAMINHOS DA GEOMETRIA NA ERA DIGITAL
 CAMINHOS DA GEOMETRIA NA ERA DIGITAL GT 05 Educação Matemática: tecnologias informáticas e educação à distância Tatiana Schmitz UNISINOS e-mail@sinos.net Ana Paula de Quadros UNISINOS anapauladequadros@gmail.com
CAMINHOS DA GEOMETRIA NA ERA DIGITAL GT 05 Educação Matemática: tecnologias informáticas e educação à distância Tatiana Schmitz UNISINOS e-mail@sinos.net Ana Paula de Quadros UNISINOS anapauladequadros@gmail.com
DEPARTAMENTO CURRICULAR: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
 DEPARTAMENTO CURRICULAR: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades
DEPARTAMENTO CURRICULAR: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades
FIGURAS PLANAS E ESPACIAIS
 CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM MATEMÁTICA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (4º E 5º ANOS) PROFESSORA ANDRESSA CESANA CEUNES/UFES/DMA FIGURAS PLANAS E ESPACIAIS AGOSTO DE 2015 A PEDAGOGIA DO TEXTO é
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM MATEMÁTICA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (4º E 5º ANOS) PROFESSORA ANDRESSA CESANA CEUNES/UFES/DMA FIGURAS PLANAS E ESPACIAIS AGOSTO DE 2015 A PEDAGOGIA DO TEXTO é
Atualização: 14/09/2015 Revisão: 00. Treinamento de Vendas
 Atualização: 14/09/2015 Revisão: 00 Treinamento de Vendas Como vender um treinamento? Para conseguir encher uma sala de alunos é preciso entender alguns conceitos: Público-alvo; Formas de divulgação existentes;
Atualização: 14/09/2015 Revisão: 00 Treinamento de Vendas Como vender um treinamento? Para conseguir encher uma sala de alunos é preciso entender alguns conceitos: Público-alvo; Formas de divulgação existentes;
Rodas de Histórias como espaços de Interações e Brincadeira A experiência do Projeto Paralapracá em Olinda
 Rodas de Histórias como espaços de Interações e Brincadeira A experiência do Projeto Paralapracá em Olinda A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à
Rodas de Histórias como espaços de Interações e Brincadeira A experiência do Projeto Paralapracá em Olinda A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à
ÍNDICE . HISTÓRIAS ELABORADAS SEM APOIO DE GRAVURAS . PARA UM NOVO OLHAR SOBRE A PROBLEMÁTICA DA APRENDIZAGEM DA LEITURA
 ÍNDICE. INTRODUÇÃO. COMUNICAÇÃO ORAL. PRIMEIRO DEIXAR FALAR. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM. METODOLOGIAS. DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES. HISTÓRIAS. TÉCNICAS PARA CONTAR HISTÓRIAS. SUGESTÕES.
ÍNDICE. INTRODUÇÃO. COMUNICAÇÃO ORAL. PRIMEIRO DEIXAR FALAR. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM. METODOLOGIAS. DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES. HISTÓRIAS. TÉCNICAS PARA CONTAR HISTÓRIAS. SUGESTÕES.
Bruner. Psicologia da aprendizagem
 Bruner Psicologia da aprendizagem Biografia Psicólogo americano, nasceu em Nova Iorque em 1915. Graduou-se na Universidade de Duke em 1937. Depois foi para Harvard, onde em 1941 doutorou-se em Psicologia.
Bruner Psicologia da aprendizagem Biografia Psicólogo americano, nasceu em Nova Iorque em 1915. Graduou-se na Universidade de Duke em 1937. Depois foi para Harvard, onde em 1941 doutorou-se em Psicologia.
RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO 4 CURRÍCULO DE MATEMÁTICA NO ENSINO BÁSICO. Coordenação : Cydara Ripoll, Maria Alice Gravina, Vitor Gustavo de Amorim
 RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO 4 CURRÍCULO DE MATEMÁTICA NO ENSINO BÁSICO Coordenação : Cydara Ripoll, Maria Alice Gravina, Vitor Gustavo de Amorim Este Relatório se organiza em três partes: a primeira
RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO 4 CURRÍCULO DE MATEMÁTICA NO ENSINO BÁSICO Coordenação : Cydara Ripoll, Maria Alice Gravina, Vitor Gustavo de Amorim Este Relatório se organiza em três partes: a primeira
PROGRAMA DE DISCIPLINA
 PROGRAMA DE DISCIPLINA Disciplina: Alfabetização e Letramento Código da Disciplina: EDU328 Curso: Pedagogia Semestre de oferta da disciplina: 5º Faculdade responsável: Pedagogia Programa em vigência a
PROGRAMA DE DISCIPLINA Disciplina: Alfabetização e Letramento Código da Disciplina: EDU328 Curso: Pedagogia Semestre de oferta da disciplina: 5º Faculdade responsável: Pedagogia Programa em vigência a
Capacidades de leitura e aprendizagem nas diversas disciplinas
 Capacidades de leitura e aprendizagem nas diversas disciplinas A leitura, como comentamos em outro artigo, é instrumento indispensável para toda e qualquer aprendizagem. Ao usar esse instrumento, é preciso
Capacidades de leitura e aprendizagem nas diversas disciplinas A leitura, como comentamos em outro artigo, é instrumento indispensável para toda e qualquer aprendizagem. Ao usar esse instrumento, é preciso
Investigação sobre o conhecimento e a formação de professores Síntese da discussão do grupo temático
 Investigação sobre o conhecimento e a formação de professores Síntese da discussão do grupo temático Ana Maria Boavida Escola Superior de Educação de Setúbal Maria de Fátima Guimarães Escola Superior de
Investigação sobre o conhecimento e a formação de professores Síntese da discussão do grupo temático Ana Maria Boavida Escola Superior de Educação de Setúbal Maria de Fátima Guimarães Escola Superior de
BEHAVIORISMO x COGNITIVISMO
 BEHAVIORISMO x COGNITIVISMO CONSTRUTIVISMO Jean Piaget (1896-1980) Psicologia do desenvolvimento EPISTEMOLOGIA GENÉTICA embriologia mental Jean Piaget (1896-1980) Psicologia do desenvolvimento EPISTEMOLOGIA
BEHAVIORISMO x COGNITIVISMO CONSTRUTIVISMO Jean Piaget (1896-1980) Psicologia do desenvolvimento EPISTEMOLOGIA GENÉTICA embriologia mental Jean Piaget (1896-1980) Psicologia do desenvolvimento EPISTEMOLOGIA
O ESPAÇO NA PEDAGOGIA-EM- -PARTICIPAÇÃO
 I O ESPAÇO NA PEDAGOGIA-EM- -PARTICIPAÇÃO Júlia Oliveira-Formosinho Filipa Freire de Andrade Introdução Espaço(s) em Participação Na Pedagogia -em-participação damos muita importância à organização do(s)
I O ESPAÇO NA PEDAGOGIA-EM- -PARTICIPAÇÃO Júlia Oliveira-Formosinho Filipa Freire de Andrade Introdução Espaço(s) em Participação Na Pedagogia -em-participação damos muita importância à organização do(s)
Agente de transformação social Orientador do desenvolvimento sócio-cognitivo do estudante Paradigma de conduta sócio-política
 CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO Ana Maria Iorio Dias março/2012 Educação função social primordial a incorporação ativa de conhecimentos e experiências i produzidas por gerações e sua socialização; produção do
CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO Ana Maria Iorio Dias março/2012 Educação função social primordial a incorporação ativa de conhecimentos e experiências i produzidas por gerações e sua socialização; produção do
COMPETÊNCIAS E DOCÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL I: UMA POSSIBILIDADE DE REORGANIZAÇÃO DO SABER PARA A PRODUÇÃO DE UM NOVO CONHECIMENTO
 COMPETÊNCIAS E DOCÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL I: UMA POSSIBILIDADE DE REORGANIZAÇÃO DO SABER PARA A PRODUÇÃO DE UM NOVO CONHECIMENTO Tatiana Dias Ferreira PPGFP - UEPB thatdf@hotmail.com Fernanda Cristina
COMPETÊNCIAS E DOCÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL I: UMA POSSIBILIDADE DE REORGANIZAÇÃO DO SABER PARA A PRODUÇÃO DE UM NOVO CONHECIMENTO Tatiana Dias Ferreira PPGFP - UEPB thatdf@hotmail.com Fernanda Cristina
A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E O ENSINO DA FÍSICAF
 Os processos cognitivos relacionados com o conceito geral de resolução de problemas tradicionalmente constituíam uma reserva praticamente exclusiva dos tratados de psicologia Passaram a ter um interesse
Os processos cognitivos relacionados com o conceito geral de resolução de problemas tradicionalmente constituíam uma reserva praticamente exclusiva dos tratados de psicologia Passaram a ter um interesse
Didática e docência: formação e trabalho de professores da educação básica
 Didática e docência: formação e trabalho de professores da educação básica Prof. Dr. José Carlos Libâneo I Simpósio sobre Ensino de Didática LEPED - Laboratório de Estudos e Pesquisas em Didática e Formação
Didática e docência: formação e trabalho de professores da educação básica Prof. Dr. José Carlos Libâneo I Simpósio sobre Ensino de Didática LEPED - Laboratório de Estudos e Pesquisas em Didática e Formação
Vamos brincar de construir as nossas e outras histórias
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA Vamos brincar de construir as nossas e outras histórias Ano 02
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA Vamos brincar de construir as nossas e outras histórias Ano 02
PROPOSTA DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CONSED E POSSIBILIDADES DE COOPERAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL
 PROPOSTA DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CONSED E POSSIBILIDADES DE COOPERAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL Professora Doutora Maria Inês Fini Presidente do Inep Brasília-DF Outubro 2017 LEGISLAÇÃO Os currículos da
PROPOSTA DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CONSED E POSSIBILIDADES DE COOPERAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL Professora Doutora Maria Inês Fini Presidente do Inep Brasília-DF Outubro 2017 LEGISLAÇÃO Os currículos da
CONSTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE
 1 CONSTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE Joana D`arc Anselmo da Silva Estudante do Curso de Licenciatura em Pedagogia, bolsista PIBID Universidade Federal da Paraíba. UFPB Campus IV, joanadarc945@gmail.com
1 CONSTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE Joana D`arc Anselmo da Silva Estudante do Curso de Licenciatura em Pedagogia, bolsista PIBID Universidade Federal da Paraíba. UFPB Campus IV, joanadarc945@gmail.com
ESTRUTURA, FORMATO E OBJETIVOS DA ESCOLA DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO (EPEM)
 1 REDEENSINAR JANEIRO DE 2001 ESTRUTURA, FORMATO E OBJETIVOS DA ESCOLA DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO (EPEM) Guiomar Namo de Mello Diretora Executiva da Fundação Victor Civita Diretora de Conteúdos da
1 REDEENSINAR JANEIRO DE 2001 ESTRUTURA, FORMATO E OBJETIVOS DA ESCOLA DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO (EPEM) Guiomar Namo de Mello Diretora Executiva da Fundação Victor Civita Diretora de Conteúdos da
A IMPORTÂNCIA DA CARTOGRAFIA ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL: o papel da Cartografia Tátil
 A IMPORTÂNCIA DA CARTOGRAFIA ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL: o papel da Cartografia Tátil Fernanda Taynara de Oliveira Graduando em Geografia Universidade Estadual de Goiás Campus Minaçu Kelytha
A IMPORTÂNCIA DA CARTOGRAFIA ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL: o papel da Cartografia Tátil Fernanda Taynara de Oliveira Graduando em Geografia Universidade Estadual de Goiás Campus Minaçu Kelytha
AS RELAÇÕES INTERATIVAS EM SALA DE AULA: O PAPEL DOS PROFESSORES E DOS ALUNOS. Zabala, A. A prática Educativa. Porto Alegre: Artmed, 1998
 AS RELAÇÕES INTERATIVAS EM SALA DE AULA: O PAPEL DOS PROFESSORES E DOS ALUNOS Zabala, A. A prática Educativa. Porto Alegre: Artmed, 1998 QUEM É O PROFESSOR? QUEM É O ALUNO? COMO DEVE SER O ENSINO? COMO
AS RELAÇÕES INTERATIVAS EM SALA DE AULA: O PAPEL DOS PROFESSORES E DOS ALUNOS Zabala, A. A prática Educativa. Porto Alegre: Artmed, 1998 QUEM É O PROFESSOR? QUEM É O ALUNO? COMO DEVE SER O ENSINO? COMO
A Sociologia Econômica STEINER, Philippe. São Paulo: Atlas, 2006.
 340 SOCIOLOGIAS RESENHA A Sociologia Econômica STEINER, Philippe. São Paulo: Atlas, 2006. LUCAS RODRIGUES AZAMBUJA * O livro de Steiner é uma excelente introdução à sociologia contemporânea dos mercados,
340 SOCIOLOGIAS RESENHA A Sociologia Econômica STEINER, Philippe. São Paulo: Atlas, 2006. LUCAS RODRIGUES AZAMBUJA * O livro de Steiner é uma excelente introdução à sociologia contemporânea dos mercados,
Referência Bibliográfica: SOUSA, Charles Toniolo de. Disponível em <http://www.uepg.br/emancipacao>
 Referência Bibliográfica: SOUSA, Charles Toniolo de. Disponível em 1. À funcionalidade ao projeto reformista da burguesia; 2. À peculiaridade operatória (aspecto instrumental
Referência Bibliográfica: SOUSA, Charles Toniolo de. Disponível em 1. À funcionalidade ao projeto reformista da burguesia; 2. À peculiaridade operatória (aspecto instrumental
1. A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
 1. A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO Um relato supõe uma seleção de fatos a partir da sua relevância, por critérios estabelecidos por alguém. Como ele o estuda? Porque? Quais os pressupostos teóricos
1. A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO Um relato supõe uma seleção de fatos a partir da sua relevância, por critérios estabelecidos por alguém. Como ele o estuda? Porque? Quais os pressupostos teóricos
A DISCIPLINA DE DIDÁTICA NO CURSO DE PEDAGOGIA: SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL
 A DISCIPLINA DE DIDÁTICA NO CURSO DE PEDAGOGIA: SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL Kelen dos Santos Junges - UNESPAR/Campus de União da Vitória Mariane de Freitas - UNESPAR/Campus de União da Vitória
A DISCIPLINA DE DIDÁTICA NO CURSO DE PEDAGOGIA: SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL Kelen dos Santos Junges - UNESPAR/Campus de União da Vitória Mariane de Freitas - UNESPAR/Campus de União da Vitória
O Lugar da Contextualização Curricular nos Discursos Políticos sobre Educação em Portugal
 O Lugar da Contextualização Curricular nos Discursos Políticos sobre Educação em Portugal José Carlos Morgado (CIED-U.Minho) Carlinda Leite (CIIE- FPCEUP) Preciosa Fernandes (CIIE-FPCEUP) Ana Mouraz (CIIE-
O Lugar da Contextualização Curricular nos Discursos Políticos sobre Educação em Portugal José Carlos Morgado (CIED-U.Minho) Carlinda Leite (CIIE- FPCEUP) Preciosa Fernandes (CIIE-FPCEUP) Ana Mouraz (CIIE-
Trabalhos Acadêmicos MEMORIAL RESUMO RESENHA ARTIGO PROJETO
 Trabalhos Acadêmicos MEMORIAL RESUMO RESENHA ARTIGO PROJETO MEMORIAL Memorial é um depoimento escrito relativo à lembrança, à vivência de alguém; memórias. Deve conter um breve relato sobre a história
Trabalhos Acadêmicos MEMORIAL RESUMO RESENHA ARTIGO PROJETO MEMORIAL Memorial é um depoimento escrito relativo à lembrança, à vivência de alguém; memórias. Deve conter um breve relato sobre a história
em-significativa/ Aprendizagem Significativa
 http://www.infoescola.com/educacao/aprendizag em-significativa/ Aprendizagem Significativa Por Ricardo Normando Ferreira de Paula Sobre a aprendizagem significativa de Rogers, afirma-se que a sugestão
http://www.infoescola.com/educacao/aprendizag em-significativa/ Aprendizagem Significativa Por Ricardo Normando Ferreira de Paula Sobre a aprendizagem significativa de Rogers, afirma-se que a sugestão
Estratégias de ensino que facilitam a aprendizagem dos alunos. Perspectivas e dilemas Professora Dra. Elena Mabel Brutten DEPED/CCSA
 Estratégias de ensino que facilitam a aprendizagem dos alunos Perspectivas e dilemas Professora Dra. Elena Mabel Brutten DEPED/CCSA Aula expositiva Pontos fortes / fracos Perspectivas... Uma aula dialógica...
Estratégias de ensino que facilitam a aprendizagem dos alunos Perspectivas e dilemas Professora Dra. Elena Mabel Brutten DEPED/CCSA Aula expositiva Pontos fortes / fracos Perspectivas... Uma aula dialógica...
Objetivo: Apresentar o Caderno V de modo a compreender sua concepção metodológica a partir de oficinas.
 Pacto Nacional Para o Fortalecimento do Ensino Médio Encontro de Planejamento Professor Formador de IES Duílio Tavares de Lima 03/2015 CADERNO 5 - Áreas de conhecimento e integração curricular Tema: Apresentação
Pacto Nacional Para o Fortalecimento do Ensino Médio Encontro de Planejamento Professor Formador de IES Duílio Tavares de Lima 03/2015 CADERNO 5 - Áreas de conhecimento e integração curricular Tema: Apresentação
FORMAÇÃO DO TRABALHADOR E O DESENVOLVIMENTO DO SEU CONHECIMENTO. Resumo
 FORMAÇÃO DO TRABALHADOR E O DESENVOLVIMENTO DO SEU CONHECIMENTO Carolina Vivian da Cunha-UNISC GE: Memórias, Trajetórias e Experiência na Educação. Resumo A formação dos trabalhadores é um assunto a ser
FORMAÇÃO DO TRABALHADOR E O DESENVOLVIMENTO DO SEU CONHECIMENTO Carolina Vivian da Cunha-UNISC GE: Memórias, Trajetórias e Experiência na Educação. Resumo A formação dos trabalhadores é um assunto a ser
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
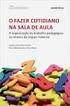 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO INTRODUÇÃO As diferentes unidades que compõem o conjunto de cadernos, visam desenvolver práticas de ensino de matemática que favoreçam as aprendizagens dos alunos. A
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO INTRODUÇÃO As diferentes unidades que compõem o conjunto de cadernos, visam desenvolver práticas de ensino de matemática que favoreçam as aprendizagens dos alunos. A
O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE: PLANO DE ENSINO E ORGANIZAÇÃO DA AULA
 O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE: PLANO DE ENSINO E ORGANIZAÇÃO DA AULA PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) OU PROPOSTA PEDAGÓGICA Representa a ação intencional e um compromisso sociopolítico definido coletivamente
O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE: PLANO DE ENSINO E ORGANIZAÇÃO DA AULA PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) OU PROPOSTA PEDAGÓGICA Representa a ação intencional e um compromisso sociopolítico definido coletivamente
A utilização do IDEB na gestão e na avaliação de programas e projetos no 3º setor. Patrícia Diaz Carolina Glycerio
 A utilização do IDEB na gestão e na avaliação de programas e projetos no 3º setor Patrícia Diaz Carolina Glycerio Quem somos A Comunidade Educativa CEDAC possibilita que profissionais da educação pratiquem
A utilização do IDEB na gestão e na avaliação de programas e projetos no 3º setor Patrícia Diaz Carolina Glycerio Quem somos A Comunidade Educativa CEDAC possibilita que profissionais da educação pratiquem
Resenha (recesso) - Aprendizagem, Arte e Invenção de Virgínia Kastrup
 Resenha (recesso) - Aprendizagem, Arte e Invenção de Virgínia Kastrup RESUMO. O texto aborda o tema da aprendizagem, usando como referência as contribuições de Gilles Deleuze e Félix Guattari. O objetivo
Resenha (recesso) - Aprendizagem, Arte e Invenção de Virgínia Kastrup RESUMO. O texto aborda o tema da aprendizagem, usando como referência as contribuições de Gilles Deleuze e Félix Guattari. O objetivo
1.1 Os temas e as questões de pesquisa. Introdução
 1 Introdução Um estudo de doutorado é, a meu ver, um caso de amor, e em minha vida sempre houve duas grandes paixões imagens e palavras. Escolhi iniciar minha tese com o poema apresentado na epígrafe porque
1 Introdução Um estudo de doutorado é, a meu ver, um caso de amor, e em minha vida sempre houve duas grandes paixões imagens e palavras. Escolhi iniciar minha tese com o poema apresentado na epígrafe porque
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E GESTÃO DO CONHECIMENTO EMPREENDEDORISMO. Prof. Dr. Daniel Caetano
 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREENDEDORISMO GESTÃO DO CONHECIMENTO Prof. Dr. Daniel Caetano 2017-2 Objetivos Recordar as dimensões do conhecimento Compreender a importância de gerenciar o conhecimento Conhecer
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREENDEDORISMO GESTÃO DO CONHECIMENTO Prof. Dr. Daniel Caetano 2017-2 Objetivos Recordar as dimensões do conhecimento Compreender a importância de gerenciar o conhecimento Conhecer
UNIVERSIDADE DO MINHO
 ANEXO I 151 UNIVERSIDADE DO MINHO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA QUESTIONÁRIO O presente Questionário destina-se ao desenvolvimento de um estudo, integrado numa tese de Mestrado na área da Psicologia
ANEXO I 151 UNIVERSIDADE DO MINHO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA QUESTIONÁRIO O presente Questionário destina-se ao desenvolvimento de um estudo, integrado numa tese de Mestrado na área da Psicologia
PLANO DE ENSINO DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
 PLANO DE ENSINO DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR Nome: Educação Física Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio Série: 1º, 2º, 3º Ano Carga Horária: 80h/a (67/H) Docente Responsável: EMENTA
PLANO DE ENSINO DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR Nome: Educação Física Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio Série: 1º, 2º, 3º Ano Carga Horária: 80h/a (67/H) Docente Responsável: EMENTA
Construção de Conceitos em Trigonometria. Departamento de Matemática e Estatística Universidade de Caxias do Sul
 Construção de Conceitos em Trigonometria Isolda Giani de Lima iglima@ucs.br Solange Galiotto Sartor sgsartor@ucs.br Departamento de Matemática e Estatística Universidade de Caxias do Sul Resumo. Um ambiente
Construção de Conceitos em Trigonometria Isolda Giani de Lima iglima@ucs.br Solange Galiotto Sartor sgsartor@ucs.br Departamento de Matemática e Estatística Universidade de Caxias do Sul Resumo. Um ambiente
A BIBLIOTECA ESCOLAR: LOCALIZANDO O ESPAÇO DO LIVRO INFANTIL NA ESCOLA PÚBLICA EM HUMAITÁ
 00086 A BIBLIOTECA ESCOLAR: LOCALIZANDO O ESPAÇO DO LIVRO INFANTIL NA ESCOLA PÚBLICA EM HUMAITÁ Francisca Chagas da Silva Barroso e-mail: fsilvabarroso@yahoo.com.br Universidade Federal do Amazonas RESUMO
00086 A BIBLIOTECA ESCOLAR: LOCALIZANDO O ESPAÇO DO LIVRO INFANTIL NA ESCOLA PÚBLICA EM HUMAITÁ Francisca Chagas da Silva Barroso e-mail: fsilvabarroso@yahoo.com.br Universidade Federal do Amazonas RESUMO
59. As perguntas dos estudantes sobre reações químicas e os livros didáticos: uma análise comparativa e compreensiva
 SEPARATA 59. As perguntas dos estudantes sobre reações químicas e os livros didáticos: uma análise comparativa e compreensiva Juliana Grosze Nipper Carvalho 1 e Maurivan Güntzel Ramos 2 Pontifícia Universidade
SEPARATA 59. As perguntas dos estudantes sobre reações químicas e os livros didáticos: uma análise comparativa e compreensiva Juliana Grosze Nipper Carvalho 1 e Maurivan Güntzel Ramos 2 Pontifícia Universidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DOCENTE: ALESSANDRA ASSIS DISCENTE: SILVIA ELAINE ALMEIDA LIMA DISCIPLINA: ESTÁGIO 2 QUARTO SEMESTRE PEDAGOGIA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DOCENTE: ALESSANDRA ASSIS DISCENTE: SILVIA ELAINE ALMEIDA LIMA DISCIPLINA: ESTÁGIO 2 QUARTO SEMESTRE PEDAGOGIA A leitura de mundo precede a leitura da palavra Paulo Freire
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DOCENTE: ALESSANDRA ASSIS DISCENTE: SILVIA ELAINE ALMEIDA LIMA DISCIPLINA: ESTÁGIO 2 QUARTO SEMESTRE PEDAGOGIA A leitura de mundo precede a leitura da palavra Paulo Freire
Associação Catarinense das Fundações Educacionais ACAFE
 Associação Catarinense das Fundações Educacionais ACAFE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÂO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO 2017 PARECERES DOS RECURSOS PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 11) De acordo com a Proposta
Associação Catarinense das Fundações Educacionais ACAFE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÂO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO 2017 PARECERES DOS RECURSOS PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 11) De acordo com a Proposta
Formulação e resolução de problemas de matemática: teoria e prática. Luiz Roberto Dante
 Formulação e resolução de problemas de matemática: teoria e prática. Luiz Roberto Dante O que é um problema? Intuitivamente, todos nós temos uma ideia do que seja um problema. De maneira genérica, pode-se
Formulação e resolução de problemas de matemática: teoria e prática. Luiz Roberto Dante O que é um problema? Intuitivamente, todos nós temos uma ideia do que seja um problema. De maneira genérica, pode-se
AS CONTRIBUIÇÕES DO CONSELHO ESCOLAR PARA UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA
 AS CONTRIBUIÇÕES DO CONSELHO ESCOLAR PARA UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA Priscila Cavalcante Silva Universidade Estadual do Ceará- UECE Priscilacavalcante-@hotmail.com Resumo A importância de uma educação pública
AS CONTRIBUIÇÕES DO CONSELHO ESCOLAR PARA UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA Priscila Cavalcante Silva Universidade Estadual do Ceará- UECE Priscilacavalcante-@hotmail.com Resumo A importância de uma educação pública
A contextualização curricular e os exames nacionais de Matemática
 Seminário Internacional Projeto Contextualizar o Saber para a Melhoria dos Resultados dos Alunos (PTDC/CPE-CED/113768/2009 ) A contextualização curricular e os exames nacionais de Matemática L U R D E
Seminário Internacional Projeto Contextualizar o Saber para a Melhoria dos Resultados dos Alunos (PTDC/CPE-CED/113768/2009 ) A contextualização curricular e os exames nacionais de Matemática L U R D E
Universidade Federal de Roraima Departamento de matemática
 Universidade Federal de Roraima Departamento de matemática Metodologia do Trabalho Científico O Método Cientifico: o positivismo, a fenomenologia, o estruturalismo e o materialismo dialético. Héctor José
Universidade Federal de Roraima Departamento de matemática Metodologia do Trabalho Científico O Método Cientifico: o positivismo, a fenomenologia, o estruturalismo e o materialismo dialético. Héctor José
Henry Wallon. Psicologia do Desenvolvimento Pedagogia 2º período Profª Renatha Costa ARQUIVO VI
 Henry Wallon Psicologia do Desenvolvimento Pedagogia 2º período Profª Renatha Costa renathakcosta@gmail.com ARQUIVO VI 2016.2 A gênese da inteligência para Wallon é genética e organicamente social. O ser
Henry Wallon Psicologia do Desenvolvimento Pedagogia 2º período Profª Renatha Costa renathakcosta@gmail.com ARQUIVO VI 2016.2 A gênese da inteligência para Wallon é genética e organicamente social. O ser
PEB I - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (Ensino Fundamental 1ª. Fase) (Professores de Anos Iniciais)
 PEB I - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (Ensino Fundamental 1ª. Fase) (Professores de Anos Iniciais) 01. Num plano de aula o último item a ser realizado pelo professor é: (A) a metodologia; (B) o conteúdo;
PEB I - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (Ensino Fundamental 1ª. Fase) (Professores de Anos Iniciais) 01. Num plano de aula o último item a ser realizado pelo professor é: (A) a metodologia; (B) o conteúdo;
TEMA, PROBLEMA OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA. Prof. Cálidon Costa
 TEMA, PROBLEMA OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA. Prof. Cálidon Costa calidontur@hotmail.com É designação do problema (prático) e da área do conhecimento a serem observados. O tema tanto pode ser definido em termos
TEMA, PROBLEMA OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA. Prof. Cálidon Costa calidontur@hotmail.com É designação do problema (prático) e da área do conhecimento a serem observados. O tema tanto pode ser definido em termos
Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de Apresentado por: Luciane Pinto, Paulo Henrique Silva e Vanessa Ferreira Backes.
 Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998 Apresentado por: Luciane Pinto, Paulo Henrique Silva e Vanessa Ferreira Backes. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. O Presidente
Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998 Apresentado por: Luciane Pinto, Paulo Henrique Silva e Vanessa Ferreira Backes. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. O Presidente
