A irredutibilidade da intenção como input do significado humorístico na piada
|
|
|
- Zaira Palhares Quintão
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Revista Digital do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUCRS Porto Alegre, v. 9, n. 1, p , janeiro-junho 2016 e-issn A irredutibilidade da intenção como input do significado humorístico na piada The non-reductive intention as input of the humorous meaning in jokes Sebastião Lourenço dos Santos 1 1 Doutor em Estudos Linguísticos. Professor Adjunto do Curso de Letras e do Programa de Mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Desenvolve pesquisa sobre linguagem, cognição e relevância. Autor do livro O enigma da piada: convergências teóricas e emergência pragmática (Ed. UEPG, 2014). lorecutp@hotmail.com RESUMO: Em uma conversação espontânea, em que os interlocutores negociam interpretações voláteis, que se dissolvem tão logo os enunciados são pronunciados, a intenção de quem comunica uma informação tem uma implicação muito grande na contextualização do significado. Em uma piada, que é uma conversação não-espontânea, o narrador tem a liberdade de manipular a história intencionalmente, de modo a produzir menos ou mais expectativas sobre o desfecho da narrativa. O objetivo deste artigo é descrever como se processa a interpretação do significado humorístico implicitamente manifesto na piada. A hipótese é de que, na piada, a intenção de narrador deve confirmar ou refutar um conhecimento ou uma crença do ouvinte, tal que a interpretação do significado, se bem sucedida, gere o riso. A base teórica que fundamenta o estudo segue a perspectiva pragmática relevantista (SPERBER; WILSON, 1986). Palavras-chave: Intenção; Interpretação; Significado; Inferência. ABSTRACT: In a spontaneous conversation, in which the interlocutors negotiate changeable interpretations, which in their turn dissolve as soon as the statements are pronounced, the intention of the one who conveys information has a great implication on the contextualization of meaning. In a non-spontaneous conversation as a joke, the teller has the autonomy to intentionally manipulate the story in order to produce smaller or greater expectations on the conclusion of it. The aim of this article is to describe the interpretation process of the humoristic meaning implicitly manifest in a joke. The hypothesis is that in a joke the teller s intention must confirm or refute a piece of knowledge or creed sustained by the hearer in a way that the interpretation of the meaning, once successful, provokes laughter. The theoretical basis for this study follows the relevance-based pragmatic perspective (SPERBER; WILSON, 1986). Keywords: Intention; Interpretation; Meaning; Inference. Exceto onde especificado diferentemente, a matéria publicada neste periódico é licenciada sob forma de uma licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.
2 Introdução Em Relevance: comunication and cognition, Dan Sperber e Deirdre Wilson (1986) defendem a ideia de que o que distingue o tradicional modelo semiótico de comunicação codificada do modelo inferencial proposto por Grice (1975) é o estabelecimento de uma propriedade psicocognitiva mínima que comanda a comunicação entre os indivíduos: a intenção. Contudo, na interação conversacional, para que haja comunicação, é necessário o estabelecimento de duas outras propriedades à intenção: a) que ela seja explícita e b) que seja reconhecida pelo(s) interlocutor(es). O modelo pragmático proposto pelos autores para descrever os procedimentos cognitivos de interpretação humana ficou conhecido por Teoria da Relevância (doravante TR). Na perspectiva da TR, a comunicação humana é inerente a um processo interacional no qual estão envolvidos dois mecanismos, o falante e o ouvinte; e o falante, ao produzir um enunciado, tem a intenção manifesta de levar o ouvinte a desenvolver pensamentos muito próximos às suas representações de mundo. Nessa perspectiva, como ambos os interlocutores são altamente idiossincráticos, seus pensamentos são manifestos por representações conceptuais do mundo real de cada um individualmente. No caso da piada, a questão que se levanta é: dado que a intenção do falante não pode ser linguisticamente decodificada, apenas cognitivamente inferida pelo ouvinte, o que é que os participantes de um intercâmbio humorístico comunicam quando se comunicam? Mais: quais são as bases inferenciais linguístico-cognitivas que fundamentam e comandam a comunicação humorística? Conforme Sperber e Wilson, a comunicação verbal entre os indivíduos é possível porque a cognição humana tende a dirigir-se à relevância ótima, conceito que Grice deixou vago em seus postulados conversacionais de De acordo os autores, a relevância é uma propriedade psicológica que faz com que uma informação veiculada a um enunciado valha a pena ser processada em termos de esforço e efeito cognitivo de processamento, porque, dadas as especificidades contextuais, a interpretação desse enunciado modifica e reorganiza suposições factuais (pensamentos) disponíveis na mente do ouvinte. Segundo a TR, o trabalho de interpretação humana é comandado pelo Princípio Cognitivo de Relevância, princípio segundo o qual a atenção do ouvinte e seus recursos cognitivos de processamento estão dirigidos para a maximização daquelas informações que lhe são (mais) relevantes em um dado contexto. Seguindo a linha relevantista proposta por Sperber e Wilson (1986), propomos, neste estudo, especular que, na interpretação da piada, as informações mais relevantes ao ouvinte deverão ser aquelas que causam maior efeito humorístico e exigem menor esforço de processamento. Com essa postura, assumimos que, na piada, a intenção do narrador é otimamente relevante ao ouvinte se, e apenas se, o significado humorístico da história narrada é suficientemente relevante para valer a pena ser processado pelo ouvinte, porque é o mais compatível com suas expectativas e preferências. Porém, se na interpretação humorística da piada houver algum precedente psico-cognitivo, seja de ordem linguístico-discursivo ou sociocultural, que fira as expectativas do significado do ouvinte, o processamento dedutivoinferencial não cessa, mas a piada como gênero textual perde seu caráter de humor (SANTOS, 2014, p. 187). Alinhamos o estudo do humor da piada aos conceitos da teoria relevantista, porque, diferentemente de muitas teorias linguístico-comunicativas tradicionais, comunicar humoristicamente não implica necessariamente transmitir uma informação, mas, segundo a perspectiva da TR, comunicar a intenção de comunicar uma informação. Essa ideia tem como base duas hipóteses mais gerais da teoria: a) uma intenção comunicativa decisão de estabelecer contato com outros seres humanos; e b) uma intenção 79
3 informativa decisão de comunicar uma informação nova. Nos próximos parágrafos, nos ocuparemos de descrever como o ouvinte interpreta o humor a partir da intenção do falante. 1 Conceituando a intenção De acordo com a TR, os enunciados produzidos em intercâmbios conversacionais perfazem, entre outras coisas, a conexão entre os pensamentos dos indivíduos e o mundo real (ou um mundo provável). A manifestação social de uma elocução é uma espécie de núcleo comum do significado que é partilhado por todas as elocuções que nela se baseiam. No entanto, as elocuções não são utilizadas somente para externar pensamentos humanos, mas revelam atitudes sobre estados mentais (anseios, desejos, frustrações, alegrias, ambições, etc.) dos falantes e sua relação com o pensamento expresso em tais elocuções. A pressuposição que se encontra por trás desses argumentos é que os interlocutores estabelecem certos padrões de veracidade e de valor informativo às elocuções de modo que só comunicam informações que se coadunam a esses padrões. Para explicar como o significado humorístico se processa na piada, nosso ponto de partida é o artigo Meaning, de Grice (1957). Ao diferenciar o significado natural (manchas vermelhas na pele indicam sarampo) do nãonatural, o autor caracteriza o segundo em termos da intenção do falante com o seguinte postulado: O falante quer dizer não naturalmente algo com x é (mais ou menos) equivalente a o falante tem a intenção de que o enunciado x produza algum efeito em um ouvinte pelo reconhecimento da sua intenção. (GRICE, 1957). Em Meaning, Grice distingue três tipos de significado não naturais: o significado da sentença, o significado da elocução e o significado do falante, que remete à intenção comunicativa que se deseja expressar. Nessa acepção, x significa algo equivale a o falante quer dizer não naturalmente algo com x. Embora o aporte teórico de Meaning parta da análise do significado do falante para o significado da sentença e da palavra, essa perspectiva carece de configurações lógico-semânticas mais gerais, pelo fato de que impõe a indução da crença do falante sobre o ouvinte. Contudo, essa configuração teórica, que reconhece a intenção do falante como elemento chave da interpretação do significado representa, em linhas gerais, os passos cruciais para a descrição de uma teoria pragmática da comunicação humana. Meaning, no entanto, não era suficientemente eficaz para o tratamento de questões mais complexas que envolvem a linguagem natural e foi objeto de muitas controvérsias, críticas e revisões por parte dos estudiosos da linguagem. Uma revisão bastante relevante aos filósofos da linguagem foi proposta por Strawson em 1964, e apresentada por Sperber e Wilson em 1986, conforme segue: [...] Para significar alguma coisa através de uma elocução x, um indivíduo deve ter a intenção de: a) a elocução x produzida por F produzir um certa resposta r num certo receptor R; b) a intenção (a) de F ser reconhecida por R; c) o reconhecimento por R da intenção (a) de F funcionar como parte, pelo menos, da razão de R dar a resposta r de R (SPERBER; WILSON, 1986, p ). Da releitura de Strawson, adaptando o conceito de receptor R para ouvinte O, podemos verificar que a proposta de Grice se imbrica em três subintenções: a) que o enunciado x produza uma resposta r no ouvinte O ; b) que O reconheça a intenção (a) do falante F ; c) que o reconhecimento de O da intenção (a) de F funcionar como, pelo menos, parte da razão de O dar a resposta r. 80
4 Partindo dessas premissas, Sperber e Wilson (1986) consideram que a comunicação humana pode (mas não necessariamente) ser bem sucedida se pelo menos as condições a e b anteriores forem satisfeitas. Os autores chamam a primeira de intenção informativa e a segunda de intenção comunicativa de um enunciado. Para Sperber e Wilson, o reconhecimento pelo ouvinte da intenção do falante é um empenho cognitivo vulgar, já que a atribuição de significado aos enunciados é uma propriedade da cognição e das interações inferenciais em um contexto. O contexto, por sua vez, é um construto mental formado por um subconjunto de suposições factuais (pensamentos) que os interlocutores têm do mundo, suposições essas que afetam a interpretação das elocuções, porque acrescentam algum conhecimento ao conjunto de contextos potenciais dos indivíduos. Santos (2013) conceitua o contexto conversacional como: [...] o ambiente abstrato, dinâmico, vivo, comum, mas não idêntico, a dois ou mais participantes de um intercâmbio conversacional, que de acordo com as contingências circunstanciais, orienta, restringe ou amplia a tomada de decisões dos interlocutores, enriquecendo ou saturando a linguagem humana com informações linguísticas e não linguísticas relevantes à produção e à interpretação de significados comunicados e inferidos conversacionalmente. (SANTOS, 2013, p ). Como o contexto utilizado na interpretação conversacional contém, geralmente, informações derivadas de contextos imediatamente anteriores, cada nova elocução exige um contexto diferente, embora se alimente das mesmas referências e das mesmas capacidades inferenciais de que se alimentaram as elocuções anteriores. A única maneira de se poder ter certeza de que na interação conversacional não ocorrerá nenhum equívoco de interpretação é garantir que o contexto mental do ouvinte fosse sempre idêntico ao visualizado pelo falante no momento do enunciado. No entanto: será que é possível ao falante e ao ouvinte distinguirem os pensamentos que partilham entre si daqueles que não partilham? Para que o ouvinte faça uma interpretação ótima do significado de um enunciado aquele que o falante tem a intenção manifesta de comunicar cada pormenor de informação contextual utilizada na comunicação tem de ser não só conhecido pelo falante, mas conhecido mutuamente pelo ouvinte. Contudo, na perspectiva relevantista, se uma pessoa não sabe se tem o conhecimento mútuo de algo com alguém, então não o tem. O conhecimento mútuo tem de ser sentido e reconhecido como certo, ou então não existe; e como nunca pode ser sentido e reconhecido como certo por ambos os interlocutores, o conhecimento mútuo entre indivíduos não existe. O que existe, devido à idiossincrasia dos interlocutores, são conhecimentos individuais sobre referentes, eventos ou estados de coisas comuns, e conhecimentos compartilhados, conceito amplamente aceito e divulgado por muitas teorias linguísticas. Mas o que é o significado em uma conversação? O paradigma geralmente aceito pelas teorias linguísticas tradicionais prediz que o significado é aquilo que se encontra explicitamente expresso em uma sentença. A comunicação verbal de um significado explícito é, então, tomada como modelo de comunicação geral. No entanto, essa espécie de comunicação explícita que se consegue por meio da utilização da linguagem verbal não é um caso típico, mas um caso limite, porque, se o significado for reduzido ao modelo linguístico apenas, dá origem a distorções teóricas e empíricas. Existe, por certo, na comunicação verbalizada uma codificação e uma decodificação linguística, mas o significado que o falante pretende intencionalmente comunicar fica aquém do código linguístico este é apenas uma parcela da evidência sobre as intenções do falante e auxilia o ouvinte a inferir o que o falante quer dizer. A concepção base que norteia a TR é que, em um conjunto de suposições (pensamentos), aquilo que é comunicado 81
5 por uma elocução (declarativa, por exemplo) é o significado explicitamente expresso por uma suposição. As outras, se houver, são comunicadas implicitamente, ou implicadas. Em um enunciado, o que diferencia o seu conteúdo explícito da implicatura é: enquanto o conteúdo explícito pode ser decodificado linguisticamente, a implicatura só pode ser inferida ostensivamente. No modelo ostensivo-inferencial relevantista proposto por Sperber e Wilson, portanto, a comunicação humorística da piada seria feita em dois processos: pela pessoa que comunica, ao fornecer evidências de suas intenções, e pelo ouvinte, ao inferir as intenções do falante a partir dessas evidências fornecidas. Em efeito, na interpretação da piada, a intenção do falante será sempre implicada, isto é, o ouvinte tem de inferi-la a partir das evidências apresentadas pelo falante precisamente para esse fim. 2 A piada prototípica Quando alguém ouve uma piada e ri dela não imagina que, no processo de interpretação, nem todas as suposições geradas pela mente alcançam o mesmo grau de relevância, posto que cognitivamente as suposições organizam-se em um continuum de maior a menor probabilidade. Como o Princípio Cognitivo de Relevância se assenta na hipótese de que o ouvinte tende a prestar atenção naquilo que mais lhe interessa, na interpretação da piada muitas informações só são tratadas num primeiro nível de processamento. Por conseguinte, se a atenção do ouvinte voltar-se para os inputs informativos com predisposição à maior relevância aqueles que causam maior efeito e requerem menor esforço de processamento a probabilidade de o ouvinte obter êxito na interpretação humorística é tanto maior quanto o grau de confiança que ele tem de julgar as suposições geradas, como prováveis ou possivelmente verdadeiras. Na perspectiva psicológica, a sequencialidade, a linearidade e o punchline da piada (sua guinada linguístico-cognitiva) evoluem sob a ordem de alguns elementos internos à narração, elementos que são responsáveis pelo concatenamento do material linguístico com as representações culturalmente construídas nas e pelas inferências e implicaturas dos interlocutores, tais como crenças, convenções, valores, comportamento, etc. Textualmente, no entanto, a estrutura da piada se organiza na relação conjunta de elementos linguísticos que subscrevem o texto narrativo, tais como personagens, tempo, tema, história, etc. Quais seriam, então, os elementos estruturais da narração humorística? Emediato (2004) descreve que a narrativa clássica o modelo narrativo tradicionalmente conhecido na linguística textual é estruturada por quatro estágios, a saber: A exposição, que desempenha um papel de introdução da narrativa, apresentando os personagens, caracterizando-os, envolvendo-os em uma ou outra ação, construindo relações entre eles. A complicação, que desenvolve as ações, envolvendo-as em conflitos, criando obstáculos para os personagens, estabelecendo contrastes e confrontos entre os diversos personagens. O clímax, que constitui essencialmente o ponto limite do conflito e da complicação, ponto que requer finalização e conclusão, ponto gerador de angústia e expectativa de desfecho. O desfecho, que justamente sinaliza o alívio para os personagens e para o leitor, momento de conclusão e finalização, propondo a moral da história sem a qual todo conjunto de ações narrativas perde fundamento e razão de ser (EMEDIATO, 2004, p. 153). Como a piada é um gênero textual muito antigo, manifesto essencialmente na oralidade com o intuito de subverter a ordem de um estado de mundo (SANTOS, 2014, p. 81), é de se pressupor que ela se coadune com a estrutura da narrativa clássica, tal como a descrita por Emediato. Vejamos como essa 82
6 ideia de organização narrativa ocorre na piada. Tomemos a piada a seguir como exemplo. Piada 1. Na sala de aula, a professora escorrega e leva o maior tombo. Na queda, seu vestido sobe até a cintura. Silêncio sepulcral. Ela levanta-se rapidamente e interroga os alunos: O que você viu quando eu caí? pergunta ela ao Pedrinho. Ah, eu vi seu joelho, professora. Você está uma semana suspenso! Pode sair. E você Juquinha, o que foi que viu quando eu caí? Ah professora, eu vi suas coxas. Um mês de suspensão para você. Pode sair. E você, Joãozinho, o que foi que viu quando eu caí? O menino recolhe seu material, põe todo na mala e diz: Bom, turma, até o ano que vem!!! Compulsoriamente, o esquema estrutural dessa piada é o seguinte: exposição: a narração ambientada na caracterização da sala de aula, a interação da professora com os alunos. complicação: conflito gerado pela queda e posição que a professora cai. clímax: interrogatório sequencial da professora aos alunos Pedrinho, Juquinha e, claro, ao Joãozinho, sobre a visão que tiveram dela no chão. desfecho: enunciado de despedida do Joãozinho que sintetiza que o que ele viu é, implicitamente, motivo de reprovação de ano. Vejamos outro exemplo: Piada 2. O dentista do hospício atende um interno que havia extraído um dente no dia anterior: E então, o seu dente parou de doer? Sei lá, o senhor ficou com ele! Então temos o seguinte esquema para a piada: exposição: a narração ambientada no hospício apresenta os personagens dentista e interno. complicação: a extração no dia anterior do dente do interno. clímax: questionamento do dentista sobre a dor de dente que, no dia anterior, sentia o interno. desfecho: enunciado do interno informando que ele não pode opinar sobre a dor do dente já que o dente não está mais com ele. Veja que a organização estrutural da narração apresentada por Emediato (2004) exige do texto clássico uma propriedade linguística invariável: a narração em terceira pessoa. Então, a piada como gênero narrativo, tal como proposto neste artigo, não permite experimentos narrativos pósmodernos, porque, nestes paradigmas textuais, interessa muito mais a elaboração cognitivo-emotiva da ação intersubjetiva inerente ao texto, ao nonsense, do que a dinamicidade, a linearidade e progressão sequencial da narração tradicional. Seria difícil, portanto, a análise piadística sob a ótica de um texto contemporâneo que explore a anarquia formal estilhaçamento da sintaxe em que não aparecem os elementos coesivos da narrativa tradicional. 83
7 De acordo com Gil (1998, p. 298), a piada também se caracteriza pela brevidade das ações e pela exigência de um refinado sentimento de economia de palavras, pois, sendo longa, concederia um maior espaço ao narrador, o que demandaria um gasto maior de tempo para descrever as ações e para contar o enredo, desviando, assim, a atenção do ouvinte. Além disso, a piada raramente dispensa o diálogo. No entanto, a sequência da trama, a evolução dos personagens, a ordem em que os fatos vão sendo narrados, a estruturação dos principais elementos da narrativa, ao progredirem linearmente, exigem que as ações inerentes à complicação dos confrontos e conflitos se repitam um certo número de vezes, de forma a conduzir o ouvinte a desempenhar um papel de co-autor no processamento das informações. Geralmente, mas não é regra, o procedimento mais tradicional aplicado à piada é a sequência se repetir por três vezes, condição que permite ao ouvinte recorrer às inferências indutivas, que servirão de premissas básicas ao sistema dedutivo-inferencial que trabalha com regras pragmáticas simples e complexas. Porém, o número de vezes que a sequência se repete, ainda que não seja obrigatório fixar-se em três, deve ser tal que não comprometa o processamento das regras dedutivo-inferenciais. 3 A intenção humorística Para Muniz (2004, p. 26), a intenção do narrador da piada é ludibriar o ouvinte, despistá-lo, brincar com os possíveis efeitos de significado que a narração pode suscitar, levando o ouvinte a construir várias interpretações para em seguida impedir-lhe algumas, até que, ao final, apenas um significado seja levado em conta e gere humor. Cognitivamente, no entanto, uma piada se diferencia de uma conversa espontânea pelo grau de imprevisibilidade do(s) significado(s) que a conversa improvisada possibilita em oposição ao grau de previsibilidade do(s) significado(s) da piada. O conceito conversa espontânea vem reforçar os conceitos relevantistas de intenção comunicativa e informativa do narrador (o contador) da piada sobre um texto elaborado com anterioridade o contador da piada já conhece de antemão a sequência narrativa da história, o comportamento psicológico dos personagens, a ação inerente a cada um deles, o deslocamento espaço-temporal da narração e o desfecho da história (YUS RAMOS, 1996, p. 502). Além disso, na conversa espontânea há um intercâmbio de informações novas e velhas entre os interlocutores, os quais, movidos por intenções comunicativas e informativas distintas, se alternam entre turnos conversacionais, na busca de uma harmonização do Princípio de Cooperação (GRICE, 1975) e de preservação de face muitas vezes conflituosa. Tanto na conversa espontânea quanto na piada, como o intercâmbio verbal ocorre sob muitos princípios, alguns linguísticos, outros cognitivos, outros socioculturais, o narrador e o ouvinte criam, reforçam ou recriam expectativas de significados que decorrem de processos de interpretação que podem ser, ou estar, mais ou menos salientes e/ou mais ou menos explícitos no texto. Enquanto na conversa espontânea a intenção, tanto do locutor quanto do interlocutor, depende da negociabilidade contextual do contrato comunicativo, na piada o contrato comunicativo é intencionalmente orientado, pela ostensão do narrador, para a criação de um efeito humorístico. Partindo dessa premissa, se retomarmos a ideia inicial de Grice sobre intenção e a aplicarmos à interpretação da piada, seguindo o modelo ampliado por Strawson (1964), teremos uma generalização tal que pode lançar alguma luz sobre a intenção humorística da piada. Consideremos que, na piada: a) o narrador N tem a intenção I de tornar manifesto x b) ao tornar manifesto x, N tenciona causar um efeito E no ambiente cognitivo do ouvinte O ; 84
8 c) o ouvinte O deve reconhecer a intenção I do narrador N ; d) o reconhecimento por O da intenção manifesta I de N funciona, pelo menos, como parte da razão de O interpretar x. Veja que os pressupostos da Teoria da Relevância se ajustam à interpretação da piada, uma vez que nesta o objetivo principal do narrador é causar intencionalmente uma modificação, não nos pensamentos do interlocutor, mas no seu ambiente cognitivo, mais especificamente em seu conhecimento de mundo. Como a intenção do contador da piada é fazer o ouvinte rir, ele (o narrador da piada) também gera expectativas de que o ouvinte entenda a piada. No entanto, os efeitos cognitivos reais de uma piada sobre o ambiente cognitivo do ouvinte o entendimento, a interpretação e o riso são previsíveis apenas em parte, haja vista o grande número de variáveis linguísticas e não linguísticas cognitivas e socioculturais que (inter) atuam cognitivamente no processo de interpretação humorístico humano. A precisão ou imprecisão da interpretação da piada também decorre, além dos fatores linguísticos e socioculturais, da capacidade cognitivo-dedutiva tanto do narrador quanto do ouvinte. Santos (2014) ressalta que a capacidade cognitiva do processamento humorístico é uma relação da capacidade de representação dos indivíduos, que está atrelada ao ambiente cognitivo e ao contexto. Em efeito, Sperber e Wilson consideram o contexto não como algo restrito ao ambiente físico do mundo real ou ao cotexto, mas às expectativas que se tornam acessíveis no processamento das informações, tais como hipóteses científicas, crenças culturais, valores e saberes dos interlocutores, ou seja, para a TR o contexto é um construto psicológico, um subconjunto de suposições do ouvinte sobre o mundo. Os autores propõem o termo am biente cognitivo, cujo conceito é um paralelo ao entorno espaço-temporal que acessamos pelos sentidos, ou seja, com o qual percebemos o mundo. O ambiente cognitivo, então, é um conjunto de representações mentais aceitas como verdadeiras, ou como provavelmente verdadeiras, e ao qual os indivíduos recorrem no instante do processamento de uma informação nova. No entanto, os próprios autores contestam essa hipótese, pois cada nova informação determina um novo contexto. Nesse caso, o discurso an terior serve de contexto para o enunciado que se está produzindo em deter minado momento, já que a implicação contextual é, pois, uma síntese da velha e da nova informação, que constituem premissas numa implicação sintética. (SANTOS, 2014, p. 87). Para entendermos como isso ocorre, vejamos a seguinte piada: Piada 3. Duas secretárias falam do executivo que acaba de entrar em sua sala: S1: Como ele se veste bem, não acha? S2: Sim... e rápido. Quanto à análise e explicação da piada, a partir dos elementos linguísticoestruturais, as teorias linguísticas tradicionais fornecem bons argumentos sobre os detalhes e possibilidades de interpretação. Quanto à intenção pragmática, tanto do narrador interno, ou do contador da piada, quanto do ouvinte, essa piada pode ser descrita basicamente como segue: a) o narrador N tem a intenção I de tornar manifesto x ; b) com isso, o narrador N tenciona causar um efeito E no ambiente cognitivo do ouvinte O de maneira que O interprete x ; c) para tanto, N cria expectativas de que O reconheça I e de que, ao reconhecer I, O interprete x ; d) por sua vez, O cria expectativas sobre a manifestabilidade da intenção I do narrador N sobre x ; e) O espera reconhecer/interpretar x. 85
9 Mas qual é a intenção informativa I de ambas as secretárias e o significado x na piada acima? Primeiramente, é preciso esclarecer que a narração dessa piada implica três níveis processuais de intenção: a) a do contador da piada, ao qual nominamos narrador externo que tenciona provocar o riso; b) a do ouvinte/leitor O, que busca entender e interpretála; c) e a do narrador e dos personagens internos à narrativa cuja ação/ reação determina cognitivamente a intenção do narrador externo, e em consequência o humor na piada. O esquema procedural sobre intenção que descrevemos acima se coaduna perfeitamente com a intenção do narrador externo da piada. O que falta explicar é como ocorre o processo dedutivoinferencial dos personagens internos à piada, isto é, como se processam as intenções informativas das duas secretárias. De acordo com nossa proposta, a intenção informativa I da secretária S1 era tornar manifesto, ou mais manifesto, para sua companheira de trabalho (S2) o significado x de que ela (S1) percebeu como o executivo se veste elegantemente. Pelo Princípio de Relevância, a intenção I implicada no enunciado da secretária S1 sobre o quão elegante se veste o executivo contém a suposição/significado x mais relevante que S2 deve inferir sem grandes problemas, isto é, a suposição que causa maior efeito e exige menor esforço mental de processamento de S2. Já a intenção informativa I que o narrador N tenciona tornar manifesta ao ouvinte O sobre e elocução da secretária S2 é construída sobre alguns elementos linguísticos e muitos fatores pragmáticos discursivo-contextuais tácitos à elocução que fecha a narrativa. O reconhecimento pelo ouvinte O da intenção I do narrador N sobre o significado x comunicado por S2 implica que, dentre um conjunto de suposições válidas geradas pelo final da narração, o sistema dedutivo-cognitivo do ouvinte O deve eleger a suposição que lhe parece mais relevante produzida pelo final da piada, ou seja, após ouvir a elocução final de S2, o ouvinte O deve inter- pretar a intenção informativa I comunicada por N sobre o significado x. Na perspectiva pragmática, a intenção informativa I contida na elocução final de S2 pode, então, ser explicada da seguinte maneira: além de concordar com S1 sobre o vestuário do executivo, S2 também já transou com ele. Todavia, ter transado com o executivo não é o significado x que S2 tem a intenção I de tornar manifesto a S1; ter transado com o executivo é apenas uma parte da intenção I de S2. A réplica de S2 à S1 fornece ao ouvinte O informações tácitas de que além de S2 ter transado com o executivo, a transa se deu ou no próprio local de trabalho (talvez no banheiro) ou em um lugar próximo ao local de trabalho, e que a transa fora bem rápida e que, quiçá devido à urgência dos afazeres laborais dos dois ou o receio de serem surpreendidos, o executivo teve que se vestir depressa. S2 fornece, portanto, evidências tácitas, tanto linguísticas quanto pragmáticas, de que, além de concordar com sua colega S1, ela (S2) admira a rapidez com que o executivo se veste após uma rapidinha. Esse é o significado x implicitado na intenção informativa I de N e comunicado na elocução final de S2, e é a esse x que o ouvinte deve chegar para rir da piada. Isso tudo é x. E tanto S1 quanto o ouvinte da piada devem reconhecer esse x porque, em tese, essa é a suposição mais relevante que o narrador N tenciona tornar manifesta ao ouvinte O, pois N acredita que esta é a suposição que causa maior efeito cognitivo e exige menor esforço de processamento no ouvinte O. É o que chamamos efeito contextual. O efeito contextual se produz quando um conhecimento existente é, de algum modo, modificado pela nova informação que é processada pelo sistema cognitivo. Essa modificação desemboca no fortalecimento, enfraquecimento ou abandono de suposições prévias do ouvinte. Em geral, quanto maior for o número de efeitos criados por uma suposição, maior é a relevância da informação processada. 86
10 Vejamos outro exemplo: Piada 4. O guarda faz sinal para o motorista parar, na rua. O motorista abaixa o vidro: O que houve seu guarda? Não sei se o senhor soube. Sequestraram nosso prefeito. Os sequestradores dizem que se não pagarmos o resgate, jogarão gasolina e o queimarão vivo. Estamos pedindo ajuda. O senhor contribuiria? Quanto estão dando em média? Ah, entre 5 e 10 litros. Feitas as devidas considerações sobre as intenções humorísticas de N, ao término da piada o mecanismo cognitivo de processamento do ouvinte O busca uma solução para resolver a aparente incongruência gerada pelo punchline; afinal de contas, do ponto psico-cognitivo-sociocultural, há uma incoerência entre a pergunta do motorista que carrega tacitamente a força de um ato ilocutório de predisposição em contribuir com a campanha e a resposta entre 5 e 10 litros do guarda de trânsito. De acordo com o Princípio de Relevância, para rir da piada o mecanismo dedutivo do ouvinte/leitor O deve selecionar, dentre algumas suposições relevantes, a mais relevante para o caso, tal que esta resolva o problema da aparente incoerência ontológica. Nesse plano, a interpretação da piada, e em consequência o riso, se caracteriza pelo reconhecimento x que o ouvinte O deve fazer do punchline. A implicação contextual gerada pelo punchline dessa piada, e à qual o ouvinte O deve chegar, é que, se depender do guarda e dos outros motoristas que já colaboraram com a campanha, o prefeito será queimado vivo. Isso é o x contido na intenção informativa I que o narrador N tenciona tornar manifesta ao ouvinte O. E o riso, como é gerado? De acordo com Balzano (2001, p. 78), cada vez que nos deparamos com uma situação incongruente ou experimentamos algo que não se enquadra às normas pré-estabelecidas do mundo, rimos dele. A incongruência tem a ver com a quebra da harmonia do estado de coisas do mundo. Nas piadas anteriores, é essa situação incongruente do estado de coisas que provoca o riso, pois viola as expectativas de um mundo intrinsecamente ordenado em que professoras não caem na sala de aula, secretárias não transam com executivos e não se queimam políticos vivos (ainda que alguns merecessem isso). Em resumo, a intenção I do narrador N e a interpretação x feita por O são produtos, além do conjunto de informações contextuais internas às piadas, da capacidade que os indivíduos têm de agregar à comunicação outras tantas informações que estão fora da narração da piada, tais como crenças, valores, convenções, tabus, atitudes, estereótipos, etc. que fazem parte do conhecimento sociocultural de cada indivíduo. A intenção informativa I de N é uma ostensão, a interpretação x de O é uma implicatura, um passo inferencial. Mas a relação entre humor e riso não é tão simples assim. Pode dar-se o caso em que o ouvinte elabore todo o trabalho cognitivo de interpretação da piada, mas o efeito não seja humorístico. Em Santos (2014, p ), encontramos a explicação de argumentos em favor do riso como resultado do alívio das tensões psicológicas geradas na mente do ouvinte no transcorrer da narração da piada. O punchline (final insólito) conduz o significado da piada a um sentimento de entretenimento prazeroso que o ouvinte externa no riso. O riso é, então, a reação física resultante do efeito de prazer do humor na piada. Casos em que o humor não é convertido em prazer pode ser explicado na seguinte piada. 87
11 Piada 5. O cara fazia xixi na cama toda noite. Já estava adulto e continuava a mijar na cama. Ele sonhava que vinha um anjo e perguntava: Você já fez xixi? E ele respondia: Não! Não dava outra, mijava na cama. Desolado resolveu procurar tratamento. Foi a um psicólogo e contou seu problema. O psicólogo aconselhou que ele devia enganar o anjo. Quando o anjo vier e te perguntar você já fez xixi? você responde já fiz e o teu problema fica resolvido. Ok? Certo. Naquela noite o cara se preparou para enganar o anjo do sonho. E lá veio o anjo com a pergunta: Você já fez xixi? E ele respondeu: Já! E o anjo: E cocô? Essa piada foi contada para três pessoas, sendo que duas delas caíram imediatamente na gargalhada e a outra ficou olhando fixamente o narrador sem esboçar qualquer reação humorística. O narrador inconformado com a falta de sensibilidade humorística da ouvinte interrogou-a se ela não havia gostado da piada ou se não a havia entendido, ao que a ouvinte respondeu que gostou e que havia sim entendido a piada. Mas o caso era que ela vivia com a mãe cadeirante que não tinha os movimentos nos membros e que ela sozinha dava banho na mãe duas vezes ao dia. O narrador pediu desculpas pelo equívoco e os três ficaram com a cara de tacho. Nesse caso, a ouvinte elaborou e percorreu todo o transcurso cognitivo de interpretação da piada explicado nos parágrafos anteriores. O fato de não ter rido é resultado do efeito humorístico (ou sua falta) que a piada lhe causou, uma vez que essa historieta não lhe pareceu humorística e sim representava uma evidência de sua vida cotidiana, o que não lhe causava entretenimento humorístico. Nesse caso, a piada perde a função de piada, sendo mentalmente avaliada como um discurso sério, em função de que o punchline contraria a expectativa que o ouvinte faz ao início da narração. Em efeito, o significado não é suficientemente relevante para o ouvinte avaliá-lo como capaz de provocar o efeito humorístico que esperava o narrador. Santos (2104, p. 185) ressalta que, nesse caso, a piada, como gênero textual, morre. Fechando as ideias Neste estudo, tomando como material de análise a piada prototípica, buscamos descrever como a linguagem humana veicula a intenção humorística. Demonstramos, ainda que rudimentarmente, que, em interações comunicativas humorísticas, a intenção, tanto de quem conta a piada quanto de quem a interpreta, faz parte do significado comunicado verbalmente e que não considerá-lo nos estudos de linguagem é insensibilizar-se com a própria interpretação comunicativa que subjaz à interação dos indivíduos social e coletivamente. As teorias linguísticas tradicionais por si só não dão conta de conceituar a intenção na comunicação. Como visto, interpretar, entender e mensurar a intenção humorística é uma tarefa que vai além dos estudos linguísticos tradicionais, haja vista que o conceito de intenção pertence a muitas disciplinas das ciências humanas, principalmente às relacionadas às abordagens cognitivas, tais como a pragmática, a psicologia, a filosofia da mente e a neurociência cognitiva. 88
12 Portanto, um estudo mais aprofundado não só da intenção, mas também dos desejos, das emoções e dos sentimentos, principalmente da parte de quem interpreta, é assunto que os estudos da linguagem, tais como a pragmática, a psicologia, a filosofia da mente e a neurociência cognitiva, podem explicar. YUS RAMOS, Francisco. La teoría de la relevancia y la estrategia humorística de la incongruencia-resolución. Revista Pragmalinguística. Nº 3-4, 1996, p Disponível em: < Pragmalinguistica.pdf>. Acesso em: ago Recebido em 05/10/2015. Aceito em 21/01/2016. Referências BALZANO, Silvia. El chiste y su relación con las formas de socialización. Revista de investigaciones folclóricas, Buenos Aires, v. 16, dic EMEDIATO, Wander. A fórmula do texto. Rio de Janeiro: Geração Editorial, GIL, Célia Maria Carcagnolo. Elementos essenciais da piada. In: ANTUNES, Letizia Zini (Org.). Estudos de literatura e linguística. Assis: Arte e Ciência, p GRICE, Herbert Paul. Meaning. Published in Philosophical Review, v. 66, p , St. John s College, Oxford. Disponível em: < section/grice57.pdf>. Acesso em: July Logic and conversation. In: COLE, Peter; MORGAN, Jerry (Ed.). Syntax and semantics. New York: Academic Press, Vol. 3, p MUNIZ, Kassandra da Silva. Piadas: conceituação, constituição e práticas: um estudo de um gênero. 2004, 159 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) Setor Instituto de Estudos Linguísticos, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SANTOS, Sebastião Lourenço. O enigma da piada: convergências teóricas e emergência pragmática. Ponta Grossa: Editora da UEPG, Contexto e contextualização: quando o significado acontece. Anais eletrônicos do VII Círculo de Estudos em Linguagem (CIEL). Ponta Grossa: SPERBER, Dan, WILSON, Deidre. Relevance: communication and cognition. Oxford: Blackwell, STRAWSON. Peter Frederik. Intention and convention in speech acts. In The Philosophical Review, v. 73, n. 4, p , Disponível em: < hinchman/www/strawson-intention&convention.pdf>. Acesso em: ago
COGNIÇÃO E RELEVÂNCIA: UMA ANÁLISE PRAGMÁTICA DA INERPRETAÇÃO INFERENCIAL DE ENUNCIADOS
 COGNIÇÃO E RELEVÂNCIA: UMA ANÁLISE PRAGMÁTICA DA INERPRETAÇÃO INFERENCIAL DE ENUNCIADOS Dr. Sebastião Lourenço dos Santos 1 sebastiao.santos@utp.br INTRODUÇÃO Dra. Elena Godoi 2 elenag@ufpr.br Tradicionalmente,
COGNIÇÃO E RELEVÂNCIA: UMA ANÁLISE PRAGMÁTICA DA INERPRETAÇÃO INFERENCIAL DE ENUNCIADOS Dr. Sebastião Lourenço dos Santos 1 sebastiao.santos@utp.br INTRODUÇÃO Dra. Elena Godoi 2 elenag@ufpr.br Tradicionalmente,
NOÇÕES DE PRAGMÁTICA. Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa II Prof. Dr. Paulo Roberto Gonçalves Segundo
 NOÇÕES DE PRAGMÁTICA Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa II Prof. Dr. Paulo Roberto Gonçalves Segundo 14.08-16.08.2017 Situando a Pragmática no seio das disciplinas da Linguística O aspecto pragmático
NOÇÕES DE PRAGMÁTICA Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa II Prof. Dr. Paulo Roberto Gonçalves Segundo 14.08-16.08.2017 Situando a Pragmática no seio das disciplinas da Linguística O aspecto pragmático
Grice: querer dizer. Projecto de Grice: explicar a significação em termos de intenções.
 Grice: querer dizer Referências: Grice, Paul, Meaning, in Studies in the Way of Words, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1989, pp 213-223. Schiffer, Stephen, Meaning, Oxford, Oxford University
Grice: querer dizer Referências: Grice, Paul, Meaning, in Studies in the Way of Words, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1989, pp 213-223. Schiffer, Stephen, Meaning, Oxford, Oxford University
NOÇÕES DE PRAGMÁTICA. Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa II Prof. Dr. Paulo Roberto Gonçalves Segundo
 NOÇÕES DE PRAGMÁTICA Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa II Prof. Dr. Paulo Roberto Gonçalves Segundo 17.08.2015 Situando a Pragmática no seio das disciplinas da Linguística O aspecto pragmático
NOÇÕES DE PRAGMÁTICA Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa II Prof. Dr. Paulo Roberto Gonçalves Segundo 17.08.2015 Situando a Pragmática no seio das disciplinas da Linguística O aspecto pragmático
O que é uma convenção? (Lewis) Uma regularidade R na acção ou na acção e na crença é uma convenção numa população P se e somente se:
 Convenções Referências Burge, Tyler, On knowledge and convention, The Philosophical Review, 84 (2), 1975, pp 249-255. Chomsky, Noam, Rules and Representations, Oxford, Blackwell, 1980. Davidson, Donald,
Convenções Referências Burge, Tyler, On knowledge and convention, The Philosophical Review, 84 (2), 1975, pp 249-255. Chomsky, Noam, Rules and Representations, Oxford, Blackwell, 1980. Davidson, Donald,
SIMPÓSIO: COGNIÇÃO: RELEVÂNCIA E METAS COORDENADOR FÁBIO JOSÉ RAUEN (UNISUL)
 COORDENADOR FÁBIO JOSÉ RAUEN (UNISUL) A teoria da relevância sustenta que estímulos serão mais relevantes quanto maiores forem os efeitos e menores os esforços cognitivos despendidos para processá-los.
COORDENADOR FÁBIO JOSÉ RAUEN (UNISUL) A teoria da relevância sustenta que estímulos serão mais relevantes quanto maiores forem os efeitos e menores os esforços cognitivos despendidos para processá-los.
INTERPRETAÇÃO DO HUMOR: ANÁLISE PRELIMINAR DE PIADA À LUZ DA TEORIA INFERENCIAL GRICEANA E DA TEORIA DA RELEVÂNCIA
 INTERPRETAÇÃO DO HUMOR: ANÁLISE PRELIMINAR DE PIADA À LUZ DA TEORIA INFERENCIAL GRICEANA E DA TEORIA DA RELEVÂNCIA NATHÁLIA LUIZ DE FREITAS JOSÉ LUIZ VILA REAL GONÇALVES Programa de Pós-Graduação em Letras:
INTERPRETAÇÃO DO HUMOR: ANÁLISE PRELIMINAR DE PIADA À LUZ DA TEORIA INFERENCIAL GRICEANA E DA TEORIA DA RELEVÂNCIA NATHÁLIA LUIZ DE FREITAS JOSÉ LUIZ VILA REAL GONÇALVES Programa de Pós-Graduação em Letras:
TEXTO E TEXTUALIDADE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
 TEXTO E TEXTUALIDADE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO O que é texto? TEXTO - escrito ou oral; O que as pessoas têm para dizer umas às outras não são palavras nem frases isoladas, são textos; TEXTO - dotada de unidade
TEXTO E TEXTUALIDADE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO O que é texto? TEXTO - escrito ou oral; O que as pessoas têm para dizer umas às outras não são palavras nem frases isoladas, são textos; TEXTO - dotada de unidade
Ficha de acompanhamento da aprendizagem
 Escola: Professor: Aluno: Legenda: Plenamente desenvolvido; Parcialmente desenvolvido; Pouco desenvolvido; Não trabalhado no bimestre. Oralidade 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. Participar das interações
Escola: Professor: Aluno: Legenda: Plenamente desenvolvido; Parcialmente desenvolvido; Pouco desenvolvido; Não trabalhado no bimestre. Oralidade 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. Participar das interações
POR QUE OS TEXTOS CHISTOSOS SÃO ENGRAÇADOS? ANÁLISE PRAGMÁTICO-COGNITIVA DA CONSTRUÇÃO DO HUMOR EM PIADAS
 POR QUE OS TEXTOS CHISTOSOS SÃO ENGRAÇADOS? ANÁLISE PRAGMÁTICO-COGNITIVA DA CONSTRUÇÃO DO HUMOR EM PIADAS Nathália Luiz de FREITAS 1 Resumo: Partindo de uma perspectiva pragmático-cognitiva informada pela
POR QUE OS TEXTOS CHISTOSOS SÃO ENGRAÇADOS? ANÁLISE PRAGMÁTICO-COGNITIVA DA CONSTRUÇÃO DO HUMOR EM PIADAS Nathália Luiz de FREITAS 1 Resumo: Partindo de uma perspectiva pragmático-cognitiva informada pela
H003 Compreender a importância de se sentir inserido na cultura escrita, possibilitando usufruir de seus benefícios.
 2ª Língua Portuguesa 5º Ano E.F. Objeto de Estudo Usos e funções: código oral e código escrito Usos e funções: código oral e código escrito Usos e funções: norma-padrão e variedades linguísticas. Usos
2ª Língua Portuguesa 5º Ano E.F. Objeto de Estudo Usos e funções: código oral e código escrito Usos e funções: código oral e código escrito Usos e funções: norma-padrão e variedades linguísticas. Usos
ELEME M NT N O T S O D A D A NA N R A RAT A I T V I A V Mariana Bandeira
 ELEMENTOS DA NARRATIVA Mariana Bandeira A narração é um relato centrado em uma sequência de fatos em que as personagens atuam (se movimentam) em um determinado espaço (ambiente) e em um determinado tempo.
ELEMENTOS DA NARRATIVA Mariana Bandeira A narração é um relato centrado em uma sequência de fatos em que as personagens atuam (se movimentam) em um determinado espaço (ambiente) e em um determinado tempo.
Considerações finais
 Considerações finais Ana Carolina Sperança-Criscuolo SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros SPERANÇA-CRISCUOLO, AC. Considerações finais. In: Funcionalismo e cognitismo na sintaxe do português: uma
Considerações finais Ana Carolina Sperança-Criscuolo SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros SPERANÇA-CRISCUOLO, AC. Considerações finais. In: Funcionalismo e cognitismo na sintaxe do português: uma
Cadernos do CNLF, Vol. XIII, Nº 04
 A TEORIA DA RELEVÂNCIA NO ESTUDO DE CARTUNS Lorena Santana Gonçalves (UFES) ls.goncalves@hotmail.com Maria da Penha Pereira Lins (UFES) penhalins@terra.com.br Delineando o objeto de estudo da Pragmática,
A TEORIA DA RELEVÂNCIA NO ESTUDO DE CARTUNS Lorena Santana Gonçalves (UFES) ls.goncalves@hotmail.com Maria da Penha Pereira Lins (UFES) penhalins@terra.com.br Delineando o objeto de estudo da Pragmática,
TEORIA DA RELEVÂNCIA: APROXIMAÇÕES ENTRE O PRINCÍPIO DE RELEVÂNCIA E A ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL
 TEORIA DA RELEVÂNCIA: APROXIMAÇÕES ENTRE O PRINCÍPIO DE RELEVÂNCIA E A ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL Felipe Freitag 1 SPERBER, D.; WILSON, D. (1986). La comunicación, La inferência y La relevância.
TEORIA DA RELEVÂNCIA: APROXIMAÇÕES ENTRE O PRINCÍPIO DE RELEVÂNCIA E A ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL Felipe Freitag 1 SPERBER, D.; WILSON, D. (1986). La comunicación, La inferência y La relevância.
GPPL - GRUPO DE PESQUISA EM PSICOLINGUÍSTICA. Instituição: USP Universidade de São Paulo
 GPPL - GRUPO DE PESQUISA EM PSICOLINGUÍSTICA Coordenador: Lélia Erbolato Melo Instituição: USP Universidade de São Paulo Pesquisadores: Lélia Erbolato Melo; Ana V. G. de Souza Pinto; Terezinha de Jesus
GPPL - GRUPO DE PESQUISA EM PSICOLINGUÍSTICA Coordenador: Lélia Erbolato Melo Instituição: USP Universidade de São Paulo Pesquisadores: Lélia Erbolato Melo; Ana V. G. de Souza Pinto; Terezinha de Jesus
Vamos além do significado da sentença (sua verdade ou falsidade, por exemplo).
 Grice: proferimentos guardam intenções. Vamos além do significado da sentença (sua verdade ou falsidade, por exemplo). Princípio de cooperação pacto entre falantes para inferir algo além da sentença; falantes
Grice: proferimentos guardam intenções. Vamos além do significado da sentença (sua verdade ou falsidade, por exemplo). Princípio de cooperação pacto entre falantes para inferir algo além da sentença; falantes
Narrativa e informação
 Narrativa e informação emissor = formulador da sintaxe da mensagem receptor = intérprete da semântica A recepção qualifica a comunicação. É por isso que o receptor tem papel fundamental no processo de
Narrativa e informação emissor = formulador da sintaxe da mensagem receptor = intérprete da semântica A recepção qualifica a comunicação. É por isso que o receptor tem papel fundamental no processo de
ELEMENTOS DE TEXTUALIDADE
 ELEMENTOS DE TEXTUALIDADE NOÇÃO DE TEXTO Texto ou discurso é uma ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão. Para ser considerada um texto, uma ocorrência linguística precisa ser percebida
ELEMENTOS DE TEXTUALIDADE NOÇÃO DE TEXTO Texto ou discurso é uma ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão. Para ser considerada um texto, uma ocorrência linguística precisa ser percebida
Aulas 21 à 24 TEXTO NARRATIVO
 Aulas 21 à 24 Prof. Sabrina Moraes TEXTO NARRATIVO Maioritariamente escrito em prosa, o texto narrativo é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de
Aulas 21 à 24 Prof. Sabrina Moraes TEXTO NARRATIVO Maioritariamente escrito em prosa, o texto narrativo é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de
COESÃO REFERENCIAL E SEQUENCIAL LEITURA E ARGUMENTAÇÃO TEXTO ARGUMENTATIVO
 AULA 4 COESÃO REFERENCIAL E SEQUENCIAL LEITURA E ARGUMENTAÇÃO TEXTO ARGUMENTATIVO Profa. Dra. Vera Vasilévski Comunicação Oral e Escrita UTFPR/Santa Helena Atividades da aula 3 Comente as afirmações a
AULA 4 COESÃO REFERENCIAL E SEQUENCIAL LEITURA E ARGUMENTAÇÃO TEXTO ARGUMENTATIVO Profa. Dra. Vera Vasilévski Comunicação Oral e Escrita UTFPR/Santa Helena Atividades da aula 3 Comente as afirmações a
IMPLICAÇÕES SEMÂNTICA AULA 02 SAULO SANTOS
 IMPLICAÇÕES SEMÂNTICA AULA 02 SAULO SANTOS PROGRAMA DA AULA 1. Semântica vs. Pragmática 2. Implicações 3. Acarretamento 4. Pressuposições 1. SEMÂNTICA VS. PRAGMÁTICA (1) Qual é o objeto de estudo da Semântica?
IMPLICAÇÕES SEMÂNTICA AULA 02 SAULO SANTOS PROGRAMA DA AULA 1. Semântica vs. Pragmática 2. Implicações 3. Acarretamento 4. Pressuposições 1. SEMÂNTICA VS. PRAGMÁTICA (1) Qual é o objeto de estudo da Semântica?
AULA 2. Texto e Textualização. Prof. Daniel Mazzaro Vilar de Almeida 2013/1º
 AULA 2 Texto e Textualização Prof. Daniel Mazzaro Vilar de Almeida 2013/1º daniel.almeida@unifal-mg.edu.br O QUE É TEXTO? Para Costa Val, texto = discurso. É uma ocorrência linguística falada ou escrita,
AULA 2 Texto e Textualização Prof. Daniel Mazzaro Vilar de Almeida 2013/1º daniel.almeida@unifal-mg.edu.br O QUE É TEXTO? Para Costa Val, texto = discurso. É uma ocorrência linguística falada ou escrita,
RELAÇÕES%DE%PRESSUPOSIÇÃO%E%ACARRETAMENTO%NA%COMPREENSÃO% DE%TEXTOS% PRESUPPOSITION%AND%ENTAILMENT%RELATIONS%IN%TEXT% COMPREHENSION%
 RELAÇÕESDEPRESSUPOSIÇÃOEACARRETAMENTONACOMPREENSÃO DETEXTOS PRESUPPOSITIONANDENTAILMENTRELATIONSINTEXT COMPREHENSION KarinaHufdosReis 1 RESUMO: Partindo das definições de pressuposição e acarretamento,
RELAÇÕESDEPRESSUPOSIÇÃOEACARRETAMENTONACOMPREENSÃO DETEXTOS PRESUPPOSITIONANDENTAILMENTRELATIONSINTEXT COMPREHENSION KarinaHufdosReis 1 RESUMO: Partindo das definições de pressuposição e acarretamento,
A AUTORIDADE DE PRIMEIRA PESSOA, NO TEMPO PRESENTE: A ESCUTA E A INTERPRETAÇÃO DA ESCUTA
 A AUTORIDADE DE PRIMEIRA PESSOA, NO TEMPO PRESENTE: A ESCUTA E A INTERPRETAÇÃO DA ESCUTA Mariluze Ferreira de Andrade e Silva Laboratório de Lógica e Epistemologia DFIME - UFSJ Resumo: Propomos investigar
A AUTORIDADE DE PRIMEIRA PESSOA, NO TEMPO PRESENTE: A ESCUTA E A INTERPRETAÇÃO DA ESCUTA Mariluze Ferreira de Andrade e Silva Laboratório de Lógica e Epistemologia DFIME - UFSJ Resumo: Propomos investigar
MATRIZ DE REFERÊNCIA LÍNGUA PORTUGUESA SADEAM 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 MATRIZ DE REFERÊNCIA LÍNGUA PORTUGUESA SADEAM 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMÍNIOS COMPETÊNCIAS DESCRITORES D01 Distinguir letras de outros sinais gráficos. Reconhecer as convenções da escrita. D02 Reconhecer
MATRIZ DE REFERÊNCIA LÍNGUA PORTUGUESA SADEAM 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMÍNIOS COMPETÊNCIAS DESCRITORES D01 Distinguir letras de outros sinais gráficos. Reconhecer as convenções da escrita. D02 Reconhecer
AULA 12: O PAR DIALÓGICO PERGUNTA-RESPOSTA
 AULA 12: O PAR DIALÓGICO PERGUNTA-RESPOSTA 1. Introdução Necessidade de descrição do par dialógico pergunta-resposta (P- R): elementos cruciais da interação humana Análise tipológica do par P-R quanto
AULA 12: O PAR DIALÓGICO PERGUNTA-RESPOSTA 1. Introdução Necessidade de descrição do par dialógico pergunta-resposta (P- R): elementos cruciais da interação humana Análise tipológica do par P-R quanto
Compreensão e Interpretação de Textos
 Língua Portuguesa Compreensão e Interpretação de Textos Texto Texto é um conjunto coerente de enunciados, os quais podem serem escritos ou orais. Trata-se de uma composição de signos codificada sob a forma
Língua Portuguesa Compreensão e Interpretação de Textos Texto Texto é um conjunto coerente de enunciados, os quais podem serem escritos ou orais. Trata-se de uma composição de signos codificada sob a forma
ANÁLISE DO SIGNIFICADO EM SENTENÇAS DO PORTUGUÊS NA PERSPECTIVA DOS TEÓRICOS DA INTENÇÃO COMUNICATIVA
 ANÁLISE DO SIGNIFICADO EM SENTENÇAS DO PORTUGUÊS NA PERSPECTIVA DOS TEÓRICOS DA INTENÇÃO COMUNICATIVA Welton Rodrigues Santos (IF Baiano/PUC-Minas) weltonsantos83@gmail.com RESUMO Uma das divergências
ANÁLISE DO SIGNIFICADO EM SENTENÇAS DO PORTUGUÊS NA PERSPECTIVA DOS TEÓRICOS DA INTENÇÃO COMUNICATIVA Welton Rodrigues Santos (IF Baiano/PUC-Minas) weltonsantos83@gmail.com RESUMO Uma das divergências
Sessão 5. Boa noite!
 Sessão 5 Boa noite! Aprendizagem Equilíbrio e desequilíbrio O estado ideal do organismo é o equilíbrio, e qualquer situação que rompa esse estado gera desequilíbrio. O desequilíbrio gera algum grau de
Sessão 5 Boa noite! Aprendizagem Equilíbrio e desequilíbrio O estado ideal do organismo é o equilíbrio, e qualquer situação que rompa esse estado gera desequilíbrio. O desequilíbrio gera algum grau de
UNICAMP II GÊNEROS DISCURSIVOS. CRÔNICA: Trata fatos do cotidiano cujo objetivo é despertar no leitor reflexão. CONTEÚDO:
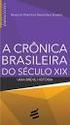 UNICAMP II GÊNEROS DISCURSIVOS CRÔNICA: Trata fatos do cotidiano cujo objetivo é despertar no leitor reflexão. CONTEÚDO: Temas cotidianos; Tom de realidade; Conteúdo subjetivo por não ser fiel à realidade.
UNICAMP II GÊNEROS DISCURSIVOS CRÔNICA: Trata fatos do cotidiano cujo objetivo é despertar no leitor reflexão. CONTEÚDO: Temas cotidianos; Tom de realidade; Conteúdo subjetivo por não ser fiel à realidade.
AULA 10: O TÓPICO DISCURSIVO
 AULA 10: O TÓPICO DISCURSIVO 1. Introdução: o tópico discursivo Tópico: aquilo acerca do que se está falando (cf. Brown & Yule, 1983) Não se confunde com as estruturas tópico/comentário, tema/rema o Os
AULA 10: O TÓPICO DISCURSIVO 1. Introdução: o tópico discursivo Tópico: aquilo acerca do que se está falando (cf. Brown & Yule, 1983) Não se confunde com as estruturas tópico/comentário, tema/rema o Os
Considerações finais
 Considerações finais Norma Barbosa Novaes Marques Erotilde Goreti Pezatti SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros MARQUES, NBN., and PEZATTI, EG. Considerações finais. In: A relação conclusiva na
Considerações finais Norma Barbosa Novaes Marques Erotilde Goreti Pezatti SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros MARQUES, NBN., and PEZATTI, EG. Considerações finais. In: A relação conclusiva na
Agrupamento de Escolas de Rio Tinto AERT E. B. 2, 3 de Rio Tinto
 Agrupamento de Escolas de Rio Tinto AERT E. B. 2, 3 de Rio Tinto CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS - 2º CICLO - 2018/2019 Os critérios de avaliação têm como documentos de referência o Programa de Português
Agrupamento de Escolas de Rio Tinto AERT E. B. 2, 3 de Rio Tinto CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS - 2º CICLO - 2018/2019 Os critérios de avaliação têm como documentos de referência o Programa de Português
A NARRAÇÃO. Profª. Fernanda Machado
 A NARRAÇÃO Profª. Fernanda Machado A NARRAÇÃO É UM MODO DE ORGANIZAÇÃO DE TEXTO CUJO CONTEÚDO ESTÁ VINCULADO, EM GERAL, ÀS AÇÕES OU ACONTECIMENTOS CONTADOS POR UM NARRADOR. PARA CONSTRUIR ESSE TIPO DE
A NARRAÇÃO Profª. Fernanda Machado A NARRAÇÃO É UM MODO DE ORGANIZAÇÃO DE TEXTO CUJO CONTEÚDO ESTÁ VINCULADO, EM GERAL, ÀS AÇÕES OU ACONTECIMENTOS CONTADOS POR UM NARRADOR. PARA CONSTRUIR ESSE TIPO DE
2º Módulo TEMA-PROBLEMA A COMUNICAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DO INDIVÍDUO
 2º Módulo TEMA-PROBLEMA A COMUNICAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DO INDIVÍDUO 1. A comunicação- O conceito 2. Comunicação e meio envolvente 2.1 Diferenças culturais 2.2 Diferenças psico-sociais 3. O processo de comunicação-características
2º Módulo TEMA-PROBLEMA A COMUNICAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DO INDIVÍDUO 1. A comunicação- O conceito 2. Comunicação e meio envolvente 2.1 Diferenças culturais 2.2 Diferenças psico-sociais 3. O processo de comunicação-características
FUNÇÃO SÓCIO-COMUNICATIVA DOS VERBOS A PARTIR DO ESTUDO DA METÁFORA TEMPORAL 1
 171 de 368 FUNÇÃO SÓCIO-COMUNICATIVA DOS VERBOS A PARTIR DO ESTUDO DA METÁFORA TEMPORAL 1 Aline Maria dos Santos * (UESC) Maria D Ajuda Alomba Ribeiro ** (UESC) RESUMO essa pesquisa tem por objetivo analisar
171 de 368 FUNÇÃO SÓCIO-COMUNICATIVA DOS VERBOS A PARTIR DO ESTUDO DA METÁFORA TEMPORAL 1 Aline Maria dos Santos * (UESC) Maria D Ajuda Alomba Ribeiro ** (UESC) RESUMO essa pesquisa tem por objetivo analisar
OPERADORES MODAIS (NA INTERFACE LÓGICA E LINGUAGEM NATURAL)
 OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
ESTRUTURA DO TEXTO NARRATIVO. Prof.ª Nivania Alves
 ESTRUTURA DO TEXTO NARRATIVO Prof.ª Nivania Alves A narração é um modo de organização de texto cujo conteúdo está vinculado, em geral, às ações ou acontecimentos contados por um narrador. Para construir
ESTRUTURA DO TEXTO NARRATIVO Prof.ª Nivania Alves A narração é um modo de organização de texto cujo conteúdo está vinculado, em geral, às ações ou acontecimentos contados por um narrador. Para construir
A LITERATURA COMO PRODUÇÃO DE SENTIDOS: UMA ANÁLISE DO CONTO FITA VERDE NO CABELO: NOVA VELHA ESTÓRIA DE GUIMARÃES ROSA
 A LITERATURA COMO PRODUÇÃO DE SENTIDOS: UMA ANÁLISE DO CONTO FITA VERDE NO CABELO: NOVA VELHA ESTÓRIA DE GUIMARÃES ROSA Autor: Iêda Francisca Lima de Farias (1); Orientador: Wellington Medeiros de Araújo
A LITERATURA COMO PRODUÇÃO DE SENTIDOS: UMA ANÁLISE DO CONTO FITA VERDE NO CABELO: NOVA VELHA ESTÓRIA DE GUIMARÃES ROSA Autor: Iêda Francisca Lima de Farias (1); Orientador: Wellington Medeiros de Araújo
O HUMOR DAS PIADAS Profa. Vera Lúcia Winter. Agosto de 2018
 O HUMOR DAS PIADAS Profa. Vera Lúcia Winter Agosto de 2018 AS PIADAS (anedotas ou chistes): são textos populares curtos, com desfecho que surpreende o leitor/ouvinte; em geral apresentam personagens que
O HUMOR DAS PIADAS Profa. Vera Lúcia Winter Agosto de 2018 AS PIADAS (anedotas ou chistes): são textos populares curtos, com desfecho que surpreende o leitor/ouvinte; em geral apresentam personagens que
5 Conclusão. 1 DASCAL, Marcelo. Interpretação e Compreensão. p.33.
 5 Conclusão Assumindo como pressuposto que os métodos de interpretação jurídica são insuficientes para conferir a objetividade e a segurança necessárias à atividade interpretativa, buscou-se, num estudo
5 Conclusão Assumindo como pressuposto que os métodos de interpretação jurídica são insuficientes para conferir a objetividade e a segurança necessárias à atividade interpretativa, buscou-se, num estudo
A ORGANIZAÇÃO DOS DESCRITORES NA PROVINHA BRASIL
 00604 Resumo A ORGANIZAÇÃO DOS DESCRITORES NA PROVINHA BRASIL Célia Aparecida Bettiol Arliete Socorro Da Silva Neves O presente texto faz parte de um trabalho em andamento e se constitui em pesquisa documental,
00604 Resumo A ORGANIZAÇÃO DOS DESCRITORES NA PROVINHA BRASIL Célia Aparecida Bettiol Arliete Socorro Da Silva Neves O presente texto faz parte de um trabalho em andamento e se constitui em pesquisa documental,
Linguagem não é só comunicação / Sírio Possenti. Caro Professor:
 1 Caro Professor: Essas atividades pós-exibição são a quinta e a sexta, de um conjunto de 7 propostas, que têm por base o primeiro episódio do programa de áudio Quem ri seus males espanta. As atividades
1 Caro Professor: Essas atividades pós-exibição são a quinta e a sexta, de um conjunto de 7 propostas, que têm por base o primeiro episódio do programa de áudio Quem ri seus males espanta. As atividades
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COORDENADORIA DE CONCURSOS CCV
 Língua Portuguesa I Questão 01 A questão 01 é de compreensão leitora. Nela, solicita-se que o candidato assinale a alternativa que apresenta afirmação depreendida da leitura do texto quanto a por que vale
Língua Portuguesa I Questão 01 A questão 01 é de compreensão leitora. Nela, solicita-se que o candidato assinale a alternativa que apresenta afirmação depreendida da leitura do texto quanto a por que vale
A RELAÇÃO ENTRE ATOS DE FALA E PROSÓDIA
 247 de 665 A RELAÇÃO ENTRE ATOS DE FALA E PROSÓDIA Polliana Teixeira Alves (UESB) Vera Pacheco (UESB) Alcione Santos (UESB) RESUMO Nas mais variadas situações de comunicação, nas quais se realizam os atos
247 de 665 A RELAÇÃO ENTRE ATOS DE FALA E PROSÓDIA Polliana Teixeira Alves (UESB) Vera Pacheco (UESB) Alcione Santos (UESB) RESUMO Nas mais variadas situações de comunicação, nas quais se realizam os atos
Você conhece a sua bíblia?
 Você conhece a sua bíblia? RECORDANDO... Um breve tratado sobre as Escrituras - 66 livros: 39 AT + 27 NT - Ela é a revelação de Deus - Autores diferentes mas uma mesma mente formadora Interpretando a Bíblia
Você conhece a sua bíblia? RECORDANDO... Um breve tratado sobre as Escrituras - 66 livros: 39 AT + 27 NT - Ela é a revelação de Deus - Autores diferentes mas uma mesma mente formadora Interpretando a Bíblia
Ficha de acompanhamento da aprendizagem
 Escola: Professor: Aluno: Legenda: Plenamente desenvolvido; Parcialmente desenvolvido; Pouco desenvolvido; Não trabalhado no bimestre. Oralidade 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. Participar das interações
Escola: Professor: Aluno: Legenda: Plenamente desenvolvido; Parcialmente desenvolvido; Pouco desenvolvido; Não trabalhado no bimestre. Oralidade 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. Participar das interações
A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM E DE INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL
 A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM E DE INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL GONÇALVES, Raquel Pereira Universidade Estadual de Goiás, Câmpus de Iporá raquelpg.letras@gmail.com MOURA,
A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM E DE INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL GONÇALVES, Raquel Pereira Universidade Estadual de Goiás, Câmpus de Iporá raquelpg.letras@gmail.com MOURA,
É com a mente que pensamos: pensar é ter uma mente que funciona e o pensamento exprime, precisamente, o funcionamento total da mente.
 A mente, sistema de construção do mundo A mente recolhe informações do ambiente e com elas cria representações. A representação não copia a informação interpreta-a. A informação em si não possui qualquer
A mente, sistema de construção do mundo A mente recolhe informações do ambiente e com elas cria representações. A representação não copia a informação interpreta-a. A informação em si não possui qualquer
INTRODUÇÃO À ANÁLISE DO(S)/DE DISCURSO(S) UNEB Teorias do signo Lidiane Pinheiro
 INTRODUÇÃO À ANÁLISE DO(S)/DE DISCURSO(S) UNEB Teorias do signo Lidiane Pinheiro PARA ALÉM DA FRASE Ex.: Aluga-se quartos FRASE mensagem significado TEXTO/ discurso sentido ENUNCIADO Traços de condições
INTRODUÇÃO À ANÁLISE DO(S)/DE DISCURSO(S) UNEB Teorias do signo Lidiane Pinheiro PARA ALÉM DA FRASE Ex.: Aluga-se quartos FRASE mensagem significado TEXTO/ discurso sentido ENUNCIADO Traços de condições
ORDENAÇÃO DOS ADVÉRBIOS MODALIZADORES EM ENTREVISTAS VEICULADAS PELA REVISTA VEJA
 73 de 119 ORDENAÇÃO DOS ADVÉRBIOS MODALIZADORES EM ENTREVISTAS VEICULADAS PELA REVISTA VEJA Marivone Borges de Araújo Batista* (UESB) (UESC) Gessilene Silveira Kanthack** (UESC) RESUMO: Partindo da análise
73 de 119 ORDENAÇÃO DOS ADVÉRBIOS MODALIZADORES EM ENTREVISTAS VEICULADAS PELA REVISTA VEJA Marivone Borges de Araújo Batista* (UESB) (UESC) Gessilene Silveira Kanthack** (UESC) RESUMO: Partindo da análise
Descrição da Escala Língua Portuguesa - 5 o ano EF
 Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental < 125 identificam o sentido de expressão típica da fala coloquial utilizada em segmento de história em quadrinhos; e o local em que se desenrola o enredo, em anedota.
Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental < 125 identificam o sentido de expressão típica da fala coloquial utilizada em segmento de história em quadrinhos; e o local em que se desenrola o enredo, em anedota.
ENSINO- APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
 A PRAGMÁTICA COGNITIVA NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA COGNITIVE PRAGMATICS IN THE PROCESS OF TEACHING- LEARNING A FOREIGN LANGUAGE Marina Xavier Ferreira 1 Sebastião Lourenço
A PRAGMÁTICA COGNITIVA NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA COGNITIVE PRAGMATICS IN THE PROCESS OF TEACHING- LEARNING A FOREIGN LANGUAGE Marina Xavier Ferreira 1 Sebastião Lourenço
AS FORMAS BÁSICAS DE COMPOSIÇÃO DO TEXTO
 AS FORMAS BÁSICAS DE COMPOSIÇÃO DO TEXTO O texto pode ser: Argumentativo Dissertativo Descritivo narrativo Argumentativo Tipo de texto em que se sobressai a preocupação do autor em persuadir e convencer
AS FORMAS BÁSICAS DE COMPOSIÇÃO DO TEXTO O texto pode ser: Argumentativo Dissertativo Descritivo narrativo Argumentativo Tipo de texto em que se sobressai a preocupação do autor em persuadir e convencer
texto narrativo ação espaço tempo personagens narrador. narração descrição diálogo monólogo
 Português 2014/2015 O texto narrativo conta acontecimentos ou experiências conhecidas ou imaginadas. Contar uma história, ou seja, construir uma narrativa, implica uma ação, desenvolvida num determinado
Português 2014/2015 O texto narrativo conta acontecimentos ou experiências conhecidas ou imaginadas. Contar uma história, ou seja, construir uma narrativa, implica uma ação, desenvolvida num determinado
3º ANO 4º ANO PRODUÇÃO TEXTUAL 4. BIMESTRE / 2018 PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL
 AUERBACH, Patrícia. Direitos do pequeno leitor. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007 PRODUÇÃO TEXTUAL 4. BIMESTRE / 2018 3º ANO Durante este ano, aconteceram muitas coisas com você. Escreva uma história
AUERBACH, Patrícia. Direitos do pequeno leitor. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007 PRODUÇÃO TEXTUAL 4. BIMESTRE / 2018 3º ANO Durante este ano, aconteceram muitas coisas com você. Escreva uma história
Sistemas Baseados em Conhecimento
 Sistemas Baseados em Conhecimento Profa. Josiane M. P. Ferreira Baseado no capítulo 2 do livro Sistemas Inteligentes Fundamentos de Aplicações, organizadção: Solange Oliveira Rezende, ed. Manole, 2005.
Sistemas Baseados em Conhecimento Profa. Josiane M. P. Ferreira Baseado no capítulo 2 do livro Sistemas Inteligentes Fundamentos de Aplicações, organizadção: Solange Oliveira Rezende, ed. Manole, 2005.
LEMINSKI, COM BASE NA ESCALA FOCAL DE SPERBER E WILSON
 ANÁLISE DO POEMA O BARRO,, DE PAULO LEMINSKI, COM BASE NA ESCALA FOCAL DE SPERBER E WILSON Fábio José Rauen 1 Ana Sueli Ribeiro Vandresen 2 RESUMO: Etapa de um estudo de caso que analisou os processos
ANÁLISE DO POEMA O BARRO,, DE PAULO LEMINSKI, COM BASE NA ESCALA FOCAL DE SPERBER E WILSON Fábio José Rauen 1 Ana Sueli Ribeiro Vandresen 2 RESUMO: Etapa de um estudo de caso que analisou os processos
Semiótica aplicada ao projeto de design
 Semiótica aplicada ao projeto de design A ocorrência de um produto é resultante e expressão de um cenário político, econômico, social e cultural, dentro das dimensões histórica e geográfica. O produto
Semiótica aplicada ao projeto de design A ocorrência de um produto é resultante e expressão de um cenário político, econômico, social e cultural, dentro das dimensões histórica e geográfica. O produto
PERSPECTIVAS PARA O PLANEJAMENTO DE ESCRITA Autor1: Jeyza Andrade de Medeiros. Modalidade: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
 PERSPECTIVAS PARA O PLANEJAMENTO DE ESCRITA Autor1: Jeyza Andrade de Medeiros Modalidade: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA RESUMO Neste trabalho, temos por tema o estudo do planejamento de escrita e estabelecemos
PERSPECTIVAS PARA O PLANEJAMENTO DE ESCRITA Autor1: Jeyza Andrade de Medeiros Modalidade: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA RESUMO Neste trabalho, temos por tema o estudo do planejamento de escrita e estabelecemos
Expectativas de Aprendizagem dos Cursos oferecidos pelo INCO
 Level 1 Ao final do Nível 1, você será capaz de: Usar linguagem de sala de aula Apresentar-se em diferentes registros Formular e responder perguntas de forma simples Compreender e usar expressões do dia-a-dia
Level 1 Ao final do Nível 1, você será capaz de: Usar linguagem de sala de aula Apresentar-se em diferentes registros Formular e responder perguntas de forma simples Compreender e usar expressões do dia-a-dia
Inteligência Lingüística:
 Inteligência Lingüística: Capacidade de lidar bem com a linguagem, tanto na expressão verbal quanto escrita. A linguagem é considerada um exemplo preeminente da inteligência humana. Seja pra escrever ou
Inteligência Lingüística: Capacidade de lidar bem com a linguagem, tanto na expressão verbal quanto escrita. A linguagem é considerada um exemplo preeminente da inteligência humana. Seja pra escrever ou
Informação-Prova de Equivalência à Frequência
 Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães Chaves Informação-Prova de Equivalência à Frequência Exame de Equivalência à Frequência Espanhol LE II Prova 15 2017 3.º Ciclo do Ensino Básico I Introdução O
Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães Chaves Informação-Prova de Equivalência à Frequência Exame de Equivalência à Frequência Espanhol LE II Prova 15 2017 3.º Ciclo do Ensino Básico I Introdução O
1. FRASE E ENUNCIADO NA SEMÂNTICA ARGUMENTATIVA
 O OPERADOR ARGUMENTATIVO MAS NO ENUNCIADO A VIDA É BONITA MAS PODE SER LINDA Israela Geraldo Viana 1 (PG-UESB) israelaviana@gmail.com Jorge Viana Santos 2 (UESB) viana.jorge.viana@gmail.com INTRODUÇÃO
O OPERADOR ARGUMENTATIVO MAS NO ENUNCIADO A VIDA É BONITA MAS PODE SER LINDA Israela Geraldo Viana 1 (PG-UESB) israelaviana@gmail.com Jorge Viana Santos 2 (UESB) viana.jorge.viana@gmail.com INTRODUÇÃO
VYGOTSKY Teoria sócio-cultural. Manuel Muñoz IMIH
 VYGOTSKY Teoria sócio-cultural Manuel Muñoz IMIH BIOGRAFIA Nome completo: Lev Semynovich Vygotsky Origem judaica, nasceu em 5.11.1896 em Orsha (Bielo- Rússia). Faleceu em 11.6.1934, aos 37 anos, devido
VYGOTSKY Teoria sócio-cultural Manuel Muñoz IMIH BIOGRAFIA Nome completo: Lev Semynovich Vygotsky Origem judaica, nasceu em 5.11.1896 em Orsha (Bielo- Rússia). Faleceu em 11.6.1934, aos 37 anos, devido
Uma abordagem pragmática para a análise e interpretação da piada
 Uma abordagem pragmática para a análise e interpretação da piada Dra Elena Godoi (UFPR, email: elenag@ufpr.br) MS Sebastião Lourenço dos Santos (PG/UFPR, email: sebastiao.santos@utp.br) Resumo: O objetivo
Uma abordagem pragmática para a análise e interpretação da piada Dra Elena Godoi (UFPR, email: elenag@ufpr.br) MS Sebastião Lourenço dos Santos (PG/UFPR, email: sebastiao.santos@utp.br) Resumo: O objetivo
Descrição da Escala Língua Portuguesa - 7 o ano EF
 Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 150 identificam a finalidade de produção do texto, com auxílio de elementos não verbais e das informações explícitas presentes em seu título, em cartaz de propaganda
Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 150 identificam a finalidade de produção do texto, com auxílio de elementos não verbais e das informações explícitas presentes em seu título, em cartaz de propaganda
AULA 1: A DICOTOMIA LÍNGUA FALADA / LÍNGUA ESCRITA
 AULA 1: A DICOTOMIA LÍNGUA FALADA / LÍNGUA ESCRITA 1. Ilari & Basso (2009) Variação diamésica: variação da língua associada aos diferentes meios ou veículos 1 Língua falada e língua escrita Há diferença?
AULA 1: A DICOTOMIA LÍNGUA FALADA / LÍNGUA ESCRITA 1. Ilari & Basso (2009) Variação diamésica: variação da língua associada aos diferentes meios ou veículos 1 Língua falada e língua escrita Há diferença?
Tema: Conceitos Fundamentais
 SINTAXE DO PORTUGUÊS I AULAS 2/3-2015 Tema: Conceitos Fundamentais Profa. Dra. Márcia Santos Duarte de Oliveira FFFLCH-DLCV/ USP marcia.oliveira@usp.br A Cognição Kenedy, Eduardo. 2013. Curso Básico de
SINTAXE DO PORTUGUÊS I AULAS 2/3-2015 Tema: Conceitos Fundamentais Profa. Dra. Márcia Santos Duarte de Oliveira FFFLCH-DLCV/ USP marcia.oliveira@usp.br A Cognição Kenedy, Eduardo. 2013. Curso Básico de
O QUE É A LINGÜÍSTICA TEXTUAL
 O QUE É A LINGÜÍSTICA TEXTUAL O estudo da coesão textual tem sido predominantemente desenvolvido dentro do ramo da Lingüística a que se denomina Lingüística do Texto. Cabe, assim, inicialmente, dizer algumas
O QUE É A LINGÜÍSTICA TEXTUAL O estudo da coesão textual tem sido predominantemente desenvolvido dentro do ramo da Lingüística a que se denomina Lingüística do Texto. Cabe, assim, inicialmente, dizer algumas
ACARRETAMENTO PRESSUPOSIÇÃO IMPLICATURA
 Inferências ACARRETAMENTO PRESSUPOSIÇÃO IMPLICATURA 1 Acarretamento Hiponímia e hiperonímia (1) Ronia é a gata da Susan. I. Susan tem um felino. II. Susan tem um animal. III. Susan tem um ser vivo em casa.
Inferências ACARRETAMENTO PRESSUPOSIÇÃO IMPLICATURA 1 Acarretamento Hiponímia e hiperonímia (1) Ronia é a gata da Susan. I. Susan tem um felino. II. Susan tem um animal. III. Susan tem um ser vivo em casa.
Descrição da Escala Língua Portuguesa - 7 o ano EF
 Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 150 identificam a finalidade de produção do texto, com auxílio de elementos não verbais e das informações explícitas presentes em seu título, em cartaz de propaganda
Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 150 identificam a finalidade de produção do texto, com auxílio de elementos não verbais e das informações explícitas presentes em seu título, em cartaz de propaganda
MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009 EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento) I. Dominar
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009 EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento) I. Dominar
A origem do conto está na transmissão oral dos fatos, no ato de contar histórias, que antecede a escrita e nos remete a tempos remotos.
 CONTOS A ORIGEM DO CONTO A origem do conto está na transmissão oral dos fatos, no ato de contar histórias, que antecede a escrita e nos remete a tempos remotos. O ato de narrar um acontecimento oralmente
CONTOS A ORIGEM DO CONTO A origem do conto está na transmissão oral dos fatos, no ato de contar histórias, que antecede a escrita e nos remete a tempos remotos. O ato de narrar um acontecimento oralmente
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS - INEP DIRETORIA DE AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS - INEP DIRETORIA DE AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS - INEP DIRETORIA DE AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e
ANÁLISE DE UMA PIADACONFORME A TEORIA DA RELEVÂNCIA
 ANÁLISE DE UMA PIADACONFORME A TEORIA DA RELEVÂNCIA Leila Minatti Andrade RESUMO: O presente artigo aplica os conceitos da Teoria da Relevância de Sperber e Wilson (1986, 1995) em consonância com as concepções
ANÁLISE DE UMA PIADACONFORME A TEORIA DA RELEVÂNCIA Leila Minatti Andrade RESUMO: O presente artigo aplica os conceitos da Teoria da Relevância de Sperber e Wilson (1986, 1995) em consonância com as concepções
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5. * Consegue compreender aquilo que ouve.
 PORTUGUÊS 3º CICLO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO COMPREENSÃO DO ORAL Compreensão de formas complexas do oral, exigidas para o prosseguimento de estudos e para a entrada na vida profissional. * Capacidade de extrair
PORTUGUÊS 3º CICLO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO COMPREENSÃO DO ORAL Compreensão de formas complexas do oral, exigidas para o prosseguimento de estudos e para a entrada na vida profissional. * Capacidade de extrair
Descrição da Escala Língua Portuguesa - 5 o ano EF
 Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental < 125 identificam o sentido de expressão típica da fala coloquial utilizada em segmento de história em quadrinhos; e o local em que se desenrola o enredo, em anedota.
Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental < 125 identificam o sentido de expressão típica da fala coloquial utilizada em segmento de história em quadrinhos; e o local em que se desenrola o enredo, em anedota.
aula LEITURA: Um pouco de história: o ensino de leitura - ontem e hoje UM CONCEITO POLISSÊMICO
 Um pouco de história: o ensino de leitura - ontem e hoje LEITURA: UM CONCEITO POLISSÊMICO 14 aula META Apresentar concepções de leitura; discutir as condições de legibilidade dos textos; mostrar a distinção
Um pouco de história: o ensino de leitura - ontem e hoje LEITURA: UM CONCEITO POLISSÊMICO 14 aula META Apresentar concepções de leitura; discutir as condições de legibilidade dos textos; mostrar a distinção
CELM. Linguagem, discurso e texto. Professora Corina de Sá Leitão Amorim. Natal, 29 de janeiro de 2010
 CELM Linguagem, discurso e texto Professora Corina de Sá Leitão Amorim Natal, 29 de janeiro de 2010 A LINGUAGEM Você já deve ter percebido que a linguagem está presente em todas as atividades do nosso
CELM Linguagem, discurso e texto Professora Corina de Sá Leitão Amorim Natal, 29 de janeiro de 2010 A LINGUAGEM Você já deve ter percebido que a linguagem está presente em todas as atividades do nosso
SISTEMA ANGLO DE ENSINO. Tipo D4-08/2010 G A B A R I T O
 Prova Anglo P-01 Tipo D4-08/2010 G A B A R I T O 01. D 07. A 13. D 19. C 02. B 08. B 14. A 20. D 03. C 09. C 15. B 21. A 04. A 10. A 16. D 22. C 05. C 11. D 17. B 00 06. B 12. B 18. D DESCRITORES, RESOLUÇÕES
Prova Anglo P-01 Tipo D4-08/2010 G A B A R I T O 01. D 07. A 13. D 19. C 02. B 08. B 14. A 20. D 03. C 09. C 15. B 21. A 04. A 10. A 16. D 22. C 05. C 11. D 17. B 00 06. B 12. B 18. D DESCRITORES, RESOLUÇÕES
Serão avaliados: identificação das atividades (títulos e subtítulos), letra legível, paragrafação, consistência e clareza nas respostas.
 Nome: Ano: 6 ANO Disciplina: P. textos Nº: Data: Professor: Valdeci Lopes 1. Organizar registros do caderno ( trazer o caderno para visto) Dica: como referencia para a proposta 1 - procure um amigo da
Nome: Ano: 6 ANO Disciplina: P. textos Nº: Data: Professor: Valdeci Lopes 1. Organizar registros do caderno ( trazer o caderno para visto) Dica: como referencia para a proposta 1 - procure um amigo da
UFPR - 2ª FASE - REDAÇÃO - CURCEP PROFª ANDRÉA ZELAQUETT GÊNEROS TEXTUAIS MAIS COBRADOS
 UFPR - 2ª FASE - REDAÇÃO - CURCEP PROFª ANDRÉA ZELAQUETT GÊNEROS TEXTUAIS MAIS COBRADOS 1 - RESUMO Resumir as informações mais importantes de um texto com suas palavras, sem copiar e sem acrescentar novas
UFPR - 2ª FASE - REDAÇÃO - CURCEP PROFª ANDRÉA ZELAQUETT GÊNEROS TEXTUAIS MAIS COBRADOS 1 - RESUMO Resumir as informações mais importantes de um texto com suas palavras, sem copiar e sem acrescentar novas
3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 17/2016, de 4 de abril)
 INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA INGLÊS Nível 5 2016 Prova 21 / 2016 1ª e 2ª Fase 3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 17/2016, de 4 de abril) O presente documento divulga informação
INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA INGLÊS Nível 5 2016 Prova 21 / 2016 1ª e 2ª Fase 3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 17/2016, de 4 de abril) O presente documento divulga informação
Ficha de acompanhamento da aprendizagem
 Escola: Professor: Aluno: Legenda: Plenamente desenvolvido; Parcialmente desenvolvido; Pouco desenvolvido; Não trabalhado no bimestre. Oralidade 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. Identificar gêneros textuais
Escola: Professor: Aluno: Legenda: Plenamente desenvolvido; Parcialmente desenvolvido; Pouco desenvolvido; Não trabalhado no bimestre. Oralidade 1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim. Identificar gêneros textuais
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO EVANGE GUALBERTO
 Plano de Aula INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO EVANGE GUALBERTO PLANO DE AULA: ALFABETIZANDO E LETRANDO ATRAVÉS DE CONTOS
Plano de Aula INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO EVANGE GUALBERTO PLANO DE AULA: ALFABETIZANDO E LETRANDO ATRAVÉS DE CONTOS
Artefatos culturais e educação...
 Artefatos culturais e educação... USO DAS TDIC NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PROFª. JOICE ARAÚJO ESPERANÇA Vídeos: artefatos culturais? Vídeos Filmes Desenhos animados documentários Propagandas Telenovelas
Artefatos culturais e educação... USO DAS TDIC NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PROFª. JOICE ARAÚJO ESPERANÇA Vídeos: artefatos culturais? Vídeos Filmes Desenhos animados documentários Propagandas Telenovelas
Informação Prova de Equivalência à Frequência - 15 Ano Letivo 2012/2013
 Ensino Básico Informação Prova de Equivalência à Frequência - 15 Disciplina: Espanhol Ano Letivo 2012/2013 9º Ano de escolaridade 1. Objeto de avaliação A prova tem por referência o Programa de Espanhol
Ensino Básico Informação Prova de Equivalência à Frequência - 15 Disciplina: Espanhol Ano Letivo 2012/2013 9º Ano de escolaridade 1. Objeto de avaliação A prova tem por referência o Programa de Espanhol
Professora: Jéssica Nayra Sayão de Paula Disciplina: Introdução aos estudos linguísticos II
 Professora: Jéssica Nayra Sayão de Paula Disciplina: Introdução aos estudos linguísticos II Alguns fenômenos da língua que constituem evidência sintática para o fato de que a sentença é uma estrutura hierárquica.
Professora: Jéssica Nayra Sayão de Paula Disciplina: Introdução aos estudos linguísticos II Alguns fenômenos da língua que constituem evidência sintática para o fato de que a sentença é uma estrutura hierárquica.
Modelo de ensino, aprendizagem e da formação por abordagem e competências José Carlos Paes de Almeida Filho 1 Marielly Faria 2
 Modelo de ensino, aprendizagem e da formação por abordagem e competências José Carlos Paes de Almeida Filho 1 Marielly Faria 2 Essa é uma descrição sobre o funcionamento do modelo global de ensino, aprendizagem
Modelo de ensino, aprendizagem e da formação por abordagem e competências José Carlos Paes de Almeida Filho 1 Marielly Faria 2 Essa é uma descrição sobre o funcionamento do modelo global de ensino, aprendizagem
7. Implicações da pesquisa
 155 7. Implicações da pesquisa Os diferentes aspectos observados neste trabalho, relacionados à formação de palavras deverbais e à função desempenhada pelas nominalizações na organização textual e discursiva,
155 7. Implicações da pesquisa Os diferentes aspectos observados neste trabalho, relacionados à formação de palavras deverbais e à função desempenhada pelas nominalizações na organização textual e discursiva,
Semiótica. Prof. Dr. Sérsi Bardari
 Semiótica Prof. Dr. Sérsi Bardari Semiótica Ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer
Semiótica Prof. Dr. Sérsi Bardari Semiótica Ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer
TEXTO E DISCURSO. Leitura e Interpretação de Textos
 TEXTO E DISCURSO Leitura e Interpretação de Textos Elementos básicos da comunicação Todo ato comunicativo envolve seis componentes essenciais: - Emissor(remetente, locutor, codificador, falante); - Receptor(destinatário,
TEXTO E DISCURSO Leitura e Interpretação de Textos Elementos básicos da comunicação Todo ato comunicativo envolve seis componentes essenciais: - Emissor(remetente, locutor, codificador, falante); - Receptor(destinatário,
Ano Letivo: 2014 / 2015 Ano de Escolaridade: 1º
 1.º CEB Agrupamento de Escolas Ano Letivo: 2014 / 2015 Ano de Escolaridade: 1º Saber escutar para reproduzir pequenas mensagens e Compreensão do oral Leitura Escrita para cumprir ordens e pedidos Prestar
1.º CEB Agrupamento de Escolas Ano Letivo: 2014 / 2015 Ano de Escolaridade: 1º Saber escutar para reproduzir pequenas mensagens e Compreensão do oral Leitura Escrita para cumprir ordens e pedidos Prestar
significados que pretende comunicar em um determinado contexto sócio-cultural. A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) leva em consideração que as
 1 Introdução No nosso dia-a-dia, estamos a todo momento emitindo opiniões, defendendo ideias. Opinamos em casa, no trabalho, na escola, na rua, em todos os lugares. Opinar, argumentar, persuadir o outro
1 Introdução No nosso dia-a-dia, estamos a todo momento emitindo opiniões, defendendo ideias. Opinamos em casa, no trabalho, na escola, na rua, em todos os lugares. Opinar, argumentar, persuadir o outro
Apresentação A história apresenta a amizade entre um menino e duas árvores: a do quintal de sua casa e a da sua imaginação.
 Título: A árvore dos meus dois quintais Autor: Jonas Ribeiro Ilustrações: Veruschka Guerra Formato: 21 cm x 27,5 cm Número de páginas: 24 Elaboradora do Projeto: Beatriz Tavares de Souza Apresentação A
Título: A árvore dos meus dois quintais Autor: Jonas Ribeiro Ilustrações: Veruschka Guerra Formato: 21 cm x 27,5 cm Número de páginas: 24 Elaboradora do Projeto: Beatriz Tavares de Souza Apresentação A
AUTO-HIPNOSE REPROGRAMAÇÃO MENTAL
 AUTO-HIPNOSE REPROGRAMAÇÃO MENTAL INTRODUÇÃO O que é Hipnose? É a ultrapassagem do fator crítico da mente consciente e estabelecimento de um pensamento ou sentimento aceitável e seletivo. Teorias de estado
AUTO-HIPNOSE REPROGRAMAÇÃO MENTAL INTRODUÇÃO O que é Hipnose? É a ultrapassagem do fator crítico da mente consciente e estabelecimento de um pensamento ou sentimento aceitável e seletivo. Teorias de estado
AS CONCEPÇÕES DOS ALUNOS COMO FACTOR CONDICIONANTE DA APRENDIZAGEM EM FÍSICA
 É útil diferenciar duas formas distintas do conhecimento prévio de um aluno: 1º) os conceitos que o aluno assimila naturalmente, através da sua interacção com o meio conceitos espontâneos 2º) os conceitos
É útil diferenciar duas formas distintas do conhecimento prévio de um aluno: 1º) os conceitos que o aluno assimila naturalmente, através da sua interacção com o meio conceitos espontâneos 2º) os conceitos
I g o r H e r o s o M a t h e u s P i c u s s a
 Filosofia da Ciência Realidade Axioma Empirismo Realismo cientifico Instrumentalismo I g o r H e r o s o M a t h e u s P i c u s s a Definição Filosofia da ciência é a área que estuda os fundamentos e
Filosofia da Ciência Realidade Axioma Empirismo Realismo cientifico Instrumentalismo I g o r H e r o s o M a t h e u s P i c u s s a Definição Filosofia da ciência é a área que estuda os fundamentos e
