Entendimento discursivo e entendimento intuitivo no 77 da Crítica do juízo
|
|
|
- Lucas Beppler Azenha
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , 1997 Entendimento discursivo e entendimento intuitivo no 77 da Crítica do juízo Pedro Paulo Pimenta* Resumo: Este texto discute a caracterização que Kant faz, no 77 da Crítica do Juízo, do conceito de um entendimento intuitivo. Essa discussão é importante não somente pelo lugar sistemático que tal conceito ocupa na Filosofia Crítica, mas também pela relevância propriamente ideológica que tem dentro de interpretações da filosofia de Kant. Mostra-se aqui a caracterização do entendimento intuitivo, necessário à razão humana, a partir da constatação da discursividade do entendimento humano. Palavras-chave: teleologia entendimento Juízo reflexão subjetividade finitude I Determinação, reflexão e a questão do fim-natural A antinomia do Juízo, que surge quando se trata de julgar fenômenos da natureza enquanto produtos naturais, tem, à primeira vista, uma solução simples. Para superá-la basta que se tenha consciência de que a consideração, pelo Juízo, da natureza enquanto mecânica não assenta sobre o mesmo princípio que permite julgá-la como técnica (como produção) (Kant 7, 70, B 318/319) 1. Já a própria Introdução à Crítica do Juízo fornecia indicações claras nesse sentido. Nesse texto, Kant demarca a diferença de princípio entre as duas máximas de que o Juízo se serve: Juízo em geral é a faculdade de pensar o particular como contido no universal. Se é dado o universal (a regra, o princípio, a lei), sob o qual o Juízo subsume o particular [...] então o Juízo é determinante. Mas sendo dado apenas o particular, para o qual o Juízo deve encontrar o universal, o Juízo é então meramente reflexionante (id. ibid., B XXVI) 2. * Mestrando do Departamento de Filosofia FFLCH-USP.!"#$#%&'() *,
2 20 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , 1997 Essa distinção não é senão o primeiro passo para que a antinomia possa ser verdadeiramente resolvida: é preciso evidenciar em que sentido se pode admitir, transcendentalmente, a convivência de dois princípios distintos sem que haja entre eles contradição. A Crítica da razão pura (CRP), particularmente na Analítica, havia estabelecido o fio condutor que o entendimento dá ao Juízo, caracterizando a forma lógica deste. Para que a reflexão seja legítima é preciso, portanto, que ela assente sobre um princípio. Se não fosse assim, seu exercício seria cego, sem fundamento. O 74 começa a encaminhar uma solução para essa situação. O conceito de fim natural é aquele que exige do Juízo um exercício reflexionante, na medida em que não se pode saber se coisas da natureza, consideradas como fins naturais, exigem ou não para a respectiva geração uma causalidade de uma espécie completamente particular (ou seja segundo intenções) (Kant 7, B 330). Ao deparar-se com um objeto cuja forma exige um conceito de fim natural, o Juízo encontra-se numa situação na qual o entendimento nada pode fazer a seu favor. Por um lado, é impossível afirmar que a geração de um organismo se dá por uma causalidade fundada mecanicamente. Pois, se a natureza é pensada pela razão, em Idéia, como um sistema em que os momentos são determináveis no espaço e no tempo, isso não significa que a razão possa, pelo princípio de determinação, ascender a uma universalidade que dê conta das leis empíricas particulares. De fato, a diversidade e heterogeneidade das leis empíricas poderiam ser tão grandes que, por certo, nos seria parcialmente possível vincular percepções, segundo leis particulares ocasionalmente descobertas, em uma experiência, mas nunca trazer essas leis empíricas mesmas à unidade do parentesco sob um princípio comum (Kant 5, A 13/14). Enquanto a natureza pode ser pensada como um sistema de leis gerais de caráter mecanicista, o mesmo não se dá quando se trata de determinar suas leis empíricas particulares. Ou seja, examinada em seu pormenor, a natureza não se deixa abarcar pela mera determinação do entendimento. Ao contrário, a diversidade de suas leis empíricas nos parece infinitamente grande, de maneira que, segundo os princípios do entendimento, ela se apresentaria, em sua especificação particular, como um agregado bruto, caótico, sem o menor vestígio de um sistema, embora tenhamos de pressupor tal sistema segundo leis transcendentais (id. ibid., A 14) 3. Por outro lado, o próprio conceito de fim natural, que poderia dar conta dessa situação, é problemático, na medida em que não é dotado de qualquer realidade objetiva, já que nada significa para o entendimento (ele não consta da!"#$#%&'() -.
3 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , tábua das categorias). Assim, do ponto de vista do entendimento, a questão é insolúvel, pois o conceito de um fim natural não é, em absoluto, comprovável mediante a razão segundo sua realidade objetiva (Kant 7, B 331). Não há dúvida de que, em uma certa relação com outros fenômenos da natureza, um fim natural pode ser determinado num sistema de relações mecânicas. Mas não basta dizer que os organismos (pois é ao organismo que se refere o termo fim natural) estão submetidos, enquanto fenômenos, às leis da física. Pois, para o entendimento, manifesta-se, ao mesmo tempo, uma contingência da forma do objeto em relação às leis de determinação: o entendimento só pode posicionar-se, com relação à estrutura do organismo, julgandoa como contingente. Ora, isso lhe é essencialmente impossível, e o impasse permanece do contrário, Kant deveria renunciar a admitir qualquer possibilidade de pensar a natureza, mesmo em Idéia, como um sistema. Do ponto de vista da razão, no entanto, essa contingência é inaceitável. Pois o organismo aponta para um outro tipo de relação sobre a qual entendimento nada pode dizer, na medida em que, como a primeira Crítica mostra exaustivamente, deve limitar-se à experiência. Se é necessário que haja harmonia entre as duas máximas do Juízo, é preciso, portanto, que elas não digam respeito à mesma esfera de legislação. Incompreensível para o entendimento, a forma do organismo pode ser, por outro lado, julgada por um tipo de causalidade que somente é pensável através da razão (id. ibid., 74, B 329). A situação aqui é semelhante à solução da terceira antinomia na CRP: para evitar contradição, a razão pensa o mesmo objeto segundo pontos de vista diversos, mas não-contraditórios entre si. Assim, se o entendimento não pode compreender uma causalidade diversa da mecânica, a razão pensa uma causalidade de outro tipo que, se não pode ser empiricamente comprovada, é admitida sem contradição. Para que se possa compreender a forma do organismo como não-contingente, ou seja, para que o particular da natureza possa ser julgado, a razão pensa-o como fim natural, dando assim um princípio para o Juízo. Além da causalidade mecanicista do entendimento, temos assim também uma causalidade técnica, que dá conta de uma realidade que o mecanicismo não pode explicar. Kant deixa claro, no entanto, que esse não é um princípio determinante: o Juízo não pode afirmar a realidade objetiva de um organismo enquanto fim natural, já que tal conceito serve apenas para a reflexão. Em outras palavras, o conceito de uma causalidade técnica é referente apenas às faculdades do sujeito, não podendo adquirir realidade no fenômeno.!"#$#%&'() -*
4 22 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , 1997 A razão desse caráter meramente regulativo do conceito de fim natural é clara, na medida em que tal princípio serve para julgar algo da natureza (o organismo) que aponta para algo que não é a natureza conhecível empiricamente, ou seja, para o supra-sensível. Essa constatação, parece-nos, advém do reconhecimento da limitação do entendimento, incapaz de dar conta da forma do organismo 4. Ora, se o princípio do Juízo reflexionante é fornecido pela razão, na medida em que esta pensa o organismo como fim natural, ou seja, como um objeto engendrado segundo causalidade técnica, é preciso esclarecer o significado da idéia de uma causalidade técnica, ou seja: qual o conteúdo que a razão pensa para fundamentar a idéia de uma tal causalidade. Kant é claro a respeito: quando se fala no conceito de uma causalidade segundo fins, o significado subjacente é um ser como fundamento originário da natureza (Kant 7, 74, B 332). A idéia de um tal fundamento permite admitir uma causalidade técnica enquanto princípio de explicação subjetivo para a natureza orgânica. Conceito transcendente para o entendimento, certamente, mas que pode na verdade ser pensado sem contradição (id. ibid., 74, B 332). Assim, a idéia de um substrato da natureza garante a legalidade das duas máximas do Juízo, mecanicista e técnica, sem que haja contradição entre elas. Fica claro então que a crítica ao teísmo, já levada a cabo na mesma Dialética Transcendental, permanece contundente. Não estamos autorizados, de maneira nenhuma, a buscar marcas de uma divindade atuando na experiência tal empresa seria um disparate completo: Mas, mesmo se isto fosse possível, como posso eu ainda considerar coisas que precisamente são dadas por produtos da arte divina como fazendo ainda parte dos produtos da natureza, cuja incapacidade para os produzir segundo as suas leis tornava necessário precisamente invocar uma causa diferente de si? (id. ibid., B 332/333) 5. Ora, se o conceito de um ser como fundamento originário da natureza não pode ser determinado pelo entendimento, na medida em que a experiência nada nos diz a respeito, por que não fazer simplesmente como Hume e renunciar à admissão de qualquer princípio teleológico 6? A Crítica do juízo teleológico seria então uma mera manobra de Kant para salvar a teleologia a qualquer preço, recuperando assim o teísmo em uma outra chave, como Lebrun certa vez sugeriu (cf. Lebrun 8)? Talvez essa avaliação não leve suficientemente em conta algo fundamental na Crítica do juízo teleológico. Parece-nos, ao contrário, que o objetivo de Kant é mostrar de onde vem a necessidade da admissão de um tal ser como!"#$#%&'() --
5 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , fundamento, qual o motivo para que um sofisma como o teísmo tenha sido largamente aceito durante tanto tempo. A questão teria, assim, um enraizamento subjetivo-transcendental: segundo a constituição específica das minhas faculdades do conhecimento não posso julgar de outro modo a possibilidade daquelas coisas [os organismos enquanto fins naturais] e a respectiva produção, senão na medida em que penso para elas uma causa que atua intencionalmente, a qual é produtiva segundo a analogia com a causalidade de um entendimento (Kant 7, B 333). Não se trata, assim, de afirmar a existência de uma tal causalidade que age intencionalmente. Em vez da referência ao próprio organismo (que implicaria na referência objetiva a uma causalidade intencional), o Juízo busca uma referência dada valendo-se da própria constituição das faculdades humanas: já que é somente com base nas condições possibilitadas por tal constituição que se pode exercer o poder de julgar, não há outra saída para a compreensão do organismo senão julgá-lo como fim natural, como submetido a uma causalidade técnica. O deslocamento operado torna-se, portanto, claro. Se o teísmo inferia a existência de uma causa intencional do mundo a partir da observação da finalidade na natureza, Kant mostra (com Hume) a premissa ilegítima de um tal raciocínio. Mais do que isso, interessa a Kant mostrar o motivo que torna inevitável a ilusão teísta: Porém o certo é que, se devemos ao menos julgar segundo o que nos é dado descortinar mediante a nossa própria natureza (segundo as condições e os limites da nossa razão), não podemos nada mais que colocar um ser inteligente como fundamento da possibilidade daqueles fins da natureza, o qual é adequado à máxima da nossa faculdade de julgar reflexionante, e por conseguinte adequado a um fundamento subjetivo, mas intrinsecamente ligado à espécie humana (id. ibid., B 338/339; cf. também B 336/ 337). Em outras palavras, o erro que subjaz ao teísmo é plenamente justificável. Basta que se ignore o caráter subjetivo das faculdades para que se crie a ilusão de uma razão que teria acesso ao Ser das coisas. A crítica aqui mostra que, longe disso, o que cabe à razão é perceber que o ser inteligente como fundamento do mundo nada mais é que uma admissão subjetivamente necessária, desprovida de qualquer caráter ontológico. É importante notar, em Kant, que a razão impõe (auferlegt) essa idéia ao Juízo: ela é inevitável para que a forma própria do organismo possa ser compreendida, para que a particularidade da experiência possa ser pensada enquanto sistema de leis transcendentais (lembrando as palavras já citadas da!"#$#%&'() -/
6 24 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , 1997 Primeira introdução ). Compreende-se, portanto, a incompletude de toda teleologia empírica, mesmo entendida transcendentalmente. Pois se o conceito de fim natural será sempre transcendente para o entendimento, sua compreensão só pode dar-se através de uma idéia de algo fora da natureza como seu substrato: prova por isso que a teleologia não encontra nenhuma conclusão perfeita senão numa teologia 7 (Kant 7, B 335). II A demarcação da finitude humana: entendimento discursivo e entendimento intuitivo Os parágrafos 74 e 75, analisados acima, iniciam o argumento, concluído no 77, que visa estabelecer, do ponto de vista crítico, o único princípio possível para o Juízo reflexionante no julgamento de produtos da natureza. O 76 é, no entanto, de importância fundamental para a discussão, na medida em que caracteriza, segundo a divisão tripartite da crítica, os três aspectos sob os quais se manifesta a configuração própria das faculdades humanas. Mediante essa caracterização, como veremos, Kant visa delimitar os momentos precisos em que a finitude se manifesta do ponto de vista transcendental (que é, afinal de contas, aquele que realmente interessa). A CRP, na Dialética, já ensinava que as idéias da razão são a maneira que esta encontra para satisfazer sua própria exigência de universalidade com relação aos conceitos do entendimento (que só podem fornecer um conhecimento limitado no espaço e no tempo). Mas as idéias da razão ultrapassam, quanto ao conteúdo que é nelas necessariamente pensado, toda experiência, já que a universalidade nelas exigida nunca pode ser dada empiricamente e isso na medida em que toda experiência é constituída por espaço e tempo. Assim, o entendimento (...) limita a validade daquelas idéias da razão somente ao sujeito, mas de forma universal para os sujeitos desse gênero (id. ibid., B 339). O entendimento pode aceitar a não-contradição, por exemplo, da idéia de um ser como substrato inteligível da natureza. O que o entendimento não pode aceitar é que se ultrapasse a caracterização dessa idéia como reguladora: segundo a natureza da nossa faculdade de conhecimento (humano) ou segundo o conceito que podemos fazer da faculdade de um ser racional finito em geral, não se pode e não se deve pensar de outro modo (id. ibid., B 339/340). Segundo Kant, pode-se compreender melhor a incontornabilidade dessa situação de fato (num primeiro momento constrangedora para a razão) quando se atenta à distinção entre possibilidade (Möglichkeit) e efetividade (Wirklichkeit),!"#$#%&'() -2
7 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , absolutamente necessária ao entendimento humano (Kant 7, B 340). O entendimento humano é, do ponto de vista crítico, discursivo: ele não vai do todo para as partes mas, ao contrário, das partes para a idéia do todo. Se, ao contrário, nosso entendimento fosse intuitivo, o todo do mundo seria dado como efetividade em uma só intuição, sem restrições de espaço e tempo: tanto os conceitos (que dizem respeito à possibilidade de um objeto) como as intuições sensíveis (que nos dão algo, sem todavia nos dar a conhecer isso como objeto) desapareceriam em conjunto (id. ibid., B 340) 8. Como a ação do entendimento humano é, no entanto, necessariamente limitada pela intuição sensível, jamais poderemos esperar que o todo nos seja dado em uma só intuição. Para que a universalidade requerida pela razão seja então satisfeita, i.e., para que a natureza enquanto sistema possa ser pensada, é necessário que a razão o faça sem qualquer pretensão ontológica. O substrato da natureza, a idéia de um ser absolutamente necessário, deve permanecer apenas como princípio regulador para a razão sem que se possa fazer desse ser qualquer conceito (id. ibid., 342). O máximo que se pode fazer é pensar tal substrato como uma inteligência diversa da humana, i.e., como entendimento intuitivo. E isso na medida em que, enquanto substrato da natureza, conteria imediatamente, em uma só intuição, a totalidade da própria natureza (que para o homem só é dada em partes). Assim, esse é mais um momento em que a crítica traça o limite do conhecimento humano, reafirmando a incapacidade do entendimento de operar para além dos limites da experiência. Vale notar que, já nesse momento, a percepção da limitação humana se dá baseada na verificação de um limite próprio à razão, e não com base em algum tipo de acesso à uma inteligência divina: é mediante a constatação da incapacidade do entendimento para dar conteúdo às idéias da razão que se pode pensar, como idéia reguladora, um entendimento para o qual intuição e conceito não seriam momentos distintos 9. Neste momento da Crítica do juízo, por sua vez, há um novo movimento mediante o qual a especificidade e a finitude das faculdades humanas são demonstradas por Kant. Se o entendimento humano não fosse de molde a ter que ir do universal para o particular (id. ibid., B 343), i.e., se não fosse discursivo, não haveria, para o homem, necessidade de julgar a partir de princípios distintos, mecanismo e técnica. De fato, o que se verifica no texto da Crítica do juízo teleológico é um aprofundamento da limitação que a discursividade do entendimento vem significar. Não somos apenas incapazes de ir do todo para as partes, como a CRP já mostrara. Para o entendimento humano, a forma artística!"#$#%&'() -6
8 26 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , 1997 dos produtos naturais deve permanecer sempre contingente: não há como explicála mecanicamente, mas tampouco pode o entendimento admitir outro princípio de explicação além da causalidade mecânica 10. O entendimento é incapaz de explicar um fim natural, certo, mas a razão não pode admitir que este permaneça como um agregado inexplicável. O fato de que exista uma natureza orgânica tem que ser explicado, e o princípio dessa explicação, como vimos acima, será dado ao Juízo pela própria razão. Assim, a finalidade (Zweckmäßigkeit) torna-se um princípio subjetivo da razão para o Juízo, que, na qualidade de regulativo (não-constitutivo), é válido do mesmo modo necessariamente para o Juízo humano, como se se tratasse de um princípio objetivo (Kant 7, B 344). No 77, como veremos a seguir, Kant mostra qual o enraizamento preciso da subjetividade de tal máxima. Kant ressalta, mais uma vez, no início do 77, que os momentos reveladores da especificidade das faculdades humanas não devem ser imputados às próprias coisas : o limite nos é dado como característica própria, e não imposto de fora pela constituição da natureza. Assim, a causa da possibilidade de um tal predicado [o conceito de um fim natural] só pode estar na idéia; mas a conseqüência que lhe é adequada (o próprio produto) é porém dada na natureza (id. ibid., B 345): inferir daí que a própria causa do produto pode ser dada por uma inferência direta tomando-se por base a natureza, é um sofisma que os partidários do teísmo não hesitaram em tomar como legítimo, e que a crítica não pode admitir 11. Não é apenas uma crítica do teísmo que se opera neste momento, mas também uma ampliação sistemática do próprio projeto crítico enquanto exame completo das condições a priori do conhecimento e da ação humanos. Assim como fornece universalidade para o entendimento e a leia priori para a vontade, a razão dá ao Juízo a máxima da finalidade. Ao contrário dos dois casos anteriores, no entanto, aqui a subjetividade é explicitada, na medida em que o Juízo só pode reflexionar com base nessa máxima com relação a produtos da natureza, ao passo que antes tratava-se de operações que resultavam em determinação 12. É preciso, por outro lado, que a finalidade enquanto máxima subjetiva tenha uma referência, para que possa ser admitida sem a suspeita de que seja uma suposição arbitrária, ou mesmo um mero artifício metodológico. Sendo assim, ela deve ter uma regra própria para que possa ser exercida. Essa referência é dada pela razão, que pensa um outro tipo de entendimento, diferente do humano, para que se possa dizer: certos produtos naturais têm que ser considerados por nós como produzidos intencionalmente e como fins segundo sua!"#$#%&'() -7
9 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , possibilidade, tendo em conta a constituição particular de nosso entendimento, sem por isso todavia exigir que efetivamente exista uma causa particular que possua a representação de um fim como seu fundamento de determinação (Kant 7, B 346). Para um entendimento mais elevado que o nosso, pode-se supor que apenas o mecanismo opere na produção daquilo que só podemos chamar de fins naturais 13. O método de Kant parece ser ainda o da contraposição: tomando-se por base um entendimento limitado (o humano, único que conhecemos), podemos pensar um outro entendimento em que tal limitação não se verificasse. Como é inevitável para a razão a admissão (subjetiva) de um outro entendimento, essa é a única forma que o homem teria de concebê-lo 14. A contingência da constituição do entendimento humano é verificável precisamente com base no tipo de relação que o entendimento tem com o Juízo quando se trata de julgar um fim natural. A natureza orgânica se mostra ao entendimento como uma variedade de seres particulares. O Juízo deveria trazêlos sob um universal que, no entanto, o entendimento não é capaz de fornecer: o particular empírico permanece, como já vimos, meramente contingente para o entendimento. É impossível, portanto, quando se trata de fins naturais, um universal subsumir o particular com base no entendimento. O que se pode fazer então é pensar um entendimento intuitivo (negativamente, i.e., simplesmente como não-discursivo), que iria do universal-sintético para o particular. Enquanto o universal só é possível ao entendimento humano como universal-analítico (por composição), para um entendimento = X o universal seria dado de antemão como contendo simultaneamente (sinteticamente) todas as ligações entre os particulares 15. Valendo-se dessa idéia reguladora, explicitar-se-ia, assim, a legitimidade da máxima da finalidade (que permanece, no entanto, subjetiva), e pode-se afirmar com segurança que é simplesmente uma conseqüência da constituição particular do nosso entendimento, se representamos como possíveis produtos da natureza segundo uma outra espécie de causalidade diferente das leis da natureza da matéria, nomeadamente segundo a dos fins e das causas finais (id. ibid., B 350). Por fim, Kant diz: Não é aqui de modo nenhum necessário demonstrar que seja possível um tal intellectus archetypus, mas simplesmente que nós somos conduzidos àquela idéia pelo contraste com o nosso entendimento discursivo, que necessita de imagens (intellectus ectypus) e com a contingência!"#$#%&'() -)
10 28 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , 1997 de uma tal constituição. Tampouco tal idéia contém qualquer contradição (Kant 7, B 350/351; grifo nosso). O papel do entendimento = X na estrutura do conhecimento humano parece, assim, ser inequívoco: o pensamento de uma inteligência não-discursiva permite que a razão humana aplique legitimamente a teleologia como máxima ao Juízo, sem que os pressupostos da crítica sejam violados. Para que isso seja verdadeiro (a não ser que se queira ver na crítica uma ontoteologia envergonhada), esse entendimento = X deve ser interpretado, parece-nos, segundo o que o próprio Kant diz no texto que analisamos, ou seja: como idéia reguladora, como marca da finitude humana. Nunca como um deslize para o supra-sensível, mas antes como demarcação em relação a este 16. Ao sujeito, nada resta além de ter de conviver com a certeza de uma ambivalência intransponível. Se ele pode compreender que o princípio do mecanismo da natureza e o da causalidade da mesma segundo fins articulam-se no mesmo produto da natureza num único princípio superior, que reside no supra-sensível que temos que pôr na base da natureza como fenômeno, ele não pode explicar como tal articulação é possível: todo conceito a esse respeito permanece desprovido de significado 17. Não poucas vezes se tentou compreender o 77 como um momento em que a filosofia transcendental deixaria entrever um significado para o suprasensível. O que tentamos mostrar aqui, ao contrário, é que, no 77, Kant retoma a análise da finitude humana sob o ponto de vista transcendental. Esse motivo, que afinal perpassa toda a filosofia crítica, seria, nesse momento da Crítica do juízo, apenas retomado em mais uma de suas figuras. Nessa medida, o criticismo não significa uma retomada da metafísica tradicional, e tampouco uma análise externa da finitude humana. O que o entendimento intuitivo aponta é precisamente o fato de que essa finitude se enraíza na própria razão do homem 18. Abstract: The aim of the text is to discuss the significance of the concept of an intuitive understanding as it appears in Kant s Critique of Judgement. This subject is of special relevance given the importance of this concept to the whole of Kant s critical philosophy, as well as for a particular interpretation of his philosophy, i.e., from an ideological point of view. Key-words: theleology understanding judgement reflection subjectivity finiteness!"#$#%&'() -8
11 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , Notas 1. Assim, pode-se ler na Primeira Introdução à Crítica do Juízo : pois pode perfeitamente subsistir, lado a lado, que a explicação de um fenômeno, que é uma operação da razão segundo princípios objetivos, seja mecânica; e que a regra do julgamento desse mesmo objeto, porém, segundo princípios subjetivos da reflexão sobre ele, seja técnica (Kant 7, A 23). 2. É importante notar que a distinção entre determinação e reflexão não é bipolar. Tratase antes de momentos diferentes de um mesmo exercício. Rubens Rodrigues Torres Filho diz a respeito: Não como se Kant tivesse classificado o juízo em duas espécies, determinante e reflexionante, e, bizarramente, nessa Crítica geral da faculdade do juízo, se tivesse ocupado exclusivamente de uma delas. A faculdade de julgar reflexiona sempre (já que julgar é aplicar a regra ao caso, e para isso não pode haver regra, senão seria necessária uma nova faculdade de julgar e assim indefinidamente), só que, quando ocorre o juízo de conhecimento ou o juízo moral, guiados pelos conceitos do entendimento ou da razão, ela é levada imediatamente a determinar. O caráter reflexionante desaparece nos resultados (Torres Filho 10). Os textos de Kant que apoiam essa interpretação são numerosos; cf. Kant 7, em particular Primeira Introdução, A 16-18, e Lógica, Kant parece levar em conta as afirmações de Philo nos Diálogos da religião natural de Hume: Mesmo através de nossa experiência limitada, percebemos que a natureza possui um número infinito de origens e princípios, que incessantemente se revelam em cada mudança de posição e situação. E seria da maior temeridade pretender determinar situações novas e desconhecidas, como aquela da formação do universo (Cícero 1, p. 59). Antonio Marques nota o enraizamento subjetivo-transcendental que a questão tem para Kant: Por outras palavras, e no dizer de Kant, o entendimento humano nada determina a respeito do particular: e é contingente o modo diverso como podem surgir coisas diferentes que, porém, se combinam sob um sinal comum (Marques 11, p. 220). 4. Marques é preciso quanto a esse ponto: O organismo será, pois, a imagem que mais nos aproxima do todo absoluto que é o objeto do entendimento intuitivo, a imagem que mais nos aproxima, por isso, do supra-sensível (id. ibid., p. 226). 5. Essa questão é notada já por Cícero em De Natura Deorum, particularmente na fala do cético Cotta: A natureza se mantém e se organiza por sua própria força, sem qualquer ajuda dos deuses. Há mesmo nela uma espécie inerente de harmonia ou simpatia, como dizem os gregos. E quanto maior ela é por si mesma, menos se deve atribuí-la ao trabalho de alguma força divina (id. ibid., p. 27-8). Hume, como se sabe, retoma esse argumento no decorrer dos Dialogues.!"#$#%&'() -,
12 30 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , Com efeito, essa é a sugestão de Philo: Estas palavras, geração, razão, designam apenas certas forças e energias na natureza, cujos efeitos são conhecidos, mas cuja essência é incompreensível; e qualquer um desses princípios não tem privilégio sobre outros para tornar-se uma medida de toda a natureza (Hume 2, p. 88). Efeitos conhecidos não são suficientes para o conhecimento das causas: apesar dessa restrição, que Kant subscreve, a teleologia deve ainda ser considerada. 7. Esse é justamente o tema do Apêndice à Crítica do Juízo Teleológico. Que se atente ao que diz Lebrun: A teologia racional está morta, sem dúvida, mas seu fantasma permanece útil.(...) Assim o lugar de Deus está vazio, mas não está desfeita a cumplicidade ancestral graças à qual, dizia Hume, nossas concepções andam no mesmo passo que as outras obras da Natureza (Lebrun 9, p. 321). Assim, é necessário que se leve a sério a teologia: longe de ser uma ficção mal-intencionada, ela surge de uma idéia necessária à razão humana. 8. Segundo Marques, o entendimento intuitivo vai do todo ao particular. Ora, o entendimento humano não faz isso, já que a ligação das partes precede o todo. Assim, aquilo que este determina não é nunca a forma do todo, mas uma certa e particular forma do todo (Marques 11, p. 221). 9. Por contraste com nosso modo de conhecer somos então levados para outra ordem cognitiva, e somos levados a imaginar uma inteligência que não encontrasse limites ao conhecimento integral do mecanismo da natureza (id. ibid., p. 219). 10. É porque finitude significa essencialmente composição, explica Lebrun, que o problema suscitado pelo organismo enquanto fim natural só pode ser resolvido por um conceito problemático. Pois a dificuldade ontológica que o organismo coloca a Kant é a seguinte: dado que a totalidade é sinônimo de continuidade, como pensar enquanto totalidade aquilo que só pode ser dado como quantum discretum? (id. ibid., p. 616). Se o comentário de Lebrun vai, como cremos, ao ponto, fica claro que a máxima teleológica é uma conseqüência da estrutura discursiva do entendimento. Note-se que, com essa constatação a Crítica do juízo desloca o problema que Hume só podia resolver com o ceticismo. Esse deslocamento será, como se verá mais adiante, aprofundado no Apêndice, que o circunscreve no campo da razão prática. Sobre a relação de Kant com Hume quanto à questão, cf. Malherbe 10, particularmente p Mais uma vez Philo tem algo a dizer sobre a questão: Nossa experiência, tão imperfeita em si mesma, e tão limitada tanto em extensão como em duração, não pode nos fornecer nenhuma conjectura provável acerca das coisas em seu todo. Mas se devemos nos fixar a uma hipótese, diga-me então: por quais regras devemos determinar nossa escolha? (Hume 2, p. 87). 12. Seguimos aqui Lebrun: É porque a ordem orgânica é incompreensível que devemos ligá-la a uma razão que garanta sua presença sem explicar sua montagem (id. ibid., p. 638). Vale notar que essa solução é baseada na distinção entre princípio objetivo e princí-!"#$#%&'() /.
13 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , pio subjetivo (máxima), que aparece claramente, pela primeira vez, na Fundamentação da metafísica dos costumes (A 51, nota), e é retomada na abertura da Analítica da Crítica da razão prática (A 35). Princípio deve ser entendido como a lei objetiva (prática) de determinação da vontade, válida para todo ser racional. Máxima é a representação subjetiva do princípio, que o sujeito representa como válida apenas para sua vontade. Nos termos da questão aqui discutida, essa distinção ajuda a entender porque o princípio teleológico é subjetivo: o sujeito não tem outra maneira para julgar o organismo, mas deve estar ciente de que esse julgamento não tem peso constitutivo, já que decorre da estrutura própria de suas faculdades. 13. Lebrun mostra que essa suposição deve ser bastante cautelosa: O entendimento = X é uma aparência inevitável, por causa da ontologia do todo e das partes. Nada nos autoriza a escolher o ponto de vista do supra-sensível, a considerar a união das máximas como a única real e a disjunção como ilusória (Lebrun 9, p. 622). 14. A análise de Weil vai em sentido contrário: nós não nos apercebemos do caráter específico e dado de nosso entendimento a não ser através do pensamento e um intelecto para o qual não haveria nem possibilidade, nem necessidade, mas somente realidade; que, em conseqüência, seria ato puro, livre de toda passividade, e para o qual o mundo, com tudo que contém, seria imediatamente presente: um intelecto arquetípico (Weil 15, p. 79). Os termos de Weil dificilmente se ajustam ao texto de Kant. A relação entre finito e infinito não é tematizada no 77: trata-se antes de tornar possível um sistema da experiência segundo leis particulares da natureza (Kant 7, B XXVII). De resto, essa relação finito/infinito só poderia ser central se se tratasse de uma contraposição ontológica: Não é como se, dessa maneira, um tal entendimento tivesse de ser efetivamente admitido (...); mas sim essa faculdade dá somente a si mesma, e não à natureza, uma lei (id. ibid., B XXVIII; cf. também Primeira Introdução, A 19). Lebrun nos ajuda a entender que a interpretação de Weil vem de Hegel, quando este diz: Nossa razão não está destinada ao saber finito, e todavia Kant obstina-se em mantê-la nos limites da finitude (id. ibid., p ). 15. Marty faz, como Weil, uma interpretação hegeliana de Kant, ao afirmar: O universal-sintético não é outra coisa que o universal que se realiza no concreto, e Hegel foi justo ao reconhecer uma aproximação de seu próprio pensamento ao entendimento intuitivo da Crítica do juízo (Marty 12, p. 392). Hegel elogia esse momento da filosofia de Kant por se mostrar especulativo. Lebrun alerta para o perigo dessa aproximação: A necessidade da organização prévia é um limite da experiência e não uma incursão para além dela (id. ibid., p. 626). 16. Xavier Tilliette diz a respeito: Um princípio regulativo da razão é assim ancorado subjetivamente, mas inelutavelmente, por um conceito do entendimento que confirma sua validade. Trata-se de uma necessidade do pensar, não de um objeto. Ela diz respeito à natureza de nosso conhecimento humano, de um ser racional finito, segundo a idéia que temos dele (Tilliette 13, p. 32). O estudo de Tilliette é de particular relevância, por!"#$#%&'() /*
14 32 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , 1997 apontar para o fato de que longe de condenar a intuição intelectual, Kant entreabriu discretamente uma brecha para ela, de modo que seus sucessores imediatos não se sentiram constrangidos (Tilliette 13, p. 27-8). É no idealismo alemão, não em Kant, que se deve procurar uma efetividade da intuição intelectual. 17. Na CRP, em um contexto semelhante, Kant explica o que significa admitir a idéia de um ser supremo como reguladora: O ideal do Ser supremo, de acordo com estas considerações, não é mais do que um princípio regulador da razão, e que consiste em considerar toda ligação no mundo como resultante de uma causa necessária e absolutamente suficiente, para sobre ela fundar a regra de uma unidade sistemática e necessária, segundo leis gerais na explicação dessa ligação; não é a afirmação de uma existência necessária em si (Kant 6, B 647, último grifo nosso). Não se trata, portanto, de afirmar que tal ser existe de fato, e, mais ainda, que tenha em si mesmo o fundamento completo de sua própria existência: decidir sobre isso seria transcender os limites da razão humana. 18. Lebrun aponta para as conseqüências ideológicas da solução kantiana: O entendimento = X não desempenha o papel de uma demiurgia de consolo; ele é o emblema de um sentido sem intenção, a certeza de que a beleza, a vida e a história não são domínios de explicação, mas de interpretação (Lebrun 9, p ). Referência bibliográficas 1. CÍCERO. The Nature of the Gods. Trad. Horace McGregor. Londres, Penguin, HUME, D. Dialogues Concerning Natural Religion. Londres, Penguin, KANT, I. Kritik der reinen Vernunft. Em: Werkausgabe. Frankfurt, Suhrkamp, 1991, vol Kritik der Urteilskraft. Em: Werkausgabe. Frankfurt, Suhrkamp, 1991, vol Primeira introdução à Crítica do Juízo. Em: Crítica da razão pura e outros textos filosóficos. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo, Abril, 1974 (col. Os Pensadores ).!"#$#%&'() /-
15 PIMENTA, P.P. Cadernos de Filosofia Alemã 2, P , Crítica da razão pura. Trad. Manuela dos Santos e Artur F. Morujão. Lisboa, Calouste-Gulbenkian, Crítica do Juízo. Trad. Valério Rohden e Antonio Marques. Lisboa, Casa da Moeda, LEBRUN, G. A Terceira Crítica ou a teologia reencontrada. Em: Sobre Kant. São Paulo, Iluminuras, Kant e o Fim da Metafísica. Trad. Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo, Martins Fontes, MALHERBE, M. Kant ou Hume: La raison et le sensible. Paris, Vrin, MARQUES, A. Organismo e sistema em Kant. Lisboa, Presença, MARTY, F. La Naissance de la metaphysique chez Kant. Paris, Beauchesne, TILLIETTE, X. L intuition intellectuelle de Kant à Hegel. Paris, Vrin, TORRES FILHO, R.R. A terceira margem da filosofia de Kant. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 maio de 1993, Mais!, p WEIL, E. Études kantiennes. Paris, Vrin, 1970.!"#$#%&'() //
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura
 O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações
 A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações Marcio Tadeu Girotti * RESUMO Nosso objetivo consiste em apresentar a interpretação de Michelle
A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações Marcio Tadeu Girotti * RESUMO Nosso objetivo consiste em apresentar a interpretação de Michelle
TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant ( )
 TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant (1724-1804) Obras de destaque da Filosofia Kantiana Epistemologia - Crítica da Razão Pura (1781) Prolegômenos e a toda a Metafísica Futura (1783) Ética - Crítica da
TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant (1724-1804) Obras de destaque da Filosofia Kantiana Epistemologia - Crítica da Razão Pura (1781) Prolegômenos e a toda a Metafísica Futura (1783) Ética - Crítica da
Esquematizar sem conceitos : a teoria kantiana da reflexão estética*
 Cadernos de Filosofia Alemã 7, P. 5-14, 2001 Esquematizar sem conceitos : a teoria kantiana da reflexão estética* Christel Fricke** Songez que je vous parle une langue étrangère... Racine, Fedro. A estética
Cadernos de Filosofia Alemã 7, P. 5-14, 2001 Esquematizar sem conceitos : a teoria kantiana da reflexão estética* Christel Fricke** Songez que je vous parle une langue étrangère... Racine, Fedro. A estética
Kant e o Princípio Supremo da Moralidade
 Kant e o Princípio Supremo da Moralidade ÉTICA II - 2017 16.03.2018 Hélio Lima LEITE, Flamarion T. 10 Lições sobre Kant. Petrópolis: Vozes, 2013 O Sistema kantiano Estética Transcendental Experiência Lógica
Kant e o Princípio Supremo da Moralidade ÉTICA II - 2017 16.03.2018 Hélio Lima LEITE, Flamarion T. 10 Lições sobre Kant. Petrópolis: Vozes, 2013 O Sistema kantiano Estética Transcendental Experiência Lógica
O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura
 O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura Jean Carlos Demboski * A questão moral em Immanuel Kant é referência para compreender as mudanças ocorridas
O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura Jean Carlos Demboski * A questão moral em Immanuel Kant é referência para compreender as mudanças ocorridas
Preocupações do pensamento. kantiano
 Kant Preocupações do pensamento Correntes filosóficas Racionalismo cartesiano Empirismo humeano kantiano Como é possível conhecer? Crítica da Razão Pura Como o Homem deve agir? Problema ético Crítica da
Kant Preocupações do pensamento Correntes filosóficas Racionalismo cartesiano Empirismo humeano kantiano Como é possível conhecer? Crítica da Razão Pura Como o Homem deve agir? Problema ético Crítica da
Universidade Federal de São Carlos
 Código e nome da disciplina: 18063-7 História da Filosofia Moderna III Professor responsável: Francisco Prata Gaspar Objetivos gerais: Introduzir o aluno ao modo como a filosofia moderna acolheu a tradição
Código e nome da disciplina: 18063-7 História da Filosofia Moderna III Professor responsável: Francisco Prata Gaspar Objetivos gerais: Introduzir o aluno ao modo como a filosofia moderna acolheu a tradição
KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA. Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense
 KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense marcos_giusti@uol.com.br Resumo: A crítica kantiana à metafísica, diferentemente do que exprimem
KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense marcos_giusti@uol.com.br Resumo: A crítica kantiana à metafísica, diferentemente do que exprimem
Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen
 1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
A IMAGINAÇÃO PRODUTORA NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA 1
 A IMAGINAÇÃO PRODUTORA NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA 1 Hálwaro Carvalho Freire PPG Filosofia Universidade Federal do Ceará (CAPES) halwarocf@yahoo.com.br Resumo O seguinte artigo tem como principal objetivo
A IMAGINAÇÃO PRODUTORA NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA 1 Hálwaro Carvalho Freire PPG Filosofia Universidade Federal do Ceará (CAPES) halwarocf@yahoo.com.br Resumo O seguinte artigo tem como principal objetivo
IDEALISMO ESPECULATIVO E A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO CURSO DE EXTENSÃO 22/10/ Prof. Ricardo Pereira Tassinari
 IDEALISMO ESPECULATIVO E A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO CURSO DE EXTENSÃO 22/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 20 Se tomarmos o pensar na sua representação mais próxima, aparece, α) antes
IDEALISMO ESPECULATIVO E A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO CURSO DE EXTENSÃO 22/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 20 Se tomarmos o pensar na sua representação mais próxima, aparece, α) antes
IMMANUEL KANT ( ) E O CRITICISMO
 AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se RUBENS aos pensamentos RAMIRO JR (TODOS emitidos DIREITOS pelos próprios RESERVADOS) autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos.
AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se RUBENS aos pensamentos RAMIRO JR (TODOS emitidos DIREITOS pelos próprios RESERVADOS) autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos.
Kant e a filosofia crítica. Professora Gisele Masson UEPG
 Kant e a filosofia crítica Programa de Pós-Graduação em Educação Professora Gisele Masson UEPG Immanuel Kant (1724-1804) Principais obras Crítica da razão pura - 1781 Fundamentação da Metafísica dos Costumes
Kant e a filosofia crítica Programa de Pós-Graduação em Educação Professora Gisele Masson UEPG Immanuel Kant (1724-1804) Principais obras Crítica da razão pura - 1781 Fundamentação da Metafísica dos Costumes
Universidade Federal de São Carlos
 Código e nome da disciplina: História da Filosofia Moderna 2 2017/1 Professor responsável: Paulo R. Licht dos Santos Objetivos gerais: Fazer com que o estudante adquira uma prática de leitura aprofundada
Código e nome da disciplina: História da Filosofia Moderna 2 2017/1 Professor responsável: Paulo R. Licht dos Santos Objetivos gerais: Fazer com que o estudante adquira uma prática de leitura aprofundada
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA I 1º Semestre de 2015 Disciplina Obrigatória Destinada: alunos de Filosofia Código: FLF0115 Sem pré-requisito Prof. Dr. Mauríco Cardoso Keinert Carga horária: 120h Créditos: 06 Número
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA I 1º Semestre de 2015 Disciplina Obrigatória Destinada: alunos de Filosofia Código: FLF0115 Sem pré-requisito Prof. Dr. Mauríco Cardoso Keinert Carga horária: 120h Créditos: 06 Número
1. A dialética de Hegel a) envolve duas etapas, formadas por opostos encontrados na natureza (dia-noite, claro-escuro, friocalor).
 Exercícios sobre Hegel e a dialética EXERCÍCIOS 1. A dialética de Hegel a) envolve duas etapas, formadas por opostos encontrados na natureza (dia-noite, claro-escuro, friocalor). b) é incapaz de explicar
Exercícios sobre Hegel e a dialética EXERCÍCIOS 1. A dialética de Hegel a) envolve duas etapas, formadas por opostos encontrados na natureza (dia-noite, claro-escuro, friocalor). b) é incapaz de explicar
Uma leitura heideggeriana da finitude na Crítica da Razão Pura de Kant A Heideggerian approach of finitude on Kant s Critique of Pure Reason
 Uma leitura heideggeriana da finitude na Crítica da Razão Pura de Kant A Heideggerian approach of finitude on Kant s Critique of Pure Reason Fernanda Leite Doutoranda em Filosofia pelo PPGF-UFRJ/Bolsista
Uma leitura heideggeriana da finitude na Crítica da Razão Pura de Kant A Heideggerian approach of finitude on Kant s Critique of Pure Reason Fernanda Leite Doutoranda em Filosofia pelo PPGF-UFRJ/Bolsista
Kant e a Razão Crítica
 Kant e a Razão Crítica Kant e a Razão Crítica 1. Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei (independentemente da natureza dos objetos do querer). O princípio
Kant e a Razão Crítica Kant e a Razão Crítica 1. Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei (independentemente da natureza dos objetos do querer). O princípio
Turma/Disciplina /História da Filosofia Moderna /1. Número de Créditos Teóricos Práticos Estágio Total
 Seção 1. Caracterização complementar da turma/disciplina Turma/Disciplina 1001074/História da Filosofia Moderna 2 2018/1 Professor Responsável: Objetivos Gerais da Disciplina Paulo R. Licht dos Santos
Seção 1. Caracterização complementar da turma/disciplina Turma/Disciplina 1001074/História da Filosofia Moderna 2 2018/1 Professor Responsável: Objetivos Gerais da Disciplina Paulo R. Licht dos Santos
4 - Considerações finais
 4 - Considerações finais Eduardo Ramos Coimbra de Souza SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros SOUZA, ERC. Considerações finais. In: Schopenhauer e os conhecimentos intuitivo e abstrato: uma teoria
4 - Considerações finais Eduardo Ramos Coimbra de Souza SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros SOUZA, ERC. Considerações finais. In: Schopenhauer e os conhecimentos intuitivo e abstrato: uma teoria
JUÍZOS INFINITOS E DETERMINAÇÃO EM KANT
 SÍLVIA ALTMANN JUÍZOS INFINITOS E DETERMINAÇÃO EM KANT Sílvia Altmann UFRGS/CNPQ Na tábua dos juízos, sob o título da qualidade, Kant introduz três momentos: juízos afirmativos, negativos e infinitos.
SÍLVIA ALTMANN JUÍZOS INFINITOS E DETERMINAÇÃO EM KANT Sílvia Altmann UFRGS/CNPQ Na tábua dos juízos, sob o título da qualidade, Kant introduz três momentos: juízos afirmativos, negativos e infinitos.
2 A Concepção Moral de Kant e o Conceito de Boa Vontade
 O PRINCÍPIO MORAL NA ÉTICA KANTIANA: UMA INTRODUÇÃO Jaqueline Peglow Flavia Carvalho Chagas Universidade Federal de Pelotas 1 Introdução O presente trabalho tem como propósito analisar a proposta de Immanuel
O PRINCÍPIO MORAL NA ÉTICA KANTIANA: UMA INTRODUÇÃO Jaqueline Peglow Flavia Carvalho Chagas Universidade Federal de Pelotas 1 Introdução O presente trabalho tem como propósito analisar a proposta de Immanuel
Aula Véspera UFU Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Professor Uilson Fernandes Uberaba 16 Abril de 2015
 Aula Véspera UFU 2015 Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Professor Uilson Fernandes Uberaba 16 Abril de 2015 NORTE DA AVALIAÇÃO O papel da Filosofia é estimular o espírito crítico, portanto, ela não pode
Aula Véspera UFU 2015 Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Professor Uilson Fernandes Uberaba 16 Abril de 2015 NORTE DA AVALIAÇÃO O papel da Filosofia é estimular o espírito crítico, portanto, ela não pode
IDEALISMO ESPECULATIVO, FELICIDADE E ESPÍRITO LIVRE CURSO DE EXTENSÃO 24/10/ Prof. Ricardo Pereira Tassinari
 IDEALISMO ESPECULATIVO, FELICIDADE E ESPÍRITO LIVRE CURSO DE EXTENSÃO 24/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 PSICOLOGIA: O ESPÍRITO 440 ( ) O Espírito começa, pois, só a partir do seu
IDEALISMO ESPECULATIVO, FELICIDADE E ESPÍRITO LIVRE CURSO DE EXTENSÃO 24/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 PSICOLOGIA: O ESPÍRITO 440 ( ) O Espírito começa, pois, só a partir do seu
IMMANUEL KANT ( ) E O CRITICISMO
 AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas RUBENS expostos. RAMIRO Todo JR exemplo (TODOS citado
AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas RUBENS expostos. RAMIRO Todo JR exemplo (TODOS citado
FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS
 FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO - 36 Esperava-se que o estudante estabelecesse a distinção entre verdade e validade e descrevesse suas respectivas aplicações. Item
FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO - 36 Esperava-se que o estudante estabelecesse a distinção entre verdade e validade e descrevesse suas respectivas aplicações. Item
Teoria do Conhecimento:
 Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
LIBERDADE E MORALIDADE EM KANT 1
 1 LIBERDADE E MORALIDADE EM KANT 1 Diego Carlos Zanella 2 Liliana Souza de Oliveira 3 Resumo: O texto tem a pretensão de discorrer sobre um dos principais problemas da ética kantiana, a saber, como é possível
1 LIBERDADE E MORALIDADE EM KANT 1 Diego Carlos Zanella 2 Liliana Souza de Oliveira 3 Resumo: O texto tem a pretensão de discorrer sobre um dos principais problemas da ética kantiana, a saber, como é possível
3 Tempo e Espaço na Estética transcendental
 3 Tempo e Espaço na Estética transcendental 3.1. Exposição metafísica dos conceitos de tempo e espaço Kant antecipa então na Dissertação alguns argumentos que serão posteriormente, na Crítica da razão
3 Tempo e Espaço na Estética transcendental 3.1. Exposição metafísica dos conceitos de tempo e espaço Kant antecipa então na Dissertação alguns argumentos que serão posteriormente, na Crítica da razão
Universidade Federal de São Carlos
 Código e nome da disciplina: História da Filosofia Moderna 5 Professor responsável: Paulo R. Licht dos Santos Objetivos gerais: Fazer com que o estudante adquira uma prática de leitura aprofundada e de
Código e nome da disciplina: História da Filosofia Moderna 5 Professor responsável: Paulo R. Licht dos Santos Objetivos gerais: Fazer com que o estudante adquira uma prática de leitura aprofundada e de
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010
 NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010 12 Daniel José Crocoli * A obra Sobre ética apresenta as diferentes formas de se pensar a dimensão ética, fazendo
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010 12 Daniel José Crocoli * A obra Sobre ética apresenta as diferentes formas de se pensar a dimensão ética, fazendo
FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA PROFESSOR: REINALDO SOUZA
 FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA PROFESSOR: REINALDO SOUZA Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. G. W. F. HEGEL (1770-1831) Século XIX Revolução Industrial (meados do século XVIII) Capitalismo; Inovações
FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA PROFESSOR: REINALDO SOUZA Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. G. W. F. HEGEL (1770-1831) Século XIX Revolução Industrial (meados do século XVIII) Capitalismo; Inovações
TEORIA DO CONHECIMENTO. Aulas 2, 3, 4,5 - Avaliação 1 Joyce Shimura
 TEORIA DO CONHECIMENTO Aulas 2, 3, 4,5 - Avaliação 1 Joyce Shimura - O que é conhecer? - Como o indivíduo da imagem se relaciona com o mundo ou com o conhecimento? Janusz Kapusta, Homem do conhecimento
TEORIA DO CONHECIMENTO Aulas 2, 3, 4,5 - Avaliação 1 Joyce Shimura - O que é conhecer? - Como o indivíduo da imagem se relaciona com o mundo ou com o conhecimento? Janusz Kapusta, Homem do conhecimento
Filosofia (aula 13) Dimmy Chaar Prof. de Filosofia. SAE
 Filosofia (aula 13) Prof. de Filosofia SAE leodcc@hotmail.com (...) embora todo conhecimento comece com a experiência, nem por isso ele se origina justamente da experiência. Pois poderia bem acontecer
Filosofia (aula 13) Prof. de Filosofia SAE leodcc@hotmail.com (...) embora todo conhecimento comece com a experiência, nem por isso ele se origina justamente da experiência. Pois poderia bem acontecer
PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02
 PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02 2 A EPISTEMOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO Ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. Como podemos conhecer
PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02 2 A EPISTEMOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO Ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. Como podemos conhecer
A TEORIA DINÂMICA DE KANT 1
 A TEORIA DINÂMICA DE KANT 1 Ednilson Gomes Matias PPG Filosofia, Universidade Federal do Ceará (CNPq / CAPES) ednilsonmatias@alu.ufc.br Resumo A seguinte pesquisa tem por objetivo analisar a filosofia
A TEORIA DINÂMICA DE KANT 1 Ednilson Gomes Matias PPG Filosofia, Universidade Federal do Ceará (CNPq / CAPES) ednilsonmatias@alu.ufc.br Resumo A seguinte pesquisa tem por objetivo analisar a filosofia
A CIÊNCIA GENUÍNA DA NATUREZA EM KANT 1
 A CIÊNCIA GENUÍNA DA NATUREZA EM KANT 1 Ednilson Gomes Matias 2 RESUMO: O seguinte trabalho trata da concepção de ciência genuína da natureza desenvolvida por Immanuel Kant nos Princípios metafísicos da
A CIÊNCIA GENUÍNA DA NATUREZA EM KANT 1 Ednilson Gomes Matias 2 RESUMO: O seguinte trabalho trata da concepção de ciência genuína da natureza desenvolvida por Immanuel Kant nos Princípios metafísicos da
As provas da existência de Deus: Tomás de Aquino e o estabelecimento racional da fé. Colégio Cenecista Dr. José Ferreira
 As provas da existência de Deus: Tomás de Aquino e o estabelecimento racional da fé. Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Tomás de Aquino (1221-1274) Tomás de Aquino - Tommaso d Aquino - foi um frade dominicano
As provas da existência de Deus: Tomás de Aquino e o estabelecimento racional da fé. Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Tomás de Aquino (1221-1274) Tomás de Aquino - Tommaso d Aquino - foi um frade dominicano
Universidade Federal de São Carlos
 Código e nome da disciplina: 18047-5 Estudos dirigidos de Filosofia 2 Professor responsável: Francisco Prata Gaspar Objetivos gerais: Orientar o estudante no exercićio de uma pra tica de leitura meto dica
Código e nome da disciplina: 18047-5 Estudos dirigidos de Filosofia 2 Professor responsável: Francisco Prata Gaspar Objetivos gerais: Orientar o estudante no exercićio de uma pra tica de leitura meto dica
COLÉGIO SHALOM ENSINO MEDIO 1 ANO - filosofia. Profº: TONHÃO Disciplina: FILOSOFIA Aluno (a):. No.
 COLÉGIO SHALOM ENSINO MEDIO 1 ANO - filosofia 65 Profº: TONHÃO Disciplina: FILOSOFIA Aluno (a):. No. ROTEIRO DE RECUERAÇÃO ANUAL 2016 Data: / / FILOSOFIA 1º Ano do Ensino Médio 1º. O recuperando deverá
COLÉGIO SHALOM ENSINO MEDIO 1 ANO - filosofia 65 Profº: TONHÃO Disciplina: FILOSOFIA Aluno (a):. No. ROTEIRO DE RECUERAÇÃO ANUAL 2016 Data: / / FILOSOFIA 1º Ano do Ensino Médio 1º. O recuperando deverá
IMMANUEL KANT ( )
 CONTEXTO HISTÓRICO Segunda metade do século XVIII época de transformações econômicas, sociais, políticas e cultural-ideológicas. A Revolução Industrial e a consolidação do Capitalismo. A Revolução Científica,
CONTEXTO HISTÓRICO Segunda metade do século XVIII época de transformações econômicas, sociais, políticas e cultural-ideológicas. A Revolução Industrial e a consolidação do Capitalismo. A Revolução Científica,
IDEALISMO ESPECULATIVO E ESPÍRITO ABSOLUTO ARTE, RELIGIÃO E FILOSOFIA CURSO DE EXTENSÃO 24/10/ Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1
 IDEALISMO ESPECULATIVO E ESPÍRITO ABSOLUTO ARTE, RELIGIÃO E FILOSOFIA CURSO DE EXTENSÃO 24/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 535 O Estado é a substância ética autoconsciente - a unificação
IDEALISMO ESPECULATIVO E ESPÍRITO ABSOLUTO ARTE, RELIGIÃO E FILOSOFIA CURSO DE EXTENSÃO 24/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 535 O Estado é a substância ética autoconsciente - a unificação
John Locke ( ) Inatismo e Empirismo: Inatismo: Empirismo:
 John Locke (1632 1704) John Locke é o iniciador da teoria do conhecimento propriamente dita por que se propõe a analisar cada uma das formas de conhecimento que possuímos a origem de nossas idéias e nossos
John Locke (1632 1704) John Locke é o iniciador da teoria do conhecimento propriamente dita por que se propõe a analisar cada uma das formas de conhecimento que possuímos a origem de nossas idéias e nossos
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER
 RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
percepção vital não está localizada num órgão específico (por exemplo, o sentimento de fadiga corporal, pois esse está no corpo próprio do vivente,
 88 5 Conclusão Procuramos agora ver se nossa hipótese inicial pode ser aceita. Perguntamonos se o fenômeno da simpatia, como apresentado dentro do pensamento de Max Scheler, pode ter sua fundamentação
88 5 Conclusão Procuramos agora ver se nossa hipótese inicial pode ser aceita. Perguntamonos se o fenômeno da simpatia, como apresentado dentro do pensamento de Max Scheler, pode ter sua fundamentação
PESQUISA E DIREITO MÉTODOS DE PESQUISA CIENTÍFICA. Artur Stamford da Silva Prof. Associado UFPE/CCJ/FDR/DTGDDP
 PESQUISA E DIREITO MÉTODOS DE PESQUISA CIENTÍFICA Artur Stamford da Silva Prof. Associado UFPE/CCJ/FDR/DTGDDP C I Ê N C I A Y X falar por dados MÉTODOS caminhos abstrato teórico e TÉCNICAS real /caso vivência
PESQUISA E DIREITO MÉTODOS DE PESQUISA CIENTÍFICA Artur Stamford da Silva Prof. Associado UFPE/CCJ/FDR/DTGDDP C I Ê N C I A Y X falar por dados MÉTODOS caminhos abstrato teórico e TÉCNICAS real /caso vivência
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA II 2º Semestre de 2018 Disciplina Obrigatória Destinada: alunos do curso de Filosofia Código: FLF0239 Pré-requisito: FLF0238 Prof. Dr. Maurício Keinert Carga horária: 120h
HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA II 2º Semestre de 2018 Disciplina Obrigatória Destinada: alunos do curso de Filosofia Código: FLF0239 Pré-requisito: FLF0238 Prof. Dr. Maurício Keinert Carga horária: 120h
SERGIO LEVI FERNANDES DE SOUZA. Principais mudanças da revolução copernicana e as antinomias da razão pura.
 SERGIO LEVI FERNANDES DE SOUZA Principais mudanças da revolução copernicana e as antinomias da razão pura. Santo André 2014 INTRODUÇÃO Nunca um sistema de pensamento dominou tanto uma época como a filosofia
SERGIO LEVI FERNANDES DE SOUZA Principais mudanças da revolução copernicana e as antinomias da razão pura. Santo André 2014 INTRODUÇÃO Nunca um sistema de pensamento dominou tanto uma época como a filosofia
Estudaremos o papel da razão e do conhecimento na filosofia de Immanuel Kant; Hegel e o idealismo alemão.
 Estudaremos o papel da razão e do conhecimento na filosofia de Immanuel Kant; Hegel e o idealismo alemão. Kant e a crítica da razão Nós s e as coisas Se todo ser humano nascesse com a mesma visão que você
Estudaremos o papel da razão e do conhecimento na filosofia de Immanuel Kant; Hegel e o idealismo alemão. Kant e a crítica da razão Nós s e as coisas Se todo ser humano nascesse com a mesma visão que você
Palavras-chave: Ilusão transcendental. Paradoxo. Razão. Conhecimento.
 Ilusão transcendental e seu papel positivo no processo de conhecimento: um paradoxo da razão? 235 Marcio Tadeu Girotti Doutorando / UFSCar Resumo A lógica da ilusão, objeto da Dialética transcendental,
Ilusão transcendental e seu papel positivo no processo de conhecimento: um paradoxo da razão? 235 Marcio Tadeu Girotti Doutorando / UFSCar Resumo A lógica da ilusão, objeto da Dialética transcendental,
filosofia alemã: idealismo e romantismo
 filosofia alemã: idealismo e romantismo não possuímos conceitos do entendimento e, portanto, tão-pouco elementos para o conhecimento das coisas, senão quando nos pode ser dada a intuição correspondente
filosofia alemã: idealismo e romantismo não possuímos conceitos do entendimento e, portanto, tão-pouco elementos para o conhecimento das coisas, senão quando nos pode ser dada a intuição correspondente
Curso de extensão em Teoria do Conhecimento Moderna
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO Curso de extensão em Teoria do Conhecimento Moderna (Curso de extensão)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO Curso de extensão em Teoria do Conhecimento Moderna (Curso de extensão)
RESUMO. Filosofia. Psicologia, JB
 RESUMO Filosofia Psicologia, JB - 2010 Jorge Barbosa, 2010 1 Saber se o mundo exterior é real e qual a consciência e o conhecimento que temos dele é um dos problemas fundamentais acerca do processo de
RESUMO Filosofia Psicologia, JB - 2010 Jorge Barbosa, 2010 1 Saber se o mundo exterior é real e qual a consciência e o conhecimento que temos dele é um dos problemas fundamentais acerca do processo de
Plano de Ensino. Seção 1. Caracterização complementar da turma/disciplina. Turma/Disciplina: História da Filosofia Moderna /2
 Plano de Ensino Seção 1. Caracterização complementar da turma/disciplina Turma/Disciplina: História da Filosofia Moderna 3 2018/2 Professor Responsável: Francisco Prata Gaspar Objetivos Gerais da Disciplina.
Plano de Ensino Seção 1. Caracterização complementar da turma/disciplina Turma/Disciplina: História da Filosofia Moderna 3 2018/2 Professor Responsável: Francisco Prata Gaspar Objetivos Gerais da Disciplina.
RESENHA AUTOR: Zhi-Hue Wang TÍTULO: Freiheit und Sittlichkeit 1 CIDADE: Würzburg EDITORA: Verlag Königshausen & Neumann ANO: 2004 PÁGINAS: 279
 RESENHA AUTOR: Zhi-Hue Wang TÍTULO: Freiheit und Sittlichkeit 1 CIDADE: Würzburg EDITORA: Verlag Königshausen & Neumann ANO: 2004 PÁGINAS: 279 Pedro Geraldo Aparecido Novelli 2 O livro de Wang tem por
RESENHA AUTOR: Zhi-Hue Wang TÍTULO: Freiheit und Sittlichkeit 1 CIDADE: Würzburg EDITORA: Verlag Königshausen & Neumann ANO: 2004 PÁGINAS: 279 Pedro Geraldo Aparecido Novelli 2 O livro de Wang tem por
BuscaLegis.ccj.ufsc.br
 BuscaLegis.ccj.ufsc.br Hermenêutica jurídica Maria Luiza Quaresma Tonelli* Hermenêutica é um vocábulo derivado do grego hermeneuein, comumente tida como filosofia da interpretação. Muitos autores associam
BuscaLegis.ccj.ufsc.br Hermenêutica jurídica Maria Luiza Quaresma Tonelli* Hermenêutica é um vocábulo derivado do grego hermeneuein, comumente tida como filosofia da interpretação. Muitos autores associam
O problema da causalidade: um desequilíbrio da crítica*
 Cadernos de Filosofia Alemã 5, p. 45-63, 1999 O problema da causalidade: um desequilíbrio da crítica* Maurício C. Keinert** Resumo: O texto procura mostrar, acompanhando a tese de Gérard Lebrun em seu
Cadernos de Filosofia Alemã 5, p. 45-63, 1999 O problema da causalidade: um desequilíbrio da crítica* Maurício C. Keinert** Resumo: O texto procura mostrar, acompanhando a tese de Gérard Lebrun em seu
Sócrates: após destruir o saber meramente opinativo, em diálogo com seu interlocutor, dava início ã procura da definição do conceito, de modo que, o
 A busca da verdade Os filósofos pré-socráticos investigavam a natureza, sua origem de maneira racional. Para eles, o princípio é teórico, fundamento de todas as coisas. Destaca-se Heráclito e Parmênides.
A busca da verdade Os filósofos pré-socráticos investigavam a natureza, sua origem de maneira racional. Para eles, o princípio é teórico, fundamento de todas as coisas. Destaca-se Heráclito e Parmênides.
O problema da cognoscibilidade de Deus em David Hume
 O problema da cognoscibilidade de Deus em David Hume Djalma Ribeiro David Hume (1711-1776), filósofo e historiador escocês, escreveu uma obra sobre o conhecimento intitulada Investigação sobre o entendimento
O problema da cognoscibilidade de Deus em David Hume Djalma Ribeiro David Hume (1711-1776), filósofo e historiador escocês, escreveu uma obra sobre o conhecimento intitulada Investigação sobre o entendimento
Aristóteles, Ética a Nicômaco, X 7, 1177 b 33.
 91 tornar-se tanto quanto possível imortal Aristóteles, Ética a Nicômaco, X 7, 1177 b 33. 92 5. Conclusão Qual é o objeto da vida humana? Qual é o seu propósito? Qual é o seu significado? De todas as respostas
91 tornar-se tanto quanto possível imortal Aristóteles, Ética a Nicômaco, X 7, 1177 b 33. 92 5. Conclusão Qual é o objeto da vida humana? Qual é o seu propósito? Qual é o seu significado? De todas as respostas
Síntese figurada e esquematismo
 Síntese figurada e esquematismo Danillo Leite PPGLM/UFRJ Na Dedução Transcendental das Categorias, Kant pretende fornecer uma prova de que os nossos conceitos puros do entendimento (ou categorias), ainda
Síntese figurada e esquematismo Danillo Leite PPGLM/UFRJ Na Dedução Transcendental das Categorias, Kant pretende fornecer uma prova de que os nossos conceitos puros do entendimento (ou categorias), ainda
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA II SEMANA DE FILOSOFIA. Perfeição: entre a gradação e a completude
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA II SEMANA DE FILOSOFIA Perfeição: entre a gradação e a completude Aylton Fernando Andrade 1 fs_nandodrummer@hotmail.com O tema da concepção de perfeição é debatido
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA II SEMANA DE FILOSOFIA Perfeição: entre a gradação e a completude Aylton Fernando Andrade 1 fs_nandodrummer@hotmail.com O tema da concepção de perfeição é debatido
Doutrina Transcendental do Método, muito díspares em extensão. 2 ADORNO, T. W. Metaphysics. Stanford: Stanford University Press, 2001, p. 25.
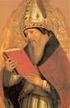 10 1 Introdução Esta dissertação se concentra no marco do pensamento de Kant, a obra Crítica da Razão Pura, embora recorra a trabalhos pré-críticos, à correspondência de Kant, bem como a textos de História
10 1 Introdução Esta dissertação se concentra no marco do pensamento de Kant, a obra Crítica da Razão Pura, embora recorra a trabalhos pré-críticos, à correspondência de Kant, bem como a textos de História
Metodologia do Trabalho Científico
 Metodologia do Trabalho Científico Teoria e Prática Científica Antônio Joaquim Severino Grupo de pesquisa: Educação e saúde /enfermagem: políticas, práticas, formação profissional e formação de professores
Metodologia do Trabalho Científico Teoria e Prática Científica Antônio Joaquim Severino Grupo de pesquisa: Educação e saúde /enfermagem: políticas, práticas, formação profissional e formação de professores
Fil. Monitor: Leidiane Oliveira
 Fil. Professor: Larissa Rocha Monitor: Leidiane Oliveira Moral e ética 03 nov EXERCÍCIOS DE AULA 1. Quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo? São todas as coisas objetos de possíveis deliberações?
Fil. Professor: Larissa Rocha Monitor: Leidiane Oliveira Moral e ética 03 nov EXERCÍCIOS DE AULA 1. Quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo? São todas as coisas objetos de possíveis deliberações?
Crítica do conhecimento teórico e fundamentação moral em Kant
 72 Crítica do conhecimento teórico e fundamentação moral em Kant João Emiliano Fortaleza de Aquino I Filosofia crítica e metafísica Ao Fábio, com amor. A metafísica, tal como Kant a entende, 1 não teria
72 Crítica do conhecimento teórico e fundamentação moral em Kant João Emiliano Fortaleza de Aquino I Filosofia crítica e metafísica Ao Fábio, com amor. A metafísica, tal como Kant a entende, 1 não teria
Marco Aurélio Oliveira da Silva*
 VELDE, Rudi A. te. Aquinas on God. The divine science of the Summa Theologiae, Aldershot: Ashgate, Ashgate Studies in the History of Philosophical Theology, 2006, viii+192p. Marco Aurélio Oliveira da Silva*
VELDE, Rudi A. te. Aquinas on God. The divine science of the Summa Theologiae, Aldershot: Ashgate, Ashgate Studies in the History of Philosophical Theology, 2006, viii+192p. Marco Aurélio Oliveira da Silva*
Sobre este trecho do livro VII de A República, de Platão, é correto afirmar.
 O que é o mito da caverna? O que levou Platão a se decepcionar com a política? 3) Mas quem fosse inteligente (...) lembrar-se-ia de que as perturbações visuais são duplas, e por dupla causa, da passagem
O que é o mito da caverna? O que levou Platão a se decepcionar com a política? 3) Mas quem fosse inteligente (...) lembrar-se-ia de que as perturbações visuais são duplas, e por dupla causa, da passagem
Argumentos e Validade Petrucio Viana
 GAN00166: Lógica para Ciência da Computação Texto da Aula 7 Argumentos e Validade Petrucio Viana Departamento de Análise, IME UFF Sumário 1 Argumentos 1 1.1 Observações................................
GAN00166: Lógica para Ciência da Computação Texto da Aula 7 Argumentos e Validade Petrucio Viana Departamento de Análise, IME UFF Sumário 1 Argumentos 1 1.1 Observações................................
Lecionação da Filosofia da Religião a partir da Lógica, Metafísica e Epistemologia
 Lecionação da Filosofia da Religião a partir da Lógica, Metafísica e Epistemologia Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe v180713 Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe 1/23 Plano 1 Introdução 2 Problema de
Lecionação da Filosofia da Religião a partir da Lógica, Metafísica e Epistemologia Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe v180713 Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe 1/23 Plano 1 Introdução 2 Problema de
Beckenkamp, Joãosinho. Entre Kant e Hegel. Porto Alegre: Edipucrs, 2004, 288 p.
 Beckenkamp, Joãosinho. Entre Kant e Hegel. Porto Alegre: Edipucrs, 2004, 288 p. Pedro Geraldo Aparecido Novelli 1 Entre Kant e Hegel tem por objetivo mostrar a filosofia que vai além de Kant e Hegel, mas
Beckenkamp, Joãosinho. Entre Kant e Hegel. Porto Alegre: Edipucrs, 2004, 288 p. Pedro Geraldo Aparecido Novelli 1 Entre Kant e Hegel tem por objetivo mostrar a filosofia que vai além de Kant e Hegel, mas
A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS
 A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS O que é a metafísica? É a investigação das causas primeiras de todas as coisas existentes e estuda o ser enquanto ser. É a ciência que serve de fundamento para
A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS O que é a metafísica? É a investigação das causas primeiras de todas as coisas existentes e estuda o ser enquanto ser. É a ciência que serve de fundamento para
AS RELAÇÕES CONSTITUTIVAS DO SER SOCIAL
 AS RELAÇÕES CONSTITUTIVAS DO SER SOCIAL BASTOS, Rachel Benta Messias Faculdade de Educação rachelbenta@hotmail.com Os seres humanos produzem ações para garantir a produção e a reprodução da vida. A ação
AS RELAÇÕES CONSTITUTIVAS DO SER SOCIAL BASTOS, Rachel Benta Messias Faculdade de Educação rachelbenta@hotmail.com Os seres humanos produzem ações para garantir a produção e a reprodução da vida. A ação
RESOLUÇÃO FILOSOFIA SEGUNDA FASE UFU SEGUNDO DIA
 RESOLUÇÃO FILOSOFIA SEGUNDA FASE UFU SEGUNDO DIA 1) Para Parmênides o devir ou movimento é uma mera aparência provocada pelos enganos de nossos sentidos. A realidade é constituída pelo Ser que é identificado
RESOLUÇÃO FILOSOFIA SEGUNDA FASE UFU SEGUNDO DIA 1) Para Parmênides o devir ou movimento é uma mera aparência provocada pelos enganos de nossos sentidos. A realidade é constituída pelo Ser que é identificado
Teoria do conhecimento de David Hume
 Hume e o empirismo radical Premissas gerais empiristas de David Hume ( que partilha com os outros empiristas ) Convicções pessoais de David Hume: Negação das ideias inatas A mente é uma tábua rasa/folha
Hume e o empirismo radical Premissas gerais empiristas de David Hume ( que partilha com os outros empiristas ) Convicções pessoais de David Hume: Negação das ideias inatas A mente é uma tábua rasa/folha
22/08/2014. Tema 7: Ética e Filosofia. O Conceito de Ética. Profa. Ma. Mariciane Mores Nunes
 Tema 7: Ética e Filosofia Profa. Ma. Mariciane Mores Nunes O Conceito de Ética Ética: do grego ethikos. Significa comportamento. Investiga os sistemas morais. Busca fundamentar a moral. Quer explicitar
Tema 7: Ética e Filosofia Profa. Ma. Mariciane Mores Nunes O Conceito de Ética Ética: do grego ethikos. Significa comportamento. Investiga os sistemas morais. Busca fundamentar a moral. Quer explicitar
SUMÁRIO PRIMEIRA PARTE 31 CONSIDERAÇÃO PREVIA 15 DETERMINAÇÃO POSITIVA DA FILOSOFIA A PARTIR DO CONTEÚDO DA QUESTÃO DA LIBERDADE
 SUMÁRIO CONSIDERAÇÃO PREVIA 15 1. A aparente contradição entre a questão "particular" acerca da essência da liberdade humana e a tarefa "geral" de uma introdução à filosofia 15 a) O "particular" do tema
SUMÁRIO CONSIDERAÇÃO PREVIA 15 1. A aparente contradição entre a questão "particular" acerca da essência da liberdade humana e a tarefa "geral" de uma introdução à filosofia 15 a) O "particular" do tema
A filosofia da história hegeliana e a trindade cristã
 A filosofia da história hegeliana e a trindade cristã Resumo: Lincoln Menezes de França 1 A razão, segundo Hegel, rege o mundo. Essa razão, ao mesmo tempo em que caracteriza o homem enquanto tal, em suas
A filosofia da história hegeliana e a trindade cristã Resumo: Lincoln Menezes de França 1 A razão, segundo Hegel, rege o mundo. Essa razão, ao mesmo tempo em que caracteriza o homem enquanto tal, em suas
ARTE PRIMEIRA PRIMÁRIAS CAPÍTULO D EUS. Deus e o infinito Provas da existência de Deus Atributos da Divindade Panteísmo DEUS E O INFINITO
 O LIVRO DOS ESPÍRITOS PAR ARTE PRIMEIRA AS CAUSAS PRIMÁRIAS CAPÍTULO 1 D EUS Deus e o infinito Provas da existência de Deus Atributos da Divindade Panteísmo DEUS E O INFINITO 1 O que é Deus? Deus é a inteligência
O LIVRO DOS ESPÍRITOS PAR ARTE PRIMEIRA AS CAUSAS PRIMÁRIAS CAPÍTULO 1 D EUS Deus e o infinito Provas da existência de Deus Atributos da Divindade Panteísmo DEUS E O INFINITO 1 O que é Deus? Deus é a inteligência
Os Princípios da Razão a partir da Crítica da Razão Pura de Kant
 Os Princípios da Razão a partir da Crítica da Razão Pura de Kant The Principles of Reason as from the Critique of Pure Reason from Kant MOHAMED F. PARRINI MUTLAQ 1 Resumo: O artigo aborda sobre os reais
Os Princípios da Razão a partir da Crítica da Razão Pura de Kant The Principles of Reason as from the Critique of Pure Reason from Kant MOHAMED F. PARRINI MUTLAQ 1 Resumo: O artigo aborda sobre os reais
4. O sentido comum e a autonomia do gosto
 4. O sentido comum e a autonomia do gosto Neste último capítulo trataremos do sentido comum e da autonomia presentes no juízo de gosto, a fim de mostrar como tais temas nos ajudam a entender melhor a necessidade
4. O sentido comum e a autonomia do gosto Neste último capítulo trataremos do sentido comum e da autonomia presentes no juízo de gosto, a fim de mostrar como tais temas nos ajudam a entender melhor a necessidade
TEORIA DO CONHECIMENTO O QUE É O CONHECIMENTO? COMO NÓS O ALCANÇAMOS?
 TEORIA DO CONHECIMENTO O QUE É O CONHECIMENTO? COMO NÓS O ALCANÇAMOS? Tem como objetivo investigar a origem, a natureza, o valor e os limites do conhecimento Vários filósofos se preocuparam em achar uma
TEORIA DO CONHECIMENTO O QUE É O CONHECIMENTO? COMO NÓS O ALCANÇAMOS? Tem como objetivo investigar a origem, a natureza, o valor e os limites do conhecimento Vários filósofos se preocuparam em achar uma
COLEÇÃO CLE. Editor. ítala M. Loffredo D'Ottaviano. Conselho Editorial. Newton C. A. da Costa (USP) ítala M. Loffredo D'Ottaviano (UNICAMP)
 COLEÇÃO CLE Editor ítala M. Loffredo D'Ottaviano Conselho Editorial Newton C. A. da Costa (USP) ítala M. Loffredo D'Ottaviano (UNICAMP) Fátima R. R. Évora (UNICAMP) Osmyr Faria Gabbi Jr. (UNICAMP) Michel
COLEÇÃO CLE Editor ítala M. Loffredo D'Ottaviano Conselho Editorial Newton C. A. da Costa (USP) ítala M. Loffredo D'Ottaviano (UNICAMP) Fátima R. R. Évora (UNICAMP) Osmyr Faria Gabbi Jr. (UNICAMP) Michel
Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões
 Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões Questão nº 1 - Resposta B Justificativa: O amante do mito é de certo modo também um filósofo, uma vez que o mito se compõe de maravilhas
Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões Questão nº 1 - Resposta B Justificativa: O amante do mito é de certo modo também um filósofo, uma vez que o mito se compõe de maravilhas
Textos de referência: Prefácio à Fenomenologia do Espírito, de G.W.F. Hegel.
 Textos de referência: Prefácio à Fenomenologia do Espírito, de G.W.F. Hegel. Totalidade e conceito A emergência do conceito de saber absoluto, ou de ciência em geral, é apresentada por Hegel na sua ciência
Textos de referência: Prefácio à Fenomenologia do Espírito, de G.W.F. Hegel. Totalidade e conceito A emergência do conceito de saber absoluto, ou de ciência em geral, é apresentada por Hegel na sua ciência
Roteiro para a leitura do texto
 WEBER, Max - A "objetividade" do conhecimento nas Ciências Sociais In: Max Weber: A objetividade do conhecimento nas ciências sociais São Paulo: Ática, 2006 (: 13-107) Roteiro para a leitura do texto Data
WEBER, Max - A "objetividade" do conhecimento nas Ciências Sociais In: Max Weber: A objetividade do conhecimento nas ciências sociais São Paulo: Ática, 2006 (: 13-107) Roteiro para a leitura do texto Data
O ESTADO MODERNO COMO PROCESSO HISTÓRICO A formação do Estado na concepção dialética de Hegel
 1 O ESTADO MODERNO COMO PROCESSO HISTÓRICO A formação do Estado na concepção dialética de Hegel ELINE LUQUE TEIXEIRA 1 eline.lt@hotmail.com Sumário:Introdução; 1. A dialética hegeliana; 2. A concepção
1 O ESTADO MODERNO COMO PROCESSO HISTÓRICO A formação do Estado na concepção dialética de Hegel ELINE LUQUE TEIXEIRA 1 eline.lt@hotmail.com Sumário:Introdução; 1. A dialética hegeliana; 2. A concepção
e a intencionalidade da consciência na Fenomenologia
 Consciência transcendental e a intencionalidade da consciência na Fenomenologia do Direito André R. C. Fontes* A noção de consciência na Filosofia emerge nas obras contemporâneas e sofre limites internos
Consciência transcendental e a intencionalidade da consciência na Fenomenologia do Direito André R. C. Fontes* A noção de consciência na Filosofia emerge nas obras contemporâneas e sofre limites internos
RESENHA. HUSSERL, Edmund. A ideia da Fenomenologia. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, p.
 RESENHA HUSSERL, Edmund. A ideia da Fenomenologia. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2008. 133 p. Mauro Sérgio de Carvalho TOMAZ A ideia da fenomenologia reúne cinco lições pronunciadas em Göttingen,
RESENHA HUSSERL, Edmund. A ideia da Fenomenologia. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2008. 133 p. Mauro Sérgio de Carvalho TOMAZ A ideia da fenomenologia reúne cinco lições pronunciadas em Göttingen,
2 Idéia da Razão O Idealismo Transcendental
 2 Idéia da Razão 2.1. O Idealismo Transcendental Kant, na Crítica da razão pura, visando colocar a metafísica em um caminho seguro, viu-se com a tarefa de investigar se, e em que condições, é possível
2 Idéia da Razão 2.1. O Idealismo Transcendental Kant, na Crítica da razão pura, visando colocar a metafísica em um caminho seguro, viu-se com a tarefa de investigar se, e em que condições, é possível
A teoria do conhecimento
 conhecimento 1 A filosofia se divide em três grandes campos de investigação. A teoria da ciência, a teoria dos valores e a concepção de universo. Esta última é na verdade a metafísica; a teoria dos valores
conhecimento 1 A filosofia se divide em três grandes campos de investigação. A teoria da ciência, a teoria dos valores e a concepção de universo. Esta última é na verdade a metafísica; a teoria dos valores
Nº Aulas: 8 aulas de 90 minutos
 Agrupamento de Escolas de Mira I- Iniciação à atividade filosófica Nº Aulas: 8 aulas de 90 minutos Contactar com alguns temas e /ou problemas da filosofia. I Abordagem introdutória à Filosofia e Realização
Agrupamento de Escolas de Mira I- Iniciação à atividade filosófica Nº Aulas: 8 aulas de 90 minutos Contactar com alguns temas e /ou problemas da filosofia. I Abordagem introdutória à Filosofia e Realização
OBRA DA ÉPOCA MODERNA: FUNDAMENTAÇÃO DA METAFÍSICA DOS COSTUMES, DE KANT
 Ano lectivo de 2004 / 2005 FILOSOFIA 12º ANO PLANIFICAÇÃO OBRA DA ÉPOCA MODERNA: FUNDAMENTAÇÃO DA METAFÍSICA DOS COSTUMES, DE KANT ESCOLA SECUNDÁRIA ALBERTO SAMPAIO 1 Ano lectivo de 2004 / 2005 FILOSOFIA
Ano lectivo de 2004 / 2005 FILOSOFIA 12º ANO PLANIFICAÇÃO OBRA DA ÉPOCA MODERNA: FUNDAMENTAÇÃO DA METAFÍSICA DOS COSTUMES, DE KANT ESCOLA SECUNDÁRIA ALBERTO SAMPAIO 1 Ano lectivo de 2004 / 2005 FILOSOFIA
BuscaLegis.ccj.ufsc.br
 BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
A construção do objeto nas Ciências Sociais: formulando problemas e hipóteses de pesquisa. - Ruptura e construção => inerentes à produção científica;
 A construção do objeto nas Ciências Sociais: formulando problemas e hipóteses de pesquisa Como transformar um interesse vago e confuso por um tópico de pesquisa em operações científicas práticas? 1. Construção
A construção do objeto nas Ciências Sociais: formulando problemas e hipóteses de pesquisa Como transformar um interesse vago e confuso por um tópico de pesquisa em operações científicas práticas? 1. Construção
APONTAMENTOS ACERCA DA NOÇÃO DE SER NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA DE KANT. Edegar Fronza Junior. Introdução
 APONTAMENTOS ACERCA DA NOÇÃO DE SER NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA DE KANT Edegar Fronza Junior Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal analisar e discutir a noção de ser na Crítica da Razão Pura
APONTAMENTOS ACERCA DA NOÇÃO DE SER NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA DE KANT Edegar Fronza Junior Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal analisar e discutir a noção de ser na Crítica da Razão Pura
Com a Crítica da Razão Pura, obra que inaugura a filosofia crítica, Kant O FUNDAMENTO ONTOLÓGICO DA AUTONOMIA EM KANT 1.INTRODUÇÃO
 AUFKLÄRUNG, João Pessoa, v.4, n.3, Set. Dez., 2017, p. 147 160 DOI: http://dx.doi.org/10.18012/arf.2016.37485 Recebido: 11/10/2017 Aceito: 08/12/2017 Licença: Creative Commons 4.0 International (CC BY
AUFKLÄRUNG, João Pessoa, v.4, n.3, Set. Dez., 2017, p. 147 160 DOI: http://dx.doi.org/10.18012/arf.2016.37485 Recebido: 11/10/2017 Aceito: 08/12/2017 Licença: Creative Commons 4.0 International (CC BY
Indiscernibilidade de Idênticos. Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de idênticos
 Indiscernibilidade de Idênticos Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de Consideremos agora o caso das atitudes proposicionais, das construções epistémicas e psicológicas, e perguntemo-nos se é
Indiscernibilidade de Idênticos Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de Consideremos agora o caso das atitudes proposicionais, das construções epistémicas e psicológicas, e perguntemo-nos se é
CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA. Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon.
 CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA Artur Bezzi Gunther Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon. 1. Duração: 02 horas e 15 minutos. 2. Recursos didáticos:
CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA Artur Bezzi Gunther Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon. 1. Duração: 02 horas e 15 minutos. 2. Recursos didáticos:
