O dramaturgo ausente: uma análise das noções de necessidade e de verossimilhança na Poética
|
|
|
- Victor Gabriel Cavalheiro Amaral
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Luisa Severo* O dramaturgo ausente: uma análise das noções de necessidade e de verossimilhança na Poética Resumo Partindo de uma análise das noções de necessidade (to anankaion) e de verossimilhança (to eikós) na Poética de Aristóteles, pretende-se elaborar uma descrição do ofício do poeta trágico. Essa descrição não corresponde diretamente ao texto do tratado aristotélico, mas, por outro lado, brota da interseção de uma série de noções expostas e desenvolvidas pelo filósofo, tais como: a distinção metodológica entre narração e drama, a pretendida unidade do mito e a importância dada à persuasão do espectador. Palavras-chave: necessidade; verossimilhança; persuasão; mito; tragédia; dramaturgo. Abstract Considering the notions of necessity (to anankaion) and probability (to eikós) in Aristotle s Poetics, this article aims to present a description of the tragic poet s work. This description doesn t correspond directly to the text of the treatise, but, on the other hand, springs from the intersection between a series of notions exposed and developed by the philosopher in this context: the methodological distinction between narrative and drama, the unity of the plot and the importance given to the persuasion of the public. Keywords: necessity; probability; persuasion; plot; tragedy; tragic poet. * Professora do Departamento de Filosofia da PUC-Rio.
2 208 Luisa Severo No sexto capítulo da Poética, após formular a célebre definição de tragédia, Aristóteles, como se sabe, fornece uma lista das seis partes que compõem o poema trágico; partes que são entendidas, não quantitativamente (as partes extensas da tragédia serão listadas apenas no capítulo XII), mas como elementos constitutivos do poema. Desses seis elementos, o mito é aquele que mais se destaca. Definido como a composição dos atos, o mito é chamado pelo autor de princípio e como que a alma da tragédia 1, e por mito entende-se claramente a intriga, o enredo, a costura dos acontecimentos ou, em outras palavras, o esqueleto de uma trama trágica. Os dois capítulos seguintes serão inteiramente dedicados, como não poderia deixar de ser, à análise do mito. O sétimo capítulo do tratado se inicia com o esclarecimento de que a tragédia constitui um todo que tem certa grandeza. A seguir, lê-se: Todo é aquilo que tem princípio, meio e fim. Princípio é o que não contém em si mesmo o que quer que siga necessariamente outra coisa e que, pelo contrário, tem depois de si algo com o que está ou estará necessariamente unido. Fim, ao invés, é o que naturalmente sucede a outra coisa, por necessidade ou porque assim acontece na maioria dos casos, e que, depois de si, nada tem. Meio é o que está depois de alguma coisa e tem outra depois de si 2. Seria quase impossível evitar a sensação de evidência e irrelevância desse pequeno trecho em que se inicia a análise do mito, não fosse a significativa repetição, em parágrafo tão curto, dos termos necessidade e necessariamente. Por meio deles, aprendese que a parte pela qual se inicia um mito não deve ter uma ligação intrínseca com o que supostamente lhe antecederia cronologicamente, mas que, por outro lado, deveria sim estar ligada por um elo de necessidade ao que lhe sucede. Da mesma forma, o fim deveria manter ligação de necessidade, ou pelo menos de naturalidade, com o que lhe antecede, e o meio, presumivelmente, manteria a mesma ligação de necessidade com ambas as partes: a anterior e a posterior. A passagem que se segue imediatamente a tal parágrafo o confirma: é necessário que os mitos bem compostos não comecem nem terminem ao acaso 3. É preciso, antes de mais nada, que o autor saiba escolher os melhores recortes, dentro de uma história conhecida ou composta, percebendo devidamente por onde começar, como continuar e em que momento terminar; e Poética, 1450a35. Poética, 1450b Poética, 1450b33.
3 O dramaturgo ausente: uma análise das noções de necessidade e de verossimilhança na Poética 209 evitando, assim, qualquer tipo de casualidade. Donde se cria, evidentemente, um contraste entre as noções de necessidade e de acaso. A partir desse ponto do tratado, ficará absolutamente claro que os critérios segundo os quais é possível analisar se um mito foi adequadamente desenvolvido são os de necessidade (to anankaion) e de verossimilhança (to eikós). Esse par de noções quase indissociáveis na Poética é introduzido ainda ao fim do sétimo capítulo, com a seguinte afirmação: Podemos dizer que o limite suficiente de uma tragédia é o que permite que nas ações uma após outra sucedidas, conformemente à verossimilhança e à necessidade, se dê o transe da infelicidade à felicidade ou da felicidade à infelicidade 4. Daí em diante, os termos serão abundantemente citados ao longo do texto. Mais especificamente, é possível encontrar outras sete passagens em que essas duas noções são apresentadas em conjunto 5. De um total de oito passagens, seis apresentam as noções de verossimilhança e necessidade em associação, ligadas pela conjunção e, que indica a sua interdependência, ao passo que apenas duas apresentam as noções pensadas em alternância, por meio da conjunção ou. Essas duas exceções aparecem nas seguintes ocasiões: 1) quando o autor critica o mito episódico, cuja relação entre as ações não é nem necessária nem verossímil, o que sugere que, se fosse ou uma ou outra coisa, seria superior (isto é, nem um nem outro indica negativamente ou um ou outro ). 2) Quando, tendo introduzido no tratado também as noções de peripécia e de reconhecimento, afirma que estes dois elementos do mito complexo devem resultar das ações que lhes antecederam, ou necessária, ou verossimilmente. Trocando em miúdos: um dos dois vínculos ou o de necessidade ou o de verossimilhança seria neste caso, 4 5 Poética, 1451a ) Porque, de haver acontecido uma dessas coisas, não se seguia necessária e verossimilmente que a outra houvesse de acontecer... (1451a28). 2) Pelas precedentes considerações se manifesta que não é ofício de poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade (1451a36). 3) Por referir-se ao universal entendo eu atribuir a um indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações que, por liame de necessidade e verossimilhança, convêm a tal natureza; (1451b5). 4) Dos mitos e ações simples, os episódicos são os piores. Digo episódico o mito em que a relação entre um e outro não é necessária nem verossímil (1451b32). 5) É, porém, necessário que a peripécia e o reconhecimento surjam da própria estrutura interna do mito, de sorte que venham a resultar dos sucessos antecedentes, ou necessária ou verossimilmente (1452a17). 6)... e esta inversão deve produzir-se, também o dissemos, verossímil e necessariamente (1452a22). 7) Tanto na representação dos caracteres como no entrecho das ações, importa procurar sempre a verossimilhança e a necessidade; por isso, as palavras e os atos de uma personagem de certo caráter devem justificar-se por sua verossimilhança e necessidade, tal como nos mitos os sucessos de ação para ação (1454a28-32). O que nos faz pensar nº30, dezembro de 2011
4 210 Luisa Severo em princípio, suficiente para justificar a relação entre a inversão da fortuna e os acontecimentos anteriores. Subentende-se, porém, que, de preferência, ambos os vínculos aparecerão. E isso porque, como nos sugerem as outras seis passagens, em que as noções de necessidade e de verossimilhança andam sempre de mãos dadas, existe alguma relação íntima também entre ambas. Elas, aparentemente, não formam um par aleatório, mas, pelo contrário, complementam-se de alguma forma. O que não fica tão claro, à primeira leitura, é precisamente a natureza dessa complementariedade. A noção de necessidade, como dito antes, contrasta com a noção de casualidade, e aponta para a firmeza da conexão entre dois acontecimentos de perfazem um mito. A noção de verossimilhança, por sua vez, tem relação intrínseca com a recorrente noção de mímesis esta tão importante no tratado, que chega a confundir-se com a própria definição de poesia e aponta, portanto, para uma recriação de certas condições reais, ou melhor, de certa estrutura de acontecimentos na realidade. Fatos verossímeis são aqueles que poderiam acontecer, não necessariamente aqueles que aconteceram, como nos diz explicitamente o capítulo IX do tratado. Entretanto, ainda que adequada, esta primeira compreensão dos termos não esclarece inteiramente o vínculo entre ambas as noções. Aparentemente, até aqui, elas se somam, mas podem perfeitamente prescindir uma da outra. Não se nota o motivo pelo qual, ainda que sejam vistas eventualmente como alternativas uma à outra, elas aparecem de preferência juntas. Parece-me, entretanto, que há algumas passagens do tratado que contribuem para a elucidação dessa associação mais que frequente entre as noções de necessidade e de verossimilhança. São passagens encontradas a partir do oitavo capítulo da Poética, em que Aristóteles, ainda analisando o enredo trágico, explica a importância daquilo que ficou conhecido como a unidade do mito. Em primeiro lugar, ao fim do capítulo VIII, lemos: Por conseguinte, tal como é necessário que nas demais artes miméticas una seja a imitação, quando o seja de objeto uno, assim também o mito, porque é imitação de ações, deve imitar as que sejam unas e completas, e todos os acontecimentos se devem suceder em conexão tal que, uma vez suprimido ou deslocado um deles, também se confunda ou mude a ordem do todo. Pois não faz parte de um todo o que, quer seja quer não seja, não altera esse todo 6. Um pouco adiante, ao fim do capítulo X, encontra-se outra passagem em conformidade com essa: Porque é muito diverso acontecer uma coisa por causa de outra, 6 Poética, 1451a29-35.
5 O dramaturgo ausente: uma análise das noções de necessidade e de verossimilhança na Poética 211 ou acontecer meramente depois de outra 7. Essas duas últimas passagens asseveram explicitamente que, de preferência, o nexo entre as partes do todo que o mito representa deveria perfazer uma relação causal e não meramente diacrônica, de sucessão de modo que qualquer alteração em alguma dessas partes alterasse a totalidade do conjunto. Ora, o que o tratado parece sugerir é que tal nexo causal coincide precisamente com a mencionada relação de necessidade. Em outras palavras: idealmente, haveria ligação de necessidade entre todas as partes de um mito trágico, isto é, haveria uma relação de causa e efeito que ligaria firmemente os acontecimentos uns aos outros, ao invés de dispô-los aleatoriamente, uns após os outros. E, nesse caso, a verossimilhança entraria como suplente, ou possível substituta da relação de necessidade, de modo que, não havendo necessidade de fato, seria preciso haver ao menos verossimilhança de necessidade. Para Aristóteles, portanto, parece que, idealmente, haveria uma espécie de efeito dominó: dado o peteleco inicial, todas as ações do mito se sucederiam necessariamente, sem a interferência de nada nem de ninguém. Mas não se pense com isso que o filósofo diminui a importância da noção de verossimilhança frente à de necessidade, já que, por outro lado, também não é desejável que a necessidade entre as partes exista, do ponto de vista lógico, mas não seja evidente aos espectadores. Pelo contrário, como foi anteriormente afirmado, o par necessidade e verossimilhança é quase indissociável: mais do que um verdadeiro efeito dominó, é preciso que haja um presumido efeito dominó; que o espectador tenha a sensação de que assim se deu, ou seja: que esteja persuadido de que houve ligação de necessidade entre as partes do mito. Desse ponto de vista, então, a relação se inverte, e é a necessidade que se torna suplente da verossimilhança: antes de mais nada, é preciso que a relação entre as ações retratadas por um mito pareça ser necessária; se possível for, que seja necessária de fato. Para termos uma noção mais precisa dessa inversão, é forçoso recorrer às duas passagens que, já nos capítulos finais do tratado, falam da preferência das coisas impossíveis, mas verossímeis, sobre as possíveis, mas não convincentes. São essas as seguintes: De preferir às coisas possíveis, mas incríveis, são as impossíveis, mas críveis 8, e Com efeito, na poesia é de preferir o im- 7 8 Poética, 1452a20. Poética, 1460a26. O que nos faz pensar nº30, dezembro de 2011
6 212 Luisa Severo possível que persuade ao possível que não persuade 9. No original, essas duas passagens apresentam oposições simétricas, com expressões quase idênticas. Em ambas, confrontam-se o possível (dunaton) e o impossível (adunaton). Também em ambas, o possível se associa ao não persuasivo (apithanon). A diferença entre ambas é que, na segunda delas, o impossível está associado ao persuasivo (pithanon), enquanto que na primeira está associado, e não por acaso, ao verossímil (eikota). Donde se depreende que existe, evidentemente, uma forte conexão entre o verossímil e o persuasivo. Não é à toa que muitos intérpretes sugerem como tradução para o termo grego eikós a palavra plausibilidade, ou mesmo probabilidade. Isso ocorre porque, além de a noção possuir uma forte conotação de semelhança com a realidade, possui também uma ampla associação com o âmbito da crença, ou ainda, do que parece plausível para o público. O que resulta, portanto, da preferência do impossível crível ao possível incrível é, do ponto de vista do par que aqui me interessa, uma preferência da verossimilhança frente à necessidade. Nunca haverá relação de necessidade envolvendo um elemento impossível, é evidente, pois o que é impossível não se segue necessariamente a nada. Logo, conclui-se que, ao menos nesses trechos finais, há um claro privilégio da verossimilhança em detrimento da necessidade. Em outras passagens do próprio capítulo XXV, Aristóteles esclarecerá que o ideal é respeitar também a possibilidade dos fatos. Porém, tendo sido representados fatos impossíveis, e sendo essa burla justificável do ponto de vista do efeito poético, ela torna-se desculpável 10. O que se confirma por meio desse jogo entre o preferível e o aceitável, portanto, é que, mais até do que a própria necessidade, o importante é que haja verossimilhança, plausibilidade, probabilidade do ponto de vista da crença do espectador, e tudo isso em função da persuasão. É preciso, sobretudo, que o espectador seja convencido da possibilidade do fato, e da sua ligação causal com o que o antecede e sucede. Essa conclusão torna-se evidente se lembrarmos que, no contexto geral da Póetica, e em vários capítulos em particular, o que mais importa é surtir o efeito que se deve surtir sobre o espectador. Esse é o fim da tragédia, e, como se sabe, a finalidade é de tudo o que mais importa Poética, 1461b10. Poética, 1460b Poética, 1450a24.
7 O dramaturgo ausente: uma análise das noções de necessidade e de verossimilhança na Poética 213 Antes de dar prosseguimento ao presente argumento, é relevante assinalar que, da associação entre as noções de necessidade e de verossimilhança, não se segue que o espectador deva ser capaz de prever o resultado das ações que compõem um mito. Ao contrário, um mito previsível não é preferido pelo público, e a genialidade de Aristóteles, nesse ponto, é fazer ver que o melhor autor é precisamente aquele que faz crer (verossimilhança) que haja um efeito dominó (necessidade), mas que ainda assim seja capaz de surpreender, apresentando resultados paradoxais, isto é: contrários à opinião habitual, ou ainda, contra as expectativas do espectador. Raro e difícil, por conseguinte, é o poeta ser tão bom a ponto de surpreender com o imprevisível de um enredo que, ainda assim, apresenta internamente relações de necessidade e de verossimilhança. Pelo menos duas passagens demonstram essa riqueza da análise aristotélica, e evitam que as noções de verossímil e necessário na Poética sejam compreendidas de modo apressado. A primeira delas se encontra no capítulo XVIII, quando, após haver citado alguns casos trágicos, o autor comenta: Todas são verossímeis ao modo como o entende Agatão, quando diz: verossimilmente muitos casos se dão, e ainda que contrários à verossimilhança 12. A segunda delas encontra-se no capítulo XXV, no ponto em que, discutindo precisamente a questão da preferência do impossível que persuade ao possível que não persuade, o filósofo argumenta que às vezes irracional parece o que não o é, pois verossimilmente acontecem coisas que inverossímeis parecem 13. Essas duas passagens, tomadas conjuntamente, impedem que se identifique o verossímil trágico com o previsível, conhecido, banal. Impedem, portanto, que se pense na tragédia como uma reprodução de acontecimentos habituais e, consequentemente, que se pense na representação trágica como naturalista. Muito pelo contrário, mister é que o autor saiba escolher eventos reais que se mostrem como raros e inabituais, e por isso surpreendentes, ou que invente sucessos fictícios que pareçam fazer parte do grupo de eventos do tipo referido acima. Essas colocações, aliás, complementam um exemplo que fora dado muito antes, ao fim do capítulo IX. Ali, Aristóteles esclarecera que, visto ser a tragédia imitação de casos que suscitam o medo e a piedade, e já que tais emoções se manifestam principalmente quando nos deparamos com ações paradoxais, então, evidentemente, os mitos mais bem compostos são precisamente aqueles que nos surpreendem, por 12 Poética, 1456a Poética, 1461b15. O que nos faz pensar nº30, dezembro de 2011
8 214 Luisa Severo serem mais propícios a causar as referidas emoções 14. Ora, o caso mencionado pelo filósofo como exemplo de tais tipos de acontecimentos é o de um evento fortuito, mas que parece ter ocorrido propositalmente, a saber: o evento da estátua de Mítis que, caindo em cima do próprio assassino de Mítis, matou-o. Esse fato, como alega ainda o estagirita, não parece devido ao mero acaso. O que se depreende da história narrada, se somada aos comentários sobre as passagens anteriormente aludidas, é que um fato raro, surpreendente, não é necessariamente inverossímil, dado precisamente que ocorrem de fato, na realidade, eventos que, de tão raros, parecem inventados. É como se alguém, olhando uma bela flor artificial, exclamasse: Parece de verdade!, enquanto que outro, admirando uma bela flor natural, exclamasse ainda: Parece de mentira!. O evento real, quase inverossímil de tão surpreendente, parece ter sido inventado, o que faz, inversamente, com que o evento inventado de modo surpreendente possa parecer real e verossímil, se for bem elaborado. Feita essa digressão nada irrelevante para o assunto aqui abordado, é preciso retornar para o eixo principal da presente argumentação. Dizia-se que se, por um lado, a ligação de necessidade entre as ações parece ser absolutamente necessária, devido à constante ênfase aristotélica em uma desejável unidade causal, por outro lado, é preferível haver uma relação verossimilmente necessária entre as ações do mito, a haver uma relação logicamente (isto é, realmente) necessária, mas que não pareça como tal aos espectadores. E isso ocorre porque o espectador precisa estar convencido de que tudo se deu por um liame de necessidade, já que, como sabemos, é assim que os efeitos específicos da poesia trágica serão atingidos. É aí que chego ao ponto onde finalmente pretendia chegar: o (real ou aparente) liame de necessidade dispensaria o dramaturgo, ou melhor, provocaria uma sensação de dispensa do dramaturgo, coisa que evidentemente, na prática, não pode acontecer. Em outras palavras, Aristóteles talvez esteja dizendo, nas entrelinhas de seu tratado, que o ideal é que o público seja persuadido de que tudo se desenrolou sem a interferência desse deus externo, onisciente e onipotente, que é o autor em relação à trama. O autor é, ele mesmo, um deus ex machina que deve passar despercebido. Aliás, o grande defeito da máquina teatral propriamente dita e da inserção desse deus que chega para resolver problemas que o autor não consegue resolver sem recorrer a tal expediente é que ela faz lembrar da existência do autor precisamente porque remete à sua falta de técnica. A técnica dramatúrgica trágica, portanto, é, para Aristóteles, a capacidade de 14 Poética, 1452a1-10.
9 O dramaturgo ausente: uma análise das noções de necessidade e de verossimilhança na Poética 215 o autor escrever como se ele mesmo não existisse, e como se o presumido efeito dominó não fosse, na realidade, conduzido artificialmente para uma certa direção. Ainda na própria Poética, há duas maneiras de confirmar essa conclusão: uma delas é a ocasião da classificação dos tipos de reconhecimento que Aristóteles expõe no capítulo XVI. Ali, o segundo pior tipo de reconhecimento é chamado por Aristóteles de reconhecimento urdido pelo poeta 15, que é quando o personagem, segundo as palavras do próprio autor, diz o que o poeta quer que ele diga, e não o que o mito exige 16. Essa presumida exigência do mito nada mais é do que precisamente a noção de necessidade. Em outras palavras, Aristóteles diz que o reconhecimento urdido pelo poeta é aquele em que as falas soam arbitrárias, e por isso parecem inventadas segundo o desejo e a preferência do dramaturgo. Melhor seria que as frases parecessem acompanhar naturalmente e necessariamente o ocorrido, segundo o caráter da personagem. E, portanto, mais uma vez, soassem como dispensa da existência de um autor a conduzir o enredo e seu desenvolvimento. A outra ocasião a confirmar esta hipótese é quando, logo no início do tratado, e na ocasião da exposição dos três critérios de classificação das espécies de poesia, o filósofo entende o modo dramático não narrativo de imitação como aquele em que o poeta imita seus objetos mediante todas as pessoas imitadas, operando e agindo elas mesmas 17. Como se nota, o modo dramático caracteriza-se precisamente pelo aparente sumiço do dramaturgo. Quem age são as personagens representadas; o poeta esconde-se por trás delas, finge que não existe. E tanto melhor o poeta, quanto mais invisível, mais inaparente ele é capaz de se tornar. É como se ele não se encontrasse lá, e víssemos apenas as personagens atuando por si mesmas. Nesse caso, o público seria antes testemunha ocular das ações, do que ouvinte 18. E são precisamente assim os melhores mitos: aqueles em que há, de um lado, nexo de necessidade tal entre os fatos narrados, que sua relação causal esteja explícita para os espectadores, e, de outro lado, verossimilhança tal nas ações, a ponto de suscitar no público a impressão geral de que aquilo poderia estar acontecendo. 15 Poética, 1454b Poética, 1454b35. Poética, 1448a Ideia explícita, aliás, em Retórica, 1386a34, quando, ao falar da capacidade teatral de nos aproximar dos fatos representados, Aristóteles utiliza a expressão pró ommáton, diante dos olhos. O que nos faz pensar nº30, dezembro de 2011
10 216 Luisa Severo Em conclusão, é possível dizer que a técnica da poesia trágica, para Aristóteles, consiste em ter a artimanha de velar a própria artimanha. É preciso dominar a capacidade de encobrir os artifícios, os quais, se até certo ponto indispensáveis, não podem, no entanto, ser aparentes. Mechané, artifício ou expediente aparentes enfraquecem um mito trágico. Podem existir, mas apenas invisíveis, nunca visíveis. É propriamente a visibilidade do artifício que debilita uma trama. É preciso, em suma, ter um expediente para fazer desaparecer o expediente. O expediente que se mostra como tal, que aparece, é o expediente com artificialidade, com arbitrariedade, urdido pelo poeta. A artificialidade e a arbitrariedade são entendidas como a revelação, à revelia, das artimanhas do autor. O autor, consequentemente, joga com o público um jogo de esconder, e melhor, como em todo jogo, é, evidentemente, aquele que nunca é encontrado. Como resultado dessa técnica dramatúrgica, temos que o espectador de tragédias é provavelmente aquele que, dentre todos os contempladores de produtos miméticos, mais se sente próximo do acontecimento representado. A tragédia, por ser capaz de botar a ação diante de nossos olhos, nos envolve em sua trama, provocando no público um sentimento de proximidade dos fatos e de identificação com as personagens. É por este motivo que já o sabia Platão como também já o notara Górgias a tragédia possui em altíssimo grau o poder de comoção do espectador. E é também pela mesma razão que como ressalta na Poética o próprio Aristóteles as emoções as quais a tragédia tem especificamente a finalidade de suscitar são medo e piedade (phóbos e éleos), sentimentos que, não por acaso, exigem a sensação, respectivamente, de iminência do mal ameaçador, e de proximidade das pessoas a quem o mal se abateu 19. Em suma: emoções que exigem a máxima aproximação possível entre os espectadores e a cena 20. Aproximação causada, principalmente, pela habilidade do bom autor trágico de fingir que nunca esteve ali, e de dar vida às personagens, deixando-as falarem e agirem por si sós. 19 Retórica II, caps V e VIII. 20 Desde que guardem, é claro, o mínimo grau de distanciamento necessário para que não interfiram na cena. Até certo ponto, portanto, é preciso estar consciente da representação.
11 O dramaturgo ausente: uma análise das noções de necessidade e de verossimilhança na Poética 217 Referências Bibliográficas Aristóteles. Retórica das Paixões. Introdução, notas e tradução do grego, Isis Borges da Fonseca. Prefácio, Michel Meyer. São Paulo: Martins Fontes, Aristóteles. Poética. Tradução, comentários e índices de Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural, Aristóteles. La Poétique. Texte, traduction, notes par Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot. Paris : Éditions du Seuil, Belo, Fernando. Leituras de Aristóteles e de Nietzsche. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Destrée, Pierre. Éducation Morale et Catharsis Tragique. Les Études Philosophiques. Bruxelles, p ; Donini, Pierre. Mimèsis Tragique et Apprentissage de la Phronèsis. Les Études Philosophiques, Bruxelles, p , Janko, R. Aristotle. Poetics I with the tractatus Coisilinianus. A Hypothetical Reconstruction of Poetics II. The Fragments of On poets. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Co., Klimsis, S. Voir, Regarder, Contempler: le plaisir de la reconnaissance de l humain. Les Études Philosophiques, Bruxelles, p , O que nos faz pensar nº30, dezembro de 2011
A Poética de Aristóteles (1) a.c.
 A Poética de Aristóteles (1) 384-322 a.c. OBJETO: A POESIA Natureza Gêneros Elementos PERFEIÇÃO Composição Efetividade NATUREZA DA POESIA POESIA = IMITAÇÃO ORIGEM DA POESIA Imitar (congênito) Causas naturais:
A Poética de Aristóteles (1) 384-322 a.c. OBJETO: A POESIA Natureza Gêneros Elementos PERFEIÇÃO Composição Efetividade NATUREZA DA POESIA POESIA = IMITAÇÃO ORIGEM DA POESIA Imitar (congênito) Causas naturais:
Narração e drama em Aristóteles Luisa Severo Buarque de Holanda 1
 Narração e drama em Aristóteles Luisa Severo Buarque de Holanda 1 A Poética de Aristóteles se inicia pela afirmação de que o tema a ser abordado pelo tratado que se seguirá, a saber, a arte poética, pode
Narração e drama em Aristóteles Luisa Severo Buarque de Holanda 1 A Poética de Aristóteles se inicia pela afirmação de que o tema a ser abordado pelo tratado que se seguirá, a saber, a arte poética, pode
Narrativa e informação
 Narrativa e informação emissor = formulador da sintaxe da mensagem receptor = intérprete da semântica A recepção qualifica a comunicação. É por isso que o receptor tem papel fundamental no processo de
Narrativa e informação emissor = formulador da sintaxe da mensagem receptor = intérprete da semântica A recepção qualifica a comunicação. É por isso que o receptor tem papel fundamental no processo de
ARISTÓTELES E A ARTE POÉTICA. Prof. Arlindo F. Gonçalves Jr.
 ARISTÓTELES E A ARTE POÉTICA Prof. Arlindo F. Gonçalves Jr. http://www.mural-2.com BELO ARTE Rompe com a identificação entre o Belo e o Bem (kalokagathía) não obstante afirmar que a virtude (areté) é uma
ARISTÓTELES E A ARTE POÉTICA Prof. Arlindo F. Gonçalves Jr. http://www.mural-2.com BELO ARTE Rompe com a identificação entre o Belo e o Bem (kalokagathía) não obstante afirmar que a virtude (areté) é uma
5 Considerações finais
 77 5 Considerações finais A tese intelectualista da katharsis apóia-se fundamentalmente na Poética IV 1448b4-19, onde Aristóteles afirma que a mimesis é uma fonte de conhecimento prazerosa: tal é o motivo
77 5 Considerações finais A tese intelectualista da katharsis apóia-se fundamentalmente na Poética IV 1448b4-19, onde Aristóteles afirma que a mimesis é uma fonte de conhecimento prazerosa: tal é o motivo
Aulas 21 à 24 TEXTO NARRATIVO
 Aulas 21 à 24 Prof. Sabrina Moraes TEXTO NARRATIVO Maioritariamente escrito em prosa, o texto narrativo é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de
Aulas 21 à 24 Prof. Sabrina Moraes TEXTO NARRATIVO Maioritariamente escrito em prosa, o texto narrativo é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de
O conto é a forma narrativa, em prosa, de menor extensão (no sentido estrito de tamanho), ainda que contenha os mesmos componentes do romance.
 Ensino Médio 1º ano O conto é a forma narrativa, em prosa, de menor extensão (no sentido estrito de tamanho), ainda que contenha os mesmos componentes do romance. Entre suas principais características,
Ensino Médio 1º ano O conto é a forma narrativa, em prosa, de menor extensão (no sentido estrito de tamanho), ainda que contenha os mesmos componentes do romance. Entre suas principais características,
ANAIS DE FILOSOFIA CLÁSSICA, vol. 2 nº 3, 2008 ISSN Gazoni, Fernando Método analítico e método dialético na Poética de Aristóteles
 O MÉTODO ANALÍTICO E MÉTODO DIALÉTICO NA POÉTICA DE ARISTÓTELES Fernando Gazoni Doutorando Filsofia / USP RESUMO: Alguns pontos da Poética de Aristóteles apresentam uma argumentação bastante consistente.
O MÉTODO ANALÍTICO E MÉTODO DIALÉTICO NA POÉTICA DE ARISTÓTELES Fernando Gazoni Doutorando Filsofia / USP RESUMO: Alguns pontos da Poética de Aristóteles apresentam uma argumentação bastante consistente.
Teoria do texto Poético
 Teoria do texto Poético Poética de Aristó UFPA, Belém, 2010. Prof. Prof. MSc. MSc. Abilio Abilio Pacheco Pacheco --Teoria Teoria do do Texto Texto Poético Poético UFPA UFPA 2010 2010 11 Poética de Aristó
Teoria do texto Poético Poética de Aristó UFPA, Belém, 2010. Prof. Prof. MSc. MSc. Abilio Abilio Pacheco Pacheco --Teoria Teoria do do Texto Texto Poético Poético UFPA UFPA 2010 2010 11 Poética de Aristó
Resolução da Questão 1 Item I Texto definitivo. Resolução da Questão 1 Item II Texto definitivo
 Questão Em sua Poética, o filósofo grego Aristóteles (- a.c.) afirma que não é ofício de poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível
Questão Em sua Poética, o filósofo grego Aristóteles (- a.c.) afirma que não é ofício de poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível
TEXTO NARRATIVO: COMO É ESSE GÊNERO?
 AULAS 9 À 12 Prof. Sabrina Moraes TEXTO NARRATIVO: COMO É ESSE GÊNERO? A narração é um tipo de texto que conta uma sequência de fatos, sejam eles reais ou imaginários, nos quais as personagens atuam em
AULAS 9 À 12 Prof. Sabrina Moraes TEXTO NARRATIVO: COMO É ESSE GÊNERO? A narração é um tipo de texto que conta uma sequência de fatos, sejam eles reais ou imaginários, nos quais as personagens atuam em
Tempo Caracteriza o desencadear dos fatos. Tempo cronológico ou tempo da história - determinado pela sucessão cronológica dos acontecimentos
 Tempo Caracteriza o desencadear dos fatos. Tempo cronológico ou tempo da história - determinado pela sucessão cronológica dos acontecimentos narrados. Tempo histórico - refere-se à época ou momento histórico
Tempo Caracteriza o desencadear dos fatos. Tempo cronológico ou tempo da história - determinado pela sucessão cronológica dos acontecimentos narrados. Tempo histórico - refere-se à época ou momento histórico
Projeto 1000 no Enem. Conclusão. Bruna Camargo (67) (Aulas particulares)
 Projeto 1000 no Enem Conclusão OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Nas dissertações, a conclusão é a parte final que condensa os pontos centrais da discussão, inclusive o posicionamento apresentado na tese. A conclusão
Projeto 1000 no Enem Conclusão OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Nas dissertações, a conclusão é a parte final que condensa os pontos centrais da discussão, inclusive o posicionamento apresentado na tese. A conclusão
fragmentos dos diálogos categorias e obras da exortativas interpretação aristóteles introdução, tradução e notas ricardo santos tradução ( universidad
 fragmentos dos diálogos categorias e obras da exortativas interpretação aristóteles introdução, tradução e notas ricardo santos tradução ( universidade e textos introdutórios de lisboa) antónio de castro
fragmentos dos diálogos categorias e obras da exortativas interpretação aristóteles introdução, tradução e notas ricardo santos tradução ( universidade e textos introdutórios de lisboa) antónio de castro
Sobre este trecho do livro VII de A República, de Platão, é correto afirmar.
 O que é o mito da caverna? O que levou Platão a se decepcionar com a política? 3) Mas quem fosse inteligente (...) lembrar-se-ia de que as perturbações visuais são duplas, e por dupla causa, da passagem
O que é o mito da caverna? O que levou Platão a se decepcionar com a política? 3) Mas quem fosse inteligente (...) lembrar-se-ia de que as perturbações visuais são duplas, e por dupla causa, da passagem
RESUMÃO NA RODA PROFESSORA CAMILLA
 RESUMÃO NA RODA PROFESSORA CAMILLA Conto literário Características: Narrativa curta e de ficção. Apresenta três partes: introdução, desenvolvimento (conflito) e conclusão (clímax). Apresenta os cinco elementos
RESUMÃO NA RODA PROFESSORA CAMILLA Conto literário Características: Narrativa curta e de ficção. Apresenta três partes: introdução, desenvolvimento (conflito) e conclusão (clímax). Apresenta os cinco elementos
Tempo Caracteriza o desencadear dos fatos. Tempo cronológico ou tempo da história - determinado pela sucessão cronológica dos acontecimentos
 Tempo Caracteriza o desencadear dos fatos. Tempo cronológico ou tempo da história - determinado pela sucessão cronológica dos acontecimentos narrados. Tempo histórico - refere-se à época ou momento histórico
Tempo Caracteriza o desencadear dos fatos. Tempo cronológico ou tempo da história - determinado pela sucessão cronológica dos acontecimentos narrados. Tempo histórico - refere-se à época ou momento histórico
NARRATIVA. O texto narrativo apresenta uma determinada estrutura: - Apresentação; - Complicação ou desenvolvimento; - Clímax; - Desfecho.
 DRAMATURGIA Dramaturgia é a arte de composição do texto destinado à representação feita por atores. A palavra drama vem do grego e significa ação. Desse modo, o texto dramatúrgico é aquele que é escrito
DRAMATURGIA Dramaturgia é a arte de composição do texto destinado à representação feita por atores. A palavra drama vem do grego e significa ação. Desse modo, o texto dramatúrgico é aquele que é escrito
Cap. 2 - O BEM E A FELICIDADE. Ramiro Marques
 Cap. 2 - O BEM E A FELICIDADE Ramiro Marques A maior parte das pessoas identificam o bem com a felicidade, mas têm opiniões diferentes sobre o que é a felicidade. Será que viver bem e fazer o bem é a mesma
Cap. 2 - O BEM E A FELICIDADE Ramiro Marques A maior parte das pessoas identificam o bem com a felicidade, mas têm opiniões diferentes sobre o que é a felicidade. Será que viver bem e fazer o bem é a mesma
Cespuc. A mimese na poética de Aristóteles. adernos
 A mimese na poética de Aristóteles Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais CEFET-MG. A * Resumo Poética de Aristóteles tem importância capital na história do pensamento humano e da crítica
A mimese na poética de Aristóteles Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais CEFET-MG. A * Resumo Poética de Aristóteles tem importância capital na história do pensamento humano e da crítica
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS (PARTE I)
 INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS (PARTE I) Todo texto argumentativo tem como objetivo convencer o leitor. E, para isso, existem várias estratégias argumentativas (exemplos, testemunhos autorizados,
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS (PARTE I) Todo texto argumentativo tem como objetivo convencer o leitor. E, para isso, existem várias estratégias argumentativas (exemplos, testemunhos autorizados,
LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA
 AULA 12 PG 1 Este material é parte integrante da disciplina Linguagem e Argumentação Jurídica oferecido pela UNINOVE. O acesso às atividades, as leituras interativas, os exercícios, chats, fóruns de discussão
AULA 12 PG 1 Este material é parte integrante da disciplina Linguagem e Argumentação Jurídica oferecido pela UNINOVE. O acesso às atividades, as leituras interativas, os exercícios, chats, fóruns de discussão
Gêneros Literários OBRAS LITERÁRIAS: QUANTO À FORMA = VERSO & PROSA QUANTO AO CONTEÚDO = GÊNEROS LITERÁRIOS
 GÊNEROS LITERÁRIOS Gêneros Literários OBRAS LITERÁRIAS: QUANTO À FORMA = VERSO & PROSA QUANTO AO CONTEÚDO = GÊNEROS LITERÁRIOS Gêneros Literários GÊNERO ÉPICO (NARRATIVO) = Quando é contada uma história.
GÊNEROS LITERÁRIOS Gêneros Literários OBRAS LITERÁRIAS: QUANTO À FORMA = VERSO & PROSA QUANTO AO CONTEÚDO = GÊNEROS LITERÁRIOS Gêneros Literários GÊNERO ÉPICO (NARRATIVO) = Quando é contada uma história.
O que é o conhecimento?
 Disciplina: Filosofia Ano: 11º Ano letivo: 2012/2013 O que é o conhecimento? Texto de Apoio 1. Tipos de Conhecimento No quotidiano falamos de conhecimento, de crenças que estão fortemente apoiadas por
Disciplina: Filosofia Ano: 11º Ano letivo: 2012/2013 O que é o conhecimento? Texto de Apoio 1. Tipos de Conhecimento No quotidiano falamos de conhecimento, de crenças que estão fortemente apoiadas por
Gêneros Literários. Drama. Imita a realidade por meio de personagens em ação, e não da narração. Poética de Aristóteles
 Gêneros Literários Drama Imita a realidade por meio de personagens em ação, e não da narração. Poética de Aristóteles Rituais a Dionísio, Deus grego da arte, da representação e das orgias, no séc. VI a.c;
Gêneros Literários Drama Imita a realidade por meio de personagens em ação, e não da narração. Poética de Aristóteles Rituais a Dionísio, Deus grego da arte, da representação e das orgias, no séc. VI a.c;
APOSTILA 08 LITERATURA DRAMATICA LEI DO CONFLITO
 APOSTILA 08 LITERATURA DRAMATICA LEI DO CONFLITO O primeiro momento da analise de qualquer peça de dramática rigorosa é a identificação do conflito. A identificação do conflito é a determinação de um conflito
APOSTILA 08 LITERATURA DRAMATICA LEI DO CONFLITO O primeiro momento da analise de qualquer peça de dramática rigorosa é a identificação do conflito. A identificação do conflito é a determinação de um conflito
Versão 1. Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
 Teste Intermédio de Filosofia Versão 1 Teste Intermédio Filosofia Versão 1 Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Na folha de respostas,
Teste Intermédio de Filosofia Versão 1 Teste Intermédio Filosofia Versão 1 Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Na folha de respostas,
Indiscernibilidade de Idênticos. Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de idênticos
 Indiscernibilidade de Idênticos Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de Consideremos agora o caso das atitudes proposicionais, das construções epistémicas e psicológicas, e perguntemo-nos se é
Indiscernibilidade de Idênticos Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de Consideremos agora o caso das atitudes proposicionais, das construções epistémicas e psicológicas, e perguntemo-nos se é
Lógica Proposicional. 1- O que é o Modus Ponens?
 1- O que é o Modus Ponens? Lógica Proposicional R: é uma forma de inferência válida a partir de duas premissas, na qual se se afirma o antecedente do condicional da 1ª premissa, pode-se concluir o seu
1- O que é o Modus Ponens? Lógica Proposicional R: é uma forma de inferência válida a partir de duas premissas, na qual se se afirma o antecedente do condicional da 1ª premissa, pode-se concluir o seu
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS (PARTE II)
 INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS (PARTE II) 9. MÉTODO INDUTIVO (CASO PARTICULAR PARA REGRA GERAL) Consiste em utilizar, de maneira incorreta, a razão indutiva, enunciando uma regra geral
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS (PARTE II) 9. MÉTODO INDUTIVO (CASO PARTICULAR PARA REGRA GERAL) Consiste em utilizar, de maneira incorreta, a razão indutiva, enunciando uma regra geral
Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight
 Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight Antigo sistema de escrita usado em Creta (por volta do século IV A.C.) Abraão Carvalho 1 O conceito do que se convencionou pela
Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight Antigo sistema de escrita usado em Creta (por volta do século IV A.C.) Abraão Carvalho 1 O conceito do que se convencionou pela
DICAS E BIZUS DE PROVAS DE CONCURSOS
 DICAS E BIZUS DE PROVAS DE CONCURSOS Aqui abaixo, compilei alguns bizus e dicas importantes para que você consiga realizar uma ÓTIMA PROVA! Espero que goste! Primeiramente, quando for realizar sua prova,
DICAS E BIZUS DE PROVAS DE CONCURSOS Aqui abaixo, compilei alguns bizus e dicas importantes para que você consiga realizar uma ÓTIMA PROVA! Espero que goste! Primeiramente, quando for realizar sua prova,
Versão integral disponível em digitalis.uc.pt
 TEODORICO DE FREIBERG TRATADO SOBRE A ORIGEM DAS COISAS CATEGORIAIS LUÍS M. AUGUSTO * Introdução 1 3. Introdução Analítica às Diferentes Partes do Tratado 3.6. Capítulo 5 Após as longas digressões metafísicas
TEODORICO DE FREIBERG TRATADO SOBRE A ORIGEM DAS COISAS CATEGORIAIS LUÍS M. AUGUSTO * Introdução 1 3. Introdução Analítica às Diferentes Partes do Tratado 3.6. Capítulo 5 Após as longas digressões metafísicas
Filosofia Grega Clássica - parte I: o período socrático séculos 5-4 a.c.
 Filosofia Grega Clássica - parte I: o período socrático séculos 5-4 a.c. Atenas no séc. 5 a.c.: - centro da vida social, política e cultural da Grécia - época da democracia, quando os cidadãos participavam
Filosofia Grega Clássica - parte I: o período socrático séculos 5-4 a.c. Atenas no séc. 5 a.c.: - centro da vida social, política e cultural da Grécia - época da democracia, quando os cidadãos participavam
Literatura, Poética e Crítica
 Literatura, Poética e Crítica Literatura Arte Literatura Arte verbal Texto artístico Texto artístico Finalidade estética Obras de arte Texto não artístico Finalidade utilitária Ciência Filosofia Informação
Literatura, Poética e Crítica Literatura Arte Literatura Arte verbal Texto artístico Texto artístico Finalidade estética Obras de arte Texto não artístico Finalidade utilitária Ciência Filosofia Informação
IMITAÇÃO - UMA FERRAMENTA PARA O ENTENDIMENTO DO SISTEMA STANISLAVSKI
 IMITAÇÃO - UMA FERRAMENTA PARA O ENTENDIMENTO DO SISTEMA STANISLAVSKI Melissa dos Santos Lopes Escola Superior de Artes Célia Helena Mímesis, Stanislavski, formação do ator. O presente texto tem o objetivo
IMITAÇÃO - UMA FERRAMENTA PARA O ENTENDIMENTO DO SISTEMA STANISLAVSKI Melissa dos Santos Lopes Escola Superior de Artes Célia Helena Mímesis, Stanislavski, formação do ator. O presente texto tem o objetivo
José António Pereira Julho de 2004
 CENTRO DE FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS BRAGA/SUL Acção de formação Lógica e Filosofia nos Programas de 10.º e 11.º Anos Formador Desidério Murcho José António Pereira Julho de 2004 1 A LÓGICA FORMAL
CENTRO DE FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS BRAGA/SUL Acção de formação Lógica e Filosofia nos Programas de 10.º e 11.º Anos Formador Desidério Murcho José António Pereira Julho de 2004 1 A LÓGICA FORMAL
ARISTÓTELES I) TEORIA DO CONHECIMENTO DE ARISTÓTELES
 AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. Todo exemplo citado em aula é, meramente,
AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. Todo exemplo citado em aula é, meramente,
Roteiro de recuperação Professora: Cássio Data: / / 2º Trim. Aluno (a): Nº: Nota:
 Roteiro de recuperação Professora: Cássio Data: / / 2º Trim. Aluno (a): Nº: Nota: 9 º ano Ensino Médio Período: Matutino Valor: 10,0 Assuntos: Reler a crônica A cartomante de Machado de Assis e estudar
Roteiro de recuperação Professora: Cássio Data: / / 2º Trim. Aluno (a): Nº: Nota: 9 º ano Ensino Médio Período: Matutino Valor: 10,0 Assuntos: Reler a crônica A cartomante de Machado de Assis e estudar
A Leitura em Voz Alta
 A Leitura em Voz Alta A Leitura em voz alta Escolher bem os livros As listas de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura para os diferentes anos de escolaridade podem apoiar a selecção de obras
A Leitura em Voz Alta A Leitura em voz alta Escolher bem os livros As listas de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura para os diferentes anos de escolaridade podem apoiar a selecção de obras
Rebak 1 : A alteridade pelo viés dialógico e a prática de escrita do aluno
 Rebak 1 : A alteridade pelo viés dialógico e a prática de escrita do aluno Viviane Letícia Silva Carrijo 2 O eu pode realizar-se verbalmente apenas sobre a base do nós. BAKHTIN/VOLOSHINOV (1926) Bakhtin
Rebak 1 : A alteridade pelo viés dialógico e a prática de escrita do aluno Viviane Letícia Silva Carrijo 2 O eu pode realizar-se verbalmente apenas sobre a base do nós. BAKHTIN/VOLOSHINOV (1926) Bakhtin
RESOLUÇÃO FILOSOFIA SEGUNDA FASE UFU SEGUNDO DIA
 RESOLUÇÃO FILOSOFIA SEGUNDA FASE UFU SEGUNDO DIA 1) Para Parmênides o devir ou movimento é uma mera aparência provocada pelos enganos de nossos sentidos. A realidade é constituída pelo Ser que é identificado
RESOLUÇÃO FILOSOFIA SEGUNDA FASE UFU SEGUNDO DIA 1) Para Parmênides o devir ou movimento é uma mera aparência provocada pelos enganos de nossos sentidos. A realidade é constituída pelo Ser que é identificado
O corpo físico é mau e inferior à alma?
 O corpo físico é mau e inferior à alma? Compreendendo a natureza humana por Paulo Sérgio de Araújo INTRODUÇÃO Conforme a teoria das idéias (ou teoria das formas ) do filósofo grego Platão (428-347 a.c.),
O corpo físico é mau e inferior à alma? Compreendendo a natureza humana por Paulo Sérgio de Araújo INTRODUÇÃO Conforme a teoria das idéias (ou teoria das formas ) do filósofo grego Platão (428-347 a.c.),
ENEM. Análise do critério dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação do texto
 ENEM Análise do critério dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação do texto O participante do ENEM tem de demonstrar domínio dos recursos coesivos, dos mecanismos linguísticos
ENEM Análise do critério dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação do texto O participante do ENEM tem de demonstrar domínio dos recursos coesivos, dos mecanismos linguísticos
FILOSOFIA. Comentário Geral:
 1 FILOSOFIA Comentário Geral: A prova apresentou algumas mudanças em relação à dos anos anteriores. Isso tanto na utilização de textos que levaram os candidatos a ultrapassar a leitura e interpretação
1 FILOSOFIA Comentário Geral: A prova apresentou algumas mudanças em relação à dos anos anteriores. Isso tanto na utilização de textos que levaram os candidatos a ultrapassar a leitura e interpretação
HORÁCIO CARTA AOS PISÕES (POÉTICA)
 HORÁCIO CARTA AOS PISÕES (POÉTICA) Objeção à poesia inconsistente Falta de coesão Falta de coerência Falta de unidade Falta de articulação A liberdade poética tem limites Unidade e Verossimilhança Virtudes
HORÁCIO CARTA AOS PISÕES (POÉTICA) Objeção à poesia inconsistente Falta de coesão Falta de coerência Falta de unidade Falta de articulação A liberdade poética tem limites Unidade e Verossimilhança Virtudes
como diz a frase: nois é grossa mas no fundo é um amor sempre é assim em cima da hora a pessoa muda numa hora ela fica com raiva, triste, feliz etc.
 SEGUIR EM FRENTE seguir sempre em frente, nunca desistir dos seus sonhos todos nós temos seu nivel ou seja todos nós temos seu ponto fraco e siga nunca desistir e tentar até voce conseguir seu sonho se
SEGUIR EM FRENTE seguir sempre em frente, nunca desistir dos seus sonhos todos nós temos seu nivel ou seja todos nós temos seu ponto fraco e siga nunca desistir e tentar até voce conseguir seu sonho se
A PRUDÊNCIA NA ÉTICA A NICÔMACO DE ARISTÓTELES
 A PRUDÊNCIA NA ÉTICA A NICÔMACO DE ARISTÓTELES Introdução/ Desenvolvimento Dagmar Rodrigues 1 Camila do Espírito santo 2 A pretensão do presente trabalho é analisar o que é a prudência enquanto virtude
A PRUDÊNCIA NA ÉTICA A NICÔMACO DE ARISTÓTELES Introdução/ Desenvolvimento Dagmar Rodrigues 1 Camila do Espírito santo 2 A pretensão do presente trabalho é analisar o que é a prudência enquanto virtude
4 As críticas à interpretação intelectualista da katharsis
 67 4 As críticas à interpretação intelectualista da katharsis A primeira crítica à interpretação intelectualista da katharsis feita por Maria del Carmen Trueba Atienza, afirma que os argumentos de Leon
67 4 As críticas à interpretação intelectualista da katharsis A primeira crítica à interpretação intelectualista da katharsis feita por Maria del Carmen Trueba Atienza, afirma que os argumentos de Leon
PROF. ME RENATO BORGES. Unidade 3
 PROF. ME RENATO BORGES Unidade 3 CULTURA: A DIALÉTICA EM BUSCA DA AUTENTICIDADE Vimos que o conceito de dialética é o diálogo, ou seja, a relação entre o que já existe de cultura produzida e a interferência
PROF. ME RENATO BORGES Unidade 3 CULTURA: A DIALÉTICA EM BUSCA DA AUTENTICIDADE Vimos que o conceito de dialética é o diálogo, ou seja, a relação entre o que já existe de cultura produzida e a interferência
AÇÕES COLABORATIVAS. Parceria com Recicleiros e Cooperativa Yougreen. Aulas mensais de conscientização. Colaboração das famílias.
 Andréa 4 ano D Uma iniciativa: AÇÕES COLABORATIVAS Parceria com Recicleiros e Cooperativa Yougreen. Aulas mensais de conscientização. Colaboração das famílias. Língua Portuguesa O que os alunos aprendem
Andréa 4 ano D Uma iniciativa: AÇÕES COLABORATIVAS Parceria com Recicleiros e Cooperativa Yougreen. Aulas mensais de conscientização. Colaboração das famílias. Língua Portuguesa O que os alunos aprendem
Artigo de opinião expressar o ponto de vista ou opinião
 Gênero Textual: Artigo de opinião Texto argumentativo que visa expressar o ponto de vista ou opinião do autor sobre determinado assunto e convencer o leitor da pertinência dessa opinião. Artigo de opinião
Gênero Textual: Artigo de opinião Texto argumentativo que visa expressar o ponto de vista ou opinião do autor sobre determinado assunto e convencer o leitor da pertinência dessa opinião. Artigo de opinião
INTERVENÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DE UMA SESSÃO DE REGRESSÃO DE MEMÓRIA
 INTERVENÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DE UMA SESSÃO DE REGRESSÃO DE MEMÓRIA IDENTIFICAÇÃO DO PERSONAGEM 1- Inicial: Cliente pode começar pelo personagem, pelo local, pela situação, pelo sentimento, pela sensação
INTERVENÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DE UMA SESSÃO DE REGRESSÃO DE MEMÓRIA IDENTIFICAÇÃO DO PERSONAGEM 1- Inicial: Cliente pode começar pelo personagem, pelo local, pela situação, pelo sentimento, pela sensação
Professor Roberson Calegaro
 Elevar? Libertar? O que é arte? Do latim ars, significando técnica e/ou habilidade) pode ser entendida como a atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio
Elevar? Libertar? O que é arte? Do latim ars, significando técnica e/ou habilidade) pode ser entendida como a atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio
COM PÊCHEUX PENSANDO A SIGNIFICAÇÃO A PARTIR DO CORTE SAUSSUREANO
 COM PÊCHEUX PENSANDO A SIGNIFICAÇÃO A PARTIR DO CORTE SAUSSUREANO Renata MANCOPES UNIVALI SC Pela língua começa a confusão (J.G. Rosa. Tutaméia) Gostaria de iniciar minha reflexão sobre o texto La semantique
COM PÊCHEUX PENSANDO A SIGNIFICAÇÃO A PARTIR DO CORTE SAUSSUREANO Renata MANCOPES UNIVALI SC Pela língua começa a confusão (J.G. Rosa. Tutaméia) Gostaria de iniciar minha reflexão sobre o texto La semantique
AS FORMAS BÁSICAS DE COMPOSIÇÃO DO TEXTO
 AS FORMAS BÁSICAS DE COMPOSIÇÃO DO TEXTO O texto pode ser: Argumentativo Dissertativo Descritivo narrativo Argumentativo Tipo de texto em que se sobressai a preocupação do autor em persuadir e convencer
AS FORMAS BÁSICAS DE COMPOSIÇÃO DO TEXTO O texto pode ser: Argumentativo Dissertativo Descritivo narrativo Argumentativo Tipo de texto em que se sobressai a preocupação do autor em persuadir e convencer
3 - (PUC-PR) Empregue o pronome relativo acompanhado ou não de preposição, nas lacunas das frases a seguir.
 3 - (PUC-PR) Empregue o pronome relativo acompanhado ou não de preposição, nas lacunas das frases a seguir. 1. Fez o anúncio... todos ansiavam. 2. Avise-me... consistirá o concurso. 3. Existe um decreto...
3 - (PUC-PR) Empregue o pronome relativo acompanhado ou não de preposição, nas lacunas das frases a seguir. 1. Fez o anúncio... todos ansiavam. 2. Avise-me... consistirá o concurso. 3. Existe um decreto...
9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II PROFESSOR DANILO BORGES
 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II PROFESSOR DANILO BORGES DAVID HUME - COMPAIXÃO Nascimento: 7 de maio de 1711 Edimburgo, Reino Unido. Morte: 25 de agosto de 1776 (65 anos) Edimburgo, Reino Unido. Hume nega
9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II PROFESSOR DANILO BORGES DAVID HUME - COMPAIXÃO Nascimento: 7 de maio de 1711 Edimburgo, Reino Unido. Morte: 25 de agosto de 1776 (65 anos) Edimburgo, Reino Unido. Hume nega
O que é uma convenção? (Lewis) Uma regularidade R na acção ou na acção e na crença é uma convenção numa população P se e somente se:
 Convenções Referências Burge, Tyler, On knowledge and convention, The Philosophical Review, 84 (2), 1975, pp 249-255. Chomsky, Noam, Rules and Representations, Oxford, Blackwell, 1980. Davidson, Donald,
Convenções Referências Burge, Tyler, On knowledge and convention, The Philosophical Review, 84 (2), 1975, pp 249-255. Chomsky, Noam, Rules and Representations, Oxford, Blackwell, 1980. Davidson, Donald,
As subordinações das causas em Aristóteles
 Em curso, v. 4, 2017, ISSN 2359-5841 http://dx.doi.org/10.4322/2359-5841.20170403 ARTIGO As subordinações das causas em Aristóteles The subordination of causes in Aristotle Thayrine Vilas Boas Graduação
Em curso, v. 4, 2017, ISSN 2359-5841 http://dx.doi.org/10.4322/2359-5841.20170403 ARTIGO As subordinações das causas em Aristóteles The subordination of causes in Aristotle Thayrine Vilas Boas Graduação
Então começamos por ali. Com quebracabeças. Cada um de vocês tem uma peça de um quebra-cabeça. Me fala um pouco sobre a sua peça. [Passa alguns minuto
 ACHANDO SEU LUGAR A tema ou o rumo deste estudo será Achando Seu Lugar. Muitos nós temos lugares onde sentimos em casa: onde achamos amor e aceitação, um pouco do significado e propósito que buscamos.
ACHANDO SEU LUGAR A tema ou o rumo deste estudo será Achando Seu Lugar. Muitos nós temos lugares onde sentimos em casa: onde achamos amor e aceitação, um pouco do significado e propósito que buscamos.
Ética e política da subjetividade: hermenêutica do sujeito e parrhesía em Michel Foucault.
 Ética e política da subjetividade: hermenêutica do sujeito e parrhesía em Michel Foucault. André Pereira Almeida Os últimos cursos e trabalhos de Foucault acerca da constituição do sujeito ético e político
Ética e política da subjetividade: hermenêutica do sujeito e parrhesía em Michel Foucault. André Pereira Almeida Os últimos cursos e trabalhos de Foucault acerca da constituição do sujeito ético e político
É HORA DE MUDAR. 12 de Dezembro de 2011 Ministério Loucura da Pregação. "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora
 É HORA DE MUDAR 12 de Dezembro de 2011 Ministério Loucura da Pregação "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir." 1 / 5 (Mateus 25:13) É isso aí amados! Hoje é
É HORA DE MUDAR 12 de Dezembro de 2011 Ministério Loucura da Pregação "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir." 1 / 5 (Mateus 25:13) É isso aí amados! Hoje é
VOCÊ TEM MEDO DE QUÊ?
 VOCÊ TEM MEDO DE QUÊ? Introdução O seguinte planejamento de aula foi desenvolvido inicialmente para a cadeira de Metodologia e Laboratório de Ensino de Língua Portuguesa do curso de Licenciatura em Letras
VOCÊ TEM MEDO DE QUÊ? Introdução O seguinte planejamento de aula foi desenvolvido inicialmente para a cadeira de Metodologia e Laboratório de Ensino de Língua Portuguesa do curso de Licenciatura em Letras
LITERATURA: GÊNEROS E MODOS DE LEITURA - EM PROSA E VERSOS; - GÊNEROS LITERÁRIOS; -ELEMENTOS DA NARRATIVA. 1º ano OPVEST Mauricio Neves
 LITERATURA: GÊNEROS E MODOS DE LEITURA - EM PROSA E VERSOS; - GÊNEROS LITERÁRIOS; -ELEMENTOS DA NARRATIVA. 1º ano OPVEST Mauricio Neves EM VERSO E EM PROSA Prosa e Poesia: qual a diferença? A diferença
LITERATURA: GÊNEROS E MODOS DE LEITURA - EM PROSA E VERSOS; - GÊNEROS LITERÁRIOS; -ELEMENTOS DA NARRATIVA. 1º ano OPVEST Mauricio Neves EM VERSO E EM PROSA Prosa e Poesia: qual a diferença? A diferença
UNICAMP II GÊNEROS DISCURSIVOS. CRÔNICA: Trata fatos do cotidiano cujo objetivo é despertar no leitor reflexão. CONTEÚDO:
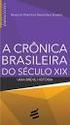 UNICAMP II GÊNEROS DISCURSIVOS CRÔNICA: Trata fatos do cotidiano cujo objetivo é despertar no leitor reflexão. CONTEÚDO: Temas cotidianos; Tom de realidade; Conteúdo subjetivo por não ser fiel à realidade.
UNICAMP II GÊNEROS DISCURSIVOS CRÔNICA: Trata fatos do cotidiano cujo objetivo é despertar no leitor reflexão. CONTEÚDO: Temas cotidianos; Tom de realidade; Conteúdo subjetivo por não ser fiel à realidade.
ESTRUTURA DO TEXTO NARRATIVO. Prof.ª Nivania Alves
 ESTRUTURA DO TEXTO NARRATIVO Prof.ª Nivania Alves A narração é um modo de organização de texto cujo conteúdo está vinculado, em geral, às ações ou acontecimentos contados por um narrador. Para construir
ESTRUTURA DO TEXTO NARRATIVO Prof.ª Nivania Alves A narração é um modo de organização de texto cujo conteúdo está vinculado, em geral, às ações ou acontecimentos contados por um narrador. Para construir
CURTA, SIGA E COMPARTILHE!
 Esse material que você acaba de receber é parte do vasto repertório de assuntos abordados pela dupla Hermes & Browni em seus quadrinhos, textos e livros, além de conter pequenos trechos do livro CRIATIVIDADE
Esse material que você acaba de receber é parte do vasto repertório de assuntos abordados pela dupla Hermes & Browni em seus quadrinhos, textos e livros, além de conter pequenos trechos do livro CRIATIVIDADE
Metafísica: Noções Gerais (por Abraão Carvalho in:
 : Noções Gerais (por Abraão Carvalho in: www.criticaecriacaoembits.blogspot.com) é uma palavra de origem grega. É o resultado da reunião de duas expressões, a saber, "meta" e "physis". Meta significa além
: Noções Gerais (por Abraão Carvalho in: www.criticaecriacaoembits.blogspot.com) é uma palavra de origem grega. É o resultado da reunião de duas expressões, a saber, "meta" e "physis". Meta significa além
O MUNDO VISÕES DO MUNDO ATRAVÉS DA HISTÓRIA
 O MUNDO VISÕES DO MUNDO ATRAVÉS DA HISTÓRIA MITO: FORMA DE EXPLICAÇÃO MITO: vem do vocábulo grego mythos, que significa contar ou narrar algo. Mito é uma narrativa que explica através do apelo ao sobrenatural,
O MUNDO VISÕES DO MUNDO ATRAVÉS DA HISTÓRIA MITO: FORMA DE EXPLICAÇÃO MITO: vem do vocábulo grego mythos, que significa contar ou narrar algo. Mito é uma narrativa que explica através do apelo ao sobrenatural,
BIOÉTICA: É POSSÍVEL GUIAR-SE POR REGRAS OU UM PARTICULARISMO MORAL É INEVITÁVEL?
 BIOÉTICA: É POSSÍVEL GUIAR-SE POR REGRAS OU UM PARTICULARISMO MORAL É INEVITÁVEL? BIOETHICS: IS IT POSSIBLE TO BE GUIDED BY RULES OR A MORAL PARTICULARISM IS INEVITABLE? DAIANE MARTINS ROCHA (UFSC - Brasil)
BIOÉTICA: É POSSÍVEL GUIAR-SE POR REGRAS OU UM PARTICULARISMO MORAL É INEVITÁVEL? BIOETHICS: IS IT POSSIBLE TO BE GUIDED BY RULES OR A MORAL PARTICULARISM IS INEVITABLE? DAIANE MARTINS ROCHA (UFSC - Brasil)
ARTE GREGA Por arte da Grécia Antiga compreende-se as manifestações das artes visuais, artes cênicas, literatura, música, teatro e arquitetura, desde
 ARTE GREGA Por arte da Grécia Antiga compreende-se as manifestações das artes visuais, artes cênicas, literatura, música, teatro e arquitetura, desde o início do período geométrico, quando, emergindo da
ARTE GREGA Por arte da Grécia Antiga compreende-se as manifestações das artes visuais, artes cênicas, literatura, música, teatro e arquitetura, desde o início do período geométrico, quando, emergindo da
Principais Diferenças entre Ser ou Parecer Confiante e Credível
 Principais Diferenças entre Ser ou Parecer Confiante e Credível Para ser confiante e credível, o que realmente sabemos conta menos do que aquilo que o público pensa que tu sabes. Como mostrar ao nosso
Principais Diferenças entre Ser ou Parecer Confiante e Credível Para ser confiante e credível, o que realmente sabemos conta menos do que aquilo que o público pensa que tu sabes. Como mostrar ao nosso
O MUNDO DE EMY E O MUNDO DOS OUTROS
 1 O MUNDO DE EMY E O MUNDO DOS OUTROS 2 O MUNDO DE EMY E O MUNDO DOS OUTROS 3 O MUNDO DE EMY E O MUNDO DOS OUTROS 4 GISELE ELLEN O MUNDO DE EMY E O MUNDO DOS OUTROS Segunda Edição/2017 São Paulo 5 O MUNDO
1 O MUNDO DE EMY E O MUNDO DOS OUTROS 2 O MUNDO DE EMY E O MUNDO DOS OUTROS 3 O MUNDO DE EMY E O MUNDO DOS OUTROS 4 GISELE ELLEN O MUNDO DE EMY E O MUNDO DOS OUTROS Segunda Edição/2017 São Paulo 5 O MUNDO
VERDADES E MENTIRAS. Quem está mentindo e quem está dizendo a verdade. Quantas pessoas estão mentindo e quantas estão dizendo a verdade
 VERDADES E MENTIRAS Chamamos de a um tipo específico de questão, cujo enunciado nos apresenta uma situação qualquer, envolvendo normalmente alguns personagens, que irão declarar algo. O ponto principal
VERDADES E MENTIRAS Chamamos de a um tipo específico de questão, cujo enunciado nos apresenta uma situação qualquer, envolvendo normalmente alguns personagens, que irão declarar algo. O ponto principal
DETERMINISMO E LIBERDADE NA AÇÃO HUMANA capítulo 5
 DETERMINISMO E LIBERDADE NA AÇÃO HUMANA capítulo 5 O Problema do livre-arbítrio Professora Clara Gomes 1. A professora levanta o braço para indicar aos alunos que falem um de cada vez. 2. A professora
DETERMINISMO E LIBERDADE NA AÇÃO HUMANA capítulo 5 O Problema do livre-arbítrio Professora Clara Gomes 1. A professora levanta o braço para indicar aos alunos que falem um de cada vez. 2. A professora
MITO E RAZÃO. A passagem do mito à Filosofia
 MITO E RAZÃO A passagem do mito à Filosofia O QUE PERGUNTAVAM OS PRIMEIROS FILÓSOFOS? Por que os seres nascem e morrem? Por que os semelhantes dão origem aos semelhantes, de uma árvore nasce outra árvore,
MITO E RAZÃO A passagem do mito à Filosofia O QUE PERGUNTAVAM OS PRIMEIROS FILÓSOFOS? Por que os seres nascem e morrem? Por que os semelhantes dão origem aos semelhantes, de uma árvore nasce outra árvore,
O conceito de sujeito de direito em paul ricoeur
 O conceito de sujeito de direito em paul ricoeur Autore: Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega In: Diritto straniero Introdução Desde que as relações jurídicas passaram a ser classificadas e escritas em
O conceito de sujeito de direito em paul ricoeur Autore: Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega In: Diritto straniero Introdução Desde que as relações jurídicas passaram a ser classificadas e escritas em
breves notas sobre ciência breves notas sobre o medo breves notas sobre as ligações
 Gonçalo M. Tavares SUB Hamburg A/601136 breves notas sobre ciência breves notas sobre o medo breves notas sobre as ligações (Llansol, Molder e Zambrano) Enciclopédia breves notas sobre ciência O perigo
Gonçalo M. Tavares SUB Hamburg A/601136 breves notas sobre ciência breves notas sobre o medo breves notas sobre as ligações (Llansol, Molder e Zambrano) Enciclopédia breves notas sobre ciência O perigo
Heráclito e Parmênides
 1) (UEL 2007) A filosofia grega parece começar com uma idéia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por
1) (UEL 2007) A filosofia grega parece começar com uma idéia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por
1. Que coisa é a Política
 1. Que coisa é a Política O termo Política, em qualquer de seus usos, na linguagem comum ou na linguagem dos especialistas e profissionais, refere-se ao exercício de alguma forma de poder e, naturalmente,
1. Que coisa é a Política O termo Política, em qualquer de seus usos, na linguagem comum ou na linguagem dos especialistas e profissionais, refere-se ao exercício de alguma forma de poder e, naturalmente,
Texto Dissertativo-Argumentativo
 Texto Dissertativo-Argumentativo Objetivo: Expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando-o sob um determinado ponto de vista e fundamentando-o com argumentos convincentes, em defesa de
Texto Dissertativo-Argumentativo Objetivo: Expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando-o sob um determinado ponto de vista e fundamentando-o com argumentos convincentes, em defesa de
CONECTORES DISCURSIVOS. Como fazer
 CONECTORES DISCURSIVOS Como fazer Biblioteca 2017 Os conectores ou articuladores de discurso Os conectores ou articuladores de discurso que seguidamente apresentamos (em quadro) são um auxiliar excelente
CONECTORES DISCURSIVOS Como fazer Biblioteca 2017 Os conectores ou articuladores de discurso Os conectores ou articuladores de discurso que seguidamente apresentamos (em quadro) são um auxiliar excelente
AUTOCONFIANÇA C O M O A U M E N T Á - L A I M E D I A T A M E N T E. Paula Machado
 AUTOCONFIANÇA C O M O A U M E N T Á - L A I M E D I A T A M E N T E Paula Machado INSPIRE CONFIANÇA. EXPIRE A DÚVIDA. POSTURA 1. Coluna ereta, peito aberto, ombros para trás, barriga para dentro, olhar
AUTOCONFIANÇA C O M O A U M E N T Á - L A I M E D I A T A M E N T E Paula Machado INSPIRE CONFIANÇA. EXPIRE A DÚVIDA. POSTURA 1. Coluna ereta, peito aberto, ombros para trás, barriga para dentro, olhar
PALAVRAS DE INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSIDERAÇÕES FINAIS /REDAÇÃO ENEM / VESTIBULAR /2018
 PALAVRAS DE INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSIDERAÇÕES FINAIS /REDAÇÃO ENEM / VESTIBULAR /2018 Lembre-se da estrutura básica da dissertação-argumentativa Introdução Desenvolvimento Conclusão Apresente
PALAVRAS DE INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSIDERAÇÕES FINAIS /REDAÇÃO ENEM / VESTIBULAR /2018 Lembre-se da estrutura básica da dissertação-argumentativa Introdução Desenvolvimento Conclusão Apresente
NIETZSCHE NÃO SOU HOMEM, SOU DINAMITE
 NIETZSCHE NÃO SOU HOMEM, SOU DINAMITE Uma filosofia para espíritos livres A filosofia a golpes de martelo a palavra "martelo" deve ser entendida como marreta, para destroçar os ídolos, e também como diapasão,
NIETZSCHE NÃO SOU HOMEM, SOU DINAMITE Uma filosofia para espíritos livres A filosofia a golpes de martelo a palavra "martelo" deve ser entendida como marreta, para destroçar os ídolos, e também como diapasão,
História e Poesia na Poética de Aristóteles
 ISSN 1518-3394 v.1 - n.1 - ago./set. de 2000 Disponível em www.cerescaico.ufrn.br/mneme História e Poesia na Poética de Aristóteles RONALDO SILVA MACHADO rsmachado@zipmail.com.br RESUMO Com o fim de levantar
ISSN 1518-3394 v.1 - n.1 - ago./set. de 2000 Disponível em www.cerescaico.ufrn.br/mneme História e Poesia na Poética de Aristóteles RONALDO SILVA MACHADO rsmachado@zipmail.com.br RESUMO Com o fim de levantar
Escreva seu livro! Como começar. Por: Miguel Angel.
 Escreva seu livro! Como começar. Por: Miguel Angel. Olá, vamos conversar um pouco sobre o texto narrativo, suas artimanhas e algumas dicas para começar seu livro. Não se iluda achando que os grandes escritores
Escreva seu livro! Como começar. Por: Miguel Angel. Olá, vamos conversar um pouco sobre o texto narrativo, suas artimanhas e algumas dicas para começar seu livro. Não se iluda achando que os grandes escritores
Resolução da Questão 1 (Texto Definitivo)
 Questão Redija em texto dissertativo acerca do seguinte tema. A FELICIDADE SEGUNDO O EPICURISMO Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: a felicidade como tema central da
Questão Redija em texto dissertativo acerca do seguinte tema. A FELICIDADE SEGUNDO O EPICURISMO Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: a felicidade como tema central da
Teoria do conhecimento de David Hume
 Hume e o empirismo radical Premissas gerais empiristas de David Hume ( que partilha com os outros empiristas ) Convicções pessoais de David Hume: Negação das ideias inatas A mente é uma tábua rasa/folha
Hume e o empirismo radical Premissas gerais empiristas de David Hume ( que partilha com os outros empiristas ) Convicções pessoais de David Hume: Negação das ideias inatas A mente é uma tábua rasa/folha
O TEXTO DISSERTATIVO
 O TEXTO DISSERTATIVO O texto dissertativo é de natureza teórica e visa discutir minuciosamente um tema, desdobrando-o em todos os seus aspectos. O autor de um texto dissertativo pode, entre outras coisas,
O TEXTO DISSERTATIVO O texto dissertativo é de natureza teórica e visa discutir minuciosamente um tema, desdobrando-o em todos os seus aspectos. O autor de um texto dissertativo pode, entre outras coisas,
Razão e fé. Filosofia MedievaL. Douglas Blanco
 Razão e fé Filosofia MedievaL Douglas Blanco CRISTIANO PALAZZINI/SHUTTERSTOCK Aspectos gerais Correntes da filosofia medieval e principais representantes: Patrística (séc. II-V), com Agostinho de Hipona,
Razão e fé Filosofia MedievaL Douglas Blanco CRISTIANO PALAZZINI/SHUTTERSTOCK Aspectos gerais Correntes da filosofia medieval e principais representantes: Patrística (séc. II-V), com Agostinho de Hipona,
Revelação de Deus e acção para o bem. A Bíblia
 Revelação de Deus e acção para o bem A Bíblia Uma leitura redutoramente historialista da Bíblia, tão estulta quanto uma leitura do mesmo tipo de qualquer obra que não é historiográfica em sua essência
Revelação de Deus e acção para o bem A Bíblia Uma leitura redutoramente historialista da Bíblia, tão estulta quanto uma leitura do mesmo tipo de qualquer obra que não é historiográfica em sua essência
Unidade IV COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL. Profa. Ma. Andrea Morás
 Unidade IV COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL Profa. Ma. Andrea Morás Textos Escrever bem é um hábito. Treino e revisão. Organizar as ideias aumenta a qualidade do conteúdo. Dicas para montagem de texto Sempre inicie
Unidade IV COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL Profa. Ma. Andrea Morás Textos Escrever bem é um hábito. Treino e revisão. Organizar as ideias aumenta a qualidade do conteúdo. Dicas para montagem de texto Sempre inicie
SISTEMA ANGLO DE ENSINO. Tipo D4-08/2010 G A B A R I T O
 Prova Anglo P-01 Tipo D4-08/2010 G A B A R I T O 01. D 07. A 13. D 19. C 02. B 08. B 14. A 20. D 03. C 09. C 15. B 21. A 04. A 10. A 16. D 22. C 05. C 11. D 17. B 00 06. B 12. B 18. D DESCRITORES, RESOLUÇÕES
Prova Anglo P-01 Tipo D4-08/2010 G A B A R I T O 01. D 07. A 13. D 19. C 02. B 08. B 14. A 20. D 03. C 09. C 15. B 21. A 04. A 10. A 16. D 22. C 05. C 11. D 17. B 00 06. B 12. B 18. D DESCRITORES, RESOLUÇÕES
Link para animação do mito da caverna. https://www.youtube.com/watch?v=xswmnm _I7bU
 Link para animação do mito da caverna https://www.youtube.com/watch?v=xswmnm _I7bU A DOUTRINA DAS IDEIAS OU TEORIA DOS DOIS MUNDOS Para Platão existem, literalmente, dois mundos O mundo das ideias O mundo
Link para animação do mito da caverna https://www.youtube.com/watch?v=xswmnm _I7bU A DOUTRINA DAS IDEIAS OU TEORIA DOS DOIS MUNDOS Para Platão existem, literalmente, dois mundos O mundo das ideias O mundo
PADRÃO DE RESPOSTA - FILOSOFIA - Grupo L
 PADRÃO DE RESPOSTA - FILOSOFIA - Grupo L 1 a QUESTÃO: (2,0 pontos) Avaliador Revisor No diálogo Fédon, escrito por Platão, seu personagem Sócrates afirma que a dedicação à Filosofia implica que a alma
PADRÃO DE RESPOSTA - FILOSOFIA - Grupo L 1 a QUESTÃO: (2,0 pontos) Avaliador Revisor No diálogo Fédon, escrito por Platão, seu personagem Sócrates afirma que a dedicação à Filosofia implica que a alma
Criação de Personagens
 Criação de Personagens Criação de Personagens Oficina Literária Online A Oficina Literária Online conta com conteúdos pensados e produzidos exclusivamente para o ambiente digital, utilizando textos, imagens,
Criação de Personagens Criação de Personagens Oficina Literária Online A Oficina Literária Online conta com conteúdos pensados e produzidos exclusivamente para o ambiente digital, utilizando textos, imagens,
Poesia-tragédia, mimesis e filosofia
 Duas leituras da poética de Aristóteles (um breve esboço) 1 Theresa Calvet de Magalhães 2 Resumo Ao privilegiar o trabalho polissêmico de logos em A Poética, Fernando Belo acentua, na sua releitura dessa
Duas leituras da poética de Aristóteles (um breve esboço) 1 Theresa Calvet de Magalhães 2 Resumo Ao privilegiar o trabalho polissêmico de logos em A Poética, Fernando Belo acentua, na sua releitura dessa
Quinze sinais de que seu casamento ruma ao divórcio (Do Portal MSN, Estilo de Vida)
 Quinze sinais de que seu casamento ruma ao divórcio (Do Portal MSN, Estilo de Vida) istock/getty Images INDÍCIOS DA SEPARAÇÃO IMINENTE Talvez a pior decisão para qualquer casal é a de se separar. Para
Quinze sinais de que seu casamento ruma ao divórcio (Do Portal MSN, Estilo de Vida) istock/getty Images INDÍCIOS DA SEPARAÇÃO IMINENTE Talvez a pior decisão para qualquer casal é a de se separar. Para
