CETICISMO E PRINCÍPIOS EPISTÊMICOS
|
|
|
- Ana do Carmo Cordeiro Duarte
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 CETICISMO E PRINCÍPIOS EPISTÊMICOS Fernando Henrique Faustini Zarth 1 No debate contemporâneo em epistemologia, quando se fala em ceticismo, normalmente se está considerando uma versão deste, chamado de ceticismo acadêmico. A origem do nome remonta a antiguidade e é mencionada por Sexto Empírico para distingui-los de outra forma de atitude cética por ele adotada, o ceticismo pirrônico. Brevemente, enquanto os céticos acadêmicos posicionam-se a favor da proposição de que não possuímos conhecimento, os pirrônicos se limitam a suspender o juízo sobre essa e qualquer outra questão, não afirmando que possuímos conhecimento, nem afirmando que não possuímos 2. Postulada essa distinção, seguiremos analisando os argumentos para o ceticismo acadêmico que fazem uso de hipóteses ditas epistemicamente não neutralizáveis para induzir à conclusão de que não sabemos que p, sendo p qualquer proposição que geralmente admitiríamos conhecer, como há um livro sobre a mesa ou eu tenho um corpo. Embora essa classe de argumentos seja usualmente associada a Descartes, exemplos deles já podem ser encontrados em Cícero e, contemporaneamente, fazem uso de cenários de ficção científica, como cérebros em cubas, mundos simulados etc. Em uma célebre passagem das Meditações Metafísicas, Descartes considera a hipótese de que talvez ele esteja dormindo: Todavia, tenho de considerar aqui que sou homem e, por conseguinte, que costumo dormir e representar-me em meus sonhos as mesmas coisas, ou algumas vezes menos verossímeis, que aqueles insensatos quando estão em vigília. Quantas vezes aconteceu-me sonhar, à noite, que estava nesse lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse todo nu em minha cama? Parece-me presentemente que não é com olhos adormecidos que olho este papel, que esta cabeça que remexo não está dormente, que é com desígnio e propósito deliberado que estendo esta mão e que a sinto: o que acontece no sono não parece tão claro nem tão distinto quanto tudo isto. Mas pensando nisso cuidadosamente, lembro-me deter sido frequentemente enganado, quando dormia, por semelhantes ilusões. E, detendo-me nesse pensamento, vejo tão manifestamente que não há indícios concludentes nem marcas bastante certas por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, 1 Mestrando em filosofia UFSM, bolsista CAPES. 2 A suspensão de juízo se refere a um sentido forte de crença e distingue-se do mero deixar-se guiar pelas aparências. De fato, como uma forma de viabilizar a vida, diante de perigos, por exemplo, os pirrônicos aceitam e manifestam o que percebem, o que caracteriza uma admissão a um sentido fraco da palavra crença. O sentido forte, como sugere Peter Klein (2002 e 2003) é expresso pela atitude de asserir que p, ou assentir a proposição p.
2 que fico muito espantado, e meu espanto é tal que é quase capaz de persuadir-me de que eu durmo (DESCARTES, 2005, p ). Descartes, ao levantar essa possibilidade, questiona se pode saber que aquilo que ele está experienciando realmente seja o caso, isto é, se de fato ele está sentado diante do fogo com um papel na mão. Trata-se de um recurso destinado a mostrar que nosso equipamento epistêmico não é confiável, visto que ele não é capaz de detectar casos severos de engano. O argumento é comumente assim formalizado: (1) se eu sei que possuo mãos, então eu sei que não estou em um cenário cético onde essas mãos são apenas ilusões provocadas por algum mecanismo malevolente; (2) mas eu não sei que eu não estou em um cenário cético, portanto (3) eu não sei que possuo mãos 3. É importante notar que a força da premissa (2) reside na ideia de que eu não tenho nenhum critério que possa utilizar para distinguir o mundo real de um mundo simulado, e que se eu estiver sonhando, sob efeito de um gênio maligno ou um cientista perverso, o mundo se apresentará tão convincentemente real e verdadeiro como se eu não estivesse em um desses cenários. Quanto à premissa (1), ela é comumente associada ao chamado Princípio de Fechamento Epistêmico, isto é, o cético advoga que a relação epistêmica tida com uma proposição deve ser preservada nas proposições decorrentes dessa. Por exemplo, se eu sei que o Pedro está nessa sala, então eu sei que há uma pessoa nessa sala. Se eu sei que estou segurando um copo de café, então eu sei que é um copo que estou segurando. Se eu sei que isso é uma mesa, então eu sei que isso não é uma geladeira. Em uma primeira acepção, portanto, o princípio é assim exposto: PFC 1: Ksp & (p q) Ksq 4 (Se S sabe que p, e p implica q, então S sabe que q). Esse princípio, no entanto, tal como apresentado é falso. O número de consequências lógicas de uma proposição p é virtualmente infinito, o que justifica a alcunha dada por alguns filósofos de que esse seria um princípio de onisciência (Hales, 1995 e Stroud, 1984). A sua aceitação poderia levar, inclusive, à conclusão absurda de que eu sei coisas sobre as quais eu nunca formei crença alguma. Se pensarmos especialmente na matemática, esse princípio nos 3 Naturalmente, o argumento não é desenvolvido somente para demonstrar que não sabemos que possuímos mãos. É de esperar que, se não temos conhecimento de uma proposição empírica como essa, provavelmente, não temos conhecimento de nenhuma outra. 4 Hales (1995) associa esse princípio à Hintikka (1962).
3 parecerá muito distante de como opera o conhecimento o humano. Duas alternativas à PF1 podem ser apresentadas (Hales, 1995): PFC 2: Ksp & B(p q) Ksq (Se S sabe que p e crê que p implica q, então S sabe que q) PFC 3: Ksp & J(p q) Ksq (Se S sabe que p e crê justificadamente que p implica q, então S sabe que q) PF2 e PF3 são falsos porque a crença de que (p q) (ainda que justificada) não garante a verdade de que q, o que poderia levar à conclusão absurda de que S possa ter conhecimento de algo que é falso. Imagine que Pedro possua a crença justificada de que se o sol está brilhando então os pássaros estão cantando. Mesmo em um caso onde Pedro saiba que o sol está brilhando naquele momento, ainda pode ser o caso de que nenhum pássaro esteja cantando. Apenas o conhecimento de que (p q) resguarda a propriedade de verdade necessária para o fechamento. Chegamos então ao que é possivelmente a mais famosa versão do Princípio de Fechamento Epistêmico: PFC 4: Ksp & K(p q) Ksq (Se S sabe que p e sabe que p implica q, então S sabe que q). Alguns epistemólogos, no entanto, apontam a possibilidade de que alguém pode não saber que q mesmo em casos onde ele saiba que p e que (p q) simplesmente por não crer que q. Pessoas podem ter crenças inconsistentes (saber que [p e p q] e ainda assim crer que ~q), assim como também pode falhar em reconhecer e deduzir q de p (não formando crença alguma), ou seja, ainda que PFC 4 seja um princípio mais modesto que PFC 1, ele também parece não se aplicar a nós, que não somos seres perfeitamente racionais o tempo todo. Isso, é claro, não é uma razão para negar a conclusão cética, pois nossa rejeição do ceticismo não pode depender justamente da premissa de que nossa razão eventualmente falha. Contudo, em uma análise mais atenta do argumento cético reconhecemos que esse não precisa depender de qualquer versão do princípio de fechamento epistêmico para o conhecimento (PFC), pois o
4 desafio cético não incide sobre a verdade de p e nem sobre nossa capacidade de crer que p, mas sim sobre a justificação: nós nunca estamos justificados ao crer que possuímos mãos (por exemplo). De acordo com isso, Peter Klein (1995) apresenta uma versão do Fechamento para a justificação que parece promissora, pois ao mesmo tempo em que satisfaz o argumento cético, evita os problemas supracitados. PFJ: Se S está justificado ao crer que p, e p implica q, então S está justificado ao crer que q 5. É importante destacar que com PFJ conseguimos eliminar a necessidade de que S realmente creia que p quando estamos considerando se p está justificada para S. Klein exemplifica o que se quer dizer com PFJ através de uma variação desse princípio: PFJ*: Se S possui uma fonte adequada de justificação para crer que p, e p implica q, então S possui uma fonte adequada de justificação para crer que p. Uma vez exposto o argumento cético, é preciso mostrar porque a premissa (1) ou a premissa (2) não pode ser corretamente defendida, caso se queira evitar a conclusão radical cética. REJEITANDO A PREMISSA 1 Conforme foi mostrado, o cético assume a validade do princípio de fechamento epistêmico, quando apresenta a premissa (1), i.e., se eu sei que tenho mãos então eu sei que não estou em um cenário cético.... Apesar de seu apelo intuitivo inicial, alguns filósofos 5 Para evitar outras possíveis objeções que se possam levantar contra esse princípio, Klein (1995) afirma que apenas proposições contingentes que S possa compreender, e cuja implicação seja óbvia, estão contidas no domínio de proposições da presente generalização, o que inclui perfeitamente os cenários apresentados pelos argumentos céticos.
5 buscaram na rejeição de tal princípio uma forma de refutar o ceticismo, o que é uma alternativa interessante, visto que, uma vez demonstrado que o conhecimento não possui essa propriedade que o cético defende ter, a ameaça cética é eliminada, ainda que seja concedido que nós de fato nunca saibamos que não estamos sonhando. Entre os filósofos que defendem esse tipo de solução se encontram Nozick, Dretske, Audi, McGinn, entre outros. Deter-me-ei brevemente aqui apenas naquela que deve ser a mais comentada tentativa de rejeitar o argumento cético através da negação do Princípio de Fechamento Epistêmico e, por conseguinte, da premissa (1): os contra-exemplos apresentados por Fred Dretske. Você leva seu filho ao zoológico, vê várias zebras e, quando questionado pelo seu filho, diz a ele que elas são zebras. Você sabe que elas são zebras? Bem, a maioria de nós teria pouca hesitação em dizer que sabemos disso. Nós sabemos como as zebras se parecem e, além disso, este é o zoológico da cidade e os animais estão em um cercado onde está claramente escrito Zebras. Ainda, algo ser uma zebra implica que este algo não é uma mula e, em particular, não é uma mula habilmente disfarçada pelas autoridades do zoológico para parecer uma zebra. Você sabe que estes animais não são mulas habilmente disfarçadas pelas autoridades do zoológico para parecerem zebras? Se você está tentado a dizer Sim a esta questão, pense um momento sobre quais razões você possui, quais evidências você pode apresentar em favor desta afirmação. A evidência que você tinha para pensar que elas são zebras está sendo efetivamente neutralizada, uma vez que isto não conta em favor de elas não serem mulas habilmente disfarçadas para parecerem zebras (DRETSKE, 1970, p ). Dretske pretende com esse exemplo apontar que é possível você saber que (a) o animal na jaula é uma zebra, e ainda assim não saber que (b) o animal na jaula não é uma mula habilmente disfarçada, ainda que (b) seja uma consequência lógica admitida de (a) (VOGEL, 1990, p. 14). Isso se dá porque, embora você possua boas razões para crer que o animal no cercado é uma zebra (elas estão no zoológico da cidade, você está vendo-as e você sabe como zebras se parecem, etc.), ainda assim, você não tem boas razões para crer que elas não são mulas habilmente disfarçadas, visto que, a evidência que se tinha para crer que (a) foi neutralizada. A legitimidade desse contra-exemplo, no entanto, é questionável. Como aponta Klein (2002 e 2003), Dretske assume que as razões possíveis para pensar que o animal no cercado não é uma mula disfarçada devem ser as mesmas que justificam a crença de que ela é uma zebra. Ou seja, o caminho de evidências que Dretske considera aponta para que a mesma razão que eu tenho para crer que p deve ser igualmente apropriada para crer que q, quando q for uma consequência necessária de p, do modo que se segue:
6 Nesse ponto, o cético pode realizar importantes objeções. Ainda que ele aceite que o Padrão 1 expresse um caminho de evidências apropriado, ele pode alegar que ele não é o único caminho de evidências possível, nem tampouco esse caminho é expresso como necessário em PFJ. Desse modo, para invalidar o contra-exemplo da zebra no zoológico, o cético pode alegar que a evidência para p e a evidência para q (quando p q) não precisam ser as mesmas, comprometendo-se com dois outros padrões possíveis: Padrão 2:... ReRp... Rq Padrão 3... Re (onde e inclui q) No Padrão 2, está se afirmando que existe uma evidência, e, adequada para p, bem como p constitui ela própria uma evidência adequada para q. Por exemplo, eu posso ter uma evidência adequada para crer que Ana está em Paris (o testemunho dela, por exemplo), e a própria proposição Ana está em Paris servir como evidência adequada para crer que Ana está na França. No Padrão 3, está se afirmando que existe uma evidência adequada para p, e q é parte integrante dessa evidência, ao mesmo tempo que sua verdade é implicada por p. Klein supõe um caso onde eu tenha a informação de que um objeto escondido embaixo de uma roupa é ou uma bola de basquete ou uma bola de futebol. Caso eu obtenha de algum modo a informação de que a bola embaixo da roupa não é a de futebol, essa informação pode ser utilizada como evidência parcial para crer que a bola em questão é de basquete. E ainda, ser uma bola de basquete o objeto escondido implica que esse objeto não é uma bola de futebol. Aceitando a possibilidade desses outros caminhos de evidências, o cético pode, portanto, insistir que Dretske não apresentou nenhuma prova contra o fechamento epistêmico. Ele pode, inclusive, afirmar contra Dretske que a hipótese de que o animal não é uma mula habilmente disfarçada precisa ser anteriormente eliminada para que se possa estar justificado ao crer que o animal é uma zebra (aplicando o Padrão 3), insistindo assim que, no caso mencionado, não haja de fato qualquer justificação, e por conseguinte, conhecimento.
7 NÃO HÁ BOAS RAZÕES PARA ACEITAR A PREMISSA 2 Se não conseguimos rejeitar o Princípio de Fechamento Epistêmico, resta-nos ainda outra estratégia: argumentar que o cético não consegue realizar uma defesa consistente da segunda premissa de seu argumento. Uma solução desse tipo é apresentada por Peter Klein em seu artigo There is no good reason to be an academic skeptic, onde, através do exercício dos Modos pirrônicos, demonstra que o cético acadêmico, ao ser inquirido pelas suas razões, se vê forçado a incorrer em petição de princípio ou sustentar uma premissa facilmente objetável. Os Modos de Agripa: O Modo que tem por base o regresso ad infinitum é aquele no qual nós asserimos que a coisa alegada como uma prova para a questão proposta necessita de uma prova adicional, e esta também de outra, e assim ad infinitum, de modo tal que a consequência é a suspensão [do juízo], já que não temos um ponto de partida para o nosso argumento... Nós temos o Modo que tem por base hipóteses quando os Dogmáticos, tendo sido forçado a retroceder ad infinitum, tomam como seu ponto de partida algo que eles não sustentam, mas que assumem simplesmente como dado, sem demonstração. O Modo do raciocínio circular é a forma usada quando a própria prova que deveria estabelecer o ponto sob investigação requer confirmação derivada do próprio ponto; neste caso, sendo incapaz de assumir um a fim de sustentar o outro, nós suspendemos julgamento sobre ambos (SEXTO EMPÍRICO, HP I, ). Peter Klein aponta dois insights importantes revelados nessa passagem. O primeiro é considerar que as premissas apresentadas em quaisquer argumentos apenas sustentam parcialmente a conclusão, elas constituem somente uma parte de um grupo maior de razões. Desse modo, quando alguém apresenta as razões {R1 Rn} para uma conclusão c qualquer, o cético pirrônico segue perguntando, questionando quais razões seu interlocutor tem para sustentar {R1 Rn} e, uma vez obtida uma resposta, pergunta pela razão da razão e assim indefinidamente, até que o argumento esteja completamente articulado. O segundo insight mencionado por Klein é que o processo de busca pelas razões para uma conclusão c levará a três possíveis resultados: (1) as razões seguirão sendo apresentadas ad infinitum sem que o tópico se encerre, tornando recomendável suspender o juízo; (2) o processo de apontar as razões para asserir c encerrará em alguma proposição da qual nenhuma razão mais é apresentada e, caso essa proposição permaneça em disputa, suspendese o juízo; (3) o argumento poderá sustentar-se em algum momento em uma premissa c, que é
8 ela própria a conclusão do argumento, incorrendo em petição de princípio. Nesse caso, o cético não mais pergunta, pois a circularidade revela que não será mais possível dar novas razões para c e, suspender o assentimento à proposição em disputa é mais uma vez apropriado. Para ilustrar o funcionamento dos Modos de Agripa, tomemos o seguinte argumento: 1. Tudo que a bíblia diz é verdadeiro. 2. A bíblia diz que Deus existe 3. Portanto, Deus existe Diante do apresentado, um cético pirrônico perguntará pelas razões que sustentam as premissas desse argumento, e aquele que o enunciou irá se encontrar, no final, em uma dessas três situações: CASO 1: O defensor do argumento em questão poderá admitir que não há nenhuma razão para crer em suas premissas, encontrando-se incapaz de apresentar uma melhor articulação para o argumento indicado. CASO 2: Em algum momento o argumento se torna circular, como por exemplo, apresentando a seguinte razão para sustentar a premissa (1): a bíblia foi escrita por Deus, e tudo que Deus escreve é verdadeiro. Como o interlocutor está contando implicitamente com a existência de Deus, questão em disputa, para sustentar uma de suas premissas, tem-se uma petição de princípio, um argumento inválido, portanto. CASO 3: São apresentadas razões não circulares para as premissas do argumento. Nessa ocorrência, o pirrônico continuará perguntando pelas razões que sustentam as novas razões, sempre em busca do argumento completo. Uma vez apresentadas novas razões, se não houver circularidade, o pirrônico continuará questionando até que se chegue a uma situação contemplada no primeiro ou no segundo caso. Cabe agora retomar o argumento cético para o ceticismo acadêmico e verificar se ele é capaz de apresentar boas razões em favor de sua conclusão. Para tal, aceitaremos a sugestão de Klein, que com base em PFJ, reconstrói o argumento cético da seguinte maneira:
9 J1. Se S pode estar justificado ao crer que p, então S pode estar justificado ao crer que ele não se encontra em um cenário cético onde p é falso e apenas aparenta ser verdadeiro. J2. S não pode estar justificado ao crer que ele não se encontra em um cenário cético onde p é falso e apenas aparenta ser verdadeiro. J3. Portanto, S não pode estar justificado ao crer que p. Existem duas motivações para o uso dessa versão do argumento cético apresentada por Peter Klein. Uma delas é a de que explicita o fato de que o cético não está apenas dizendo que falhamos em saber proposições, como eu tenho mãos, ele está afirmando que não podemos saber que isso seja o caso. Também importante, como vimos, os cenários céticos atacam nossa possibilidade de conhecimento apenas porque incidem sobre nossa possibilidade de justificação, o que agora se apresenta claro. Há, portanto, um ganho prático na utilização desse argumento, pois se vamos submetê-lo à análise pirrônica, é melhor que se vá direto para a questão que se está em litígio. Perguntamos então: quais razões o cético acadêmico possui para defender J1? Com base na suposto de que S está justificado ao crer que x se e somente se o conjunto total de razões que S possui torna x suficientemente provável, Klein apresenta uma defesa possível para J1: 1. Se S está justificado ao crer que x, então S possui razões que tornam x suficientemente provável. 2. Se S possui razões que tornam x suficientemente provável, então S possui razões que tornam y suficientemente provável (pois se x implica y, e x é provavelmente verdadeiro, então y deve ser ao menos tão provavelmente verdadeiro quanto x). 3. Se S está justificado ao crer que x, então S possui razões que tornam y suficientemente provável. (1, 2) 4. Se S possui razões que tornam y suficientemente provável, então S está justificado ao crer que y. 5. Portanto, se S está justificado ao crer que x, então S está justificado ao crer que y. (3, 4).
10 Pode-se notar que filósofos que rejeitam J1, como Dretske, tentam apontar que a premissa (2) apresentada para J1 é falsa. Entretanto, vimos que o contra-exemplo apresentado por Dretske falha ao ignorar a existência de outros caminhos de evidências possíveis (Padrão 2 e 3) que o cético pode defender, além do suposto no caso da zebra no zoológico (Padrão 1). Desse modo, parece correto afirmar que a defesa que o cético pode apresentar para J1 não incorre em petição de princípio, e tampouco se apóia em alguma hipótese que o epistemista 6 não possa aceitar. Assim como fizemos com J1, perguntamos agora quais razões o cético acadêmico tem para sustentar J2. Como apontado, para uma melhor defesa de PFJ, especialmente contra objeções apresentadas por Dretske, o cético deve aceitar que existem três caminhos de evidências possíveis que relacione a proposição p à proposição q por ela implicada, devendo este agora apresentar qual deles melhor retrata o fato de que S nunca possui razões apropriadas para chegar à conclusão de que ele não se encontra em um cenário cético onde p é falso e apenas aparenta ser verdadeiro. Analisaremos as três alternativas. Suponhamos que o cético acadêmico defenda que o padrão que captura corretamente as relações evidenciais entre as proposições seja o Padrão 2. Com isso, o cético estará afirmando que J1 é correto porque a relação entre p e S não está em um cenário cético... é tal que p constitui ela própria a razão a ser dada para a proposição implicada por p. Nesse modelo, se for possível apresentar uma evidência para aceitar que p, a proposição S não está em um cenário cético... estará justificada (dado que p). Em suma, caso o cético esteja considerando o Padrão 2 como o apropriado para seu argumento, ao defender J2 ele precisará mostrar que o cético não tem posse de nenhuma razão e que torne p suficientemente provável. É fácil notar que isso levará o cético a incorrer em petição de princípio, visto que S não possui nenhuma razão adequada para crer que p é equivalente a S não está justificado ao crer que p, a conclusão do argumento. Então para ascender à conclusão de que S nunca está justificado ao crer que p, S precisará contar com a premissa de que S não esta justificado ao crer que p, o que torna seu argumento circular. 7 6 Epistemista deve ser entendido como o não-cético, aquele que assente à proposição de que nós podemos obter conhecimento. 7 Se p é uma razão para crer que ele não está em um cenário cético (conforme o Padrão 2), então o cético terá que mostrar algum motivo para pensar que S não está justificado ao crer que p. Se o fizer, então o argumento se torna circular, pois a conclusão cética é justamente que S não está justificado ao crer que p. Caso o cético consiga demonstrar que S não possui razões para crer que p, isto por si só já é suficiente para sua defesa de que S não está justificado ao crer que p.
11 Consideremos agora que o cético acadêmico defenda que o Padrão 1 é o que descreve a relação evidencial presente entre p e S não está em um cenário cético.... Nesse caso, deve existir uma razão e que fundamenta p e a proposição por ela implicada. O cético deverá apontar então, para defender J2, que não existe nenhuma razão comprobatória comum disponível para as duas proposições, mas essa necessidade demonstrar que não existe nenhuma razão comprobatória comum para p e S não está em um cenário cético... força o cético a incorrer em petição de princípio. Assim como no caso anterior, para defender J2 através do Padrão 1 de caminho de evidência, ele precisará arrogar-se de uma proposição que é a própria conclusão do argumento (J3). A terceira alternativa para o cético é defender o Padrão 3, afirmando que a relação evidencial presente entre p e S não se encontra em um cenário cético onde p é falso e apenas aparenta ser verdadeiro é que o último constitui evidência para o primeiro, ou seja, S precisa primeiro estar justificado ao crer que não se encontra em um cenário cético para poder estar justificado ao crer que p. Nesse caso, o cético não incorre em petição de princípio, mas apresenta uma exigência inaceitável para o epistemista. De acordo com essa tese, S precisa ter em seu campo de evidências a negação de todas as hipóteses contrárias de p para estar justificado ao crer que p. O que está implícito aqui é a tese de que todas as hipóteses rivais de p precisam ser eliminadas para p estar justificado para S, o que é equivalente, em última instância, a exigir que uma evidência para p necessite implicar p. Peter Klein em Certainty: a refutation of scepticism já argumentara que uma condição para que exista qualquer debate entre céticos e não-céticos é a aceitação de que para S saber que p, com base em e, não é requerido que e implique p. Caso contrário, temos um caminho fácil para o ceticismo pois a maioria das proposições empíricas (senão todas!) que normalmente julgamos conhecíveis, não são sustentadas por razões que a impliquem. Essa exigência, no entanto, é inaceitável para o epistemista, e este pode plausivelmente rejeitá-la argumentando que hipóteses contrárias só precisam ser eliminadas nas circunstâncias onde alguma razão em favor delas for apresentada. Em um zoológico, diante de uma zebra, alguém poderá alegar que você precisa eliminar a hipótese de que a zebra não é um alienígena de outro planeta ou um robô, que você não é um cérebro em uma cuba, e outras hipóteses extravagantes, para estar justificado ao crer que é verdade que ali se encontra uma zebra; mas isso é, nas palavras de Klein um afastamento ultrajante de nossas práticas epistêmicas ordinárias (2003, p.307). O resultado que chegamos após buscarmos, como sugerem os pirrônicos, a versão completamente articulada do argumento canônico para o ceticismo acadêmico é que o cético
12 fracassa em sua defesa da tese de que nós nunca estamos justificados ao crer que não estamos em um cenário cético, tal como a influência de um gênio maligno ou cientistas perversos. Ao ser desafiado a validar sua segunda premissa, o cético ou incorre em petição de princípio ou se apoia em uma hipótese legitimamente inaceitável para seu opositor. Tendo sucumbido frente aos Modos de Agripa, concluímos então que não há boas razões para ser um cético acadêmico. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: DESCARTES, René. Meditações Metafísicas. Trad. Maria Ermantina Galvão, 2ºed. São Paulo: Martins Fontes, DRETSKE, Fred. Epistemic Operators. In: Journal of Philosophy, 67 (1970), p HALES, Steven D.. Epistemic Operators. The Southern Journal of Philosophy, v. XXXIII, 1995, p HINTIKA, J.. Knowledge and Belief. Ithaca, New York: Cornell University Press, KLEIN, Peter D.. Certainty: a refutation of skepticism. Minneapolis: University of Minnesota Press, KLEIN, Peter D.. Skepticism and Closure: Why the Evil Genius Argument Fails. Philosophical Topics, 1995, p KLEIN, Peter D. Skepticism. In: MOSER, Paul (ed.). The Oxford Handbook of Epistemology. Oxford: Oxford University Press, 2002, p KLEIN, Peter D. There is No Good Reason to be an Academic Skeptic. In: LUPER, Steven (ed.). Essential Knowledge. Londres: Longman Publishers, 2003, p SEXTO EMPÍRICO. Outlines of Pyrrhonism. Trad. R. G. Bury. London: William Heinemann, STROUD, Barry. The Significance of Philosophical Scepticism. Oxford: Oxford University Press, VOGEL, Jonathan. Are There Counterexamples to the Closure Principle?. In: ROTH, M. D. & ROSS, G. (eds.). Doubting: Contemporary Perspectives on Skepticism. Dordrecht: Kluwer, 1990.
A LÓGICA EPISTÊMICA DE HINTIKKA E A DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE CONHECIMENTO. Resumo
 A LÓGICA EPISTÊMICA DE HINTIKKA E A DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE CONHECIMENTO Autor: Stanley Kreiter Bezerra Medeiros Departamento de Filosofia UFRN Resumo Em 1962, Jaako Hintikka publicou Knowledge and Belief:
A LÓGICA EPISTÊMICA DE HINTIKKA E A DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE CONHECIMENTO Autor: Stanley Kreiter Bezerra Medeiros Departamento de Filosofia UFRN Resumo Em 1962, Jaako Hintikka publicou Knowledge and Belief:
Encontro 02. Disjuntivismo Epistemológico. Problema da Base; Problema do Acesso; Distinção entre evidência por discriminação vs. por favorecimento.
 Encontro 02 Disjuntivismo Epistemológico. Problema da Base; Problema do Acesso; Distinção entre evidência por discriminação vs. por favorecimento. Disjuntivismo epistemológico (DE) Se bem sucedido, o DE
Encontro 02 Disjuntivismo Epistemológico. Problema da Base; Problema do Acesso; Distinção entre evidência por discriminação vs. por favorecimento. Disjuntivismo epistemológico (DE) Se bem sucedido, o DE
Disjuntivismo epistemológico
 Disjuntivismo epistemológico O problema da distinguibilidade Disjuntivismo epistemológico e o ceticismo radical (3) Problema da distinguibilidade (DP1) Em um caso bom+, S perceptivamente sabe(i) que p
Disjuntivismo epistemológico O problema da distinguibilidade Disjuntivismo epistemológico e o ceticismo radical (3) Problema da distinguibilidade (DP1) Em um caso bom+, S perceptivamente sabe(i) que p
O que é o conhecimento?
 Disciplina: Filosofia Ano: 11º Ano letivo: 2012/2013 O que é o conhecimento? Texto de Apoio 1. Tipos de Conhecimento No quotidiano falamos de conhecimento, de crenças que estão fortemente apoiadas por
Disciplina: Filosofia Ano: 11º Ano letivo: 2012/2013 O que é o conhecimento? Texto de Apoio 1. Tipos de Conhecimento No quotidiano falamos de conhecimento, de crenças que estão fortemente apoiadas por
Construindo uma tese científica: pesquisa e argumentação
 1 1. Artigo Tema: Ensino de argumentação filosófica Construindo uma tese científica: pesquisa e argumentação Gabriel Goldmeier Conhecimento: crença verdadeira corretamente justificada A Teoria do Conhecimento
1 1. Artigo Tema: Ensino de argumentação filosófica Construindo uma tese científica: pesquisa e argumentação Gabriel Goldmeier Conhecimento: crença verdadeira corretamente justificada A Teoria do Conhecimento
PROBLEMA DA ORIGEM DO CONHECIMENTO
 PROBLEMA DA ORIGEM DO CONHECIMENTO Questão Problema: O conhecimento alcança-se através da razão ou da experiência? (ver página 50) Tipos de conhecimento acordo a sua origem Tipos de juízo de acordo com
PROBLEMA DA ORIGEM DO CONHECIMENTO Questão Problema: O conhecimento alcança-se através da razão ou da experiência? (ver página 50) Tipos de conhecimento acordo a sua origem Tipos de juízo de acordo com
A RELATIVIDADE DO CETICISMO
 SKÉPSIS, ISSN 1981-4194, ANO VIII, Nº 16, 2017, p. 118-124. A RELATIVIDADE DO CETICISMO Paul K. Moser (Loyola University of Chicago) E-mail: pmoser@luc.edu Tradução: Jefferson dos Santos Marcondes Leite
SKÉPSIS, ISSN 1981-4194, ANO VIII, Nº 16, 2017, p. 118-124. A RELATIVIDADE DO CETICISMO Paul K. Moser (Loyola University of Chicago) E-mail: pmoser@luc.edu Tradução: Jefferson dos Santos Marcondes Leite
Competências argumentativas indicadas nas AE de Filosofia (em articulação com o Perfil do Aluno)
 Competências argumentativas indicadas nas AE de Filosofia (em articulação com o Perfil do Aluno) Identificar, formular e avaliar argumentos filosóficos, aplicando instrumentos operatórios da lógica formal
Competências argumentativas indicadas nas AE de Filosofia (em articulação com o Perfil do Aluno) Identificar, formular e avaliar argumentos filosóficos, aplicando instrumentos operatórios da lógica formal
O GRANDE RACIONALISMO: RENÉ DESCARTES ( )
 O GRANDE RACIONALISMO: RENÉ DESCARTES (1596-1650) JUSTIFICATIVA DE DESCARTES: MEDITAÇÕES. Há já algum tempo que eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras,
O GRANDE RACIONALISMO: RENÉ DESCARTES (1596-1650) JUSTIFICATIVA DE DESCARTES: MEDITAÇÕES. Há já algum tempo que eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras,
5 Conclusão. ontologicamente distinto.
 5 Conclusão Considerando a força dos três argumentos anti-materialistas defendidos por Chalmers e a possibilidade de doutrinas alternativas não materialistas, devemos definitivamente abandonar o materialismo?
5 Conclusão Considerando a força dos três argumentos anti-materialistas defendidos por Chalmers e a possibilidade de doutrinas alternativas não materialistas, devemos definitivamente abandonar o materialismo?
Palavras-Chave: Contextualismo. Paradoxo do Prefácio. Paradoxo Cético.
 CONTEXTUALISMO, PARADOXO CÉTICO E PARADOXO DO PREFÁCIO Tiegue Vieira Rodrigues 1 RESUMO: Embora controversa, o contextualismo epistêmico alega oferecer a melhor explicação para alguns fenômenos analisados
CONTEXTUALISMO, PARADOXO CÉTICO E PARADOXO DO PREFÁCIO Tiegue Vieira Rodrigues 1 RESUMO: Embora controversa, o contextualismo epistêmico alega oferecer a melhor explicação para alguns fenômenos analisados
O ARGUMENTO DE BOGHOSSIAN CONTRA O RELATIVISMO EPISTÊMICO
 O ARGUMENTO DE BOGHOSSIAN CONTRA O RELATIVISMO EPISTÊMICO Kátia M. Etcheverry 1 1. Relativismo epistêmico: defesa e definição Segundo a posição relativista o conhecimento é sempre relativo a uma dada época
O ARGUMENTO DE BOGHOSSIAN CONTRA O RELATIVISMO EPISTÊMICO Kátia M. Etcheverry 1 1. Relativismo epistêmico: defesa e definição Segundo a posição relativista o conhecimento é sempre relativo a uma dada época
Racionalismo. René Descartes Prof. Deivid
 Racionalismo René Descartes Prof. Deivid Índice O que é o racionalismo? René Descartes Racionalismo de Descartes Nada satisfaz Descartes? Descartes e o saber tradicional Objetivo de Descartes A importância
Racionalismo René Descartes Prof. Deivid Índice O que é o racionalismo? René Descartes Racionalismo de Descartes Nada satisfaz Descartes? Descartes e o saber tradicional Objetivo de Descartes A importância
Sképsis Eu não incluí citações neste resumo. Elas podem ser encontradas nas RP.
 Sképsis: Revista de Filosofia ISSN 1981-4194 Vol. VIII, N. 16, 2017, p. 1-6. Resumo das Reflexões Pirrônicas sobre o Conhecimento e a Justificação Dartmouth College Tradução: Jefferson dos Santos Marcondes
Sképsis: Revista de Filosofia ISSN 1981-4194 Vol. VIII, N. 16, 2017, p. 1-6. Resumo das Reflexões Pirrônicas sobre o Conhecimento e a Justificação Dartmouth College Tradução: Jefferson dos Santos Marcondes
O ARGUMENTO DO SONHO NO TEETETO DE PLATÃO: UMA ABORDAGEM EXTERNALISTA (2011)
 O ARGUMENTO DO SONHO NO TEETETO DE PLATÃO: UMA ABORDAGEM EXTERNALISTA (2011) ZARTH, Fernando Henrique Faustini 1 1 Mestrando em Filosofia, bolsista CAPES - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa
O ARGUMENTO DO SONHO NO TEETETO DE PLATÃO: UMA ABORDAGEM EXTERNALISTA (2011) ZARTH, Fernando Henrique Faustini 1 1 Mestrando em Filosofia, bolsista CAPES - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa
Lecionação da Filosofia da Religião a partir da Lógica, Metafísica e Epistemologia
 Lecionação da Filosofia da Religião a partir da Lógica, Metafísica e Epistemologia Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe v180713 Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe 1/23 Plano 1 Introdução 2 Problema de
Lecionação da Filosofia da Religião a partir da Lógica, Metafísica e Epistemologia Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe v180713 Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe 1/23 Plano 1 Introdução 2 Problema de
Minicurso sobre disjuntivismo epistemológico
 Minicurso sobre disjuntivismo epistemológico 1. Ceticismo, princípio da sensibilidade, segurança e neo-mooreanismo. 2. Disjuntivismo epistemológico, o problema do acesso e o problema da base. 3. Disjuntivismo
Minicurso sobre disjuntivismo epistemológico 1. Ceticismo, princípio da sensibilidade, segurança e neo-mooreanismo. 2. Disjuntivismo epistemológico, o problema do acesso e o problema da base. 3. Disjuntivismo
Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos. Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.
 Exame Final Nacional de Filosofia Prova 714 Época Especial Ensino Secundário 2017 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.
Exame Final Nacional de Filosofia Prova 714 Época Especial Ensino Secundário 2017 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.
Lógica Computacional. Métodos de Inferência. Passos de Inferência. Raciocínio por Casos. Raciocínio por Absurdo. 1 Outubro 2015 Lógica Computacional 1
 Lógica Computacional Métodos de Inferência Passos de Inferência Raciocínio por Casos Raciocínio por Absurdo 1 Outubro 2015 Lógica Computacional 1 Inferência e Passos de Inferência - A partir de um conjunto
Lógica Computacional Métodos de Inferência Passos de Inferência Raciocínio por Casos Raciocínio por Absurdo 1 Outubro 2015 Lógica Computacional 1 Inferência e Passos de Inferência - A partir de um conjunto
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura
 O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
A IMPORTÂNCIA DO FENÔMENO (PHAINÓMENON) NO PIRRONISMO DE SEXTO EMPÍRICO
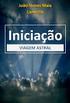 Juliomar M. Silva A IMPORTÂNCIA DO FENÔMENO (PHAINÓMENON) NO PIRRONISMO DE SEXTO EMPÍRICO Those Who say that the Sceptics reject what is apparent have not, I think, listened to what we say. As we Said
Juliomar M. Silva A IMPORTÂNCIA DO FENÔMENO (PHAINÓMENON) NO PIRRONISMO DE SEXTO EMPÍRICO Those Who say that the Sceptics reject what is apparent have not, I think, listened to what we say. As we Said
Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos. Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.
 Exame Final Nacional de Filosofia Prova 714 Época Especial Ensino Secundário 2017 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.
Exame Final Nacional de Filosofia Prova 714 Época Especial Ensino Secundário 2017 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.
Raciocínio Lógico Analítico
 Raciocínio Lógico Analítico Este artigo trata do assunto Raciocínio Analítico, também conhecido por lógica informal, argumentos, dedução, indução, falácias e argumentos apelativos. Raciocínio Analítico
Raciocínio Lógico Analítico Este artigo trata do assunto Raciocínio Analítico, também conhecido por lógica informal, argumentos, dedução, indução, falácias e argumentos apelativos. Raciocínio Analítico
Uma exposição da teoria infinitista de Peter Klein
 Uma exposição da teoria infinitista de Peter Klein Lucas Roisenberg Rodrigues 1 Resumo: Este artigo trata do conhecido problema das razões, e da solução infinitista, desenvolvida principalmente por Peter
Uma exposição da teoria infinitista de Peter Klein Lucas Roisenberg Rodrigues 1 Resumo: Este artigo trata do conhecido problema das razões, e da solução infinitista, desenvolvida principalmente por Peter
A EPISTEMOLOGIA E SUA NATURALIZAÇÃO 1 RESUMO
 A EPISTEMOLOGIA E SUA NATURALIZAÇÃO 1 SILVA, Kariane Marques da 1 Trabalho de Pesquisa FIPE-UFSM Curso de Bacharelado Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil E-mail:
A EPISTEMOLOGIA E SUA NATURALIZAÇÃO 1 SILVA, Kariane Marques da 1 Trabalho de Pesquisa FIPE-UFSM Curso de Bacharelado Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil E-mail:
TRADUÇÃO FALIBILISM AND CONCESSIVE KNOWLEDGE ATTRIBUTIONS
 TRADUÇÃO FALIBILISM AND CONCESSIVE KNOWLEDGE ATTRIBUTIONS Tiegue Vieira Rodrigues * Resumo: Neste artigo Jason Stanley desafia a alegação feita por Lewis de que a semântica contextualista para saber oferece
TRADUÇÃO FALIBILISM AND CONCESSIVE KNOWLEDGE ATTRIBUTIONS Tiegue Vieira Rodrigues * Resumo: Neste artigo Jason Stanley desafia a alegação feita por Lewis de que a semântica contextualista para saber oferece
Argumentos e Validade Petrucio Viana
 GAN00166: Lógica para Ciência da Computação Texto da Aula 7 Argumentos e Validade Petrucio Viana Departamento de Análise, IME UFF Sumário 1 Argumentos 1 1.1 Observações................................
GAN00166: Lógica para Ciência da Computação Texto da Aula 7 Argumentos e Validade Petrucio Viana Departamento de Análise, IME UFF Sumário 1 Argumentos 1 1.1 Observações................................
Filosofia COTAÇÕES GRUPO I GRUPO II GRUPO III. Teste Intermédio de Filosofia. Teste Intermédio. Duração do Teste: 90 minutos
 Teste Intermédio de Filosofia Teste Intermédio Filosofia Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março 1. 2. COTAÇÕES GRUPO I 1.1.... 10 pontos
Teste Intermédio de Filosofia Teste Intermédio Filosofia Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março 1. 2. COTAÇÕES GRUPO I 1.1.... 10 pontos
EXAME NACIONAL PROVA DE INGRESSO VERSÃO 1
 EXAME NACIONAL PROVA DE INGRESSO 10.º/11.º anos de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março) PROVA 714/10 Págs. Duração da prova: 120 minutos 2007 1.ª FASE PROVA ESCRITA DE FILOSOFIA VERSÃO
EXAME NACIONAL PROVA DE INGRESSO 10.º/11.º anos de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março) PROVA 714/10 Págs. Duração da prova: 120 minutos 2007 1.ª FASE PROVA ESCRITA DE FILOSOFIA VERSÃO
Demonstrações Matemáticas Parte 2
 Demonstrações Matemáticas Parte 2 Nessa aula, veremos aquele que, talvez, é o mais importante método de demonstração: a prova por redução ao absurdo. Também veremos um método bastante simples para desprovar
Demonstrações Matemáticas Parte 2 Nessa aula, veremos aquele que, talvez, é o mais importante método de demonstração: a prova por redução ao absurdo. Também veremos um método bastante simples para desprovar
DESAFIOS CÉTICOS E O DEBATE INTERNALISMO VERSUS EXTERNALISMO EM EPISTEMOLOGIA
 5 DESAFIOS CÉTICOS E O DEBATE INTERNALISMO VERSUS EXTERNALISMO EM EPISTEMOLOGIA Alexandre Meyer Luz* Resumo Neste ensaio, pretendemos (1) sugerir algumas vantagens da apresentação do ceticismo na forma
5 DESAFIOS CÉTICOS E O DEBATE INTERNALISMO VERSUS EXTERNALISMO EM EPISTEMOLOGIA Alexandre Meyer Luz* Resumo Neste ensaio, pretendemos (1) sugerir algumas vantagens da apresentação do ceticismo na forma
I g o r H e r o s o M a t h e u s P i c u s s a
 Filosofia da Ciência Realidade Axioma Empirismo Realismo cientifico Instrumentalismo I g o r H e r o s o M a t h e u s P i c u s s a Definição Filosofia da ciência é a área que estuda os fundamentos e
Filosofia da Ciência Realidade Axioma Empirismo Realismo cientifico Instrumentalismo I g o r H e r o s o M a t h e u s P i c u s s a Definição Filosofia da ciência é a área que estuda os fundamentos e
Indução e filosofia da ciência 1
 O equilíbrio dos indícios Indução e filosofia da ciência 1 Stephen Law Algumas das questões mais centrais e importantes colocadas por filósofos da ciência dizem respeito ao problema da confirmação. Os
O equilíbrio dos indícios Indução e filosofia da ciência 1 Stephen Law Algumas das questões mais centrais e importantes colocadas por filósofos da ciência dizem respeito ao problema da confirmação. Os
EXAME NACIONAL PROVA DE INGRESSO VERSÃO 2
 EXAME NACIONAL PROVA DE INGRESSO 10.º/11.º anos de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março) PROVA 714/10 Págs. Duração da prova: 120 minutos 2007 1.ª FASE PROVA ESCRITA DE FILOSOFIA VERSÃO
EXAME NACIONAL PROVA DE INGRESSO 10.º/11.º anos de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março) PROVA 714/10 Págs. Duração da prova: 120 minutos 2007 1.ª FASE PROVA ESCRITA DE FILOSOFIA VERSÃO
Descartes filósofo e matemático francês Representante do racionalismo moderno. Profs: Ana Vigário e Ângela Leite
 Descartes filósofo e matemático francês 1596-1650 Representante do racionalismo moderno Razão como principal fonte de conhecimento verdadeiro logicamente necessário universalmente válido Inspiração: modelo
Descartes filósofo e matemático francês 1596-1650 Representante do racionalismo moderno Razão como principal fonte de conhecimento verdadeiro logicamente necessário universalmente válido Inspiração: modelo
FILOSOFIA. 1º ano: Módulo 07. Professor Carlos Eduardo Foganholo
 FILOSOFIA 1º ano: Módulo 07 Professor Carlos Eduardo Foganholo Como podemos ter certeza de que estamos acordados e que tudo o que vivemos não é um sonho? Qual é a fonte de nossos conhecimentos? É possível
FILOSOFIA 1º ano: Módulo 07 Professor Carlos Eduardo Foganholo Como podemos ter certeza de que estamos acordados e que tudo o que vivemos não é um sonho? Qual é a fonte de nossos conhecimentos? É possível
Conhecimento, ceticismo e alternativas relevantes em Dretske 1
 40 Conhecimento, ceticismo e alternativas relevantes em Dretske Conhecimento, ceticismo e alternativas relevantes em Dretske 1 FLÁVIO WILLIGES (UFSM, FAPERGS). E-mail: fwilliges@gmail.com Tradicionalmente
40 Conhecimento, ceticismo e alternativas relevantes em Dretske Conhecimento, ceticismo e alternativas relevantes em Dretske 1 FLÁVIO WILLIGES (UFSM, FAPERGS). E-mail: fwilliges@gmail.com Tradicionalmente
A resposta contrastivista ao ceticismo
 A resposta contrastivista ao ceticismo Gregory Gaboardi 1 Resumo: o contrastivismo epistêmico (conforme formulado por Jonathan Schaffer) oferece uma resposta ao ceticismo sobre nosso conhecimento do mundo
A resposta contrastivista ao ceticismo Gregory Gaboardi 1 Resumo: o contrastivismo epistêmico (conforme formulado por Jonathan Schaffer) oferece uma resposta ao ceticismo sobre nosso conhecimento do mundo
A REVOLUÇÃO CARTESIANA. Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV.
 A REVOLUÇÃO CARTESIANA Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV. Descartes (1596-1650) foi educado por jesuítas. Ele iniciou a filosofia moderna com um
A REVOLUÇÃO CARTESIANA Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV. Descartes (1596-1650) foi educado por jesuítas. Ele iniciou a filosofia moderna com um
Lógica dos Conectivos: validade de argumentos
 Lógica dos Conectivos: validade de argumentos Renata de Freitas e Petrucio Viana IME, UFF 16 de setembro de 2014 Sumário Razões e opiniões. Argumentos. Argumentos bons e ruins. Validade. Opiniões A maior
Lógica dos Conectivos: validade de argumentos Renata de Freitas e Petrucio Viana IME, UFF 16 de setembro de 2014 Sumário Razões e opiniões. Argumentos. Argumentos bons e ruins. Validade. Opiniões A maior
Filosofia. IV Conhecimento e Racionalidade Científica e Tecnológica 1. DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA ACTIVIDADE COGNOSCITIVA JOÃO GABRIEL DA FONSECA
 Filosofia IV Conhecimento e Racionalidade Científica e Tecnológica 1. DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA ACTIVIDADE COGNOSCITIVA JOÃO GABRIEL DA FONSECA 1.2 Teorias Explicativas do Conhecimento René Descartes
Filosofia IV Conhecimento e Racionalidade Científica e Tecnológica 1. DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA ACTIVIDADE COGNOSCITIVA JOÃO GABRIEL DA FONSECA 1.2 Teorias Explicativas do Conhecimento René Descartes
O CETICISMO NA TRADIÇÃO E UMA (DIS)SOLUÇÃO WITTGENSTEINIANA Matheus de Lima Rui Universidade Federal de Pelotas. 1 Introdução
 O CETICISMO NA TRADIÇÃO E UMA (DIS)SOLUÇÃO WITTGENSTEINIANA Matheus de Lima Rui Universidade Federal de Pelotas 1 Introdução Desde os gregos até as mais modernas teorias científicas, a questão sobre o
O CETICISMO NA TRADIÇÃO E UMA (DIS)SOLUÇÃO WITTGENSTEINIANA Matheus de Lima Rui Universidade Federal de Pelotas 1 Introdução Desde os gregos até as mais modernas teorias científicas, a questão sobre o
Lógica Proposicional. 1- O que é o Modus Ponens?
 1- O que é o Modus Ponens? Lógica Proposicional R: é uma forma de inferência válida a partir de duas premissas, na qual se se afirma o antecedente do condicional da 1ª premissa, pode-se concluir o seu
1- O que é o Modus Ponens? Lógica Proposicional R: é uma forma de inferência válida a partir de duas premissas, na qual se se afirma o antecedente do condicional da 1ª premissa, pode-se concluir o seu
INFORMAÇÃO-PROVA PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E CAPACIDADES Componente Específica Filosofia. Código da Prova /2015
 INFORMAÇÃO-PROVA PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E CAPACIDADES Componente Específica Filosofia Código da Prova 6100 2014/2015 O presente documento divulga informação relativa à Prova de Avaliação de
INFORMAÇÃO-PROVA PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E CAPACIDADES Componente Específica Filosofia Código da Prova 6100 2014/2015 O presente documento divulga informação relativa à Prova de Avaliação de
Lógica Proposicional Parte 3
 Lógica Proposicional Parte 3 Nesta aula, vamos mostrar como usar os conhecimentos sobre regras de inferência para descobrir (ou inferir) novas proposições a partir de proposições dadas. Ilustraremos esse
Lógica Proposicional Parte 3 Nesta aula, vamos mostrar como usar os conhecimentos sobre regras de inferência para descobrir (ou inferir) novas proposições a partir de proposições dadas. Ilustraremos esse
EXAME FINAL NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO. Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.
 EXAME FINAL NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Prova Escrita de Filosofia 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho Prova 714/1.ª Fase 8 Páginas Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância:
EXAME FINAL NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Prova Escrita de Filosofia 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho Prova 714/1.ª Fase 8 Páginas Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância:
DESCARTES E A FILOSOFIA DO. Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson
 DESCARTES E A FILOSOFIA DO COGITO Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson René Descartes (1596 1650) 1650) Ponto de partida - Constatação da crise das ciências e do saber em
DESCARTES E A FILOSOFIA DO COGITO Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson René Descartes (1596 1650) 1650) Ponto de partida - Constatação da crise das ciências e do saber em
Versão A. Grupo I (10 x 3 = 30 pontos) Assinala a alternativa correta
 Versão A Grupo I (10 x 3 = 30 Assinala a alternativa correta 1.A filosofia não é uma ciência: a) Porque a filosofia consiste na procura do conhecimento factual. b) Porque os problemas e métodos da filosofia
Versão A Grupo I (10 x 3 = 30 Assinala a alternativa correta 1.A filosofia não é uma ciência: a) Porque a filosofia consiste na procura do conhecimento factual. b) Porque os problemas e métodos da filosofia
INTRODUÇÃO A LÓGICA. Prof. André Aparecido da Silva Disponível em:
 INTRODUÇÃO A LÓGICA Prof. André Aparecido da Silva Disponível em: http://www.oxnar.com.br/aulas 1 CIENCIA E LÓGICA RACIOCINIO LÓGICO NOTAÇÃO POSICIONAL PRINCIPIOS DA LÓGICA CONECTIVOS LÓGICOS REGRAS DE
INTRODUÇÃO A LÓGICA Prof. André Aparecido da Silva Disponível em: http://www.oxnar.com.br/aulas 1 CIENCIA E LÓGICA RACIOCINIO LÓGICO NOTAÇÃO POSICIONAL PRINCIPIOS DA LÓGICA CONECTIVOS LÓGICOS REGRAS DE
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS (PARTE I)
 INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS (PARTE I) Todo texto argumentativo tem como objetivo convencer o leitor. E, para isso, existem várias estratégias argumentativas (exemplos, testemunhos autorizados,
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS FALÁCIAS ARGUMENTATIVAS (PARTE I) Todo texto argumentativo tem como objetivo convencer o leitor. E, para isso, existem várias estratégias argumentativas (exemplos, testemunhos autorizados,
O modo de organização do discurso argumentativo
 O modo de organização do discurso argumentativo Texto dissertativo e texto argumentativo Dissertativo discurso explicativo. O objetivo é explicar. Argumentativo visa persuadir ou convencer um auditório
O modo de organização do discurso argumentativo Texto dissertativo e texto argumentativo Dissertativo discurso explicativo. O objetivo é explicar. Argumentativo visa persuadir ou convencer um auditório
Contextualismo, paradoxo cético e paradoxo do prefácio
 Controvérsia - Vol. 7, nº 2: 61-69 (mai-ago 2011) ISSN 1808-5253 Contextualismo, paradoxo cético e paradoxo do prefácio Contextualism, preface paradox and skeptical paradox Tiegue Vieira Rodrigues Doutor
Controvérsia - Vol. 7, nº 2: 61-69 (mai-ago 2011) ISSN 1808-5253 Contextualismo, paradoxo cético e paradoxo do prefácio Contextualism, preface paradox and skeptical paradox Tiegue Vieira Rodrigues Doutor
RESUMO. Filosofia. Psicologia, JB
 RESUMO Filosofia Psicologia, JB - 2010 Jorge Barbosa, 2010 1 Saber se o mundo exterior é real e qual a consciência e o conhecimento que temos dele é um dos problemas fundamentais acerca do processo de
RESUMO Filosofia Psicologia, JB - 2010 Jorge Barbosa, 2010 1 Saber se o mundo exterior é real e qual a consciência e o conhecimento que temos dele é um dos problemas fundamentais acerca do processo de
Um pouco de história. Ariane Piovezan Entringer. Geometria Euclidiana Plana - Introdução
 Geometria Euclidiana Plana - Um pouco de história Prof a. Introdução Daremos início ao estudo axiomático da geometria estudada no ensino fundamental e médio, a Geometria Euclidiana Plana. Faremos uso do
Geometria Euclidiana Plana - Um pouco de história Prof a. Introdução Daremos início ao estudo axiomático da geometria estudada no ensino fundamental e médio, a Geometria Euclidiana Plana. Faremos uso do
Indiscernibilidade de Idênticos. Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de idênticos
 Indiscernibilidade de Idênticos Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de Consideremos agora o caso das atitudes proposicionais, das construções epistémicas e psicológicas, e perguntemo-nos se é
Indiscernibilidade de Idênticos Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de Consideremos agora o caso das atitudes proposicionais, das construções epistémicas e psicológicas, e perguntemo-nos se é
As ferramentas da razão 1
 As ferramentas da razão 1 A filosofia pode ser uma atividade extremamente técnica e complexa, cujos conceitos e terminologia chegam muitas vezes a intimidar aqueles que iniciam seus estudos filosóficos.
As ferramentas da razão 1 A filosofia pode ser uma atividade extremamente técnica e complexa, cujos conceitos e terminologia chegam muitas vezes a intimidar aqueles que iniciam seus estudos filosóficos.
Versão B. GRUPO I (10 X 3 = 30 pontos) Assinala a única alternativa correta
 Versão B GRUPO I (10 X 3 = 30 pontos) Assinala a única alternativa correta 1.O discurso filosófico é sobretudo um discurso: a) Demonstrativo b) Argumentativo c) Científico d) Racional 2. Dizer que a filosofia
Versão B GRUPO I (10 X 3 = 30 pontos) Assinala a única alternativa correta 1.O discurso filosófico é sobretudo um discurso: a) Demonstrativo b) Argumentativo c) Científico d) Racional 2. Dizer que a filosofia
CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA. Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon.
 CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA Artur Bezzi Gunther Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon. 1. Duração: 02 horas e 15 minutos. 2. Recursos didáticos:
CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA Artur Bezzi Gunther Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon. 1. Duração: 02 horas e 15 minutos. 2. Recursos didáticos:
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE. O que é Ciência?
 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE O que é Ciência? O QUE É CIÊNCIA? 1 Conhecimento sistematizado como campo de estudo. 2 Observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo de fenômenos
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE O que é Ciência? O QUE É CIÊNCIA? 1 Conhecimento sistematizado como campo de estudo. 2 Observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo de fenômenos
Resenha / Critical Review
 Resenha / Critical Review por Ana Carolina da Costa e Fonseca * Oliver Michael; Barnes Colin. The new politcs of disablement (As novas olíticas da deficiência). Palgrave Macmillan, 2012. A primeira edição
Resenha / Critical Review por Ana Carolina da Costa e Fonseca * Oliver Michael; Barnes Colin. The new politcs of disablement (As novas olíticas da deficiência). Palgrave Macmillan, 2012. A primeira edição
Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein
 Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein NOME DO AUTOR: Priscilla da Veiga BORGES; André da Silva PORTO. UNIDADE ACADÊMICA: Universidade Federal de
Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein NOME DO AUTOR: Priscilla da Veiga BORGES; André da Silva PORTO. UNIDADE ACADÊMICA: Universidade Federal de
BuscaLegis.ccj.ufsc.br
 BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
2012 COTAÇÕES. Prova Escrita de Filosofia. 11.º Ano de Escolaridade. Prova 714/1.ª Fase. Critérios de Classificação GRUPO I GRUPO II GRUPO III
 EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Filosofia.º Ano de Escolaridade Prova 74/.ª Fase Critérios de Classificação Páginas 202 COTAÇÕES GRUPO I....
EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Filosofia.º Ano de Escolaridade Prova 74/.ª Fase Critérios de Classificação Páginas 202 COTAÇÕES GRUPO I....
UMA PROVA DE CONSISTÊNCIA
 UMA PROVA DE CONSISTÊNCIA Felipe Sobreira Abrahão Mestrando do HCTE/UFRJ felipesabrahao@gmail.com 1. INTRODUÇÃO Demonstradas por Kurt Gödel em 1931, a incompletude da (ou teoria formal dos números ou aritmética)
UMA PROVA DE CONSISTÊNCIA Felipe Sobreira Abrahão Mestrando do HCTE/UFRJ felipesabrahao@gmail.com 1. INTRODUÇÃO Demonstradas por Kurt Gödel em 1931, a incompletude da (ou teoria formal dos números ou aritmética)
1. Métodos de prova: Construção; Contradição.
 Universidade Estadual de Santa Cruz Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas Bacharelado em Ciência da Computação Fundamentos Matemáticos para Computação 1. Métodos de prova: Construção; Contradição.
Universidade Estadual de Santa Cruz Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas Bacharelado em Ciência da Computação Fundamentos Matemáticos para Computação 1. Métodos de prova: Construção; Contradição.
Prova Escrita de Filosofia
 EXAME FINAL NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Prova Escrita de Filosofia.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 39/0, de de julho Prova 74/.ª Fase Critérios de Classificação 3 Páginas 06 Prova 74/.ª F. CC Página
EXAME FINAL NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Prova Escrita de Filosofia.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 39/0, de de julho Prova 74/.ª Fase Critérios de Classificação 3 Páginas 06 Prova 74/.ª F. CC Página
A RACIONALIDADE DA CRENÇA EM DEUS NA EPISTEMOLOGIA RELIGIOSA DE ALVIN PLANTINGA
 A RACIONALIDADE DA CRENÇA EM DEUS NA EPISTEMOLOGIA RELIGIOSA DE ALVIN PLANTINGA Ana Paula da Silva Mendes; Fatrine Leire Guimarães Borges; Hellen Viola Dondossola. Resumo: Este artigo apresenta a defesa
A RACIONALIDADE DA CRENÇA EM DEUS NA EPISTEMOLOGIA RELIGIOSA DE ALVIN PLANTINGA Ana Paula da Silva Mendes; Fatrine Leire Guimarães Borges; Hellen Viola Dondossola. Resumo: Este artigo apresenta a defesa
Conclusão. 1 Embora essa seja a função básica dos nomes próprios, deve-se notar que não é sua função
 Conclusão Este trabalho tinha o objetivo de demonstrar uma tese bem específica, a de que a principal função dos nomes próprios é a função operacional, isto é, a função de código 1. Gosto de pensar que
Conclusão Este trabalho tinha o objetivo de demonstrar uma tese bem específica, a de que a principal função dos nomes próprios é a função operacional, isto é, a função de código 1. Gosto de pensar que
INE5403 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA DISCRETA
 INE5403 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA DISCRETA PARA A COMPUTAÇÃO PROF. DANIEL S. FREITAS UFSC - CTC - INE Prof. Daniel S. Freitas - UFSC/CTC/INE/2007 p.1/81 1 - LÓGICA E MÉTODOS DE PROVA 1.1) Lógica Proposicional
INE5403 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA DISCRETA PARA A COMPUTAÇÃO PROF. DANIEL S. FREITAS UFSC - CTC - INE Prof. Daniel S. Freitas - UFSC/CTC/INE/2007 p.1/81 1 - LÓGICA E MÉTODOS DE PROVA 1.1) Lógica Proposicional
ANEXO 1. Metas para um Currículo de Pensamento Crítico. (Taxonomia de Ennis)
 ANEXO 1 Metas para um Currículo de Pensamento Crítico (Taxonomia de Ennis) 245 METAS PARA UM CURRÍCULO DE PENSAMENTO CRÍTICO I Definição operacional: O Pensamento Crítico é uma forma de pensar reflexiva
ANEXO 1 Metas para um Currículo de Pensamento Crítico (Taxonomia de Ennis) 245 METAS PARA UM CURRÍCULO DE PENSAMENTO CRÍTICO I Definição operacional: O Pensamento Crítico é uma forma de pensar reflexiva
OPERADORES MODAIS (NA INTERFACE LÓGICA E LINGUAGEM NATURAL)
 OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
WITTGENSTEIN E A NOÇÃO MINIMALISTA DA VERDADE 1. INTRODUÇÃO
 WITTGENSTEIN E A NOÇÃO MINIMALISTA DA VERDADE PEREIRA, Julio Henrique Carvalho ; DO CARMO, Juliano Santos Universidade Federal de Pelotas juliohenrique-pereira@hotmail.com Universidade Federal de Pelotas
WITTGENSTEIN E A NOÇÃO MINIMALISTA DA VERDADE PEREIRA, Julio Henrique Carvalho ; DO CARMO, Juliano Santos Universidade Federal de Pelotas juliohenrique-pereira@hotmail.com Universidade Federal de Pelotas
Lista 2 - Bases Matemáticas
 Lista 2 - Bases Matemáticas (Última versão: 14/6/2017-21:00) Elementos de Lógica e Linguagem Matemática Parte I 1 Atribua valores verdades as seguintes proposições: a) 5 é primo e 4 é ímpar. b) 5 é primo
Lista 2 - Bases Matemáticas (Última versão: 14/6/2017-21:00) Elementos de Lógica e Linguagem Matemática Parte I 1 Atribua valores verdades as seguintes proposições: a) 5 é primo e 4 é ímpar. b) 5 é primo
III. RACIONALIDADE ARGUMEN NTATIVA E FILOSOFIA
 III. RACIONALIDADE ARGUMEN NTATIVA E FILOSOFIA 1. Argumentação e Lóg gica Formal 1.1. Distinção validade - verdade 1.2. Formas de Inferên ncia Válida. 1.3. Principais Falácias A Lógica: objecto de estudo
III. RACIONALIDADE ARGUMEN NTATIVA E FILOSOFIA 1. Argumentação e Lóg gica Formal 1.1. Distinção validade - verdade 1.2. Formas de Inferên ncia Válida. 1.3. Principais Falácias A Lógica: objecto de estudo
A NATUREZA DO CONTEÚDO EXPERIENCIAL E SUA SIGNIFICÂNCIA EPISTÊMICA Kátia Martins Etcheverry 1
 A NATUREZA DO CONTEÚDO EXPERIENCIAL E SUA SIGNIFICÂNCIA EPISTÊMICA Kátia Martins Etcheverry 1 As teorias da justificação, em geral, têm como ponto teórico importante a tarefa de explicar a (suposta) conexão
A NATUREZA DO CONTEÚDO EXPERIENCIAL E SUA SIGNIFICÂNCIA EPISTÊMICA Kátia Martins Etcheverry 1 As teorias da justificação, em geral, têm como ponto teórico importante a tarefa de explicar a (suposta) conexão
O conhecimento e a incerteza do ponto de vista do ceticismo
 O conhecimento e a incerteza do ponto de vista do ceticismo IF UFRJ Mariano G. David Mônica F. Corrêa 1 O conhecimento e a incerteza do ponto de vista do ceticismo Aula 1: O conhecimento é possível? O
O conhecimento e a incerteza do ponto de vista do ceticismo IF UFRJ Mariano G. David Mônica F. Corrêa 1 O conhecimento e a incerteza do ponto de vista do ceticismo Aula 1: O conhecimento é possível? O
TRABALHE A SUA MENTE PARA CONSEGUIR O SUCESSO.
 TRABALHE A SUA MENTE PARA CONSEGUIR O SUCESSO. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill Planeje seu propósito, prepare-se com fé, proceda com otimismo e dedique-se com persistência. QUANDO UMA PORTA SE
TRABALHE A SUA MENTE PARA CONSEGUIR O SUCESSO. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill Planeje seu propósito, prepare-se com fé, proceda com otimismo e dedique-se com persistência. QUANDO UMA PORTA SE
Artigo de opinião 22/04/2016. Curto, logo existo
 Curto, logo existo Com a evolução e o aumento de usuários e da importância das redes sociais, o nome e a fotografia de cada pessoa passaram a funcionar como o substituto do sujeito. O eu real se esvaziou
Curto, logo existo Com a evolução e o aumento de usuários e da importância das redes sociais, o nome e a fotografia de cada pessoa passaram a funcionar como o substituto do sujeito. O eu real se esvaziou
A AUTORIDADE DE PRIMEIRA PESSOA, NO TEMPO PRESENTE: A ESCUTA E A INTERPRETAÇÃO DA ESCUTA
 A AUTORIDADE DE PRIMEIRA PESSOA, NO TEMPO PRESENTE: A ESCUTA E A INTERPRETAÇÃO DA ESCUTA Mariluze Ferreira de Andrade e Silva Laboratório de Lógica e Epistemologia DFIME - UFSJ Resumo: Propomos investigar
A AUTORIDADE DE PRIMEIRA PESSOA, NO TEMPO PRESENTE: A ESCUTA E A INTERPRETAÇÃO DA ESCUTA Mariluze Ferreira de Andrade e Silva Laboratório de Lógica e Epistemologia DFIME - UFSJ Resumo: Propomos investigar
FILOSOFIA 11º ano O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
 FILOSOFIA 11º ano O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA Governo da República Portuguesa Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva 1.1 Estrutura do ato de conhecer 1.2 Análise
FILOSOFIA 11º ano O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA Governo da República Portuguesa Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva 1.1 Estrutura do ato de conhecer 1.2 Análise
A noção de justificação epistêmica como conceito de avaliação epistêmica
 ÁGORA FILOSÓFICA A noção de justificação epistêmica como conceito de avaliação epistêmica The notion of epistemic justification as concept of epistemic appraisal Tito Alencar Flores 1 Resumo O propósito
ÁGORA FILOSÓFICA A noção de justificação epistêmica como conceito de avaliação epistêmica The notion of epistemic justification as concept of epistemic appraisal Tito Alencar Flores 1 Resumo O propósito
Teoria do conhecimento de David Hume
 Hume e o empirismo radical Premissas gerais empiristas de David Hume ( que partilha com os outros empiristas ) Convicções pessoais de David Hume: Negação das ideias inatas A mente é uma tábua rasa/folha
Hume e o empirismo radical Premissas gerais empiristas de David Hume ( que partilha com os outros empiristas ) Convicções pessoais de David Hume: Negação das ideias inatas A mente é uma tábua rasa/folha
PALAVRAS DE INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSIDERAÇÕES FINAIS /REDAÇÃO ENEM / VESTIBULAR /2018
 PALAVRAS DE INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSIDERAÇÕES FINAIS /REDAÇÃO ENEM / VESTIBULAR /2018 Lembre-se da estrutura básica da dissertação-argumentativa Introdução Desenvolvimento Conclusão Apresente
PALAVRAS DE INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSIDERAÇÕES FINAIS /REDAÇÃO ENEM / VESTIBULAR /2018 Lembre-se da estrutura básica da dissertação-argumentativa Introdução Desenvolvimento Conclusão Apresente
Grupo I Para cada uma das questões que se seguem assinala a opção correta
 Grupo I Para cada uma das questões que se seguem assinala a opção correta 1. A filosofia é: a) Um conjunto de opiniões importantes. b) Um estudo da mente humana. c) Uma atividade que se baseia no uso crítico
Grupo I Para cada uma das questões que se seguem assinala a opção correta 1. A filosofia é: a) Um conjunto de opiniões importantes. b) Um estudo da mente humana. c) Uma atividade que se baseia no uso crítico
Trabalho sobre: René Descartes Apresentado dia 03/03/2015, na A;R;B;L;S : Pitágoras nº 28 Or:.Londrina PR., para Aumento de Sal:.
 ARBLS PITAGORAS Nº 28 Fundação : 21 de Abril de 1965 Rua Júlio Cesar Ribeiro, 490 CEP 86001-970 LONDRINA PR JOSE MARIO TOMAL TRABALHO PARA O PERÍODO DE INSTRUÇÃO RENE DESCARTES LONDRINA 2015 JOSE MARIO
ARBLS PITAGORAS Nº 28 Fundação : 21 de Abril de 1965 Rua Júlio Cesar Ribeiro, 490 CEP 86001-970 LONDRINA PR JOSE MARIO TOMAL TRABALHO PARA O PERÍODO DE INSTRUÇÃO RENE DESCARTES LONDRINA 2015 JOSE MARIO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA
 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA RODRIGO MARTINS BORGES CETICISMO, CONTEXTUALISMO E A TRANSMISSÃO DE
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA RODRIGO MARTINS BORGES CETICISMO, CONTEXTUALISMO E A TRANSMISSÃO DE
CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA
 CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA O GRANDE RACIONALISMO O termo RACIONALISMO, no sentido geral, é empregado para designar a concepção de nada existe sem que haja uma razão para isso. Uma pessoa
CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA O GRANDE RACIONALISMO O termo RACIONALISMO, no sentido geral, é empregado para designar a concepção de nada existe sem que haja uma razão para isso. Uma pessoa
No. Try not. Do... or do not. There is no try. - Master Yoda, The Empire Strikes Back (1980)
 Cálculo Infinitesimal I V01.2016 - Marco Cabral Graduação em Matemática Aplicada - UFRJ Monitor: Lucas Porto de Almeida Lista A - Introdução à matemática No. Try not. Do... or do not. There is no try.
Cálculo Infinitesimal I V01.2016 - Marco Cabral Graduação em Matemática Aplicada - UFRJ Monitor: Lucas Porto de Almeida Lista A - Introdução à matemática No. Try not. Do... or do not. There is no try.
Matemática - Geometria Caderno 1: Ângulos triédricos
 Programa PIBID/CAPES Departamento de Matemática Universidade de Brasília Matemática - Geometria Caderno 1: Objetivos Desenvolver e formalizar o raciocínio lógico do aluno. Conteúdos abordados Reconhecimento
Programa PIBID/CAPES Departamento de Matemática Universidade de Brasília Matemática - Geometria Caderno 1: Objetivos Desenvolver e formalizar o raciocínio lógico do aluno. Conteúdos abordados Reconhecimento
CETICISMO E OS SENTIDOS
 SKÉPSIS, ISSN 1981-4194, ANO VII, Nº 14, 2016, p. 1-15. CETICISMO E OS SENTIDOS BARRY STROUD (Universidade da Califórnia em Berkeley) Email: barrys@berkeley.edu Tradução: Mateus Lacerda de Sá Teles Email:
SKÉPSIS, ISSN 1981-4194, ANO VII, Nº 14, 2016, p. 1-15. CETICISMO E OS SENTIDOS BARRY STROUD (Universidade da Califórnia em Berkeley) Email: barrys@berkeley.edu Tradução: Mateus Lacerda de Sá Teles Email:
O diagnóstico teórico de Michael Williams: explicitando os pressupostos céticos
 1 O diagnóstico teórico de Michael Williams: explicitando os pressupostos céticos Thiago Rafael Santin 1 Resumo: Este artigo pretende apresentar a abordagem diagnóstica teórica de Michael Williams (2001
1 O diagnóstico teórico de Michael Williams: explicitando os pressupostos céticos Thiago Rafael Santin 1 Resumo: Este artigo pretende apresentar a abordagem diagnóstica teórica de Michael Williams (2001
Expandindo o Vocabulário. Tópicos Adicionais. Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto. 12 de junho de 2019
 Material Teórico - Módulo de INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA Expandindo o Vocabulário Tópicos Adicionais Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto 12 de junho de 2019
Material Teórico - Módulo de INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA Expandindo o Vocabulário Tópicos Adicionais Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto 12 de junho de 2019
Universidade Federal de Goiás Instituto de Ciências Biológicas Departamento de Ecologia. Filosofia da Ciência Epistemologia da Ciência
 Universidade Federal de Goiás Instituto de Ciências Biológicas Departamento de Ecologia Filosofia da Ciência Epistemologia da Ciência As Revoluções Científicas Prof. Adriano S. Melo asm.adrimelo no gmail.com
Universidade Federal de Goiás Instituto de Ciências Biológicas Departamento de Ecologia Filosofia da Ciência Epistemologia da Ciência As Revoluções Científicas Prof. Adriano S. Melo asm.adrimelo no gmail.com
Lógica Dedutiva e Falácias
 Lógica Dedutiva e Falácias Aula 3 Prof. André Martins Lógica A Lógica é o ramo do conhecimento humano que estuda as formas pelas quais se pode construir um argumento correto. O que seria um raciocínio
Lógica Dedutiva e Falácias Aula 3 Prof. André Martins Lógica A Lógica é o ramo do conhecimento humano que estuda as formas pelas quais se pode construir um argumento correto. O que seria um raciocínio
Lógica. Abílio Rodrigues. FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho.
 Lógica Abílio Rodrigues FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho São Paulo 2011 09 Lógica 01-08.indd 3 4/29/11 2:15 PM 1. Verdade, validade e forma lógica
Lógica Abílio Rodrigues FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho São Paulo 2011 09 Lógica 01-08.indd 3 4/29/11 2:15 PM 1. Verdade, validade e forma lógica
Versão A. GRUPO I (10 X 3 = 30 pontos)
 Versão A GRUPO I (10 X 3 = 30 pontos) Assinala a única alternativa correta 1.Dizer que a filosofia é uma atividade reflexiva é afirmar que: a) A filosofia é um saber puramente racional. b) A filosofia
Versão A GRUPO I (10 X 3 = 30 pontos) Assinala a única alternativa correta 1.Dizer que a filosofia é uma atividade reflexiva é afirmar que: a) A filosofia é um saber puramente racional. b) A filosofia
I. Iniciação à atividade filosófica Abordagem introdutória à Filosofia e ao filosofar... 13
 Índice 1. Competências essenciais do aluno... 4 2. Como estudar filosofia... 5 3. Como ler, analisar e explicar um texto filosófico... 7 4. Como preparar-se para um teste... 10 5. Como desenvolver um trabalho
Índice 1. Competências essenciais do aluno... 4 2. Como estudar filosofia... 5 3. Como ler, analisar e explicar um texto filosófico... 7 4. Como preparar-se para um teste... 10 5. Como desenvolver um trabalho
OS PROBLEMAS DA INDUÇÃO E DA DEDUÇÃO
 OS PROBLEMAS DA INDUÇÃO E DA DEDUÇÃO Pedro Merlussi Mestrando em Lógica e Epistemologia pela UFSC Resumo: Neste artigo apresento uma introdução ao problema da indução/dedução. Após isso, apresento a resposta
OS PROBLEMAS DA INDUÇÃO E DA DEDUÇÃO Pedro Merlussi Mestrando em Lógica e Epistemologia pela UFSC Resumo: Neste artigo apresento uma introdução ao problema da indução/dedução. Após isso, apresento a resposta
Descartes e o Raciona. Filosofia 11ºAno Professor Paulo Gomes
 Descartes e o Raciona Filosofia 11ºAno Professor Paulo Gomes http://sites.google.com/site/filosofarliberta/ O RACIONALISMO -O Racionalismo é uma corrente que defende que a origem do conhecimento é a razão.
Descartes e o Raciona Filosofia 11ºAno Professor Paulo Gomes http://sites.google.com/site/filosofarliberta/ O RACIONALISMO -O Racionalismo é uma corrente que defende que a origem do conhecimento é a razão.
