Dissertação de Mestrado PERFIL DAS CAPACIDADES PULMONARES E FÍSICAS EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS A TRANSPLANTE CARDÍACO. Christian Correa Coronel
|
|
|
- Brian Taveira Lisboa
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Dissertação de Mestrado PERFIL DAS CAPACIDADES PULMONARES E FÍSICAS EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS A TRANSPLANTE CARDÍACO Christian Correa Coronel
2 2 INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde: Área de Concentração: Cardiologia PERFIL DAS CAPACIDADES PULMONARES E FÍSICAS EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS A TRANSPLANTE CARDÍACO Autor: Christian Correa Coronel Orientador: Prof. Dr. Ivo Abraão Nesralla Dissertação submetida como requisito para obtenção do grau de Mestre ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Área de Concentração: Cardiologia, da Fundação Universitária de Cardiologia / Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. PORTO ALEGRE 2008
3 3 C822p Coronel, Christian Correa. Perfil das capacidades pulmonares e físicas em indivíduos submetidos a transplante cardíaco / Christian Correa Coronel; orientação [por] Prof. Dr. Ivo Abraão Nesralla Porto Alegre, f; tab. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de Cardiologia - Bibliotecária Responsável: Marlene Tavares Sodré da Silva CRB 10/1850
4 4 Dedico este trabalho à minha esposa Márcia e a meu filho Alberto, que me fazem agradecer a cada dia de convivência e querer compartilhar todas as felicidades possíveis.
5 5 AGRADECIMENTOS Agradeço em primeiro lugar a Deus, por cada dia que passa e pelas oportunidades que me são dadas. Ao amigo e irmão André pelo estímulo, paciência e compreensão em todas as horas, fonte de conhecimento e grande amizade. Ao Dr. Edison Bueno, pela oportunidade que me foi dada há 14 anos atrás, pelas palavras sempre sábias e ao exemplo profissional, é uma pessoa que tenho muito carinho e admiração. À minha mãe e meus irmãos pela convivência e palavras de estímulo. Ao professor Ivo Nesralla, por dividir um pouco dos seus conhecimentos e proporcionar a conclusão deste trabalho. Aos colegas de trabalho do Serviço de Fisioterapia do IC-FUC, sempre me estimulando e proporcionando a melhor convivência possível. Aos colegas de IC-FUC, esta casa que me proporciona o crescimento científico e pessoal, um agradecimento especial à Antonieta, Silvia, Patrícia e Sandra, pessoas que nunca deixaram de acreditar na realização deste.
6 6 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO INSUFICIÊNCIA CARDÍACA TRANSPLANTE CARDÍACO...12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...21 ARTIGO ORIGINAL...26 Resumo...27 Abstract...29 Introdução...31 Método...32 Amostra...33 Coleta de Dados...33 Análise Estatística...34 Resultados...35 Discussão...42 Conclusão...44 Referências bibliográficas...44 APÊNDICES...49 APÊNDICE 1 FICHA DE AVALIAÇÃO...49 APÊNDICE 2 - DESCRIÇÃO DA CIRURGIA...50 APÊNDICE 3 TERMO DE COMPROMISSO...51
7 Base Teórica 7
8 1 1. INTRODUÇÃO Apesar dos avanços terapêuticos ocorridos nas duas últimas décadas, a insuficiência cardíaca (IC) é uma doença de grave prognóstico, com mortalidade anual de 30% a 50% para os pacientes mais graves. O transplante cardíaco é atualmente uma alternativa cirúrgica amplamente aceita para tratar pacientes com IC grave 1,2 que a terapia medicamentosa otimizada não consiga manter qualidade de vida adequada 3. As complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia cardíaca são uma fonte significativa de mortalidade e morbidade 3,6-12. Dessa forma, podem reduzir as taxas de mortalidade, identificando os pacientes em risco de complicações pulmonares pós-operatórias e otimizando a terapêutica 7,12. Os pulmões são particularmente vulneráveis e representam um potencial sítio de infecção em pacientes submetidos à transplante cardíaco 3,11. Essa vulnerabilidade deve-se principalmente a terapia imunossupressora, procedimento cirúrgico e qualidade de vida do paciente, podendo ser evitada através de medidas profiláticas de controle de infecção 3,11. Estratégias pós-operatórias também devem ser tomadas para reduzir as complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia cardíaca, entre elas podemos citar exercícios de ventilação profunda, inspirometria de incentivo, pressão positiva contínua, mobilização no leito, técnicas de tosse e controle da dor 8, além da prática de exercícios aeróbicos 13. Imediatamente após o transplante cardíaco existe uma melhora perceptiva pelo paciente em relação a sua função física. Isto se deve principalmente a melhora do status psicológico, social e funcional após o
9 2 transplante, observado principalmente nas realizações das atividades de vida diária 14,15. Apesar de todos os riscos que o paciente transplantado possui para infecção e rejeição, esta técnica tem se mostrado de grande eficácia na sobrevida destes, apresentando resultados de taxa de sobrevida de 90% no primeiro ano e 87% no quinto ano pós transplante com boa qualidade de vida.
10 3 2. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA Apesar dos avanços terapêuticos ocorridos nas duas últimas décadas, a insuficiência cardíaca (IC) é uma doença de grave prognóstico, com mortalidade anual de 30% a 50% para os pacientes mais graves. O transplante cardíaco é atualmente uma alternativa cirúrgica amplamente aceita para tratar pacientes com IC grave 1,2 que a terapia medicamentosa otimizada não consiga manter qualidade de vida adequada 3. A insuficiência cardíaca congestiva (ICC), responsável por perda da qualidade de vida e por grande número de mortes, é a via final da maioria das enfermidades do sistema cardiovascular (coronariopatias, hipertensão arterial sistêmica, disfunções valvares, miocardiopatias, cardiopatias congênitas etc.) 4. A IC é uma síndrome endêmica em todo o mundo, que pode se manifestar como doença crônica estável ou descompensada. De acordo com a I Diretriz Latino-Americana de Insuficiência Cardíaca Descompensada, a insuficiência cardíaca descompensada (ICD) pode ser aguda (de recente começo), descompensada propriamente dita (com instabilização de um quadro crônico), ou refratária (persistente). É justamente a ICD a principal causa de internação nos países desenvolvidos. No Brasil, trata-se da terceira causa geral de internação e a primeira cardiovascular, apresentando alta mortalidade 5. A IC é uma doença de prevalência e incidência elevada em praticamente todo o mundo. Nos Estados Unidos são diagnosticados cerca de novos casos anualmente. Dados do estudo de Framinghan 5
11 4 demonstram que a incidência de IC aumenta progressivamente em ambos os sexos de acordo com a idade, atingindo mais de 10 casos novos anuais por septuagenários e 25 casos novos anuais por octogenários. A interação entre idade e surgimento de IC também foi demonstrada em estudos de prevalência de diversos países europeus. A ICD é a causa isolada mais freqüente de hospitalização na população idosa, um fenômeno que tem se acentuado progressivamente. Altas hospitalares com diagnóstico final de IC, por exemplo, cresceu de , em 1979, para , em 2000, um incremento absoluto de 164% 5. No Brasil, as admissões hospitalares por IC representaram aproximadamente 4% de todas as hospitalizações e 31% das internações do aparelho circulatório no ano de Após a primeira hospitalização por ICD, a taxa de readmissões em salas de emergência e hospitais é particularmente elevada, podendo representar a progressão inevitável da síndrome e/ou, possivelmente, alta hospitalar precoce. Entre pacientes norte americanos com mais de 70 anos, por exemplo, aproximadamente 60% são readmitidos em 90 dias. Uma comparação internacional, envolvendo dois registros hospitalares de pacientes internados por IC, no Brasil e nos Estados Unidos, demonstra taxas de readmissão, em 90 dias, de 36% e 51%, respectivamente. Diversos estudos internacionais buscaram identificar fatores associados com readmissões após hospitalização por IC. Embora os resultados não sejam consensuais, as características clínicas preditoras de reinternação hospitalar mais freqüentes na literatura são 5 :
12 5 - Quanto à história clínica: idade avançada, sexo masculino, raça negra, co-morbidades clínicas, hospitalizações prévias freqüentes, duração prolongada dos sintomas, etiologia isquêmica e classes funcionais III e IV; - Quanto ao exame físico: freqüência cardíaca elevada e pressão arterial sistólica baixa; - Quanto aos exames complementares: fibrilação atrial crônica, bloqueio de ramo esquerdo e piora da função cardíaca; - Quanto ao tratamento e aderência: tratamento inadequado, falta de aderência ao tratamento proposto e isolamento social. Em aproximadamente 30-40% dos casos, entretanto, não é possível identificar o motivo da descompensação clínica ou fatores que predisponham a hospitalização. Dados brasileiros sugerem que existem diferenças importantes na etiologia, nos fatores de descompensação, no tratamento e no prognóstico de pacientes com IC nas diferentes regiões brasileiras 5. Estratégias de intervenção multidisciplinar se mostraram eficazes na redução de readmissões 90 dias após alta hospitalar, além de diminuir, significativamente, os custos, quando comparadas ao tratamento convencional. Abordagens multidisciplinares envolvendo acompanhamento de pacientes com IC em hospital-dia também se mostraram custo-efetivo. Por fim, poucos estudos avaliaram relações de custo-efetividade de dispositivos de assistência ventricular ou de transplante cardíaco. Um estudo publicado há mais de 15 anos sugere que o transplante cardíaco custe U$ ,00 por ano de vida salvo 5. A ICD é definida como a síndrome clínica na qual uma alteração estrutural ou funcional do coração leva à incapacidade do coração de ejetar
13 6 e/ou acomodar sangue dentro de valores pressóricos fisiológicos, causando limitação funcional e necessitando intervenção terapêutica imediata. Esse quadro pode se apresentar de forma aguda ou como exacerbação de quadros crônicos, podendo ser assim classificado para facilitar a nomenclatura e integrar os objetivos terapêuticos específicos de cada tipo de apresentação clínica 5. A insuficiência cardíaca aguda (sem diagnóstico prévio) corresponde à situação clínica na qual uma determinada agressão leva ao desencadeamento da síndrome clínica de insuficiência cardíaca em pacientes sem sinais e sintomas prévios de insuficiência cardíaca. Situações clínicas que exemplificam este quadro Incluem infarto agudo do miocárdio, com ou sem complicações mecânicas, e miocardite aguda. Isso corresponde à minoria dos casos de internação por ICD 5. A insuficiência cardíaca crônica descompensada (exacerbação aguda de quadro crônico) corresponde à situação clínica na qual ocorre exacerbação aguda ou gradual de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca em repouso, em pacientes com diagnóstico prévio de IC, requerendo intervenção terapêutica adicional e imediata. A imensa maioria dos pacientes apresenta sinais ou sintomas de congestão, mais ou menos evidentes clinicamente, mas de magnitude relevante o suficiente para limitar de forma incapacitante a realização de atividade física. Esta apresentação clínica representa, de longe, a causa mais importante de hospitalização por ICD 5. A insuficiência cardíaca crônica refratária (baixo débito crônico, associada ou não a graus diversos de congestão) corresponde à situação clínica na quais pacientes com diagnóstico prévio conhecido de IC se
14 7 apresentam com quadro de baixo débito e/ou congestão sistêmica e/ou limitação funcional persistente, refratário ao melhor tratamento clínico possível 5. O edema agudo de pulmão corresponde à situação clínica na qual ocorre aumento abrupto de pressão capilar pulmonar, levando a aumento de líquido no espaço intersticial e alveolar pulmonar, causando dispnéia súbita e intensa em repouso. Contrariamente ao observado nas exacerbações da insuficiência cardíaca crônica, esta situação ocorre mais comumente em pacientes com função sistólica preservada ou levemente deprimida. É mais freqüente em pacientes idosos, hipertensos e diabéticos 5. A disfunção diastólica ou IC com fração de ejeção preservada corresponde à situação clínica na qual ocorrem sinais e sintomas de insuficiência cardíaca devidos a distúrbio no enchimento ventricular, por marcada redução da distensibilidade ventricular e fração de ejeção preservada no repouso. Nela se enquadram os pacientes com cardiopatia hipertensiva ou hipertrófica, sendo os ventrículos, geralmente, não dilatados. Dados disponíveis indicam que, aproximadamente, 40% dos casos de IC apresentam este padrão de função ventricular 5. A causa mais comum de ICD, na prática clínica, é a redução da contratilidade miocárdica, freqüentemente associada à cardiopatia isquêmica, miocardiopatia dilatada idiopática, hipertensiva, ou doença de Chagas. Também são causas de ICD as condições nas quais o coração é submetido à sobrecarga hemodinâmica (sobrecarga de volume ou de pressão), distúrbios de freqüência cardíaca ou condições que interfiram com o enchimento ventricular. Na maioria das formas de ICD, a inapropriada perfusão tecidual é
15 8 conseqüente à redução do débito cardíaco (DC). A ICD também pode ser caracterizada como uma síndrome multissistêmica, ocorrendo anormalidades da função cardíaca, muscular esquelética, da função renal e metabólica, associada à elevada estimulação do sistema nervoso simpático e um complexo padrão de alterações neuro-humorais e inflamatórias 5. A fisiopatologia da ICD marca seu início a partir de um dano miocárdico primário que gera disfunção ventricular. Esta disfunção ventricular deflagra mecanismos adaptativos associados à ativação neuro-humoral, gerando alterações na forma e eficiência mecânica do coração (remodelamento ventricular) e alterações periféricas circulatórias, havendo também danos secundários devido a aumento do estresse oxidativo, inflamação e morte celular (apoptose) 5,6. A síndrome de ICC pode evoluir de um estágio compensado, assintomático, até formas mais avançadas, ocasionando a ICD. Diversos determinantes contribuem para o desempenho da função cardíaca, e alguns ou vários estão comprometidos no desenvolvimento da descompensação da IC, conforme o mecanismo de dano principal e a evolução temporal 5. Os distúrbios hemodinâmicos inicialmente deflagrados na ICD se associam a alterações sistêmicas neuro-humorais (sistema reninaangiotensina-aldosterona, sistema simpático, peptídeos vasomotores como endotelina-1 e óxido nítrico), com repercussões em nível tecidual cardíaco, em que a ação destes fatores leva à apoptose de miócitos e a alterações na estrutura cardíaca (matriz extracelular), caracterizando o remodelamento ventricular. Além disto, há reconhecida atividade inflamatória associada com a progressão da IC, na qual citocinas desempenham papéis importantes 5,6.
16 9 As citocinas pró-inflamatórias vasodepressoras (TNF-alfa, interleucina- 6 e interleucina-1 beta) parecem ser as mais importantes neste processo. Por outro lado, elementos protetores (vasodilatadores e diuréticos), como os peptídeos natriuréticos, a bradicinina e algumas prostaciclinas, encontram-se aumentados na IC. Em quadros de descompensação de IC, há indícios de maior ativação de alguns destes sistemas, por exemplo, níveis de catecolaminas e citocinas aumentam de forma significativa 5,6. Na ICD devida à disfunção ventricular diastólica, encontram-se aqueles casos de IC com fração de ejeção preservada. A despeito de uma importante lacuna de estudos envolvendo esse tipo de apresentação clínica, dados epidemiológicos sugerem que, aproximadamente, 40% dos casos de IC se incluem nessa categoria. Dois tipos de distúrbios dividem os mecanismos fisiopatológicos mais importantes na disfunção diastólica: alteração no relaxamento ou complacência ventricular, embora a concomitância desses fenômenos talvez componha o cenário mais comum 5. A disfunção ventricular diastólica predominantemente secundária a distúrbios do relaxamento ocorre quando há assincronia ventricular, aumento de pós-carga, atraso do processo de término da contração (distúrbios de recaptação de cálcio para (o retículo sarcoplasmático) e isquemia, já que este é um processo ativo que requer gasto de ATP (trifosfato de adenosina). Exemplos em que este tipo de alteração é predominante são cardiopatia hipertrófica, hipertrofia ventricular conseqüente à estenose aórtica e à cardiopatia hipertensiva e isquemia miocárdica 5. Na disfunção ventricular diastólica predominantemente secundária à redução da complacência três mecanismos básicos contribuem para reduzir a
17 10 complacência ventricular, alterando as propriedades diastólicas dos ventrículos 5 : 1) aumento das pressões de enchimento (sobrecarga de volume insuficiência aórtica ou mitral); 2) aumento da rigidez miocárdica propriamente dita (processos infiltrativos amiloidose, endomiocardiofibrose, ou isquemia miocárdica); 3) compressão extrínseca do ventrículo (tamponamento pericárdico, pericardite constritiva). Finalmente, no contexto da miocardiopatia dilatada, há um componente de disfunção diastólica, mesmo com comprometimento sistólico avançado. Esse é um padrão do tipo restritivo com baixa complacência. Verificado em associação com grandes aumentos de volumes ventriculares 5. No edema pulmonar agudo cardiogênico o aumento súbito das pressões de enchimento por redução da complacência ventricular ou hipervolemia importante leva a aumento da pressão hidrostática capilar, causando edema pulmonar. Entretanto, em situações de IC crônica, mecanismos adaptativos poderão estar operando há mais tempo, permitindo acomodação de aumentos de volemia cronicamente e evitando edema pulmonar agudo. Portanto, no edema agudo de pulmão pode não haver cardiomegalia, predominando o comprometimento diastólico, com fração de ejeção preservada ou levemente comprometida. Exemplos deste tipo de quadro são infarto agudo do miocárdio e crise hipertensiva 5. Na ICD, o prognóstico vai depender da gravidade da doença de base. Enquanto nas síndromes isquêmicas agudas, esses parâmetros estão bem definidos (classificação de Killip-Kimball, classificação de Forrester, dados clínicos, eletrocardiográficos e laboratoriais, função ventricular esquerda e presença de arritmias ventriculares, etc.), nas outras etiologias ainda não o
18 11 estão. Na IC crônica descompensada, inúmeros fatores prognósticos são descritos, destacando-se marcadores clínicos, hemodinâmicos, neurohormonais e inflamatórios 5. A ICC é uma síndrome de características malignas, com alta mortalidade nas formas avançadas, chegando a 50% em um ano na classe funcional IV da classificação da New York Heart Association (NYHA), podendo ser pior naqueles que necessitem de suporte inotrópico para compensação 4. Essa afecção é também muito ruim em termos de qualidade de vida e, segundo alguns estudos, provoca mais desconforto que angina, doença pulmonar obstrutiva crônica, artrite e diabetes 4. Apesar da otimização do tratamento clínico para a ICC um número importante de pacientes chegam ao estágio mais avançado e irreversível da doença, agravando-se o quadro clínico apesar do tratamento intensivo adequadamente instituído (insuficiência cardíaca congestiva refratária). Nesses casos, justificam-se medidas especiais invasivas como assistência circulatória e opções cirúrgicas analisadas caso a caso (revascularização miocárdica e aneurismectomia de ventrículo esquerdo, ventriculectomia parcial esquerda, correção de insuficiência mitral e remodelação ventricular, ressincronização cardíaca com marcapasso, cardioversor-desfibrilador implantáveis, transplante cardíaco e suporte mecânico) 4.
19 12 3. TRANSPLANTE CARDÍACO O transplante cardíaco é o tratamento de eleição para os casos avançados de insuficiência cardíaca (classe funcional III e IV da NYHA) 1,2,4,7 sem outra possibilidade de tratamento clínico ou cirúrgico 3,7. O transplante ortotópico clássico foi padronizado tecnicamente em cães, em O primeiro transplante cardíaco humano foi um xenotransplante, de um macaco para o homem, realizado por James Hardy em 1963, com discreta repercussão 8. O primeiro transplante inter-humanos, realizado pelo Dr. Christian Barnard, na África do Sul, em dezembro de 1967 com relativo sucesso despertou enorme interesse pelo procedimento 4,8. De 1968 a 1970 muitos serviços realizaram pequenas séries de transplantes com resultados insatisfatórios em conseqüência de infecção e ou rejeição aguda. Entre 1970 e 1980 houve redução da utilização dessa alternativa terapêutica e poucos centros mantiveram seus programas de transplante cardíaco. Graças à experiência clínica acumulada e alguns avanços como a biópsia endomiocárdica e a introdução da ciclosporina A em 1980, os resultados foram melhorando com aumento rápido do número anual de transplantes e multiplicação dos centros realizando transplante em todo o mundo 4,8. O primeiro transplante cardíaco do Brasil e da América Latina foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), pelo Dr. Zerbini e equipe, em maio de 1968, cinco meses após o transplante da África do Sul. Entre 1968 e 1969 outros dois transplantes foram realizados no período histórico dos transplantes
20 13 humanos. Um dos pacientes viveu pouco mais de um ano, o primeiro 18 dias e o terceiro pouco mais de 60 dias 8. No período moderno dos transplantes (década de 80) o primeiro transplante foi realizado em 1984 pela equipe do Dr. Ivo Nesralla do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 8. As indicações do transplante estão expressas nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia para Transplante Cardíaco 7, que têm a intenção de assistir aos médicos e outros profissionais em decisões, descrevendo procedimentos aceitáveis para seleção de pacientes e de doadores, técnicas, diagnóstico, condutas ou prevenção de específicos temas ligados a transplante cardíaco e insuficiência cardíaca refratária, e tentar definir procedimentos que alcancem as necessidades dos pacientes na maioria das circunstâncias. Entretanto, o último julgamento em relação ao cuidado de um paciente específico deve ser feito por médico e paciente à luz de todas as circunstâncias apresentadas 7. As indicações de transplante cardíaco levam em consideração, além da condição clínica do paciente, características sócio-econômicas e psíquicas, disponibilidade de doadores de órgãos e aspectos operacionais, que restringem a disponibilidade desses métodos de tratamento, pois os cuidados pós-operatórios do transplante cardíaco são complexos e exigem do paciente entendimento e colaboração 9. Muitos fatores prognósticos de sobrevida têm sido identificados na tentativa de otimizar a seleção dos candidatos, destacando-se a fração de ejeção (FE) do ventrículo esquerdo (VE) e ventrículo direito (VD), classe funcional da insuficiência cardíaca (NYHA), hiponatremia, níveis elevados de
21 14 catecolaminas séricas, pressão capilar pulmonar elevada, índice cardíaco reduzido, arritmias ventriculares, e baixo pico de consumo de O 2 durante exercício (pico de VO 2 ) 1,7. A medida do pico de VO 2 fornece uma avaliação objetiva da capacidade funcional de exercício. Foi descrito que os pacientes com pico de VO 2 >14ml/kg/min têm sobrevida de um ano 94% sem transplante cardíaco. A pior sobrevida foi para aqueles com pico de VO 2 <10ml/kg/min e, portanto, esse grupo deve ser aceito para transplante cardíaco, a menos que haja contra-indicação 7,10. A seleção para o transplante é um processo dinâmico que deve ser refeita a cada 3-6 meses, sendo que pacientes podem ser retirados ou incluídos na fila dependendo da condição clínica, ou quando deterioram necessitam de transplante com prioridade 7. Uma vez aprovado pela equipe multidisciplinar e na ausência de contra-indicações, o candidato será então inscrito na fila de espera. Uma lista de espera é formada pelos candidatos selecionados para o transplante, com ou sem prioridade, separados por grupo sangüíneo, ordenados pela seqüência de inscrição na lista e caracterizados principalmente pelo peso 7. Todos os candidatos devem ser reavaliados periodicamente na fila e submeter-se a uma avaliação formal a cada seis meses, incluindo exame clínico, laboratorial, pico de VO 2, FEVE e possivelmente a resistência vascular pulmonar (RVP). Complicações ocorrem durante o período de espera do transplante o que pode resultar em remoção do candidato da fila, de forma temporária ou mesmo permanente 7. O teste de caminhada de seis minutos (T6 ) é um método simples, de fácil aplicabilidade, de baixo custo, que vem sendo utilizado para avaliar
22 15 objetivamente o grau de limitação funcional e obter estratificações prognósticas na IC 11. A partir da década de 1980, houve um crescimento da utilização do T6 na prática clínica, sobretudo na IC. No estudo SOLVD (Studies Of Left Ventricular Dysfunction), a distância caminhada durante seis minutos foi identificada como variável independente indicadora de mortalidade e de morbidade em pacientes com IC em classes funcionais II e III. Foi sugerido que o tipo de esforço, durante o T6 na IC, assemelhava-se à atividade diária, podendo ser considerado um exame submáximo. O T6 determina importante estresse hemodinâmico e um elevado número de arritmias graves, apesar de refletir melhor as atividades cotidianas do que um teste de consumo máximo 11. O T6 tem sido utilizado também em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca, avaliando da capacidade funcional destes e tem-se demonstrado de grande relevância 12, sendo de fácil aplicabilidade pela equipe multiprofissional e também aplicado em pós-operatório de transplante cardíaco 13. As complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia cardíaca são uma fonte significativa de mortalidade e morbidade 3,6,14,15,16,17,18,19. Dessa forma, podemos reduzir as taxas de mortalidade identificando os pacientes em risco de complicações pulmonares pós-operatórias e otimizando a terapêutica 14,19. Os pulmões são particularmente vulneráveis e representam um potencial sítio de infecção em pacientes submetidos à transplante cardíaco 3,18. Essa vulnerabilidade deve-se principalmente a terapia imunossupressora, procedimento cirúrgico e qualidade de vida do paciente, podendo ser evitada através de medidas profiláticas de controle de infecção 3,18.
23 16 Uma das complicações pulmonares muito prevalentes no primeiro ano após o transplante cardíaco é o derrame pleural, que ocorre em 85% dos casos, sendo mais prevalente na primeira semana após a cirurgia. Destes casos a presença deste unilateralmente é maior (25%) do que na forma bilateral (17%) 20. Na avaliação pré-operatória é importante identificar a história completa de vida do paciente, exame físico, história de tabagismo, tolerância ao exercício, dispnéia ou tosse 15,19. Alterações na ausculta pulmonar podem indicar algum grau de doença pulmonar, o que pode aumentar o risco de complicações. É consenso a indicação de testes de função pulmonar em pacientes que irão submeter-se a cirurgia cardíaca ou de abdome superior, estes podem não só indicar o risco para a cirurgia como podem promover o cancelamento desta 15. Outro fator importante a ser considerado do indivíduo que se submete à cirurgia cardíaca é a obesidade. Indivíduos com IMC (índice de massa corpórea) >30 kg/m 2 tem maior associação com complicações como aumento da morbi-mortalidade, infecção/click esternal, falência renal, ventilação prolongada, readmissão em unidade de terapia intensiva e maior tempo de internação hospitalar 21. Alguns fatores que predispõem às complicações respiratórias no pósoperatório podem ser minimizados por adequada avaliação e manejo préoperatórios, incluindo o uso de fisioterapia respiratória, broncodilatadores, uso de antibióticos, tratamento da insuficiência cardíaca e interrupção do fumo 14,15.
24 17 Dentre os fatores transoperatórios para complicações pulmonares podemos citar a anestesia, a manipulação cirúrgica e a circulação extracorpórea 15,16. Injuria vascular pulmonar ocorre em 30-50% dos pacientes no pós-operatório devido à utilização de circulação extracorpórea, estando ligada diretamente ao tempo de utilização desta. A origem deste processo está na ativação de mediadores pró-inflamatórios que contribuem no final para o edema pulmonar e a quantidade de líquido extravascular pulmonar 17. Durante este processo, os pulmões não estão ventilados o que favorece o aparecimento de atelectasias 15,17. Além disso, a anestesia promove paralisação dos músculos ventilatórios e redução da resposta à hipoxemia 15. A manipulação cirúrgica e o uso de derivados sanguíneos também estão ligados ao trauma vascular 17. Outra causa importante para o desenvolvimento de atelectasias e infecções pulmonares é a retenção de secreções após a cirurgia 22, provavelmente devido à redução da eficiência da tosse, causada pela ventilação superficial, redução da geração de pressão intratorácica e dor. Manobras de tosse devem ser incluídas no manejo do paciente no pósoperatório, juntamente com a fisioterapia respiratória, prevenindo as complicações pulmonares neste período 22. A técnica cirúrgica inicialmente proposta para a realização do transplante ortotópico foi descrita por Lower e Shumway, técnica biatrial, e consistia na preservação de parte dos átrios do receptor que eram anastomosados no coração do doador, com isso não era necessário realizar separadamente a anastomose das cavas. Após algum tempo da cirurgia
25 18 potenciais problemas dessa técnica incluíam a disfunção atrial, do nodo sinoatrial, insuficiência valvular e formação de trombos 23. Em resposta a estes fatos, a técnica bicaval (que consiste na preservação de parte das cavas do doador e anastomose no receptor) foi desenvolvida e introduzida no início dos anos 90. Estudos comparando as duas técnicas foram realizados e demonstraram que melhoraram a função atrial, diminuíram a freqüência de arritmias no pós-operatório, diminuía a necessidade de utilização de marcapasso, reduzia a regurgitação tricúspide e melhorava a sobrevida dos pacientes 23. Outras estratégias pós-operatórias também devem ser tomadas para reduzir as complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia cardíaca, entre elas podemos citar exercícios de ventilação profunda, inspirometria de incentivo, pressão positiva contínua, mobilização no leito, técnicas de tosse e controle da dor 15, além da prática de exercícios aeróbicos 24. Imediatamente após o transplante cardíaco existe uma melhora perceptiva pelo paciente em relação a sua função física. Isto se deve principalmente a melhora do status psicológico, social e funcional após o transplante, observado principalmente nas realizações das atividades de vida diária 25,26. Porém, com o passar do tempo, existe uma tendência de redução desta capacidade funcional, principalmente após o segundo ano de transplante 13,25,27. Esta redução está ligada diretamente à diminuição da competência cronotrópica do coração, disfunção endotelial e alteração da morfologia e bioquímica do músculo esquelético 2,27. A média máxima da capacidade do exercício aumenta de 40 a 60% acima dos valores normais até dois anos após o transplante cardíaco. Após este segundo ano, o pico de
26 19 VO 2 volta a cair cerca de 5% por ano, enquanto que em um adulto saudável essa diminuição é de 1,5% ao ano. A administração de ciclosporina e corticóide após o transplante cardíaco induz a disfunção da fibra de contração lenta do músculo esquelético e aumenta a concentração do lactato sangüíneo durante a atividade física. Estes negativos efeitos da terapia imunossupressora sobre o músculo esquelético contribuem significativamente para a diminuição da capacidade ao exercício após o transplante cardíaco 27. Recentes trabalhos demonstram que o aumento da resistência física, pico de consumo de oxigênio e da qualidade de vida no primeiro mês após transplante, diminuem o curso do impacto da terapia imunossupressora na capacidade de exercício 27,28, melhoram a sobrevida 24 e a qualidade de vida dos pacientes 24, 26. Programas de exercício após transplante cardíaco, demonstram que sendo praticados durante pelo menos 12 semanas de modo aeróbico melhoram a vasodilatação endotélio dependente da resistência periférica vascular, melhorando a capacidade vasodilatadora da microcirculação 2,29. Provavelmente esta melhora na função endotelial deve-se principalmente à melhor estimulação de produção e liberação de óxido nítrico aliado a melhora do trabalho do músculo esquelético 13. Apesar de todos os riscos que o paciente transplantado possui para infecção e rejeição, esta técnica tem se mostrado de grande eficácia na sobrevida destes, apresentando resultados de taxa de sobrevida de 90% no primeiro ano e 87% no quinto ano pós transplante com boa qualidade de vida 30. O presente trabalho, tendo como base as informações acima, visa
27 20 avaliar e quantificar o perfil das capacidades físicas e pulmonares em indivíduos submetidos a transplante cardíaco que recebem atendimento de fisioterapia convencional. Assim, levando-se em consideração a utilização da cirurgia de transplante cardíaco e que os vários estudos não quantificam ao certo o decréscimo na função pulmonar e possuem métodos distintos e amostragens diferentes, tornando difícil a comparação dos resultados e o estabelecimento do nível de evidência desta técnica, ainda há necessidade de obter-se evidências concernentes aos efeitos fisiológicos gerados pela aplicação desta técnica no nosso meio. Neste sentido, justifica-se a realização deste estudo visando investigar, em indivíduos transplantados, possíveis alterações geradas pelo uso desta técnica em importantes variáveis fisiológicas como função pulmonar. O maior conhecimento acerca dos efeitos primários que a técnica ocasiona consiste em informação essencial para guiar futuros experimentos visando melhorar os níveis de evidência das técnicas fisioterapêuticas, assim como proporcionar informação direta para as decisões diárias que envolvem a prática clínica em Fisioterapia.
28 21 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Areosa CMN, Almeida DR, Carvalho ACC, Paola AAV. Avaliação de Fatores Prognósticos da Insuficiência Cardíaca em Pacientes Encaminhados para Avaliação de Transplante Cardíaco. Arq Bras Cardiol 2007; 88(6): Haykowsky M, Eves N, Figgures L, McLean A, Koller M, Taylor D, Tymchak W. Effect of Exercise Training on VO 2 peak and Left Ventricular Systolic Function in Recent Cardiac Transplant Recipients. Am J Cardiol 2005; 95: Atasever A, Bacakoglu F, Uysal FE, Nalbantgil S, Karyagdi T, Guzelant A, Sayiner A. Pulmonary Complications in Heart Transplant Recipients. Transplant Proc. 2006; 38: Branco JNR, Aguiar LF, Paez RP, Buffolo E. Opções Cirúrgicas no Tratamento da Insuficiência Cardiaca. Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2004; 1: Bocchi EA, Villas-Boas F, Perrone F et al. I Diretriz Latino-Americana para Avaliação e Conduta na Insuficiência Cardíaca Descompensada. Arq Bras de Cardiol 2005; 85: suplemento III. 6. Braunwald E. Biomarkers in Heart Failure. N Engl J Med 2008; 358: Dohmann HJ, Bodanese LC, Bocchi EA et al. I Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia para Transplante Cardíaco, Arq Bras Cardiol 1999; 73:(V): Stolf NAG. Transplante Cardíaco Humano no Brasil. Arq Bras Cardiol 1994; 63 (3):
29 22 9. Freitas HFG, Nastari L, Mansur LNAJ et al. Dinâmica da Avaliação de Pacientes para Transplante Cardíaco ou Cardiomioplastia. Arq Bras Cardiol 1994, 62 (4): Arena R, Myers J, Abella J, Peberdy MA, Bensimhon D, Chase P, Guazzi M. Development of a Ventilatory Classification System in Patients With Heart Failure. Circulation 2007; 115: Rubim VSM, Neto CD, Romeo JLM, Montera MW. Valor Prognóstico do Teste de Caminhada de Seis Minutos na Insuficiência Cardíaca. Arq Bras Cardiol 2006; 86 (2): Furgi RP, Domenico S, Tramarin R, et al. P. Use in the Individual Patient After Cardiac Surgery: Toward an Efficient Distance Walked in the 6-Minute Test Soon. Chest 2004;126: Doutreleau S, Piquard F, Lonsdorfer E, et al. Rouyer O, Lampert E, Mettauer B, Richard R, Geny B. Improving exercise capacity, 6 wk training tends to reduce circulating endothelin after heart transplantation. Clin Transplant 2004; 18: Leguisamo CP, Kalil RAK, Furlani AP. A Efetividade de uma Proposta Fisioterapêutica Pré-operatória para Cirurgia de Revascularização do Miocárdio. Rev Bras Cir Cardiovasc 2005; 20(2): Khan MA, Hussain SF. Pre-operative pulmonary evaluation. J Ayub Med Coll Abbottabad 2005; 17(4). 16. Filsoufi F, Rahmanian PB, Castillo JG, Chikwe J, Adams DH. Predictors and Early and Late Outcomes of Repiratory Failure in Contemporany Cardiac Surgery. Chest 2008; 133:
30 Groeneveld ABJ, Jansen EK, Verheij J. Mechanisms of Pulmonary Dysfunction After On-pump and Off-pump Cardiac Surgery: a Prospective Cohort Study, Journal of Cardiothoracic Surgery 2007; 2(11): Mattner F, Fischer S, Weissbrodt H, Chaberny IF, Sohr D, Gottlieb J, Welte T, Henke-Gendo C, Gastmeier P, Strueber M. Post-operative Nosocomial Infections After Lung and Heart Transplantation. J Heart Lung Transplant 2007; 26: Charlson ME, Isom OW. Care after Coronary-Artery Bypass Surgery. N Engl J Med 2003; 348: Misra H, Dikensoy O, Rodriguez M, Bilaceroglu S, Wigger M, Aaron M, Light R. Prevalence of pleural effusions post orthotopic heart transplantation. Respirology 2007; 12: Yap CH, Mohajeri M, Yii M. Obesity and early complications after cardiac surgery. MJA 2007; 186: Fiore Jr JF, Chiavegato LD, Denehy L,Paisani DM, Faresin SM. Do Directed Cough Maneuvers Improve Cough Effectiveness in the Early Period After Open Heart Surgery? Effect of Thoracic Support and Maximal Inspiration on Cough Peak Expiratory Flow, Cough Expiratory Volume, and Thoracic Pain. Respir Care 2008; 53(8): Weiss ES, Nwakanma LU, Russell SB, Conte JV, Shah AS. Outcomes in Bicaval Versus Biatrial Techiniques in Heart transplantation: an Analyses of the UNOS Database. J Heart Lung Transplant 2008; 27:
31 Kavanagh T, Mertens DJ, Shephard RJ, Beyene J, Kennedy J, Campbell R, Sawyer P, Yacoub M. Long-Term Cardiorespiratory Results of Exercise Training Following Cardiac Transplantation. Am J Cardiol 2003; 91: Grady KL, Naftel DC, Young JB et al. Patterns and Predictors of Physical Functional Disability at 5 to 10 Years After Heart Transplantation. J Heart Lung Transplant 2007; 26: Saeed I, Rogers C, Murday A. Health-related Quality of Life After Cardiac Transplantation: Results of a UK National Survey With Normbased Comparisons. J Heart Lung Transplant 2008; 27: Tegtbur U, Busse MW, Pethig KJ, Haverich A. Time Course of Physical reconditioning During Exercise Rehabilitation Late After Heart Transplantation. J Heart Lung Transplant 2005; 24: Kavanagh T. Exercise Rehabilitation In Cardiac Transplantation Patients: A Comprehensive Review. EUR MED PHYS 2005; 41: Piercea GL, Schofieldb RS, Caseya DP, Hamlina SA, Hillb JA, Braitha RW. Effects of exercise training on forearm and calf vasodilation and proinflammatory markers in recent heart transplant recipients: a pilot study. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2008, 15: Deusea T, Haddadb F, Phamb M, Huntb S, Valantineb H, Batesa MJ, Mallidia HR, Oyera PE, Robbinsa RC, Reitza BA. Twenty-Year Survivors of Heart Transplantation at Stanford University. American Journal of Transplantation 2008; 8:
32 ARTIGO 25
33 26 ARTIGO ORIGINAL - REVISTA BRASILEIRA DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR PERFIL DAS CAPACIDADES PULMONARES E FÍSICAS EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS A TRANSPLANTE CARDÍACO FUNCTIONAL AND PULMONARY CAPACITY IN HEART TRANSPLANTATION Christian Correa Coronel 1, Solange Bordignon 2, Ivo Nesralla 3 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL/ FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA Endereço para correspondência: Instituto de Cardiologia do RS/FUC Unidade de Pesquisa Prof. Ivo Nesralla Av. Princesa Isabel, 370 Porto Alegre, RS Fone/Fax: / pesquisa@cardiologia.org.br 1 Fisioterapeuta do Instituto de Cardiologia. Mestrando em Ciências da Saúde: Cardiologia, do Programa de Pós-graduação da Fundação Universitária de Cardiologia. 2 Médica Cardiologista, Mestre em Cardiologia. 3 Cirurgião Cardiovascular,...????
34 27 RESUMO: Introdução: O transplante cardíaco é atualmente a única alternativa cirúrgica amplamente aceita para tratar pacientes com insuficiência cardíaca (IC) grave que a terapia medicamentosa otimizada não consiga manter qualidade de vida adequada. Além da diminuição da capacidade funcional devido à IC grave, a cirurgia também promove alterações importantes na capacidade ventilatória dos pacientes. No período pós-operatório ocorre uma melhora na capacidade funcional e na qualidade de vida dos pacientes submetidos à transplante cardíaco. Objetivo: Descrever e comparar os valores perioperatórios (préoperatório, primeiro, sétimo e décimo quarto dia de pós-operatório) das capacidades física e pulmonar de pacientes que realizaram transplante cardíaco submetidos ao tratamento fisioterapêutico convencional. Pacientes e métodos: Estudo de coorte retrospectivo realizado através da revisão de prontuários e fichários do serviço de fisioterapia, composto por 21 indivíduos submetidos a transplante cardíaco ortotópico, no período de janeiro de 2001 a março de 2005, no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de Cardiologia. Resultados: Observou se redução dos valores de volumes e capacidades pulmonares no primeiro dia de pós-operatório em relação ao pré-operatório (CVF= 2,79 + 0,83 para 1,64 + 0,51 litros, p< 0,001) e recuperação destes valores no 14º pós-operatório (CVF =1,64 + 0,51 para 2,79 + 0,8 litros, p< 0,001). Os valores de força muscular inspiratória, expressos através da Pressão Inspiratória Máxima (PI máxima), mostraram tendências semelhantes reduzindo no pós-operatório imediato em relação ao
35 28 pré-operatório (-88, ,28 para -45, ,38 cmh 2 O, p< 0,001) e recuperação destes valores no 14º pós-operatório (-45, ,38 para -80,5 + 26,42 cmh 2 O, p< 0,001). A capacidade funcional útil, mensurada através do teste de caminhada de 6 minutos (T6 ) mostrou melhora no 14º pósoperatório em relação ao pré-operatório (341, ,99 metros para 380, ,35 metros, p< 0,001). Conclusão: Pacientes submetidos a transplante cardíaco apresentam redução dos valores de volumes e capacidades pulmonares no primeiro dia de pós-operatório, em relação ao pré-operatório, recuperando no 14º dia de pós-operatório e melhoram a capacidade funcional útil até o 14º dia de pósoperatório de transplante cardíaco. Palavras Chaves: transplante cardíaco, perfil ventilatório, capacidade funcional.
36 29 PULMONARY AND PHYSICAL CAPACITY IN INDIVIDUALS SUBMITTED TO HEART TRANSPLANTATION ABSTRACT: Introduction: Heart transplantation is currently the only widely accepted surgical treatment for patients with severe heart failure (HF), when optimized drug therapy is not capable of maintaining an adequate quality of life. Besides the decreased functional capacity caused by severe HF, the surgery also induces important modifications in the ventilatory capacity of patients. In the postoperative period, patients submitted to heart transplantation present functional capacity and quality of life. Objective: To describe and compare the perioperative profile (preoperative period and postoperative days one, seven and 14) relative to physical and pulmonary capacity of patients submitted to heart transplantation followed by conventional physiotherapy. Patients and methods: In this retrospective study of cohort, medical records and physiotherapeutic records of 21 patients were analyzed. The patients underwent orthotopic heart transplantation during the period between January 2001 and March 2005, at Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de Cardiologia. Results: On the first postoperative day, pulmonary volume and capacity were decreased when compared to the preoperative period (FVC: to l/min; and FEV 1 : 2.39 ± 0.84 to 1.32 ± 0.42 l/s, p< 0.001). These parameters were restored on the 14 th postoperative day (FVC:
37 to liters; and FEV 1 : 1.32 ± 0.42 to 2.35 ± 0.8 l/s, p< 0.001). Inspiratory muscle strength, expressed by the Maximal Inspiratory Pressure (MIP), showed a similar tendency, with a decrease on the first postoperative day as compared to the preoperative period ( to cm H 2 O, p< 0.001) and recovery on the 14 th postoperative day ( to cm H 2 O, p< 0.001). Functional capacity, evaluated by the 6-minutes walk test (6-MWT), was improved on the 14 th postoperative day as compared to the preoperative period ( meters to meters, p< 0.001). Conclusion: Patients submitted to heart transplantation show a decrease in pulmonary volume and capacity on the first postoperative day, when compared to the preoperative period. These parameters are recovered on the 14 th postoperative day. Functional capacity is progressively improved during the period analyzed (14 days after surgery). Key words: heart transplantation, ventilatory profile, functional capacity.
38 31 INTRODUÇÃO Apesar dos avanços terapêuticos ocorridos nas duas últimas décadas, a insuficiência cardíaca (IC) é uma doença de grave prognóstico, com mortalidade anual de 30% a 50% para os pacientes mais graves. O transplante cardíaco é atualmente uma alternativa cirúrgica amplamente aceita para tratar pacientes com IC grave 1,2 que a terapia medicamentosa otimizada não consiga manter qualidade de vida adequada 3. As indicações do transplante estão expressas nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia para Transplante Cardíaco 4 e levam em consideração, além da condição clínica do paciente, características sócioeconômicas e psíquicas, disponibilidade de doadores de órgãos e aspectos operacionais, que restringem a disponibilidade desses métodos de tratamento, pois os cuidados pós-operatórios do transplante cardíaco são complexos e exigem do paciente entendimento e colaboração 5. A seleção para o transplante é um processo dinâmico que deve ser refeita a cada 3-6 meses, sendo que pacientes podem ser retirados ou incluídos na fila dependendo da condição clínica, ou quando essa deteriora, necessitam de transplante com prioridade 4. As complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia cardíaca são uma fonte significativa de mortalidade e morbidade 3,6-12. Dessa forma, pode-se reduzir as taxas de mortalidade, pela identificação dos pacientes em risco de complicações pulmonares pós-operatórias otimizando a terapêutica 7,12. Os pulmões são particularmente vulneráveis e representam um potencial sítio de infecção em pacientes submetidos a transplante cardíaco 3,11. Essa vulnerabilidade deve-se principalmente a terapia
39 32 imunossupressora, procedimento cirúrgico e qualidade de vida do paciente, podendo ser evitada através de medidas profiláticas de controle de infecção 3,11. Estratégias pós-operatórias também devem ser tomadas para reduzir as complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgia cardíaca, entre elas podemos citar exercícios de ventilação profunda, inspirometria de incentivo, pressão positiva contínua, mobilização no leito, técnicas de tosse e controle da dor 8, além da prática de exercícios aeróbicos 13. Apesar de todos os riscos que o paciente transplantado possui para infecção e rejeição, esta técnica tem se mostrado de grande eficácia na sobrevida destes, apresentando resultados de taxa de sobrevida de 90% no primeiro ano e 87% no quinto ano pós transplante com boa qualidade de vida 19. O presente trabalho visa descrever os valores das capacidades física e pulmonar de pacientes que realizaram transplante cardíaco e que foram submetidos ao tratamento fisioterapêutico convencional. Além disso, avaliar e comparar a capacidade física dos pacientes no pré-operatório e no décimo - quarto dia de pós-operatório de transplante cardíaco; avaliar e comparar a capacidade vital forçada, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, a força muscular inspiratória máxima e a força muscular expiratória máxima no período pré, primeiro, sétimo e décimo-quarto dia pós-operatório de transplante cardíaco. MÉTODO A pesquisa caracteriza-se por ser um estudo de coorte retrospectivo,
40 33 realizado através da revisão de prontuários e fichários do serviço, composto por indivíduos submetidos a transplante cardíaco ortotópico, no período de janeiro de 2001 a março de 2005, no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de Cardiologia. A avaliação era composta com dados de identificação do paciente, história pregressa, doença de base, valores de pressões ventilatórias máximas (pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima), volumes e capacidades pulmonares (volume expiratório forçado no primeiro segundo e capacidade vital forçada), coletados no pré-operatório, primeiro dia, sétimo dia e décimo quarto dia de pós-operatório, e teste de caminhada de seis minutos, coletado no préoperatório e décimo quarto dia de pós-operatório. Amostra Foram incluídos na pesquisa 21 indivíduos, homens e mulheres, de diferentes idades e cor de pele, submetidos a transplante cardíaco, que permaneceram em ventilação mecânica por um período máximo de 24 horas, sendo extubados pelos métodos convencionais e que tiveram idade acima de 18(dezoito) anos. Foram utilizados como critério de exclusão do estudo todos os indivíduos que apresentaram seqüelas neurológicas no pós-operatório (AVC isquêmico ou hemorrágico); pacientes que não possuíram capacidade de realizar espirometria, manovacuometria e Teste de 6 minutos 20, que fizeram uso de ventilação não-invasiva no pós-operatório ou que foram reintubados até o décimo quarto dia de pós-operatório e pacientes que foram reintervidos cirurgicamente por problemas de sangramento no pós-operatório.
41 34 Coleta de dados Primeiramente, este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do IC/FUC (3158/02). Foram coletados dados nos prontuários de pacientes que realizaram transplante cardíaco no Instituto de Cardiologia Fundação Universitária de Cardiologia no período de a Cada paciente foi avaliado na sua visita no ambulatório de transplante cardíaco (e trimestralmente) ou na internação para a cirurgia, pós-operatório imediato (até 24h após extubação), sétimo e décimo-quarto dia pósoperatório, conforme ficha de avaliação utilizada pelo Serviço de Fisioterapia do IC-FUC. Estas avaliações, ambulatorial e hospitalar, da capacidade física e respiratória destes pacientes, são realizadas rotineiramente pelo serviço de fisioterapia. Todos os pacientes deste estudo realizaram técnicas convencionais de fisioterapia respiratória (compressão torácica manual lenta e brusca, vibração, padrões ventilatórios, exercícios ativos de membros superiores e inferiores e deambulação) do dia da internação até a sua alta hospitalar, sendo de três a quatro sessões por dia em unidade de pósoperatório e de duas a três sessões por dia em unidade de internação. Análise estatística As variáveis contínuas foram descritas através de médias e desviospadrão. As variáveis categóricas foram descritas através de tabelas de freqüências com proporções. Também foi utilizada análise de variância para medidas repetidas com objetivo de comparar as alterações no teste de função pulmonar entre o pré, 1º, 7º e 14º dia pós-operatório. O teste de Tukey-Kramer foi utilizado para
42 35 realizar as múltiplas comparações Em todas as comparações foi considerado um alfa crítico de 0,05. RESULTADOS A amostra foi composta por 21 pacientes. Destes, 20 (95,3%) eram homens. A média de idade foi de 46,84 ± 15,06 anos, o IMC médio foi de 25,81 + 4,77 Kg/m 2. As características da amostra podem ser vistas na Tabela 1. Dos 21 pacientes, 1 (4,7%) paciente tinha diagnóstico de diabete melito, 3 (14,2%) pacientes com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, 1 (4,7%) paciente doença pulmonar crônica e 9 (42,8%) pacientes com história prévia de tabagismo. Nenhum paciente era tabagista atual (< 60 dias) na amostra. O tempo médio de CEC foi de 191,85 minutos e ventilação mecânica foi 13,47 horas. Quanto a doença de base 8 (39%) indivíduos com miocardiopatia dilatada idiopática, 7 (31%) indivíduos com cardiopatia isquêmica, 3 (15%) indivíduos com doença valvar, 2 (10%) indivíduos com cardiopatia congênita e 1 (5%) indivíduo com tumor cardíaco. O valor médio da pressão inspiratória máxima (PI máxima) préoperatória foi de -88, ,28 cmh 2 O. Enquanto que no 1º dia de pósoperatório valor médio da PI máxima, foi de -45, ,38 cmh 2 O. O valor médio da PI máxima, no 7º pós-operatório -66, ,79 cmh 2 O. O valor médio de PI máxima no 14º pós-operatório foi de -80,5 + 26,42 cmh 2 O. Dados apresentados na figura 1. Mudanças no volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) no pré, 1º, 7º e 14º dia de pós-operatório, podem ser verificadas na Figura 1. O VEF1 no pré-operatório foi de 2,39 ± 0,84 l/seg, no primeiro pós-operatório
43 36 foi de 1,32 ± 0,42 l/seg. Os valores no 7º pós-operatório foi de 2,03 ± 0,77 l/seg. No 14º dia de pós-operatório foi de 2,35 ± 0,8 l/seg. Mudanças da capacidade vital forçada (CVF) no pré, 1º, 7º e 14º dia de pós-operatório, podem ser verificadas na Figura 2. O valor médio da CVF pré-operatório foi de 2,79 + 0,83 l/min. No 1º pós-operatório, pode-se observar que a CVF, no grupo foi de 1,64 + 0,51 l/min. No 7º pós-operatório, a CVF foi de 2,43 + 0,79 l/min. No 14º pós-operatório o valor médio de CVF do grupo foi de 2,79 + 0,8 l/min. O valor médio da pressão expiratória máxima (PE máxima) préoperatória foi de 122,7 + 42,02 cmh 2 O. Enquanto que, o valor médio da PE máxima, no 1º pós-operatório, foi de 65, ,95 cmh 2 O. O valor médio da PE máxima, no 7º pós-operatório 89, ,12 cmh 2 O. O valor médio de PE máxima no 14º pós-operatório foi de 107,4 + 31,03 cmh 2 O. Dados mostrados na figura 4. A capacidade funcional útil mensurada através do Teste de Caminhada de 6 minutos (T6 ), pode ser verificada na Figura 5. A distância média percorrida no T6 no pré-operatório do grupo foi de 341, ,99m, e no 14º pós-operatório foi de 380, ,35 metros. TABELA 1 Características da Amostra CARACTERÍSTICA N=21 Idades (anos) 1 46,84 ± 5,06 Gênero Masculino (%) 95,3
44 37 IMC (kg/m 2 ) 25,81 ± 4,77 Doenças Associadas (%) 2 Diabete Melito 4,7 Hipertensão Arterial Sistêmica 14,2 DPOC 4,7 História de Tabagismo 42,8 Doença de Origem (%) 2 Miocardiopatia Dilatada Idiopática 39 Cardiopatia Isquêmica 31 Doença Valvar 15 Cardiopatia Congênita 10 Tumor Cardíaco 5 Tempo médio de CEC (minutos) 191,85 Tempo médio de VM 13,47 Valores descritos em 1 média ± desvio padrão e 2 proporções. IMC: índice de massa corpórea; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; CEC: circulação extra-corpórea; VM: ventilação mecânica.
45 38 Figura 1. Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) Figura 1: comparação dos valores de Volume Expirado Forçado no 1º Segundo (VEF1) ao longo de quatorze dias pós-operatório. Os dados estão expressos como média e desvio padrão. * P < 0,001 quando comparado às outras situações. l/seg: litros por segundo PRÉ-OP: pré-operatório 1º PÓS-OP: primeiro dia de pós-operatório 7º PÓS-OP: sétimo dia de pós-operatório 14º PÓS-OP: décimo quarto dia de pós-operatório
46 39 Figura 2. Capacidade Vital Forçada (CVF) Figura 2: Comparação dos valores de Capacidade Vital Forçada (CVF) ao longo de quatorze dias pós-operatório. * P < 0,001 quando comparado às outras situações; ** P < 0,001 quando comparado ao préoperatório e ao 14 pós-operatório. Os dados estão expressos como média e desvio padrão da média. l/min: litros por minuto PRÉ-OP: pré-operatório 1º PÓS-OP: primeiro dia de pós-operatório 7º PÓS-OP: sétimo dia de pós-operatório 14º PÓS-OP: décimo quarto dia de pós-operatório
47 40 Figura 3. Pressão Inspiratória Máxima (PI máxima) Figura 3: Comparação dos valores de Pressão Inspiratória Máxima (PI máxima) ao longo de quatorze dias pós-operatório. * P< 0,001 quando comparado às outras situações; ** P< 0,001 quando comparado ao préoperatório e ao 14 pós-operatório. Os dados estão expressos como média e desvio padrão da média. cmh 2 O: centímetros de água PRÉ-OP: pré-operatório 1º PÓS-OP: primeiro dia de pós-operatório 7º PÓS-OP: sétimo dia de pós-operatório 14º PÓS-OP: décimo quarto dia de pós-operatório Figura 4. Pressão Expiratória Máxima (PE máxima)
48 41 Figura 3: Comparação dos valores de Pressão Expiratória Máxima (PE máxima) ao longo de quatorze dias pós-operatório. * P< 0,001 quando comparado às outras situações; ** P< 0,001 quando comparado ao préoperatório e ao 14 pós-operatório. Os dados estão expressos como média e desvio padrão da média. cmh 2 O: centímetros de água PRÉ-OP: pré-operatório 1º PÓS-OP: primeiro dia de pós-operatório 7º PÓS-OP: sétimo dia de pós-operatório 14º PÓS-OP: décimo quarto dia de pós-operatório Figura 5. Capacidade Física (Teste de caminhada de 6 minutos)
49 42 Figura 5. Comparação do Teste de Caminhada de 6 minutos (T6 ) no pré e 14º dia de pós-operatório. * P< de 0,001 quando comparado ao préoperatório. PRÉ-OP: pré-operatório 14º PÓS-OP: décimo quarto dia de pós-operatório DISCUSSÃO Alterações na função pulmonar ocorrem em todos os pacientes após horas do processo cirúrgico 21. A redução dos volumes pulmonares pode ser observada no grupo do pré para o 1º pós-operatório, com aumento, mas não retorno, dos valores pré-operatórios, no 7º pós-operatório. Segundo Meyers et al. 21, os volumes pulmonares (VEF1, CVF) diminuem no pós-operatório 22 com o máximo decréscimo, no 1º dia pós-operatório, retornando próximo aos valores pré-operatórios, no 5º dia pós-operatório 21. O mesmo ocorreu com a força da musculatura inspiratória. Essa teve decréscimo do pré para o 1º pósoperatório e melhora, sem recuperação dos valores pré-operatórios, no 7º
ENFERMAGEM DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANMISSIVEIS. Doença Cardiovascular Parte 4. Profª. Tatiane da Silva Campos
 ENFERMAGEM DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANMISSIVEIS Parte 4 Profª. Tatiane da Silva Campos Insuficiência Cardíaca: - é uma síndrome clínica na qual existe uma anormalidade na estrutura ou na função cardíaca,
ENFERMAGEM DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANMISSIVEIS Parte 4 Profª. Tatiane da Silva Campos Insuficiência Cardíaca: - é uma síndrome clínica na qual existe uma anormalidade na estrutura ou na função cardíaca,
Variáveis perioperatórias de função ventilatória e capacidade física em indivíduos submetidos a transplante cardíaco
 ARTIGO ORIGINAL Variáveis perioperatórias de função ventilatória e capacidade física em indivíduos submetidos a transplante Ventilatory function and physical function perioperatives variables in heart
ARTIGO ORIGINAL Variáveis perioperatórias de função ventilatória e capacidade física em indivíduos submetidos a transplante Ventilatory function and physical function perioperatives variables in heart
PROJETO DE EXTENSÃO DE REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA
 PROJETO DE EXTENSÃO DE REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA Diogo Iulli Merten 1 Laura Jurema dos Santos 2 RESUMO O projeto de reabilitação cardiorrespiratória é realizado com pacientes de ambos gêneros, diversas
PROJETO DE EXTENSÃO DE REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA Diogo Iulli Merten 1 Laura Jurema dos Santos 2 RESUMO O projeto de reabilitação cardiorrespiratória é realizado com pacientes de ambos gêneros, diversas
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FUNÇÃO VENTRICULAR PRESERVADA. Dr. José Maria Peixoto
 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FUNÇÃO VENTRICULAR PRESERVADA Dr. José Maria Peixoto Introdução A síndrome da IC poder ocorrer na presença da função ventricular preservada ou não. Cerca de 20% a 50 % dos pacientes
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FUNÇÃO VENTRICULAR PRESERVADA Dr. José Maria Peixoto Introdução A síndrome da IC poder ocorrer na presença da função ventricular preservada ou não. Cerca de 20% a 50 % dos pacientes
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DEFINIÇÃO É a incapacidade do coração em adequar sua ejeção às necessidades metabólicas do organismo, ou fazê-la somente através de elevadas pressões de enchimento. BRAUNWALD, E.
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DEFINIÇÃO É a incapacidade do coração em adequar sua ejeção às necessidades metabólicas do organismo, ou fazê-la somente através de elevadas pressões de enchimento. BRAUNWALD, E.
aca Tratamento Nelson Siqueira de Morais Campo Grande MS Outubro / 2010
 Insuficiência ncia Cardíaca aca Tratamento Nenhum conflito de interesse Nelson Siqueira de Morais Campo Grande MS Outubro / 2010 nsmorais@cardiol.br Conceitos Fisiopatológicos A IC é uma síndrome com múltiplas
Insuficiência ncia Cardíaca aca Tratamento Nenhum conflito de interesse Nelson Siqueira de Morais Campo Grande MS Outubro / 2010 nsmorais@cardiol.br Conceitos Fisiopatológicos A IC é uma síndrome com múltiplas
Coração Normal. Fisiologia Cardíaca. Insuficiência Cardíaca Congestiva. Eficiência Cardíaca. Fisiopatogenia da Insuficiência Cardíaca Congestiva
 Coração Normal Fisiopatogenia da Insuficiência Cardíaca Congestiva Marlos Gonçalves Sousa, MV, MSc, PhD Fisiologia Cardíaca Desempenho mecânico do coração Envolve a capacidade do coração exercer sua função
Coração Normal Fisiopatogenia da Insuficiência Cardíaca Congestiva Marlos Gonçalves Sousa, MV, MSc, PhD Fisiologia Cardíaca Desempenho mecânico do coração Envolve a capacidade do coração exercer sua função
Atividade Física e Cardiopatia
 AF e GR ESPECIAIS Cardiopatia Atividade Física e Cardiopatia Prof. Ivan Wallan Tertuliano E-mail: ivantertuliano@anhanguera.com Cardiopatias Anormalidade da estrutura ou função do coração. Exemplos de
AF e GR ESPECIAIS Cardiopatia Atividade Física e Cardiopatia Prof. Ivan Wallan Tertuliano E-mail: ivantertuliano@anhanguera.com Cardiopatias Anormalidade da estrutura ou função do coração. Exemplos de
Síndrome Cardiorrenal. Leonardo A. M. Zornoff Departamento de Clínica Médica
 Leonardo A. M. Zornoff Departamento de Clínica Médica Definição Interação entre coração e rim, em que o comprometimento de um órgão está associado ao comprometimento do outro Apresentações Clínicas Cardíaca
Leonardo A. M. Zornoff Departamento de Clínica Médica Definição Interação entre coração e rim, em que o comprometimento de um órgão está associado ao comprometimento do outro Apresentações Clínicas Cardíaca
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. Leonardo A. M. Zornoff Departamento de Clínica Médica
 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA Leonardo A. M. Zornoff Departamento de Clínica Médica Definição Síndrome caracterizada por alteração cardíaca estrutural ou funcional, que resulta em prejuízo da capacidade de ejeção
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA Leonardo A. M. Zornoff Departamento de Clínica Médica Definição Síndrome caracterizada por alteração cardíaca estrutural ou funcional, que resulta em prejuízo da capacidade de ejeção
APRESENTAÇÃO DE POSTERS DIA 16/10/2015 (10:15-10:30h)
 APRESENTAÇÃO DE S DIA 16/10/2015 (10:15-10:30h) 1399 EVOLUÇÃO DO PERFIL FUNCIONAL EM RELAÇÃO AO TEMPO DE INTERNAÇÃO E AO GÊNERO 1397 CORRELAÇÃO ENTRE A FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA E O RISCO DE QUEDAS DE
APRESENTAÇÃO DE S DIA 16/10/2015 (10:15-10:30h) 1399 EVOLUÇÃO DO PERFIL FUNCIONAL EM RELAÇÃO AO TEMPO DE INTERNAÇÃO E AO GÊNERO 1397 CORRELAÇÃO ENTRE A FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA E O RISCO DE QUEDAS DE
DIAGNÓSTICOS PARA ENCAMINHAMENTO VIA CROSS PARA TRIAGEM NO INSTITUTO DO CORAÇÃO
 DIAGNÓSTICOS PARA ENCAMINHAMENTO VIA CROSS PARA TRIAGEM NO INSTITUTO DO CORAÇÃO AMBULATÓRIO GERAL CID B570 B572 D151 E059 E260 E783 E784 E785 E786 E788 E789 E853 I050 I051 I058 I059 I060 I061 I062 I068
DIAGNÓSTICOS PARA ENCAMINHAMENTO VIA CROSS PARA TRIAGEM NO INSTITUTO DO CORAÇÃO AMBULATÓRIO GERAL CID B570 B572 D151 E059 E260 E783 E784 E785 E786 E788 E789 E853 I050 I051 I058 I059 I060 I061 I062 I068
Redução da PA (8 a 10 mmhg da PA sistólica e diastólica) Aumento do tonus venoso periférico volume plasmático
 Notícias do LV Congresso SBC On Line Como prescrever exercício na insuficiência cardíaca Até os anos 60-70, recomendava-se repouso de três semanas aos pacientes que se recuperavam de IAM, baseando-se no
Notícias do LV Congresso SBC On Line Como prescrever exercício na insuficiência cardíaca Até os anos 60-70, recomendava-se repouso de três semanas aos pacientes que se recuperavam de IAM, baseando-se no
Estratificação de risco cardiovascular no perioperatório
 Estratificação de risco cardiovascular no perioperatório André P. Schmidt, MD, PhD, TSA/SBA Co-responsável pelo CET do Serviço de Anestesia e Medicina Perioperatória do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Estratificação de risco cardiovascular no perioperatório André P. Schmidt, MD, PhD, TSA/SBA Co-responsável pelo CET do Serviço de Anestesia e Medicina Perioperatória do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
ENFERMAGEM DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANMISSIVEIS. Doença Cardiovascular Parte 3. Profª. Tatiane da Silva Campos
 ENFERMAGEM DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANMISSIVEIS Doença Cardiovascular Parte 3 Profª. Tatiane da Silva Campos - A identificação de indivíduos assintomáticos portadores de aterosclerose e sob risco de eventos
ENFERMAGEM DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANMISSIVEIS Doença Cardiovascular Parte 3 Profª. Tatiane da Silva Campos - A identificação de indivíduos assintomáticos portadores de aterosclerose e sob risco de eventos
14 de setembro de 2012 sexta-feira
 14 de setembro de 2012 sexta-feira MESA-REDONDA 08:30-10:30h Síndromes coronarianas agudas Auditório 02 (Térreo) 1º Andar(500) Agudas (12127) Estado da Arte no Tratamento Contemporâneo das Síndromes Coronárias
14 de setembro de 2012 sexta-feira MESA-REDONDA 08:30-10:30h Síndromes coronarianas agudas Auditório 02 (Térreo) 1º Andar(500) Agudas (12127) Estado da Arte no Tratamento Contemporâneo das Síndromes Coronárias
16/04/2015. Insuficiência Cardíaca e DPOC. Roberto Stirbulov FCM da Santa Casa de SP
 Insuficiência Cardíaca e DPOC Roberto Stirbulov FCM da Santa Casa de SP Potencial conflito de interesse CFM nº 1.59/00 de 18/5/2000 ANVISA nº 120/2000 de 30/11/2000 CREMESP : 38357 Nos últimos doze meses
Insuficiência Cardíaca e DPOC Roberto Stirbulov FCM da Santa Casa de SP Potencial conflito de interesse CFM nº 1.59/00 de 18/5/2000 ANVISA nº 120/2000 de 30/11/2000 CREMESP : 38357 Nos últimos doze meses
DÚVIDAS FREQUENTES NO EXAME CARDIOLÓGICO NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL
 DÚVIDAS FREQUENTES NO EXAME CARDIOLÓGICO NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL XI JORNADA DE MEDICINA DO TRÁFEGO Belo Horizonte, 18-19 julho 2014 AMMETRA- ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MEDICINA DO TRÁFEGO AMMETRA
DÚVIDAS FREQUENTES NO EXAME CARDIOLÓGICO NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL XI JORNADA DE MEDICINA DO TRÁFEGO Belo Horizonte, 18-19 julho 2014 AMMETRA- ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MEDICINA DO TRÁFEGO AMMETRA
DR. CARLOS ROBERTO CAMPOS INSUFICIÊNCIA MITRAL (I.M.I)
 DR. CARLOS ROBERTO CAMPOS CURSO INSUFICIÊNCIA NACIONAL MITRAL DE RECICLAGEM (I.M.I) EM CARDIOLOGIA - SUL INSUFICIÊNCIA MITRAL (I.M.I) APARELHO VALVAR MITRAL FOLHETOS CORDAS TENDÍNEAS MÚSCULOS PAPILARES
DR. CARLOS ROBERTO CAMPOS CURSO INSUFICIÊNCIA NACIONAL MITRAL DE RECICLAGEM (I.M.I) EM CARDIOLOGIA - SUL INSUFICIÊNCIA MITRAL (I.M.I) APARELHO VALVAR MITRAL FOLHETOS CORDAS TENDÍNEAS MÚSCULOS PAPILARES
Choque hipovolêmico: Classificação
 CHOQUE HIPOVOLÊMICO Choque hipovolêmico: Classificação Hemorrágico Não-hemorrágico Perdas externas Redistribuição intersticial Choque hipovolêmico: Hipovolemia Fisiopatologia Redução de pré-carga Redução
CHOQUE HIPOVOLÊMICO Choque hipovolêmico: Classificação Hemorrágico Não-hemorrágico Perdas externas Redistribuição intersticial Choque hipovolêmico: Hipovolemia Fisiopatologia Redução de pré-carga Redução
ONTARGET - Telmisartan, Ramipril, or Both in Patients at High Risk for Vascular Events N Engl J Med 2008;358:
 ONTARGET - Telmisartan, Ramipril, or Both in Patients at High Risk for Vascular Events N Engl J Med 2008;358:1547-59 Alexandre Alessi Doutor em Ciências da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica do
ONTARGET - Telmisartan, Ramipril, or Both in Patients at High Risk for Vascular Events N Engl J Med 2008;358:1547-59 Alexandre Alessi Doutor em Ciências da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica do
ENFERMAGEM DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANMISSIVEIS. Doença Cardiovascular Parte 2. Profª. Tatiane da Silva Campos
 ENFERMAGEM DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANMISSIVEIS Doença Cardiovascular Parte 2 Profª. Tatiane da Silva Campos Para a avaliação do risco cardiovascular, adotam-se: Fase 1: presença de doença aterosclerótica
ENFERMAGEM DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANMISSIVEIS Doença Cardiovascular Parte 2 Profª. Tatiane da Silva Campos Para a avaliação do risco cardiovascular, adotam-se: Fase 1: presença de doença aterosclerótica
Insuficiência Cardíaca Congestiva ICC
 Insuficiência Cardíaca Congestiva ICC Insuficiência Cardíaca: desempenho do coração inadequado para atender as necessidades metabólicas periféricas, no esforço ou no repouso, o coração torna-se incapaz
Insuficiência Cardíaca Congestiva ICC Insuficiência Cardíaca: desempenho do coração inadequado para atender as necessidades metabólicas periféricas, no esforço ou no repouso, o coração torna-se incapaz
DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA
 DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA FMRPUSP PAULO EVORA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA FATORES DE RISCO Tabagismo Hipercolesterolemia Diabetes mellitus Idade Sexo masculino História familiar Estresse A isquemia é
DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA FMRPUSP PAULO EVORA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA FATORES DE RISCO Tabagismo Hipercolesterolemia Diabetes mellitus Idade Sexo masculino História familiar Estresse A isquemia é
QUESTÃO 32. A) movimentação ativa de extremidades. COMENTÁRO: LETRA A
 QUESTÃO 32. Nas unidades de terapia intensiva (UTI), é comum os pacientes permanecerem restritos ao leito, ocasionando inatividade, imobilidade e prejuízo da funcionalidade. Nesse sentido, a mobilização
QUESTÃO 32. Nas unidades de terapia intensiva (UTI), é comum os pacientes permanecerem restritos ao leito, ocasionando inatividade, imobilidade e prejuízo da funcionalidade. Nesse sentido, a mobilização
ARRITMIAS CARDÍACAS. Dr. Vinício Elia Soares
 ARRITMIAS CARDÍACAS Dr. Vinício Elia Soares Arritmias cardíacas classificações freqüência cardíaca sítio anatômico mecanismo fisiopatológico da gênese ocorrência em surtos duração do evento 1 CONDIÇÕES
ARRITMIAS CARDÍACAS Dr. Vinício Elia Soares Arritmias cardíacas classificações freqüência cardíaca sítio anatômico mecanismo fisiopatológico da gênese ocorrência em surtos duração do evento 1 CONDIÇÕES
Curso Nacional de Reciclagem em Cardiologia da Região Sul Florianópolis Jamil Mattar Valente
 Curso Nacional de Reciclagem em Cardiologia da Região Sul Florianópolis 2006 Jamil Mattar Valente jamil@cardiol.br Ecodopplercardiografia nas Pericardiopatias, Cardiomiopatias e Insuficiência Cardíaca
Curso Nacional de Reciclagem em Cardiologia da Região Sul Florianópolis 2006 Jamil Mattar Valente jamil@cardiol.br Ecodopplercardiografia nas Pericardiopatias, Cardiomiopatias e Insuficiência Cardíaca
CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE SUBÁREA: FISIOTERAPIA INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO
 16 TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO FÍSICO EM PACIENTES CARDIOPATAS COM O USO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. CATEGORIA: EM ANDAMENTO
16 TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO FÍSICO EM PACIENTES CARDIOPATAS COM O USO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. CATEGORIA: EM ANDAMENTO
Curso de Reciclagem em Cardiologia ESTENOSE VALVAR AÓRTICA
 Curso de Reciclagem em Cardiologia SBC- Florianópolis 2006 ESTENOSE VALVAR AÓRTICA Miguel De Patta ESTENOSE AÓRTICA- ETIOLOGIA Em todo o mundo : DR USA/ Europa Válvula aórtica tricúspide calcificada: senil
Curso de Reciclagem em Cardiologia SBC- Florianópolis 2006 ESTENOSE VALVAR AÓRTICA Miguel De Patta ESTENOSE AÓRTICA- ETIOLOGIA Em todo o mundo : DR USA/ Europa Válvula aórtica tricúspide calcificada: senil
QUINTA-FEIRA - 1º DE OUTUBRO
 14h00-15h30: SALA A - PERGUNTAS RELEVANTES RESPOSTAS OBJETIVAS. 14h00 - Ultra-som Intracoronário - Quando Solicitar seu Auxílio no Paciente Eletivo? 14h10 - Terapia Celular na Doença Coronariana. Onde
14h00-15h30: SALA A - PERGUNTAS RELEVANTES RESPOSTAS OBJETIVAS. 14h00 - Ultra-som Intracoronário - Quando Solicitar seu Auxílio no Paciente Eletivo? 14h10 - Terapia Celular na Doença Coronariana. Onde
BENEFIT e CHAGASICS TRIAL
 BENEFIT e CHAGASICS TRIAL Estudos Clínicos em Chagas Patricia Rueda Doença de Chagas Terceira doença parasitária mais comum do mundo (Malária e Esquistossomose) Cardiopatia chagásica é a forma mais comum
BENEFIT e CHAGASICS TRIAL Estudos Clínicos em Chagas Patricia Rueda Doença de Chagas Terceira doença parasitária mais comum do mundo (Malária e Esquistossomose) Cardiopatia chagásica é a forma mais comum
Programação Científica do Congresso 10 de setembro, quarta-feira
 08:30-09:15h COMO EU FAÇO Auditório 10(114) (5995) Abordagem do paciente com insuficiência cardíaca descompensada 08:30-08:45h Uso racional dos diuréticos, vasodilatadores e beta-bloqueadores 08:45-09:00h
08:30-09:15h COMO EU FAÇO Auditório 10(114) (5995) Abordagem do paciente com insuficiência cardíaca descompensada 08:30-08:45h Uso racional dos diuréticos, vasodilatadores e beta-bloqueadores 08:45-09:00h
Angina Estável: Estratificação de Risco e Tratamento Clínico. Dr Anielo Itajubá Leite Greco
 Angina Estável: Estratificação de Risco e Tratamento Clínico Dr Anielo Itajubá Leite Greco Angina Estável vel: Fisiopatologia da Insuficiência Coronária ria Isquemia de baixo fluxo ( suprimento): Redução
Angina Estável: Estratificação de Risco e Tratamento Clínico Dr Anielo Itajubá Leite Greco Angina Estável vel: Fisiopatologia da Insuficiência Coronária ria Isquemia de baixo fluxo ( suprimento): Redução
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA QUINTA FEIRA 01/12/2016
 PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA QUINTA FEIRA 01/12/2016 SALA 1 08h30 10h00: 08h30 09h00 09h00 09h30 09h30 10h00 CURSO - Avaliando e Prescrevendo Exercício na Insuficiência Cardíaca Aspectos diferencias do exercício
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA QUINTA FEIRA 01/12/2016 SALA 1 08h30 10h00: 08h30 09h00 09h00 09h30 09h30 10h00 CURSO - Avaliando e Prescrevendo Exercício na Insuficiência Cardíaca Aspectos diferencias do exercício
SCA Estratificação de Risco Teste de exercício
 SCA Estratificação de Risco Teste de exercício Bernard R Chaitman MD Professor de Medicina Diretor de Pesquisa Cardiovascular St Louis University School of Medicine Estratificação Não-Invasiva de Risco
SCA Estratificação de Risco Teste de exercício Bernard R Chaitman MD Professor de Medicina Diretor de Pesquisa Cardiovascular St Louis University School of Medicine Estratificação Não-Invasiva de Risco
Síndromes Coronarianas Agudas. Mariana Pereira Ribeiro
 Síndromes Coronarianas Agudas Mariana Pereira Ribeiro O que é uma SCA? Conjunto de sintomas clínicos compatíveis com isquemia aguda do miocárdio. Manifesta-se principalmente como uma dor torácica devido
Síndromes Coronarianas Agudas Mariana Pereira Ribeiro O que é uma SCA? Conjunto de sintomas clínicos compatíveis com isquemia aguda do miocárdio. Manifesta-se principalmente como uma dor torácica devido
Disfunções valvares. Prof. Dra. Bruna Oneda 2013
 Disfunções valvares Prof. Dra. Bruna Oneda 2013 Valva O funcionamento normal do sistema circulatório humano depende da unidirecionalidade do fluxo sanguineo. Esse fluxo unidirecional é normalmente assegurado
Disfunções valvares Prof. Dra. Bruna Oneda 2013 Valva O funcionamento normal do sistema circulatório humano depende da unidirecionalidade do fluxo sanguineo. Esse fluxo unidirecional é normalmente assegurado
Atividade Física e Hipertensão Arterial Sistêmica. Profa. Dra. Bruna Oneda
 Atividade Física e Hipertensão Arterial Sistêmica Profa. Dra. Bruna Oneda www.brunaoneda.com.br Hipertensão arterial sistêmica Síndrome multicausal e multifatorial caracterizada pela presença de níveis
Atividade Física e Hipertensão Arterial Sistêmica Profa. Dra. Bruna Oneda www.brunaoneda.com.br Hipertensão arterial sistêmica Síndrome multicausal e multifatorial caracterizada pela presença de níveis
DOENÇAS DO MIOCÁRDIO E PERICÁRDIO. Patrícia Vaz Silva
 DOENÇAS DO MIOCÁRDIO E PERICÁRDIO Patrícia Vaz Silva Curso Básico de Cardiologia Pediátrica - Coimbra, 4 e 5 de Abril de 2016 INTRODUÇÃO A. DOENÇAS DO MIOCÁRDIO Doenças do músculo cardíaco, caracterizadas
DOENÇAS DO MIOCÁRDIO E PERICÁRDIO Patrícia Vaz Silva Curso Básico de Cardiologia Pediátrica - Coimbra, 4 e 5 de Abril de 2016 INTRODUÇÃO A. DOENÇAS DO MIOCÁRDIO Doenças do músculo cardíaco, caracterizadas
PROTOCOLO MÉDICO INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA. Área: Médica Versão: 1ª
 Página: 1 de 11 1. DIAGNÓSTICO: Critérios de Framingham para diagnóstico de IC: 1.1 Maiores: -Dispnéia paroxicística noturna -Estase jugular -Estertores crepitantes na ausculta pulmonar -Cardiomegalia
Página: 1 de 11 1. DIAGNÓSTICO: Critérios de Framingham para diagnóstico de IC: 1.1 Maiores: -Dispnéia paroxicística noturna -Estase jugular -Estertores crepitantes na ausculta pulmonar -Cardiomegalia
16º Fórum de Fisioterapia em Cardiologia Auditório 12
 Fóruns 26 de setembro de 2014 16º Fórum de Fisioterapia em Cardiologia Auditório 12 11h00 12h00 - Mesa Redonda: Fisioterapia nas Cardiopatias Congênitas 11h00 11h20 - Cardiopatias Congênitas 11h20 11h40
Fóruns 26 de setembro de 2014 16º Fórum de Fisioterapia em Cardiologia Auditório 12 11h00 12h00 - Mesa Redonda: Fisioterapia nas Cardiopatias Congênitas 11h00 11h20 - Cardiopatias Congênitas 11h20 11h40
Marcos Sekine Enoch Meira João Pimenta
 FIBRILAÇÃO ATRIAL NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE CIRURGIA CARDÍACA COM CIRCULAÇÃO EXTRA-CORPÓREA. Avaliação de fatores pré-operatórios predisponentes e evolução médio prazo. Marcos Sekine Enoch Meira João
FIBRILAÇÃO ATRIAL NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE CIRURGIA CARDÍACA COM CIRCULAÇÃO EXTRA-CORPÓREA. Avaliação de fatores pré-operatórios predisponentes e evolução médio prazo. Marcos Sekine Enoch Meira João
Repouso Freqüência cardíaca 75 bpm. Exercício intenso Freqüência cardíaca 180 bpm. sístole diástole sístole. 0,3 segundos (1/3) 0,5 segundos (2/3)
 Repouso Freqüência cardíaca 75 bpm sístole diástole sístole 0,3 segundos (1/3) 0,5 segundos (2/3) Exercício intenso Freqüência cardíaca 180 bpm sístole diástole 0,2 segundos 0,13 segundos 1 Volume de ejeção
Repouso Freqüência cardíaca 75 bpm sístole diástole sístole 0,3 segundos (1/3) 0,5 segundos (2/3) Exercício intenso Freqüência cardíaca 180 bpm sístole diástole 0,2 segundos 0,13 segundos 1 Volume de ejeção
Síndrome Coronariana Aguda
 Síndrome Coronariana Aguda Wilson Braz Corrêa Filho Rio de Janeiro, 2010 Curso de Capacitação de Urgência e Emergência Objetivos: Apresentar a epidemiologia da síndrome coronariana aguda nas unidades de
Síndrome Coronariana Aguda Wilson Braz Corrêa Filho Rio de Janeiro, 2010 Curso de Capacitação de Urgência e Emergência Objetivos: Apresentar a epidemiologia da síndrome coronariana aguda nas unidades de
QUINTA FEIRA MANHÃ 23º CONGRESSO NACIONAL DO DERC RIO DE JANEIRO, 1 A 3 DE DEZEMBRO DE 2016 PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
 23º CONGRESSO NACIONAL DO DERC RIO DE JANEIRO, 1 A 3 DE DEZEMBRO DE 2016 SALA I CURSO Avaliando e prescrevendo exercício na Insuficiência Cardíaca PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA QUINTA FEIRA MANHÃ Aspectos diferencias
23º CONGRESSO NACIONAL DO DERC RIO DE JANEIRO, 1 A 3 DE DEZEMBRO DE 2016 SALA I CURSO Avaliando e prescrevendo exercício na Insuficiência Cardíaca PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA QUINTA FEIRA MANHÃ Aspectos diferencias
LINHA DE CUIDADO EM CARDIOLOGIA PNEUMOLOGIA E DOENÇAS METABÓLICAS
 LINHA DE CUIDADO EM CARDIOLOGIA PNEUMOLOGIA E DOENÇAS METABÓLICAS Nome da atividade: Estágio Supervisionado em Fisioterapia Cardiovascular Tipo de atividade: Disciplina de Graduação Responsáveis: Profª
LINHA DE CUIDADO EM CARDIOLOGIA PNEUMOLOGIA E DOENÇAS METABÓLICAS Nome da atividade: Estágio Supervisionado em Fisioterapia Cardiovascular Tipo de atividade: Disciplina de Graduação Responsáveis: Profª
CONCEITO FALHA CIRCULATÓRIA HIPOPERFUSÃO HIPÓXIA
 Urgência e Emergência Prof.ª André Rodrigues CONCEITO FALHA CIRCULATÓRIA HIPOPERFUSÃO HIPÓXIA 1 FISIOPATOLOGIA MORTE CELULAR 2 MECANISMOS COMPENSATÓRIOS AUMENTO DA ATIVIDADE SIMPÁTICA 3 COMPENSAÇÃO RESPIRATÓRIA
Urgência e Emergência Prof.ª André Rodrigues CONCEITO FALHA CIRCULATÓRIA HIPOPERFUSÃO HIPÓXIA 1 FISIOPATOLOGIA MORTE CELULAR 2 MECANISMOS COMPENSATÓRIOS AUMENTO DA ATIVIDADE SIMPÁTICA 3 COMPENSAÇÃO RESPIRATÓRIA
ria: Por Que Tratar? Can Dr. Daniel Volquind TSA/SBA
 Dor Pós P - Operatória: ria: Por Que Tratar? Dr. Daniel Volquind TSA/SBA Anestesiologista da CAN Clínica de Anestesiologia Ltda Vice-Presidente da Sociedade de Anestesiologia do RS SARGS Anestesiologista
Dor Pós P - Operatória: ria: Por Que Tratar? Dr. Daniel Volquind TSA/SBA Anestesiologista da CAN Clínica de Anestesiologia Ltda Vice-Presidente da Sociedade de Anestesiologia do RS SARGS Anestesiologista
R e s u l t a d o s 39
 R e s u l t a d o s 39 Legenda: [deoxi-hb+mb]: variação da concentração relativa de deoxi-hemoglobina + mioglobina; TD: time delay tempo de atraso da reposta; τ: tau constante de tempo; MRT: mean response
R e s u l t a d o s 39 Legenda: [deoxi-hb+mb]: variação da concentração relativa de deoxi-hemoglobina + mioglobina; TD: time delay tempo de atraso da reposta; τ: tau constante de tempo; MRT: mean response
Paulo Donato, Henrique Rodrigues
 Paulo Donato, Henrique Rodrigues Serviço o de Imagiologia Hospitais da Universidade de Coimbra Director: Professor Doutor Filipe Caseiro Alves Janeiro 2007 1ª linha Doença cardíaca congénita Grandes vasos
Paulo Donato, Henrique Rodrigues Serviço o de Imagiologia Hospitais da Universidade de Coimbra Director: Professor Doutor Filipe Caseiro Alves Janeiro 2007 1ª linha Doença cardíaca congénita Grandes vasos
Programação Preliminar do 71º Congresso Brasileiro de Cardiologia
 Programação Preliminar do 71º Congresso Brasileiro de Cardiologia Sexta-Feira, 23 de Setembro de 2016 Auditório 01 (Capacidade 250) (21338) Atualização Ergometria, Reabilitação Cardíaca e Cardiologia Desportiva
Programação Preliminar do 71º Congresso Brasileiro de Cardiologia Sexta-Feira, 23 de Setembro de 2016 Auditório 01 (Capacidade 250) (21338) Atualização Ergometria, Reabilitação Cardíaca e Cardiologia Desportiva
Preditores de lesão renal aguda em doentes submetidos a implantação de prótese aórtica por via percutânea
 Preditores de lesão renal aguda em doentes submetidos a implantação de prótese aórtica por via percutânea Sérgio Madeira, João Brito, Maria Salomé Carvalho, Mariana Castro, António Tralhão, Francisco Costa,
Preditores de lesão renal aguda em doentes submetidos a implantação de prótese aórtica por via percutânea Sérgio Madeira, João Brito, Maria Salomé Carvalho, Mariana Castro, António Tralhão, Francisco Costa,
APLICABILIDADE DO TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO RESPIRATÓRIO: revisão integrativa
 Autores: Cintia Aline Martins; Laís Leite Ferreira, Jéssica Caroline Arruda Silva, Susilaine Alves, Amanda Araújo Dias, Viviane Ferreira. APLICABILIDADE DO TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS NA AVALIAÇÃO
Autores: Cintia Aline Martins; Laís Leite Ferreira, Jéssica Caroline Arruda Silva, Susilaine Alves, Amanda Araújo Dias, Viviane Ferreira. APLICABILIDADE DO TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS NA AVALIAÇÃO
15º FÓRUM DE FISIOTERAPIA EM CARDIOLOGIA AUDITÓRIO 10
 Fóruns 28 de setembro de 2013 15º FÓRUM DE FISIOTERAPIA EM CARDIOLOGIA AUDITÓRIO 10 Insuficiência Cardíaca Como abordar na: IC Fração de ejeção reduzida / normal IC descompensada IC Crônica IC Chagásica
Fóruns 28 de setembro de 2013 15º FÓRUM DE FISIOTERAPIA EM CARDIOLOGIA AUDITÓRIO 10 Insuficiência Cardíaca Como abordar na: IC Fração de ejeção reduzida / normal IC descompensada IC Crônica IC Chagásica
Boletim Científico SBCCV
 1 2 Boletim Científico SBCCV 4-2013 Intervenção percutânea versus cirurgia de coronária nos Estados Unidos em pacientes com diabetes. Percutaneous Coronary Intervention Versus Coronary Bypass Surgery in
1 2 Boletim Científico SBCCV 4-2013 Intervenção percutânea versus cirurgia de coronária nos Estados Unidos em pacientes com diabetes. Percutaneous Coronary Intervention Versus Coronary Bypass Surgery in
PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL DA PROVIDÊNCIA DE APUCARANA
 PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL DA PROVIDÊNCIA DE APUCARANA VIALE, C. S. S.; SANTOS, K. K. V.; HAYASHI, D. Resumo: O objetivo deste trabalho
PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL DA PROVIDÊNCIA DE APUCARANA VIALE, C. S. S.; SANTOS, K. K. V.; HAYASHI, D. Resumo: O objetivo deste trabalho
Resultados Demográficos, Clínicos, Desempenho e Desfechos em 30 dias. Fábio Taniguchi, MD, MBA, PhD Pesquisador Principal BPC Brasil
 Resultados Demográficos, Clínicos, Desempenho e Desfechos em 30 dias Fábio Taniguchi, MD, MBA, PhD Pesquisador Principal BPC Brasil Resultados Demográficos, Clínicos, Desempenho e Desfechos em 30 dias
Resultados Demográficos, Clínicos, Desempenho e Desfechos em 30 dias Fábio Taniguchi, MD, MBA, PhD Pesquisador Principal BPC Brasil Resultados Demográficos, Clínicos, Desempenho e Desfechos em 30 dias
POTÊNCIA CIRCULATÓRIA - MARCADOR PROGNÓSTICO NÃO-INVASIVO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
 65 POTÊNCIA CIRCULATÓRIA - MARCADOR PROGNÓSTICO NÃO-INVASIVO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA Henrique Güths Resumo A busca incessante pelo melhor marcador de prognóstico para pacientes com insuficiência
65 POTÊNCIA CIRCULATÓRIA - MARCADOR PROGNÓSTICO NÃO-INVASIVO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA Henrique Güths Resumo A busca incessante pelo melhor marcador de prognóstico para pacientes com insuficiência
I. RESUMO TROMBOEMBOLISMO VENOSO APÓS O TRANSPLANTE PULMONAR EM ADULTOS: UM EVENTO FREQUENTE E ASSOCIADO A UMA SOBREVIDA REDUZIDA.
 I. RESUMO TROMBOEMBOLISMO VENOSO APÓS O TRANSPLANTE PULMONAR EM ADULTOS: UM EVENTO FREQUENTE E ASSOCIADO A UMA SOBREVIDA REDUZIDA. Introdução: A incidência de tromboembolismo venoso (TEV) após o transplante
I. RESUMO TROMBOEMBOLISMO VENOSO APÓS O TRANSPLANTE PULMONAR EM ADULTOS: UM EVENTO FREQUENTE E ASSOCIADO A UMA SOBREVIDA REDUZIDA. Introdução: A incidência de tromboembolismo venoso (TEV) após o transplante
Reabilitação pulmonar na DPOC: uma análise crítica
 Reabilitação pulmonar na DPOC: uma análise crítica José R. Jardim Pneumologia Universidade Federal de São Paulo Dispnéia : principal sintoma Reabilitação pulmonar Definição Reabilitação pulmonar é uma
Reabilitação pulmonar na DPOC: uma análise crítica José R. Jardim Pneumologia Universidade Federal de São Paulo Dispnéia : principal sintoma Reabilitação pulmonar Definição Reabilitação pulmonar é uma
ISQUEMIA SILENCIOSA É possível detectar o inesperado?
 CURSO NACIONAL DE RECICLAGEM EM CARDIOLOGIA DA REGIÃO SUL Florianópolis 20-24 de setembro de 2006 ISQUEMIA SILENCIOSA É possível detectar o inesperado? Celso Blacher Definição Documentação objetiva de
CURSO NACIONAL DE RECICLAGEM EM CARDIOLOGIA DA REGIÃO SUL Florianópolis 20-24 de setembro de 2006 ISQUEMIA SILENCIOSA É possível detectar o inesperado? Celso Blacher Definição Documentação objetiva de
Letícia Coutinho Lopes 1
 Cardiopatias Profa. Letícia Coutinho Lopes Moura Tópicos da aula A. Cardiopatia Isquêmica B. Cardiopatia Hipertensiva 2 A. Cardiopatia Isquêmica Manifestações Clínicas Patogenia Angina Pectoris Síndromes
Cardiopatias Profa. Letícia Coutinho Lopes Moura Tópicos da aula A. Cardiopatia Isquêmica B. Cardiopatia Hipertensiva 2 A. Cardiopatia Isquêmica Manifestações Clínicas Patogenia Angina Pectoris Síndromes
Cardiomiopatia Conceitos, evolução e prognóstico
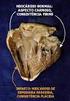 Curso de Reciclagem em Cardiologia Cardiomiopatia Conceitos, evolução e prognóstico Dr. Amberson Vieira de Assis Instituto de Cardiologia de Santa Catarina Conceituação Grupo de desordens que afetam o
Curso de Reciclagem em Cardiologia Cardiomiopatia Conceitos, evolução e prognóstico Dr. Amberson Vieira de Assis Instituto de Cardiologia de Santa Catarina Conceituação Grupo de desordens que afetam o
Rua Afonso Celso, Vila Mariana - São Paulo/SP. Telefone: (11) Fax: (11)
 Boletim Científico SBCCV Data: 07/12/2015 Número 05 Angioplastia coronária não adiciona benefícios a longo prazo, em comparação ao tratamento clínico de pacientes com doença coronária estável, aponta análise
Boletim Científico SBCCV Data: 07/12/2015 Número 05 Angioplastia coronária não adiciona benefícios a longo prazo, em comparação ao tratamento clínico de pacientes com doença coronária estável, aponta análise
Disciplina de Enfermagem em Centro de Terapia Intensiva
 Disciplina de Enfermagem em Centro de Terapia Intensiva ARRITMIAS CARDÍACAS Prof. Fernando Ramos-Msc 1 Arritmias Cardíacas Uma arritmia cardíaca é uma anormalidade na freqüência, regularidade ou na origem
Disciplina de Enfermagem em Centro de Terapia Intensiva ARRITMIAS CARDÍACAS Prof. Fernando Ramos-Msc 1 Arritmias Cardíacas Uma arritmia cardíaca é uma anormalidade na freqüência, regularidade ou na origem
Síntese do Trabalho ANGINA REFRATÁRIA NO BRASIL O DESAFIO DA BUSCA POR NOVAS ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS E PELA MELHORIA NA
 Síntese do Trabalho ANGINA REFRATÁRIA NO BRASIL O DESAFIO DA BUSCA POR NOVAS ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS E PELA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES DENTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Luís Henrique Wolff
Síntese do Trabalho ANGINA REFRATÁRIA NO BRASIL O DESAFIO DA BUSCA POR NOVAS ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS E PELA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES DENTRO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Luís Henrique Wolff
BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA FUNÇÃO CARDIO-VASCULAR E EXERCÍCIO
 BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA FUNÇÃO CARDIO-VASCULAR E EXERCÍCIO Prof. Sergio Gregorio da Silva, PhD 1 Qual é o objetivo funcional do sistema CV? Que indicador fisiológico pode ser utilizado para demonstrar
BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA FUNÇÃO CARDIO-VASCULAR E EXERCÍCIO Prof. Sergio Gregorio da Silva, PhD 1 Qual é o objetivo funcional do sistema CV? Que indicador fisiológico pode ser utilizado para demonstrar
PROGRAMAÇÃO DE ESTÁGIO CARDIOLOGIA
 PROGRAMAÇÃO DE ESTÁGIO CARDIOLOGIA 2019 Estágio em Cardiologia Reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Essa programação objetiva promover os conhecimentos necessários ao primeiro ano de Estágio
PROGRAMAÇÃO DE ESTÁGIO CARDIOLOGIA 2019 Estágio em Cardiologia Reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Essa programação objetiva promover os conhecimentos necessários ao primeiro ano de Estágio
SISTEMA CARDIOVASCULAR
 SISTEMA CARDIOVASCULAR O coração consiste em duas bombas em série Circulação Pulmonar Circulação Sistêmica Pequena Circulação ou Circulação Pulmonar Circulação coração-pulmão-coração. Conduz o sangue venoso
SISTEMA CARDIOVASCULAR O coração consiste em duas bombas em série Circulação Pulmonar Circulação Sistêmica Pequena Circulação ou Circulação Pulmonar Circulação coração-pulmão-coração. Conduz o sangue venoso
 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AVANÇADA: RELATO DE TRANSPLANTE CARDÍACO EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO AUTORES: LUIZ RENATO DAROZ, ASSAD MOGUEL SASSINE, FLÁVIA PEZZIN, THIAGO RODRIGUES SEQUEIRA, DIOGO OLIVEIRA BARRETO,
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AVANÇADA: RELATO DE TRANSPLANTE CARDÍACO EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO AUTORES: LUIZ RENATO DAROZ, ASSAD MOGUEL SASSINE, FLÁVIA PEZZIN, THIAGO RODRIGUES SEQUEIRA, DIOGO OLIVEIRA BARRETO,
Tabela I Resumo dos estudos incluídos (n = 8). Autor Ano Método Objetivo Protocolo Resultado Babu et al. [15]
![Tabela I Resumo dos estudos incluídos (n = 8). Autor Ano Método Objetivo Protocolo Resultado Babu et al. [15] Tabela I Resumo dos estudos incluídos (n = 8). Autor Ano Método Objetivo Protocolo Resultado Babu et al. [15]](/thumbs/95/125861040.jpg) Tabela I Resumo dos estudos incluídos (n = 8). Autor Ano Método Objetivo Protocolo Resultado Babu et al. [15] 2010 Caso-controle Investigar os efeitos benéficos do protocolo da fase I de Reabilitação Cardíaca
Tabela I Resumo dos estudos incluídos (n = 8). Autor Ano Método Objetivo Protocolo Resultado Babu et al. [15] 2010 Caso-controle Investigar os efeitos benéficos do protocolo da fase I de Reabilitação Cardíaca
Sepse Professor Neto Paixão
 ARTIGO Sepse Olá guerreiros concurseiros. Neste artigo vamos relembrar pontos importantes sobre sepse. Irá encontrar de forma rápida e sucinta os aspectos que você irá precisar para gabaritar qualquer
ARTIGO Sepse Olá guerreiros concurseiros. Neste artigo vamos relembrar pontos importantes sobre sepse. Irá encontrar de forma rápida e sucinta os aspectos que você irá precisar para gabaritar qualquer
Fysio Phorma Valor Proposto
 71.01.000-7 Consulta 30,00 15,00 - RNHF 71.02.000-8 Exames e Testes 30,00 71.02.001-0 Análise Eletroneuromiográfica 50,00 para verificação da potencialidade contrátil das fibras musculares, cronaximetria
71.01.000-7 Consulta 30,00 15,00 - RNHF 71.02.000-8 Exames e Testes 30,00 71.02.001-0 Análise Eletroneuromiográfica 50,00 para verificação da potencialidade contrátil das fibras musculares, cronaximetria
INTRODUÇÃO LESÃO RENAL AGUDA
 INTRODUÇÃO Pacientes em tratamento imunossupressor com inibidores de calcineurina estão sob risco elevado de desenvolvimento de lesão, tanto aguda quanto crônica. A manifestação da injuria renal pode se
INTRODUÇÃO Pacientes em tratamento imunossupressor com inibidores de calcineurina estão sob risco elevado de desenvolvimento de lesão, tanto aguda quanto crônica. A manifestação da injuria renal pode se
Urgência e Emergência
 Urgência e Emergência CHOQUE Choque Um estado de extrema gravidade que coloca em risco a vida do paciente. Dica: Em TODOS os tipos de choques ocorre a queda da pressão arterial e, consequentemente, um
Urgência e Emergência CHOQUE Choque Um estado de extrema gravidade que coloca em risco a vida do paciente. Dica: Em TODOS os tipos de choques ocorre a queda da pressão arterial e, consequentemente, um
Hospital São Paulo SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Hospital Universitário da UNIFESP Sistema de Gestão da Qualidade
 DESCRITOR: Página:! 1/! 1. INTRODUÇÃO Estima-se que anualmente são realizadas cercas de 240 milhões de procedimentos cirúrgicos em todo mundo, sendo que a taxa de mortalidade para pacientes com menos de
DESCRITOR: Página:! 1/! 1. INTRODUÇÃO Estima-se que anualmente são realizadas cercas de 240 milhões de procedimentos cirúrgicos em todo mundo, sendo que a taxa de mortalidade para pacientes com menos de
DROGAS VASODILATADORAS E VASOATIVAS. Profª EnfªLuzia Bonfim.
 DROGAS VASODILATADORAS E VASOATIVAS Profª EnfªLuzia Bonfim. DROGAS VASODILATADORAS São agentes úteis no controle da cardiopatia isquêmica aguda, HAS, Insuficiência Cardíaca e outras situações que exigem
DROGAS VASODILATADORAS E VASOATIVAS Profª EnfªLuzia Bonfim. DROGAS VASODILATADORAS São agentes úteis no controle da cardiopatia isquêmica aguda, HAS, Insuficiência Cardíaca e outras situações que exigem
RESUMO SEPSE PARA SOCESP INTRODUÇÃO
 RESUMO SEPSE PARA SOCESP 2014 1.INTRODUÇÃO Caracterizada pela presença de infecção associada a manifestações sistêmicas, a sepse é uma resposta inflamatória sistêmica à infecção, sendo causa freqüente
RESUMO SEPSE PARA SOCESP 2014 1.INTRODUÇÃO Caracterizada pela presença de infecção associada a manifestações sistêmicas, a sepse é uma resposta inflamatória sistêmica à infecção, sendo causa freqüente
PROTOCOLO MÉDICO VENTILAÇÃO MECÂNICA EM PEDIATRIA NO SDRA E LPA
 Página: 1 de 8 1.Introdução: A SDRA (Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo) caracteriza-se por processo inflamatório que leva à quebra da barreira alvéolo-capilar com desenvolvimento de edema intersticial
Página: 1 de 8 1.Introdução: A SDRA (Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo) caracteriza-se por processo inflamatório que leva à quebra da barreira alvéolo-capilar com desenvolvimento de edema intersticial
SISTEMA CARDIOVASCULAR
 AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA SISTEMA CARDIOVASCULAR Paulo do Nascimento Junior Departamento de Anestesiologia Faculdade de Medicina de Botucatu AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA: OBJETIVOS GERAIS ESCLARECIMENTO DO
AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA SISTEMA CARDIOVASCULAR Paulo do Nascimento Junior Departamento de Anestesiologia Faculdade de Medicina de Botucatu AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA: OBJETIVOS GERAIS ESCLARECIMENTO DO
Choque Cardiogêncio. Manoel Canesin ICC HC/HURNP/UEL
 Manoel Canesin Ambulatório e Clínica ICC HC/HURNP/UEL O O conceito clássico de choque cardiogênico define uma situação de hipoperfusão tecidual sistêmica decorrente de disfunção cardíaca aca primária.
Manoel Canesin Ambulatório e Clínica ICC HC/HURNP/UEL O O conceito clássico de choque cardiogênico define uma situação de hipoperfusão tecidual sistêmica decorrente de disfunção cardíaca aca primária.
Semiologia Cardiovascular. Ciclo Cardíaco. por Cássio Martins
 Semiologia Cardiovascular Ciclo Cardíaco por Cássio Martins Introdução A função básica do coração é garantir a perfusão sanguínea dos tecidos periféricos e o aporte sanguíneo para os alvéolos de modo a
Semiologia Cardiovascular Ciclo Cardíaco por Cássio Martins Introdução A função básica do coração é garantir a perfusão sanguínea dos tecidos periféricos e o aporte sanguíneo para os alvéolos de modo a
TALITA GANDOLFI PREVALÊNCIA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM PACIENTES IDOSOS DIABÉTICOS EM UMA UNIDADE HOSPITALAR DE PORTO ALEGRE-RS
 TALITA GANDOLFI PREVALÊNCIA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM PACIENTES IDOSOS DIABÉTICOS EM UMA UNIDADE HOSPITALAR DE PORTO ALEGRE-RS Dissertação apresentada no Programa de Pós-graduação em Gerontologia Biomédica,
TALITA GANDOLFI PREVALÊNCIA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM PACIENTES IDOSOS DIABÉTICOS EM UMA UNIDADE HOSPITALAR DE PORTO ALEGRE-RS Dissertação apresentada no Programa de Pós-graduação em Gerontologia Biomédica,
Estenose Aórtica. Ivanise Gomes
 Estenose Aórtica Ivanise Gomes Estenose Valvar Aórtica A estenose valvar aórtica é definida como uma abertura incompleta da valva aórtica, gerando um gradiente pressórico sistólico entre o ventrículo esquerdo
Estenose Aórtica Ivanise Gomes Estenose Valvar Aórtica A estenose valvar aórtica é definida como uma abertura incompleta da valva aórtica, gerando um gradiente pressórico sistólico entre o ventrículo esquerdo
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR
 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR Sócios coordenadores: Ft Alessandra Lima Ft Fabrícia Hoff Fisioterapia Área da saúde que, de forma interdisciplinar, diagnostica e trata as disfunções dos sistemas corporais
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR Sócios coordenadores: Ft Alessandra Lima Ft Fabrícia Hoff Fisioterapia Área da saúde que, de forma interdisciplinar, diagnostica e trata as disfunções dos sistemas corporais
Farmacologia cardiovascular
 Farmacologia cardiovascular José Eduardo Tanus dos Santos Departamento de Farmacologia FMRP - USP INOTROPICOS Insuficiência cardíaca: fisiopatologia! Volume sistólico (ml) Mecanismo de Frank-Starling do
Farmacologia cardiovascular José Eduardo Tanus dos Santos Departamento de Farmacologia FMRP - USP INOTROPICOS Insuficiência cardíaca: fisiopatologia! Volume sistólico (ml) Mecanismo de Frank-Starling do
Resultados 2018 e Novas Perspectivas. Fábio P. Taniguchi MD, MBA, PhD Investigador Principal
 Resultados 2018 e Novas Perspectivas Fábio P. Taniguchi MD, MBA, PhD Investigador Principal BPC - Brasil Insuficiência Cardíaca Síndrome Coronariana Aguda Fibrilação Atrial Dados Demográficos - SCA Variáveis
Resultados 2018 e Novas Perspectivas Fábio P. Taniguchi MD, MBA, PhD Investigador Principal BPC - Brasil Insuficiência Cardíaca Síndrome Coronariana Aguda Fibrilação Atrial Dados Demográficos - SCA Variáveis
Programa MÓDULO 1: DEFINIÇÃO, EPIDEMIOLOGIA E PROGNÓSTICO (28-29 SETEMBRO 2018) Coordenador: Brenda Moura Sexta-feira
 Programa MÓDULO 1: DEFINIÇÃO, EPIDEMIOLOGIA E PROGNÓSTICO (28-29 SETEMBRO 2018) Coordenador: Brenda Moura Sexta-feira 15h 15.15h - Boas-vindas e introdução ao módulo. 15.15h 15.45h Definição de IC 15.45h-
Programa MÓDULO 1: DEFINIÇÃO, EPIDEMIOLOGIA E PROGNÓSTICO (28-29 SETEMBRO 2018) Coordenador: Brenda Moura Sexta-feira 15h 15.15h - Boas-vindas e introdução ao módulo. 15.15h 15.45h Definição de IC 15.45h-
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR
 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR Sócios coordenadores: Ft Alessandra Lima Ft Fabrícia Hoff Fisioterapia Área da saúde que, de forma interdisciplinar, diagnostica e trata as disfunções dos sistemas corporais
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR Sócios coordenadores: Ft Alessandra Lima Ft Fabrícia Hoff Fisioterapia Área da saúde que, de forma interdisciplinar, diagnostica e trata as disfunções dos sistemas corporais
DÉBITO CARDÍACO E RESISTÊNCIAS VASCULARES
 Hospital Dr. Hélio Angotti SERVIÇO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DÉBITO CARDÍACO E RESISTÊNCIAS VASCULARES Dr. Achilles Gustavo da Silva DÉBITO CARDÍACO O CORAÇÃO TEM COMO FUNÇÃO MANTER
Hospital Dr. Hélio Angotti SERVIÇO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DÉBITO CARDÍACO E RESISTÊNCIAS VASCULARES Dr. Achilles Gustavo da Silva DÉBITO CARDÍACO O CORAÇÃO TEM COMO FUNÇÃO MANTER
Abordagem ao paciente em estado de choque. Ivan da Costa Barros Pedro Gemal Lanzieri
 Semiologia Abordagem ao paciente em estado de choque Ivan da Costa Barros Pedro Gemal Lanzieri 1 2012 Universidade Federal Fluminense Estado de Choque Síndrome clínica de hipoperfusão tissular - Choque
Semiologia Abordagem ao paciente em estado de choque Ivan da Costa Barros Pedro Gemal Lanzieri 1 2012 Universidade Federal Fluminense Estado de Choque Síndrome clínica de hipoperfusão tissular - Choque
4 o Simpósio de asma, DPOC e tabagismo
 4 o Simpósio de asma, DPOC e tabagismo Sérgio Leite Rodrigues Universidade de Brasília 1 1 VNI na DPOC Sérgio Leite Rodrigues Universidade de Brasília 2 2 Porque, ainda, falar de VNI na DPOC? 3 88 hospitais,
4 o Simpósio de asma, DPOC e tabagismo Sérgio Leite Rodrigues Universidade de Brasília 1 1 VNI na DPOC Sérgio Leite Rodrigues Universidade de Brasília 2 2 Porque, ainda, falar de VNI na DPOC? 3 88 hospitais,
Índice Remissivo do Volume 31 - Por assunto
 Palavra-chave A Ablação por Cateter Acidentes por Quedas Acreditação/ ecocardiografia Nome e página do artigo Mensagem do Presidente, 1 Mensagem da Editora, 3, 82 Amilóide Amiloidose de Cadeia Leve de
Palavra-chave A Ablação por Cateter Acidentes por Quedas Acreditação/ ecocardiografia Nome e página do artigo Mensagem do Presidente, 1 Mensagem da Editora, 3, 82 Amilóide Amiloidose de Cadeia Leve de
RCG 0376 Risco Anestésico-Cirúrgico
 RCG 0376 Risco Anestésico-Cirúrgico Luís Vicente Garcia Disciplina de Anestesiologia Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo Aula 5 Diretrizes (1) Luís Vicente Garcia lvgarcia@fmrp.usp.br
RCG 0376 Risco Anestésico-Cirúrgico Luís Vicente Garcia Disciplina de Anestesiologia Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo Aula 5 Diretrizes (1) Luís Vicente Garcia lvgarcia@fmrp.usp.br
Sistema Cardiovascular. Prof. Dr. Leonardo Crema
 Sistema Cardiovascular Prof. Dr. Leonardo Crema Visão Geral do Sistema Circulatório: A função da circulação é atender as necessidades dos tecidos. Sistema Circulartório= Sistema Cardiovascular É uma série
Sistema Cardiovascular Prof. Dr. Leonardo Crema Visão Geral do Sistema Circulatório: A função da circulação é atender as necessidades dos tecidos. Sistema Circulartório= Sistema Cardiovascular É uma série
Qualidade de Vida em Doentes com Insuficiência Cardíaca
 Qualidade de Vida em Doentes com Insuficiência Cardíaca aca Congestiva Avaliação do Impacto da Terapêutica MúltiplaM Humanas em Saúde 05/04/2008 1 Insuficiência Cardíaca aca Síndrome clínico de carácter
Qualidade de Vida em Doentes com Insuficiência Cardíaca aca Congestiva Avaliação do Impacto da Terapêutica MúltiplaM Humanas em Saúde 05/04/2008 1 Insuficiência Cardíaca aca Síndrome clínico de carácter
EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA DIAFRAGMÁTICA EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
 EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA DIAFRAGMÁTICA EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA Resumo FERNANDA BOBIG. 1 ; MARCOS, G.R.J 2. A doença pulmonar obstrutiva crônica,
EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA DIAFRAGMÁTICA EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA Resumo FERNANDA BOBIG. 1 ; MARCOS, G.R.J 2. A doença pulmonar obstrutiva crônica,
Hipoalbuminemia mais um marcador de mau prognóstico nas Síndromes Coronárias Agudas?
 Hipoalbuminemia mais um marcador de mau prognóstico nas Síndromes Coronárias Agudas? Carina Arantes, Juliana Martins, Carlos Galvão Braga, Vítor Ramos, Catarina Vieira, Sílvia Ribeiro, António Gaspar,
Hipoalbuminemia mais um marcador de mau prognóstico nas Síndromes Coronárias Agudas? Carina Arantes, Juliana Martins, Carlos Galvão Braga, Vítor Ramos, Catarina Vieira, Sílvia Ribeiro, António Gaspar,
PROGRAMA. 8h30-8h45 Ressincronização Cardíaca: evidências científicas e perfil clínico ideal
 PROGRAMA DIA 04 DE SETEMBRO DE 2015 SALA 01 (Sala Adib Jatene) 8h30 12h SIMPÓSIO DEAC Atualização em arritmias cardíacas 8h30-8h45 Ressincronização Cardíaca: evidências científicas e perfil clínico ideal
PROGRAMA DIA 04 DE SETEMBRO DE 2015 SALA 01 (Sala Adib Jatene) 8h30 12h SIMPÓSIO DEAC Atualização em arritmias cardíacas 8h30-8h45 Ressincronização Cardíaca: evidências científicas e perfil clínico ideal
