Modelos de Investimento: Metodologia e Resultados
|
|
|
- Cláudio Canejo Mota
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Revista de Economia Política, vol. 22, nº 1 (85), janeiro-março/2002 Modelos de Investimento: Metodologia e Resultados ELTON EUSTAQUIO CASAGRANDE* This papers provides an overview of the empirical studies on corporate financing patterns and firm s investment behavior. In a frictionless world the Modigliani-Miller theorem holds as well as the neoclassical investment theory. However, in presence of imperfections resulting from information asymmetries internal finance is often less costly than external finance. The goal in this article is to show how empirical studies have examined the role of financial constraints and firm s investment behavior. 1. APRESENTAÇÃO A decisão de investimento constitui uma das mais importantes decisões econômicas, se for considerado que ela define, em nível agregado, o desempenho da economia. É também fonte da acumulação de capital e, portanto, a maior determinante da capacidade da economia a longo prazo. Finalmente, é a componente mais instável da demanda agregada e natural responsável pelas variações na renda e no emprego. Porém, não é explicada adequadamente pelos modelos convencionais do investimento, porque não capturam os efeitos da incerteza sobre essa decisão. Pindyck (1991) observa que a despeito dessa importância, o comportamento do investimento de firmas, indústrias e de países permanece pouco entendido. Neste artigo tentamos explicar por que a afirmação de Pindyck (1991), embora tenha feito completo sentido no inicio da década, não pode ser repetida com a mesma contundência. Para realizar essa tarefa, resenharemos diversas contribuições sobre a teoria do investimento, de modo que configurem uma resenha da própria * Professor do Departamento de Economia da Unesp Campus Araraquara SP. Artigo elaborado a partir de Tese de Doutoramento na FGV/SP sob orientação do Prof. Luiz Carlos Bresser-Pereira, intitulada Investimento e Financiamento em Tempos Anormais: a decisão de investir e financiar no Brasil,
2 teoria. Nessa análise das teorias estamos interessados nas principais contribuições que tratam do comportamento do investimento de firmas, uma tarefa que implica em recuperar o modelo do acelerador e suas versões posteriores, utilizadas para explicar sob diferentes hipóteses, o gasto de investimento 1. Este artigo está estruturado da seguinte forma: a segunda seção trata das modificações feitas no modelo do acelerador pela versão neoclássica; a terceira seção resenha os principais modelos empíricos do investimento que testaram a hipótese da assimetria de informações. Demos destaque à metodologia desses estudos. Finalmente, na quarta seção, discutimos a afirmação feita Robert Pindyck sobre a capacidade explicativa dos modelos empíricos do investimento. 2. O MODELO NEOCLÁSSICO O modelo genérico, segundo a forma de apresentação proposta por Chirinko (1993), permite mostrar a evolução da teoria do investimento. O autor, estabelecendo um Benchmark Model, escreve a função demanda por capital como: K* = f[preços, quantidades, choques] (1) A demanda por capital é determinada pela igualdade entre os benefícios marginais esperados e o custo de uma unidade adicional de capital. A demanda por investimento inclui um aspecto dinâmico na função, denominado acelerador. O princípio do acelerador faz o investimento ser uma proporção linear das mudanças no produto: a partir de um incremento na taxa capital-produto, é simples calcular o investimento necessário para atender a uma dada meta de crescimento do produto. A partir do acelerador, Hall & Jorgenson (1967) e seus colaboradores formularam a teoria neoclássica do investimento. Em termos práticos, o modelo neoclássico parte da equação (1), utilizando-se de uma estrutura rigorosa para identificar as variáveis explicativas do investimento, especialmente os efeitos dos preços relativos. A firma encontra instantaneamente o estoque ótimo de capital, K*, o qual maximiza seus lucros (otimização estática). O estoque ótimo de capital depende do preço dos bens de capital, da taxa de juros e da depreciação. Dadas as condições técnicas, uma firma investirá em uma nova planta ou na compra de máquinas e equipamentos, se o valor de um dado projeto exceder o custo de capital, líquido de impostos 2. Nos termos acima, na comparação do custo de capital com a produtivi- 1 É útil fazer a distinção entre abordagens que relacionam a taxa de investimento com uma dada variável macroeconômica e outras que lidam com os microfundamentos da decisão de investimento, em que a taxa de lucro e de juros são as duas variáveis relevantes. Segundo Bresser-Pereira (1993), Kalecki (1952), Clark (1917) e Chenery (1952) apud Bresser-Pereira (1993) são exemplos da primeira abordagem do investimento. Na segunda, estão a teoria clássica que enfatiza a taxa de lucro como principal motivo da decisão, enquanto a teoria neoclássica enfatiza a taxa de juros. 2 O custo de capital define-se como o custo de oportunidade de um investimento, medido pela taxa de juros ajustada tanto ao risco, quanto à inflação futura. 99
3 Fdade marginal do novo investimento, o retorno previsto deve ser suficiente para compensar os acionistas pelo custo de oportunidade. Fatores que elevam a taxa de juros, afetando o custo de capital e o volume de investimento são, portanto, concorrentes ao investimento. A formulação neoclássica apresenta uma equação para testar os determinantes do investimento e, especialmente, os efeitos dos preços relativos, introduzidos na Teoria Geral, em que os custos e benefícios de adquirir capital eram relacionados à eficiência marginal do capital e da taxa de juros (Chirinko, 1993): J It = δkt αβj (Y t-j C -σ t-j ) + µ t (2) j-0 onde It = investimento total; δ = depreciação; σ = elasticidade de substituição entre capital e trabalho; α = parâmetro de distribuição; β = defasagem de entrega do equipamento; Y = variável quantitativa (vendas); Ct = custo do capital; µ = erro 3. O modelo neoclássico considera os fundos externos como perfeitos substitutos aos fundos internos das firmas. A aceitação do teorema Modigliani & Miller (1958 e 1961) faz o gasto de investimento ser explicado pelas variáveis reais, como os preços e a tecnologia, e trata com absoluta independência as relações com o mercado de capitais e de crédito. Com essa formulação, Jorgenson provou que o coeficiente da variável vendas é dominante e estatisticamente relevante para explicar o comportamento do investimento. As firmas escolhem o quanto produzir sob a noção de mercados em concorrência perfeita, vendendo a oferta que criam. As expectativas de vendas das firmas têm, portanto, um importante impacto sobre o gasto de investimento. Em termos econométricos, essa variável predomina sobre outras que possam vir a ser incluídas na equação, sendo assim subjacente ao modelo proposto por Clark (1917) apud Chirinko (1993). Segundo Fazzari & Petersen (1993), as versões derivadas do acelerador, como da teoria neoclássica, têm sido utilizadas com excelentes resultados, porém os fortes efeitos do acelerador têm dificultado uma avaliação mais realista do próprio modelo. Na versão neoclássica o custo de capital afeta o investimento somente por meio de variáveis que também incluem as vendas. Não se podem separar os efeitos das vendas e do custo de capital sobre o investimento, e tratá-las independentemente do ponto de vista da política econômica. Na expectativa de um volume de vendas maior, a firma ajusta seu estoque de capital sempre que a taxa de retorno do investimento seja, no mínimo, igual ao custo de capital, representado pela taxa de juros. Dois aspectos em relação à teoria neoclássica precisam ser observados. O primeiro é a predominância da teoria neoclássica sobre outras contribuições que não tiveram êxito ao tentar demonstrar a importância das variáveis financeiras sobre as reais para a decisão de investimento. Ao manterem as noções de mercados em concorrência perfeita e firma representativa, os estudos limitaram sua própria ca- 3 Esta equação contém algumas modificações desde a elaboração original de Clark (1917) apud Chirinko (1993, p ). 100
4 pacidade de verificar a importância das variáveis financeiras enquanto determinante do investimento entre firmas com diferentes características. Entre os estudos rejeitados pela abordagem neoclássica e analisados em Jorgenson (1971) temos: Meyer & Kuh (1957), Evans (1967), Eisner (1963), Meyer & Glauber (1964) e Anderson (1964). Segundo os critérios elaborados por Jorgenson & Siebert (1968), apenas o modelo neoclássico manteve sua consistência interna. A conclusão geral foi a de que os fundos internos, quando testados como determinantes do estoque de capital desejado, representavam de fato o nível do produto. Ainda, quando o produto e o fluxo de caixa eram incluídos como possíveis variáveis explicativas do estoque de capital, somente o produto predominava. Também mostraram que os fundos externos estavam subordinados às variáveis associadas ao produto. O nível do estoque de capital desejado independe das formas de financiamentos. O ranking entre os modelos foi estabelecido a partir de uma amostra de quinze grandes firmas, cujo poder de explicação do gasto de investimento foi assim classificado: 1. neoclássico (a); 2. neoclássico (b); 3. lucros esperados; 4. acelerador; 5. liquidez. Elliot (1973), por sua vez, reverteu o ranking estabelecido por Jorgenson & Siebert (1968) com uma amostra de 184 firmas, classificando segundo seus critérios, em primeiro lugar o modelo de liquidez 4. O segundo aspecto diz respeito ao set de críticas direcionadas ao modelo econométrico neoclássico 5. Chirinko (1993) aponta os principais grupos de problemas de estimação. As respostas a cada um desses pontos críticos presentes na análise neoclássica motivaram a formulação de modelos de investimento denominados modelos implícito e explícito. O primeiro segue a tradição do tratamento dado por Jorgenson e seus colaboradores. O investimento depende da comparação entre o custo de uso do capital e o produto marginal do capital. O segundo grupo originou-se com Brainard & Tobin (1968) apud Chirinko (1993) e Tobin (1969 e 1978) apud Chirinko (1993), que compara o custo de reposição de um investimento na margem para seu valor capitalizado, denominado taxa q de Tobin. Considerando os avanços da teoria neoclássica, embora a escola tenha eclipsado os estudos que privilegiavam as variáveis financeiras, diante dos limites dos modelos com dinâmica implícita e explícita, as variáveis financeiras foram novamente resgatadas, porém em outras bases teóricas. A nova abordagem pressupõe que os mercados são organizados em concorrência imperfeita, para estudar o comportamento do investimento, principalmente em grupos de firmas com diferentes características financeiras. Com as imperfeições, a obtenção de fundos externos pelas firmas em muitos casos não poderia ser conseguida e, em outros, só com custos 4 A indefinição sobre um ou outro modelo ser o mais adequado, em termos econométricos, para identificar as variáveis financiadoras do gasto de investimento, é explicada por Fazzari, Hubbard & Petersen 1988, pp Principalmente quanto à noção de concorrência perfeita, produção previamente definida, estabilidade das expectativas dos preços relativos e da taxa de juros. 101
5 adicionais. O principal aspecto explorado do contexto da concorrência imperfeita é a assimetria de informações entre tomadores e emprestadores de recursos. Informações assimétricas impõem restrições ao funcionamento perfeito do mercado de capitais e de crédito, exigindo uma ligação entre essa hipótese e a teoria do investimento. Com informações assimétricas, os resultados encontrados pelo modelo neoclássico podem ter uma outra interpretação, ou seja, a de que o impacto das vendas pode estar sendo subestimado, enquanto o impacto do custo do capital, superestimado. Logo, a não separação dos efeitos pode dar à abordagem neoclássica mais crédito do que lhe é devido e causar grandes danos aos agentes econômicos, se a política econômica for orientada sobre tal indeterminação. Em termos de determinação, além do benefício da separação dos elementos, como vendas do custo de capital, outras variáveis oriundas dos estudos rejeitados pelos critérios neoclássicos, testados novamente, em condições de concorrência imperfeita, puderam contribuir para o entendimento do comportamento do investimento. 3. A HIPÓTESE DA ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES APLICADA À TEORIA DO INVESTIMENTO Fazzari, Hubbard & Petersen (1988), Hoshi, Kashyap & Scharfstein (1991) Fazzari & Petersen (1993), Schaller (1993), e Hubbard, Glenn, Kashyap & Whited (1995) testaram a importância de fatores financeiros para o gasto de investimento. Como variáveis financeiras entende-se a estrutura financeira das firmas que determinam sua capacidade de obter fundos externos. Assim, a conexão ou interdependência entre o investimento e seu financiamento foi restabelecida por meio de verificação econométrica. Para quebrar com o teorema Modigliani & Miller, era imprescindível mostrar que as firmas são tratadas assimetricamente pelos mercados de crédito e de capitais. Se a estrutura financeira das firmas tivesse relevância para sua condição de financiamento, estaria provada a inoperância do teorema Modigliani & Miller e, por conseqüência, o próprio modelo de investimento neoclássico. Na perspectiva de Fazzari et alli (1988), com a hipótese da assimetria de informações, os fundamentos microeconômicos que relacionam a estrutura financeira e a decisão do investimento são aqueles que justificam o elevado custo da obtenção de recursos externos para os tomadores. 3.1 Metodologia Para dar conta dos diversos estudos, suas metodologias e resultados que comprovam a hipótese da assimetria de informações, optamos por apresentar com mais detalhes duas contribuições cruciais para o entendimento da evolução contida nos modelos empíricos do investimento, construídos a partir da versão do acelerador, e que demonstraram a inconsistência do modelo neoclássico. Tratam-se dos trabalhos de Fazzari et alli (1988) e Fazzari & Petersen (1993). 102
6 O primeiro trabalho estimulou uma série de estudos similares em diferentes países com diferentes formatos institucionais de sistemas financeiros. Foi, também, alvo de severas críticas devido à metodologia e estimação com a forma reduzida da equação do investimento. No entanto, as alternativas e melhorias realizadas em outros estudos somente fizeram confirmar os resultados obtidos por Fazzari et alli (1988). O segundo estudo, Fazzari & Petersen (1993), porém, foi menos citado pela literatura e, do nosso ponto de vista, tem uma contribuição, da perspectiva financeira, mais adequada para se avaliar a importância da condição das firmas e sua relação com o investimento. Considerando os modelos de liquidez contestados por Jorgenson, Fazzari et alli (1988) introduziram a novidade de investigar o comportamento do investimento a partir da influência da liquidez sobre esse gasto, utilizando um panel data com 422 firmas do setor de transformação, divididas em classes segundo o grau de retenção de dividendos com relação ao lucro a ser distribuído. Uma firma, do panel data, não é incluída na base de dados até que seja do interesse da comunidade financeira. Uma vez adicionada à base de dados, requerem-se as demonstrações financeiras dos dez anos que antecedem o ano de inclusão. Após a introdução na base de dados, a firma torna-se visível para os potenciais investidores, reduzindo então o problema da assimetria de informações, uma vez que as informações acrescentadas periodicamente permitem uma avaliação mais sistemática das condições financeiras das próprias empresas e, principalmente, de suas respectivas políticas de dividendos. Uma firma que não distribui dividendos emite um sinal negativo ao mercado e, portanto, pode estar enfrentando problemas de liquidez 6. Diante do elevado grau de retenção, os emprestadores encontram razões para negar crédito a essas firmas, associando a elas uma grande possibilidade de default. Firmas que sistematicamente distribuem dividendos não sofrem problemas de restrição à liquidez. A distribuição sistemática de dividendos garante uma avaliação positiva do mercado, mantendo ou elevando o valor da firma. A estrutura inicial do modelo teve a seguinte forma: I / Kiy = f (X / K)it + g (CF / K)it + µit onde I= adição líquida de ativos fixos para a firma no período entre i e t; X representa o vetor de variáveis com os devidos lags, os quais têm sido destacados como os determinantes do investimento, correspondendo ao debate na literatura do investimento; CF indica o montante de fundos internos disponíveis para o investimento, o qual, através da função g indica o grau de sensibilidade do investimento às flutuações 6 Para evitar a presença de firmas que não tinham dividendos para distribuir, os autores mantiveram as empresas que tiveram crescimento real de vendas no período Com isso excluiram-se as firmas cuja alavancagem operacional e financeira não tenha produzido o efeito sobre os lucros na dimensão necessária, permitindo então a distribuição de dividendos. Posteriormente, a inclusão de todas as firmas independentemente da evolução das vendas em termos reais não alterou de maneira significativa os resultados previamente obtidos. 103
7 dos fundos internos. A variável X é substituída no modelo conforme diferentes abordagens especificam a teoria do investimento, como o acelerador neoclássico e o modelo Q do investimento. Em todas as versões a variável cash flow mostrou relevância, principalmente para as firmas com baixo grau de distribuição de dividendos. Procurando superar as dúvidas deixadas pelo trabalho de 1988, especialmente aquelas relativas ao significado da variável cash flow funcionar como uma proxy das mudanças na demanda do investimento, Fazzari & Petersen (1993) testaram a hipótese do capital circulante líquido servir como fonte de recursos para financiar o investimento 7. Embora o modelo Q tenha tido essa função, são muitas as críticas em relação à confiabilidade do modelo. A introdução do capital circulante cumpriria, assim, uma função estratégica, como veremos 8. O capital circulante é conhecido amplamente pela sua função mantenedora das atividades produtivas de curto prazo, sendo extremamente sensível às flutuações do cash flow (lucros + depreciação), e às vendas. A firma administra-o de acordo com a sua necessidade de liquidez, principalmente diante das necessidades operacionais da firma, flutuações da demanda e despesas inesperadas. A reversibilidade do capital de giro contrapõe-se à irreversibilidade do capital fixo, permitindo às firmas estabelecerem um trade-off, contraindo-o para subsidiar os gastos com investimentos fixos. A rentabilidade das operações de uma firma determinarão a taxa de expansão desse recurso e sua resistência em épocas de crise econômica. Em princípio, a rentabilidade do capital de giro relaciona-se inversamente com seu volume, porque os recursos de curto prazo normalmente são remunerados a uma taxa menor do que os de longo prazo. Inversamente, um elevado volume de capital de giro reduziria a rentabilidade dos ativos de uma firma, dado que o capital fixo é mais rentável do que o capital circulante. Se o parâmetro da variação do capital circulante fosse estatisticamente relevante, então os autores poderiam resolver duas questões: 1. que o cash flow não está funcionando como uma proxy da demanda por investimento; 2. que o capital circulante, tendo sinal negativo na equação do investimento, concorre com o investimento fixo, expondo assim o grau de racionamento de crédito enfrentado pelas empresas em relação a suas classes de distribuição de dividendos. Firmas com baixo grau de distribuição deveriam depender muito mais da contração do capital circulante líquido do que firmas com alto grau de distribuição de dividendos para investir. Mudanças no capital circulante estão positivamente relacionadas com os lucros, produto e ciclos de negócios. Então, se o capital circulante líquido funciona como uma proxy a efeitos omissos da demanda por investimento, seu coeficiente deveria ser positivo e deveria reduzir o coeficiente do cash flow, quando na equação. Porém, o coeficiente do capital circulante teve sinal negativo e, quando presente na equação do investimento, não afetou o coeficiente do cash flow. 7 Capital de giro é definido como a diferença entre o ativo e o passivo circulante do período corrente. 8 A amostra utilizada nesse estudo contou com 48 firmas, de 1970 a 1984, com elevado grau de retenção de dividendos, e oriundas da base de dados do artigo de Fazzari et alli (1988). 104
8 Hoshi et alli (1991) evitaram separar as firmas pelo grau de retenção de dividendos, aspecto considerado crítico em Fazzari, Hubbard & Petersen (1988) para identificar as empresas sujeitas ao problema da assimetria de informações. Avaliando a estrutura das relações econômicas e financeiras entre firmas e bancos no Japão, os autores beneficiaram-se de uma associação tradicional da economia japonesa, conhecida como keiretsu. Ela estabelece um vínculo bastante íntimo entre firmas e bancos, reduzindo o grau de assimetria de informações entre aqueles agentes (121 firmas) (Schaller, 1993). Firmas que não desfrutam de tal associação são denominadas de independentes (24 firmas). O objetivo dos autores foi avaliar para o Japão a importância dos recursos internos das empresas e as decisões de investimento. A estratégia dos autores foi avaliar se a liquidez é mais importante como determinante do investimento para as firmas independentes do que para firmas pertencentes à estrutura do keiretsu. Para afastar a dubiedade acerca das variáveis de liquidez que poderiam significar o efeito de variáveis omitidas, tal como lucratividade, foi incluída nas equações a variável q de Tobin. As variáveis de liquidez foram compostas do cash flow, títulos de curto prazo rapidamente conversíveis em moeda. A conclusão dos autores é que a liquidez é mais importante para as empresas independentes do que para as associadas aos bancos 9. Assim, as primeiras são mais sensíveis às variações de sua liquidez do que as últimas. Schaller (1993) estudou a mesma questão para o Canadá com uma amostra de 212 empresas de 1973 a De posse das experiências nos E.U.A e Japão, procurou realizar testes para contemplar as diferentes condições das firmas em fornecer informações, e seus respectivos relacionamentos com os emprestadores, especificamente no mercado de capitais, observando a capacidade das empresas de obter recursos por meio de emissão. Para o autor essa questão é primordial, uma vez que a tentativa de demonstrar a importância da liquidez das empresas para o comportamento do investimento compreende um procedimento indireto de testar a existência das informações assimétricas 10. A composição das 212 firmas varia no estudo, de acordo com as seguintes classificações: maduras e jovens; concentradas e dispersas; do setor de transformação e de outros; associadas e independentes. Firmas maduras são aquelas presentes em um banco de dados, denominado de Laval Database, desde Firmas que não figuram desde essa data são recentes ou jovens. Com respeito à concentração, os dados vieram da Canada s Intercorporate Ownership. O grau de concentração depende de um acionista deter 50% ou mais das ações sob seu controle. De maneira análoga ao Japão, embora não exista no Canadá a organização keiretsu, existem 9 Outros testes foram feitos para as empresas e também para outras formas de organização de empresas, que variavam entre associadas e independentes. Em nada alterou-se a importância das variáveis de liquidez. 10 Embora Schaller (1993) veja mais consistência nos critérios de seleção de firmas de Hoshi et alli em relação a Fazzari et alli, deve ser observado que os arranjos institucionais que regem os mercados de capitais e de crédito impedem um relacionamento no mercado americano como aquele existente no Japão. 105
9 outras formas de organização, como conglomerados, que incluem muitas firmas com ações comercializáveis em Bolsa de Valores. Muitas dessas pertencem a um indivíduo ou família. A Canada s Intercorporate Ownership informa se uma firma pertence a um conglomerado e a natureza dessa relação. Por meio dos resultados o autor conclui que: quando as empresas são maduras, financeiramente consolidadas, com longas relações com credores, ou com elevado grau de concentração o que permite um grau elevado de centralização das decisões, evitando portanto o conflito entre a gerência e os acionistas, a acessibilidade a fundos externos é muito favorável; quando são associadas, o problema da assimetria no mercado de capitais é menor. Empresas jovens, independentes e diversificadas enfrentam problemas de acesso ao crédito, apesar de revelarem maiores oportunidades de investimento. Isso indica o alto custo de obtenção de recursos no mercado de capitais, em oposição às firmas que, apesar de terem menos oportunidades lucrativas de investimento, são consolidadas e conseguem no mínimo três vezes mais recursos com emissão de ações. Hubbard, Glenn, Kashayap & Whited (1995) buscaram aplicar um método diferente para discutir a validade da assimetria de informações nos mercados financeiros e seu impacto sobre o gasto de investimento de 428 firmas entre 1976 e A principal preocupação existente na elaboração dos modelos empíricos consiste no estabelecimento de argumentos capazes de defender a correlação entre o casf flow e o investimento como resultado das imperfeições do mercado de capitais. A verificação da correlação foi idealizada por meio da separação das empresas com relação a dois critérios: maturidade e grau de retenção de dividendos. Utilizaram as equações de Euler devido aos problemas de estimação relacionados com a medida marginal da taxa q, além das dúvidas quanto à consistência do julgamento do mercado sobre o valor da firma 11. Os autores estimaram os parâmetros das variáveis explicativas do investimento com as equações de Euler e em seguida discutiram porque o método não funciona adequadamente para todas as firmas da amostra. A estratégia do trabalho apóia-se em uma comparação entre um grupo de firmas para as quais a teoria neoclássica do investimento é aplicável, e um grupo para o qual a mesma teoria não o é. O racionamento de crédito corresponde, portanto, a uma evidência relevante somente ao grupo com a taxa baixa de distribuição de dividendos. Sendo assim, essas firmas enfrentam algum tipo de racionamento de crédito. Estimando a trajetória ótima para as firmas que distribuem dividendos a uma taxa elevada para com o faturamento, o modelo é bem-sucedido, isto é, o comportamento é como descrito pela teoria neoclássica. Para as firmas que distribuem poucos dividendos em relação ao faturamento, o modelo é rejeitado. O modelo é também 11 As equações de Euler indicam a trajetória ótima de acumulação de capital. A firma será indiferente a aumentar o estoque de capital em uma unidade no presente e diminuir uma unidade no futuro, deixando o estoque inalterado. A firma em princípio compara os benefícios de investir no presente com o investimento no futuro. A diferença entre a produtividade marginal do capital e seu custo impele ao investimento. 106
10 rejeitado para a amostra total. Os autores também não encontraram maior relevância para estimar o modelo em função do tamanho das firmas. O insucesso do modelo para as firmas com baixo grau de distribuição de dividendos pode não significar o efeito das imperfeições dos mercados de capitais. Para verificar a procedência do argumento, os autores testaram o modelo para firmas maduras e com baixo grau de distribuição de dividendos. A importância do volume do cash flow para essas firmas poderia ser uma decisão da gerência em aproveitar oportunidades de investimentos. Segundo as previsões neoclássicas, o modelo responde para as firmas maduras com baixo grau de distribuição de dividendos. Porém, o custo do crédito segundo a disponibilidade do cash flow e a medida agregada de aperto de liquidez afeta o gasto de investimento das firmas para as quais o modelo neoclássico foi rejeitado, permitindo aos autores concluir que as imperfeições do mercado de capitais afetam as decisões de investimento. 4. RESULTADOS E OBSERVAÇÕES FINAIS O conjunto de estudos empíricos, com relativa diversidade metodológica, indica claramente a refutação das predições neoclássicas, seja a partir de uma versão do acelerador, seja por meio das equações de Euler. Com as equações de Euler não é possível verificar as diferentes condições financeiras das firmas na obtenção de recursos. O estudo com equação reduzida do investimento é mais apropriada porque permite estabelecer políticas específicas, uma vez identificadas as fontes de financiamento do investimento das firmas. A tabela abaixo sintetiza os principais resultados (valor dos parâmetros das variáveis testadas na equação de investimento) dos estudos resenhados que impuseram diferentes critérios de separação de firmas de diferentes amostras, sujeitas à assimetria de informações. Variáveis FHP* (1988) FP** (1993) HKS***(1991) SCHALLER****(1993) Independentes Neoclássico Acelerador Independentes Associadas Independentes Associadas CF J Q S VCG -430 CF = cash flow; J = Parâmetro de ajustamento entre o estoque de capital desejado e as vendas ajustadas aos preços relativos do capital; Q = modelos com taxa q; S = vendas; VCG = variação do capital circulante líquido. *Fazzari et alli, (1988). **Fazzari & Petersen (1993). ***Hoshi et alli, (1991). ****Schaller (1993). A despeito das diferenças entre os sistemas financeiros dos estudos, verificase, de maneira geral, a existência de racionamento de crédito. As evidências confirmam a importância dos fundos internos como fonte de financiamento e a hipótese da assimetria de informações. O comportamento do investimento no âmbito da firma 107
11 é melhor explicado quando é incorporado à variável cash flow, deslocando a importância da teoria neoclássica. Por fim, observamos que, apesar de a metodologia de Fazzari et alli (1988) ter servido de base para outros estudos, aqueles que usaram critérios qualitativos para separar as firmas demonstram-se mais consistentes. Especificamente, a separação meramente quantitativa, como a feita em função do grau de retenção de dividendos, tem sido duramente criticada 12. A não-observância das características do formato institucional dos sistemas financeiros, como feitos por Hoshi et alli (1991) e Schaller (1993) pode induzir a uma falsa percepção sobre as restrições creditícias e o comportamento do investimento. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANDERSON, W. H. L. Corporate Finance and Fixed Investment: An Econometric Study. Boston: Division of Research, Graduate School of Bussiness Administration, Harvard University, BRESSER-PEREIRA, L. C. Interest rate and investment decision in normal and excepcional times. Trabalho apresentado em conferência em Knoxville, Tennessee, julho de CHIRINKO, R. S. Business fixed investment spending: modeling strategies, empirical results, and policy implications. Journal of Economic Literature, 1993, v. 31, pp EISNER, R. Investment: Fact and Fancy. American Economic Review, 1963, v. 53, pp ELLIOT, W. Theories of corporate investment behavior revisited. American Economic Review, 1973, v. 63, p EVANS, M. A Study of Industry Investment Decisions. Review of Economics and Statistics, 1967, v. 49, pp FAZZARI, S. M., HUBBARD, G. & PETERSEN, B. Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1988, n. 1, pp FAZZARI, S. & PETERSEN, B. Working capital and fixed investment: new evidence on finance constraints. Randal Journal of Economics, 1993, v. 24, n. 3, pp HALL, R. & JORGENSON, D. Tax policy and investment behavior. American Economic Review, 1967, v. 57, pp HOSHI, T., KASHYAP, A. K., & SCHARFSTEIN, D. Corporate structure, liquidity, and investment: evidence from Japanese industrial groups. Quarterly Journal of Economics, 1991, v. 106, pp HUBBARD, R., GLENN, A. KASHYAP, & WHITED, T. M. Internal Finance and Firm Investment. Journal of Money, Credit, and Banking, 1995, v. 27, n. 3, pp JORGENSON, D. W. & SIEBERT, C. D. A comparison of alternative theories of corporate investment behavoir. The American Economic Review, 1968, v. 58, n. 4, pp JORGENSON, D. Econometric studies of investment behavior: a survey. Journal of Economic Literature, 1971, v. 9, n. 4, pp MEYER, J. & KUH, E. The Investment Decision: An Empirical Study. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, MEYER, J. & GLAUBER, R. Investment Decisions, Economic Forecasting and Public Policy. Boston: Division of Research, Graduate School of Bussiness Administration, Harvard University, PINDYCK, R. Irreversibility, uncertainty and investment. Journal of Economic Literature, 1991, v. 29, n. 3, pp KAPLAN, S. & ZINGALES, L. Investment cash flow sensitivities are not valid measures of financing constraints. NBER, working paper, n SCHALLER, H. Asymmetric Information, Liquidity Constrains, and Canadian Investment. Canadian Journal of Economics, 1993, v. 26, n. 3, pp Ver Kaplan & Zingales (2000). 108
Modelos de Investimento: metodologia e resultados. Abstract
 Modelos de Investimento: metodologia e resultados Elton Eustaquio Casagrande * Abstract This papers provides an overview of the empirical studies on corporate financing patterns and firm s investment behavior.
Modelos de Investimento: metodologia e resultados Elton Eustaquio Casagrande * Abstract This papers provides an overview of the empirical studies on corporate financing patterns and firm s investment behavior.
Curitiba - 16 e 17 de outubro de Universidade Federal do Paraná SEMINÁRIO
 Curitiba - 16 e 17 de outubro de 2000 - Universidade Federal do Paraná SEMINÁRIO A Teoria do Investimento com Assimetria de Informações Otaviano Canuto * Elton Eustáquio Casagrande ** Apresentação Recentemente
Curitiba - 16 e 17 de outubro de 2000 - Universidade Federal do Paraná SEMINÁRIO A Teoria do Investimento com Assimetria de Informações Otaviano Canuto * Elton Eustáquio Casagrande ** Apresentação Recentemente
INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO NO BRASIL *
 Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2002, Vol. VIII, No. 2 (jul-dic), pp. 213-231 recibido 28-06-02 / arbitrado 17-09-02 INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO NO BRASIL * Elton Eustáquio Casagrande UNIVERSIDAD
Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2002, Vol. VIII, No. 2 (jul-dic), pp. 213-231 recibido 28-06-02 / arbitrado 17-09-02 INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO NO BRASIL * Elton Eustáquio Casagrande UNIVERSIDAD
Investimento e Financiamento no Brasil *
 Investimento e Financiamento no Brasil - 1 Investimento e Financiamento no Brasil * Elton Eustáquio Casagrande 1 Sumário: 1. Introdução; 2. A economia brasileira, 1990-1994; 3. Os modelos empíricos do
Investimento e Financiamento no Brasil - 1 Investimento e Financiamento no Brasil * Elton Eustáquio Casagrande 1 Sumário: 1. Introdução; 2. A economia brasileira, 1990-1994; 3. Os modelos empíricos do
Elton Eustáquio Casagrande e Alexandre Sartoris 1 Resumo
 Investimento e Financiamento: um enfoque sobre empresas de capital aberto Elton Eustáquio Casagrande e Alexandre Sartoris 1 Resumo Neste trabalho discutimos as condições de financiamento no Brasil no período
Investimento e Financiamento: um enfoque sobre empresas de capital aberto Elton Eustáquio Casagrande e Alexandre Sartoris 1 Resumo Neste trabalho discutimos as condições de financiamento no Brasil no período
Desenvolvimento financeiro e decisões de investimento das firmas brasileiras
 Desenvolvimento financeiro e decisões de investimento das firmas brasileiras Aquiles Elie Guimarães Kalatzis * Fernanda de Castro ** RESUMO - Este artigo analisa os efeitos do desenvolvimento financeiro
Desenvolvimento financeiro e decisões de investimento das firmas brasileiras Aquiles Elie Guimarães Kalatzis * Fernanda de Castro ** RESUMO - Este artigo analisa os efeitos do desenvolvimento financeiro
Decisões de investimento e restrição financeira: um modelo dinâmico com abordagem Bayesiana
 Decisões de investimento e restrição financeira: um modelo dinâmico com abordagem Bayesiana Aquiles Elie Guimarães Kalatzis * Camila Fernanda Bassetto ** RESUMO - Esse trabalho analisa a presença de restrição
Decisões de investimento e restrição financeira: um modelo dinâmico com abordagem Bayesiana Aquiles Elie Guimarães Kalatzis * Camila Fernanda Bassetto ** RESUMO - Esse trabalho analisa a presença de restrição
Palavras-chave: Restrição financeira, assimetria de informação, estrutura de capital
 João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016 ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DO INVESTIMENTO EM RELAÇÃO AO FLUXO DE CAIXA: UM ESTUDO NAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA LISTADAS NA BM&FBOVESPA ENTRE
João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016 ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DO INVESTIMENTO EM RELAÇÃO AO FLUXO DE CAIXA: UM ESTUDO NAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA LISTADAS NA BM&FBOVESPA ENTRE
Fundação Getúlio Vargas / EPGE Economia Monetária e Financeira Prof. Marcos Antonio Silveira. 1 Visão Geral
 Fundação Getúlio Vargas / EPGE Economia Monetária e Financeira Prof. Marcos Antonio Silveira Nota de Aula 14 Canais Alternativos de Transmissão da Política Monetária: Canais de Crédito Bibliografia: Mishkin,
Fundação Getúlio Vargas / EPGE Economia Monetária e Financeira Prof. Marcos Antonio Silveira Nota de Aula 14 Canais Alternativos de Transmissão da Política Monetária: Canais de Crédito Bibliografia: Mishkin,
NBC TA 520 Procedimentos analíticos
 NBC TA 520 Procedimentos analíticos Índice Item Introdução Alcance 1 Data de vigência 2 Objetivos 3 Definição 4 Requisitos Procedimentos analíticos substantivos 5 Procedimentos analíticos que auxiliam
NBC TA 520 Procedimentos analíticos Índice Item Introdução Alcance 1 Data de vigência 2 Objetivos 3 Definição 4 Requisitos Procedimentos analíticos substantivos 5 Procedimentos analíticos que auxiliam
5. ANÁLISE DE RESULTADOS
 79 5. ANÁLISE DE RESULTADOS O instrumental teórico elaborado no segundo capítulo demonstra que a principal diferença entre os modelos construídos que captam somente o efeito das restrições no mercado de
79 5. ANÁLISE DE RESULTADOS O instrumental teórico elaborado no segundo capítulo demonstra que a principal diferença entre os modelos construídos que captam somente o efeito das restrições no mercado de
Finanças Corporativas. Prof.: André Carvalhal
 Finanças Corporativas Prof.: André Carvalhal Objetivo do Curso Apresentar e discutir os conceitos básicos de finanças corporativas, em especial avaliação de investimentos e estrutura de capital da firma
Finanças Corporativas Prof.: André Carvalhal Objetivo do Curso Apresentar e discutir os conceitos básicos de finanças corporativas, em especial avaliação de investimentos e estrutura de capital da firma
Tópicos Teóricos em Finanças: Teoria de Contratos, Teoria de Investmentos e Mercados de Balcão
 Tópicos Teóricos em Finanças: Teoria de Contratos, Teoria de Investmentos e Mercados de Balcão Palestrante: Roberto B. Pinheiro Introdução O objetivo deste mini-curso é apresentar aos alunos as principais
Tópicos Teóricos em Finanças: Teoria de Contratos, Teoria de Investmentos e Mercados de Balcão Palestrante: Roberto B. Pinheiro Introdução O objetivo deste mini-curso é apresentar aos alunos as principais
Macroeconomia Aberta. CE-571 MACROECONOMIA III Prof. Dr. Fernando Nogueira da Costa Programa 1º semestre.
 Macroeconomia Aberta CE-571 MACROECONOMIA III Prof. Dr. Fernando Nogueira da Costa Programa 1º semestre http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/ PARTE I: Determinantes da taxa de câmbio e do balanço
Macroeconomia Aberta CE-571 MACROECONOMIA III Prof. Dr. Fernando Nogueira da Costa Programa 1º semestre http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/ PARTE I: Determinantes da taxa de câmbio e do balanço
Tese de doutorado apresentada ao Curso de Pós-Graduação da FGV/EAESP.
 R U T H R E N A T A H A M B U R G E R Tese de doutorado apresentada ao Curso de Pós-Graduação da FGV/EAESP. Área de concentração: Contabilidade, Finanças e Controle. Orientador: Prof. Dr. Claudio V. Furtado
R U T H R E N A T A H A M B U R G E R Tese de doutorado apresentada ao Curso de Pós-Graduação da FGV/EAESP. Área de concentração: Contabilidade, Finanças e Controle. Orientador: Prof. Dr. Claudio V. Furtado
1 O PROBLEMA DE PESQUISA
 1 O PROBLEMA DE PESQUISA 1.1. Introdução Desde a edição do clássico artigo de Modigliani e Miller (1958), uma expressiva quantidade de trabalhos acadêmicos sobre o tema da estrutura de capital foi publicada
1 O PROBLEMA DE PESQUISA 1.1. Introdução Desde a edição do clássico artigo de Modigliani e Miller (1958), uma expressiva quantidade de trabalhos acadêmicos sobre o tema da estrutura de capital foi publicada
Gráfico 1: Evolução da produção de bens de consumo durável e não durável no Brasil ( )
 1 Introdução No recente processo de recuperação da economia brasileira, evidências apontam para uma sensibilidade diferenciada a juros de segmentos distintos do consumo. Após o início do ciclo de relaxamento
1 Introdução No recente processo de recuperação da economia brasileira, evidências apontam para uma sensibilidade diferenciada a juros de segmentos distintos do consumo. Após o início do ciclo de relaxamento
RELAÇÕES COM INVESTIDORES. 4º Trimestre de Resultados Tupy. Relações com Investidores Março / 2017
 4º Trimestre de 2016 Resultados Tupy Relações com Investidores dri@tupy.com.br Março / 2017 1 DISCLAIMER Esta Apresentação pode conter declarações prospectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas,
4º Trimestre de 2016 Resultados Tupy Relações com Investidores dri@tupy.com.br Março / 2017 1 DISCLAIMER Esta Apresentação pode conter declarações prospectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas,
AS MODERNAS TEORIAS DO INVESTIMENTO:UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE SUAS DIFICULDADES
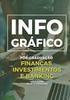 Referência deste trabalho: ISSN 1676-0085 CASAGRANDE, Elton Eustaqui; CEREZETTI, Fernando Valvano. As modernas teorias do investimento: uma perspectiva histórica de suas dificuldades. In: Anais do VII
Referência deste trabalho: ISSN 1676-0085 CASAGRANDE, Elton Eustaqui; CEREZETTI, Fernando Valvano. As modernas teorias do investimento: uma perspectiva histórica de suas dificuldades. In: Anais do VII
Restrições Financeiras aos Investimentos Fixos de Empresas Brasileiras de Capital Aberto Listadas em Bolsas de Valores no Período de 1995 a 2003
 Mario José Soares Esteves Filho Restrições Financeiras aos Investimentos Fixos de Empresas Brasileiras de Capital Aberto Listadas em Bolsas de Valores no Período de 1995 a 2003 Dissertação de Mestrado
Mario José Soares Esteves Filho Restrições Financeiras aos Investimentos Fixos de Empresas Brasileiras de Capital Aberto Listadas em Bolsas de Valores no Período de 1995 a 2003 Dissertação de Mestrado
Estrutura Ótima de Capital
 Estrutura Ótima de Capital Estrutura de Capital Objetivo dos gestores: maximizar o valor de mercado da empresa (V): V = D + CP Mas qual a relação ótima entre CP (capital próprio) e D (dívida com terceiros)?
Estrutura Ótima de Capital Estrutura de Capital Objetivo dos gestores: maximizar o valor de mercado da empresa (V): V = D + CP Mas qual a relação ótima entre CP (capital próprio) e D (dívida com terceiros)?
Fluxo de Caixa, ADRs e Restrições de Crédito no Brasil
 Vol. 5, No.2 Vitória-ES, Mai Ago 2008 p. 144-151 ISSN 1807-734X DOI: http://dx.doi.org/10.15728/bbr.2008.5.2.4 Fluxo de Caixa, ADRs e Restrições de Crédito no Brasil Cristiano M. Costa Department of Economics,
Vol. 5, No.2 Vitória-ES, Mai Ago 2008 p. 144-151 ISSN 1807-734X DOI: http://dx.doi.org/10.15728/bbr.2008.5.2.4 Fluxo de Caixa, ADRs e Restrições de Crédito no Brasil Cristiano M. Costa Department of Economics,
Capítulo 12. Tema 10: Análise das demonstrações contábeis/financeiras: noções iniciais. Noções de Contabilidade para Administradores EAC 0111
 1 Capítulo 12 Tema 10: Análise das demonstrações contábeis/financeiras: noções iniciais Noções de Contabilidade para Administradores EAC 0111 Prof: Márcio Luiz Borinelli Monitor: Wilson Tarantin Junior
1 Capítulo 12 Tema 10: Análise das demonstrações contábeis/financeiras: noções iniciais Noções de Contabilidade para Administradores EAC 0111 Prof: Márcio Luiz Borinelli Monitor: Wilson Tarantin Junior
4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM
 4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM Carvalho et al. (2015: cap. 6) 06/05/2019 1 Monetaristas Como reação à síntese neoclássica e a crença no trade-off estável
4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM Carvalho et al. (2015: cap. 6) 06/05/2019 1 Monetaristas Como reação à síntese neoclássica e a crença no trade-off estável
Fernando Martins Lisboa, Portugal
 Fernando Martins Banco de Portugal Departamento de Estudos Económicos +351 21 313 03 78 Av. Almirante Reis, 71-6. o andar fmartins@bportugal.pt 1150-012 Lisboa, Portugal Formação académica Instituto Superior
Fernando Martins Banco de Portugal Departamento de Estudos Económicos +351 21 313 03 78 Av. Almirante Reis, 71-6. o andar fmartins@bportugal.pt 1150-012 Lisboa, Portugal Formação académica Instituto Superior
3 Metodologia. Lucro empresa privada = a + b Valorização Ibovespa
 3 Metodologia Segundo a metodologia de Aswath Damodaran 15, a avaliação de empresas de capital fechado possui, porque a informação disponível para avaliação é limitada e as empresas fechadas não possuem
3 Metodologia Segundo a metodologia de Aswath Damodaran 15, a avaliação de empresas de capital fechado possui, porque a informação disponível para avaliação é limitada e as empresas fechadas não possuem
4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM
 4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM Carvalho et al. (2015: cap. 6) 07/11/2018 1 Monetaristas Como reação à síntese neoclássica e a crença no trade-off estável
4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM Carvalho et al. (2015: cap. 6) 07/11/2018 1 Monetaristas Como reação à síntese neoclássica e a crença no trade-off estável
EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2016
 EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2016 Professor Fernando Rugitsky Tópico 2: Demanda agregada, oferta agregada e ciclos econômicos [4 aulas] FEA/USP PLANO 1. O modelo IS-LM 2. Oferta agregada e concorrência
EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2016 Professor Fernando Rugitsky Tópico 2: Demanda agregada, oferta agregada e ciclos econômicos [4 aulas] FEA/USP PLANO 1. O modelo IS-LM 2. Oferta agregada e concorrência
Aula 7. Fluxo de caixa. Professor: Cleber Almeida de Oliveira. slide 1
 Aula 7 Fluxo de caixa Professor: Cleber Almeida de Oliveira slide 1 slide 2 Figura 1 - Fluxos de caixa Elaboração da demonstração dos fluxos de caixa A demonstração dos fluxos de caixa resume o fluxo de
Aula 7 Fluxo de caixa Professor: Cleber Almeida de Oliveira slide 1 slide 2 Figura 1 - Fluxos de caixa Elaboração da demonstração dos fluxos de caixa A demonstração dos fluxos de caixa resume o fluxo de
1 Introdução. 1.1 Modelo de informação completa fator de impostos
 1 Introdução A política de distribuição de dividendos têm despertado o interesse de economistas do século passado, e nas últimas cinco décadas foi objeto de uma intensa modelagem teórica e de testes empíricos.
1 Introdução A política de distribuição de dividendos têm despertado o interesse de economistas do século passado, e nas últimas cinco décadas foi objeto de uma intensa modelagem teórica e de testes empíricos.
1E207 - MACROECONOMIA II
 LICENCIATURA EM ECONOMIA (2009-0) E207 - MACROECONOMIA II Exame de Recurso (2 de Julho de 200) Duração: h (escolha múltipla) + h30 (exercícios). As respostas às questões de escolha múltipla serão recolhidas
LICENCIATURA EM ECONOMIA (2009-0) E207 - MACROECONOMIA II Exame de Recurso (2 de Julho de 200) Duração: h (escolha múltipla) + h30 (exercícios). As respostas às questões de escolha múltipla serão recolhidas
PESQUISA EM MERCADO DE CAPITAIS. Prof. Patricia Maria Bortolon, D. Sc.
 PESQUISA EM MERCADO DE CAPITAIS Prof. Patricia Maria Bortolon, D. Sc. Cap. 14 Versões não Convencionais do Modelo de Formação de Preços de Ativos ELTON, E.; GRUBER, M.; BROWN, S., GOETZMANN, W. Moderna
PESQUISA EM MERCADO DE CAPITAIS Prof. Patricia Maria Bortolon, D. Sc. Cap. 14 Versões não Convencionais do Modelo de Formação de Preços de Ativos ELTON, E.; GRUBER, M.; BROWN, S., GOETZMANN, W. Moderna
RELAÇÕES COM INVESTIDORES. 3º Trimestre de Resultados Tupy. Relações com Investidores Novembro / 2017
 3º Trimestre de 2017 Resultados Tupy Relações com Investidores dri@tupy.com.br Novembro / 2017 1 DISCLAIMER Esta Apresentação pode conter declarações prospectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas,
3º Trimestre de 2017 Resultados Tupy Relações com Investidores dri@tupy.com.br Novembro / 2017 1 DISCLAIMER Esta Apresentação pode conter declarações prospectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas,
Investimento e Financiamento: um enfoque sobre empresas de capital aberto. Elton Eustáquio Casagrande e Alexandre Sartoris 1
 Investimento e Financiamento: um enfoque sobre empresas de capital aberto Elton Eustáquio Casagrande e Alexandre Sartoris 1 Resumo O objetivo do artigo é analisar a presença de restrição financeira nas
Investimento e Financiamento: um enfoque sobre empresas de capital aberto Elton Eustáquio Casagrande e Alexandre Sartoris 1 Resumo O objetivo do artigo é analisar a presença de restrição financeira nas
12 Flutuações de Curto Prazo
 12 Flutuações de Curto Prazo Flutuações Econômicas de Curto Prazo A atividade econômica flutua de ano para ano. Em quase todos os anos, a produção aumenta. Nem toda flutuação é causada por variação da
12 Flutuações de Curto Prazo Flutuações Econômicas de Curto Prazo A atividade econômica flutua de ano para ano. Em quase todos os anos, a produção aumenta. Nem toda flutuação é causada por variação da
DIVIDENDOS E OUTROS PAYOUTS ESTV-IPV
 DIVIDENDOS E OUTROS PAYOUTS ESTV-IPV Comportamento dos preços à volta da data Ex-Dividend Date Num mercado perfeitamente eficientemente, o preço das acções cairá pelo montante de dividendos na data exdividendo.
DIVIDENDOS E OUTROS PAYOUTS ESTV-IPV Comportamento dos preços à volta da data Ex-Dividend Date Num mercado perfeitamente eficientemente, o preço das acções cairá pelo montante de dividendos na data exdividendo.
O uso de Máquina de Suporte Vetorial para Regressão (SVR) na Estimação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros do Brasil 12
 1 Introdução No Brasil, o grande aumento na adesão a planos de previdência privada nos últimos tempos implicou em maiores preocupações de bancos e seguradoras em fazer investimentos visando garantir o
1 Introdução No Brasil, o grande aumento na adesão a planos de previdência privada nos últimos tempos implicou em maiores preocupações de bancos e seguradoras em fazer investimentos visando garantir o
CONTEÚDO DA AULA DE HOJE
 CONTEÚDO DA AULA DE HOJE POLÍTICA DE DIVIDENDOS: FUNDAMENTOS DOS DIVIDENDOS RELEVÂNCIA DA POLÍTICA DE DIVIDENDOS FATORES QUE AFETAM A POLÍTICA DE DIVIDENDOS TIPOS DE POLÍTICAS DE DIVIDENDOS CRESCIMENTO
CONTEÚDO DA AULA DE HOJE POLÍTICA DE DIVIDENDOS: FUNDAMENTOS DOS DIVIDENDOS RELEVÂNCIA DA POLÍTICA DE DIVIDENDOS FATORES QUE AFETAM A POLÍTICA DE DIVIDENDOS TIPOS DE POLÍTICAS DE DIVIDENDOS CRESCIMENTO
Sumário Resumido. PARTE I Avaliação da Saúde Financeira da Empresa 1. PARTE IV Avaliando Oportunidades de Investimento 245
 Sumário Resumido PARTE I Avaliação da Saúde Financeira da Empresa 1 Capítulo 1 Interpretação de Demonstrações Financeiras 3 Capítulo 2 Avaliação do Desempenho Financeiro 37 PARTE II Planejamento do Desempenho
Sumário Resumido PARTE I Avaliação da Saúde Financeira da Empresa 1 Capítulo 1 Interpretação de Demonstrações Financeiras 3 Capítulo 2 Avaliação do Desempenho Financeiro 37 PARTE II Planejamento do Desempenho
Avaliação Financeira de Empresas e Empreendimentos Imobiliários
 Curso de Especialização em Gerenciamento da Construção Civil Avaliação Financeira de Empresas e Empreendimentos Imobiliários Prof. MSC Miguel Adriano Gonçalves 1- Funções da administração financeira Setor
Curso de Especialização em Gerenciamento da Construção Civil Avaliação Financeira de Empresas e Empreendimentos Imobiliários Prof. MSC Miguel Adriano Gonçalves 1- Funções da administração financeira Setor
EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2017
 EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2017 Professor Fernando Rugitsky Tópico 2: Demanda agregada, oferta agregada e ciclos econômicos [6 aulas] FEA/USP PLANO 1. O modelo IS-LM 2. Oferta agregada e concorrência
EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2017 Professor Fernando Rugitsky Tópico 2: Demanda agregada, oferta agregada e ciclos econômicos [6 aulas] FEA/USP PLANO 1. O modelo IS-LM 2. Oferta agregada e concorrência
MOEDA, TAXAS DE JUROS E TAXAS DE CÂMBIO TÓPICOS DO CAPÍTULO
 MOEDA, TAXAS DE JUROS E TAXAS DE CÂMBIO R e f e r ê n c i a : C a p. 15 d e E c o n o m i a I n t e r n a c i o n a l : T e o r i a e P o l í t i c a, 1 0 ª. E d i ç ã o P a u l R. K r u g m a n e M a
MOEDA, TAXAS DE JUROS E TAXAS DE CÂMBIO R e f e r ê n c i a : C a p. 15 d e E c o n o m i a I n t e r n a c i o n a l : T e o r i a e P o l í t i c a, 1 0 ª. E d i ç ã o P a u l R. K r u g m a n e M a
Faculdade de Ciências e Letras Campus Araraquara Departamento de Economia
 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Faculdade de Ciências e Letras Campus Araraquara Departamento de Economia CRÉDITO EMPRESARIAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA DÉCADA DE 2000 E DOS EFEITOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Faculdade de Ciências e Letras Campus Araraquara Departamento de Economia CRÉDITO EMPRESARIAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA DÉCADA DE 2000 E DOS EFEITOS
DISCIPLINA: ANALISE DE INVESTIMENTOS AULA 1
 DISCIPLINA: ANALISE DE INVESTIMENTOS AULA 1 Assunto: conceitos fundamentais Prof Ms Keilla Lopes Graduada em Administração pela UEFS Especialista em Gestão Empresarial pela UEFS Mestre em Administração
DISCIPLINA: ANALISE DE INVESTIMENTOS AULA 1 Assunto: conceitos fundamentais Prof Ms Keilla Lopes Graduada em Administração pela UEFS Especialista em Gestão Empresarial pela UEFS Mestre em Administração
Demanda Agregada salários e preços rígidos
 Demanda Agregada salários e preços rígidos Arranjos institucionais salários são periodicamente e não continuamente. revistos (1) comum em suporte para a rigidez de preços: custos associados com mudanças
Demanda Agregada salários e preços rígidos Arranjos institucionais salários são periodicamente e não continuamente. revistos (1) comum em suporte para a rigidez de preços: custos associados com mudanças
Painel Estrutura de Capital: Estado-da- Arte e Desdobramentos Futuros
 Painel Estrutura de Capital: Estado-da- Arte e Desdobramentos Futuros Paulo Renato Soares Terra PPGA/EA/UFRGS CNPQ XXXVI ENANPAD 23-26/09/2012 Tese e Estágio Pesquisador Sênior Tese de Doutorado TERRA
Painel Estrutura de Capital: Estado-da- Arte e Desdobramentos Futuros Paulo Renato Soares Terra PPGA/EA/UFRGS CNPQ XXXVI ENANPAD 23-26/09/2012 Tese e Estágio Pesquisador Sênior Tese de Doutorado TERRA
Parte 2 Fundamentos macroeconômicos Sessão 2
 Parte 2 Fundamentos macroeconômicos Sessão 2 Reinaldo Gonçalves Sumário 1. Demanda efetiva 2. Pensamento Keynesiano 3. Pensamento Kaleckiano 4. Monetarismo 5. Economia Novo-clássica 6. Modelos de ciclos
Parte 2 Fundamentos macroeconômicos Sessão 2 Reinaldo Gonçalves Sumário 1. Demanda efetiva 2. Pensamento Keynesiano 3. Pensamento Kaleckiano 4. Monetarismo 5. Economia Novo-clássica 6. Modelos de ciclos
Economia Industrial. Prof. Marcelo Matos. Aula 2
 Economia Industrial Prof. Marcelo Matos Aula 2 Das críticas ao modelo tradicional ao desenvolvimento da Organização Industrial Azevedo, cap.8; Sraffa, 1926; Ferguson, cap.10; Sraffa (1926) Busca mostrar
Economia Industrial Prof. Marcelo Matos Aula 2 Das críticas ao modelo tradicional ao desenvolvimento da Organização Industrial Azevedo, cap.8; Sraffa, 1926; Ferguson, cap.10; Sraffa (1926) Busca mostrar
Notas de Aula do Curso de Análise Macroeconômica VI - Ibmec. Professor Christiano Arrigoni Coelho
 Notas de Aula do Curso de Análise Macroeconômica VI - Ibmec Professor Christiano Arrigoni Coelho Vamos agora nos aprofundar na discussão sobre se a estabilização do produto e do desemprego é ou não um
Notas de Aula do Curso de Análise Macroeconômica VI - Ibmec Professor Christiano Arrigoni Coelho Vamos agora nos aprofundar na discussão sobre se a estabilização do produto e do desemprego é ou não um
4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM
 4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM Carvalho et al. (2015: cap. 6) 10/10/2018 1 Monetaristas Como reação à síntese neoclássica e a crença no trade-off estável
4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM Carvalho et al. (2015: cap. 6) 10/10/2018 1 Monetaristas Como reação à síntese neoclássica e a crença no trade-off estável
Decisões de Financiamentos e Estrutura de Capital. Custo de Capital
 Decisões de Financiamentos e Estrutura de Capital Custo de Capital Objetivos 1. Compreender as hipóteses básicas subjacentes ao custo de capital, seu conceito fundamental e as fontes específicas de capital
Decisões de Financiamentos e Estrutura de Capital Custo de Capital Objetivos 1. Compreender as hipóteses básicas subjacentes ao custo de capital, seu conceito fundamental e as fontes específicas de capital
de Empresas e Projetos
 Avaliação de Empresas e Projetos MBA em Finanças as Habilitação Finanças as Corporativas Projeções de Fluxos de Caixa e Taxas de crescimento Processo de análise Análise da performance histórica Projeção
Avaliação de Empresas e Projetos MBA em Finanças as Habilitação Finanças as Corporativas Projeções de Fluxos de Caixa e Taxas de crescimento Processo de análise Análise da performance histórica Projeção
Os resultados obtidos nos permitem algumas conclusões:
 1 Introdução Este trabalho visa propor e analisar, no contexto de modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral com rigidez de preços (daqui em diante denominados modelos neo-keynesianos), possíveis
1 Introdução Este trabalho visa propor e analisar, no contexto de modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral com rigidez de preços (daqui em diante denominados modelos neo-keynesianos), possíveis
Além disso, o modelo apresenta significativa correlação entre as variáveis independentes, o que pode ter contribuído para aumentar artificialmente o
 82 5. CONCLUSÃO EVA é uma medida que avalia o desempenho das empresas em termos de geração de valor para os acionistas. Segundo O Byrne (1999), o objetivo básico do EVA é criar uma medida periódica de
82 5. CONCLUSÃO EVA é uma medida que avalia o desempenho das empresas em termos de geração de valor para os acionistas. Segundo O Byrne (1999), o objetivo básico do EVA é criar uma medida periódica de
3 Análise das comissões pagas aos coordenadores do IPO
 3 Análise das comissões pagas aos coordenadores do IPO Para investigar se empréstimos pré-ipo são instrumentos de investimento em relacionamento entre bancos e firmas ou instrumentos para viabilizar IPOs
3 Análise das comissões pagas aos coordenadores do IPO Para investigar se empréstimos pré-ipo são instrumentos de investimento em relacionamento entre bancos e firmas ou instrumentos para viabilizar IPOs
SEM0530 Problemas de Engenharia Mecatrônica II
 SEM0530 Problemas de Engenharia Mecatrônica II Prof. Marcelo A. Trindade Departamento de Engenharia Mecânica Escola de Engenharia de São Carlos - USP Sala 2º andar Prédio Engenharia Mecatrônica (ramal
SEM0530 Problemas de Engenharia Mecatrônica II Prof. Marcelo A. Trindade Departamento de Engenharia Mecânica Escola de Engenharia de São Carlos - USP Sala 2º andar Prédio Engenharia Mecatrônica (ramal
EXERCÍCIO 1 DE FIXAÇÃO. 1 Associe o segmento de estudo em finanças com o seu objeto de estudo:
 EXERCÍCIO 1 DE FIXAÇÃO 1 Associe o segmento de estudo em finanças com o seu objeto de estudo: MF Mercado Financeiro FC Finanças Corporativas FP Finanças Pessoais (FC) Estuda os mecanismos das decisões
EXERCÍCIO 1 DE FIXAÇÃO 1 Associe o segmento de estudo em finanças com o seu objeto de estudo: MF Mercado Financeiro FC Finanças Corporativas FP Finanças Pessoais (FC) Estuda os mecanismos das decisões
FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO: FAGEN41029 COMPONENTE CURRICULAR: Gestão Financeira e Valor de Empresas e Regionalidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO: FAGEN41029 COMPONENTE CURRICULAR: Gestão Financeira e Valor de Empresas e Regionalidade
1T06 1T05 Var % 491,7 422,4 16,4% 37,7 27,2 38,5%
 RESULTADOS DO 1T06 São Paulo, 26 de abril 2006 A Natura Cosméticos S.A. (Bovespa: NATU3) anuncia hoje os resultados do primeiro trimestre de 2006 (1T06). As informações financeiras e operacionais a seguir,
RESULTADOS DO 1T06 São Paulo, 26 de abril 2006 A Natura Cosméticos S.A. (Bovespa: NATU3) anuncia hoje os resultados do primeiro trimestre de 2006 (1T06). As informações financeiras e operacionais a seguir,
Vitor Mizumoto Analista de Investimentos CNPI
 Avaliação de Ações FEA USP- RP Maio de 2017 Vitor Mizumoto Analista de Investimentos CNPI 1 Introdução Quem utiliza: Para que utiliza: Ferramentas: Sell Side (Bancos/Corretoras) Buy Side (Fundos de Investimento)
Avaliação de Ações FEA USP- RP Maio de 2017 Vitor Mizumoto Analista de Investimentos CNPI 1 Introdução Quem utiliza: Para que utiliza: Ferramentas: Sell Side (Bancos/Corretoras) Buy Side (Fundos de Investimento)
Gerenciamento de Risco
 Gerenciamento de Risco Felipe Iachan EPGE Finanças Corporativas, Graduação, 2012 Gerenciamento de risco Riscos inerentes às atividades. Prevenção e distribuição. Modigliani e Miller, novamente: Papel da
Gerenciamento de Risco Felipe Iachan EPGE Finanças Corporativas, Graduação, 2012 Gerenciamento de risco Riscos inerentes às atividades. Prevenção e distribuição. Modigliani e Miller, novamente: Papel da
SUMÁRIO. Parte I Fundamentos de Finanças, 1. Prefácio, xv. Links da web, 32 Sugestões de leituras, 32 Respostas dos testes de verificação, 33
 SUMÁRIO Prefácio, xv Parte I Fundamentos de Finanças, 1 1 Introdução às Finanças Corporativas, 2 1.1 Como evoluíram as finanças das empresas, 4 1.2 As novas responsabilidades da administração financeira,
SUMÁRIO Prefácio, xv Parte I Fundamentos de Finanças, 1 1 Introdução às Finanças Corporativas, 2 1.1 Como evoluíram as finanças das empresas, 4 1.2 As novas responsabilidades da administração financeira,
7 ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE
 7 ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE 7.1 Não use barômetro para medir temperatura Na vida cotidiana usamos diferentes instrumentos de acordo com os diferentes objetivos que temos, ou seja, usamos termômetro para
7 ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE 7.1 Não use barômetro para medir temperatura Na vida cotidiana usamos diferentes instrumentos de acordo com os diferentes objetivos que temos, ou seja, usamos termômetro para
DEMANDA POR MOEDA FNC-IE-UNICAMP
 DEMANDA POR MOEDA Ideia Básica Monetarista: Controle da Oferta de Moeda face à Estabilidade da Demanda por Moeda Motivos da Demanda por Moeda e Preferência pela Liquidez em Keynes Ideia Básica Não adianta
DEMANDA POR MOEDA Ideia Básica Monetarista: Controle da Oferta de Moeda face à Estabilidade da Demanda por Moeda Motivos da Demanda por Moeda e Preferência pela Liquidez em Keynes Ideia Básica Não adianta
EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2018
 EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2018 Professor Fernando Rugitsky Tópico 2: Demanda agregada, oferta agregada e ciclos econômicos [6 aulas] FEA/USP PLANO 1. O modelo IS-LM 2. Oferta agregada e concorrência
EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2018 Professor Fernando Rugitsky Tópico 2: Demanda agregada, oferta agregada e ciclos econômicos [6 aulas] FEA/USP PLANO 1. O modelo IS-LM 2. Oferta agregada e concorrência
CUSTO DE CAPITAL. Visão geral do custo de capital 12/03/2015. Prof. Dr. Osiris Marques
 MBA em Controladoria e Finanças Universidade Federal Fluminense Gestão Financeira de Empresas Aula 7 Prof. Dr. Osiris Marques Março/2015 CUSTO DE CAPITAL Visão geral do custo de capital O custo de capital
MBA em Controladoria e Finanças Universidade Federal Fluminense Gestão Financeira de Empresas Aula 7 Prof. Dr. Osiris Marques Março/2015 CUSTO DE CAPITAL Visão geral do custo de capital O custo de capital
DFC DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
 DFC DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA Base Legal CPC 03 e Seção 07 da NBC TG 1.000 O presente auto estudo embasará os conceitos e procedimentos técnicos contemplados no CPC 03 (IFRS Integral) e na Seção 07
DFC DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA Base Legal CPC 03 e Seção 07 da NBC TG 1.000 O presente auto estudo embasará os conceitos e procedimentos técnicos contemplados no CPC 03 (IFRS Integral) e na Seção 07
3. Sobre as 5 Forças de Porter é correto dizer:
 Quizz #1 ESTRATÉGIA - GABARITO 1. Qual das alternativas abaixo é incorreta sobre a matriz SWOT da VW? a) Uma fraqueza da empresa é a crescente pressão para utilização de transporte público frente a crise
Quizz #1 ESTRATÉGIA - GABARITO 1. Qual das alternativas abaixo é incorreta sobre a matriz SWOT da VW? a) Uma fraqueza da empresa é a crescente pressão para utilização de transporte público frente a crise
Tema: Estimar um modelo para medir o risco sistemático das carteiras no mercado brasileiro utilizando o fator mercado e medidas de liquidez.
 Aluno: Rafael Milanesi Caldeira Professor Orientador: Adriana Bruscato Bortoluzzo Tema: Estimar um modelo para medir o risco sistemático das carteiras no mercado brasileiro utilizando o fator mercado e
Aluno: Rafael Milanesi Caldeira Professor Orientador: Adriana Bruscato Bortoluzzo Tema: Estimar um modelo para medir o risco sistemático das carteiras no mercado brasileiro utilizando o fator mercado e
1. Introdução II. Técnicas de Orçamento de Capital III. Estimativa dos Fluxos de Caixa
 FEA - USP Graduação Ciências Contábeis EAC0511 Profa. Joanília Cia Tema 07 Decisões de Investimento e Orçamento de Capital 7. Decisões Estratégicas de Investimentos:Orçamento de Capital 1. Introdução II.
FEA - USP Graduação Ciências Contábeis EAC0511 Profa. Joanília Cia Tema 07 Decisões de Investimento e Orçamento de Capital 7. Decisões Estratégicas de Investimentos:Orçamento de Capital 1. Introdução II.
Macro VI: Intermediação financeira e análise macroeconômica. Professor Christiano Arrigoni
 Macro VI: Intermediação financeira e análise macroeconômica Professor Christiano Arrigoni Motivação Essa aula é baseada em Woodford (JEP, 2010) A crise do subprime mostrou que variações de preços de ativos
Macro VI: Intermediação financeira e análise macroeconômica Professor Christiano Arrigoni Motivação Essa aula é baseada em Woodford (JEP, 2010) A crise do subprime mostrou que variações de preços de ativos
2 Conteúdo Informacional da Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil
 2 Conteúdo Informacional da Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil No Brasil, o conteúdo informacional da curva de juros é ainda um assunto muito pouco explorado. O objetivo desta seção é explorar
2 Conteúdo Informacional da Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil No Brasil, o conteúdo informacional da curva de juros é ainda um assunto muito pouco explorado. O objetivo desta seção é explorar
MACROECONOMIA I - 1E201 Licenciatura em Economia 2011/2012. Normas e indicações: 1E201, 2º Teste 15 Novembro 2011, 16h45. 2º Teste - 15 Novembro 2011
 MACROECONOMIA I - 1E201 Licenciatura em Economia 2011/2012 2º Teste - 15 Novembro 2011 Normas e indicações: A prova tem a duração de 70 minutos. Não é permitida a consulta de elementos de estudo e não
MACROECONOMIA I - 1E201 Licenciatura em Economia 2011/2012 2º Teste - 15 Novembro 2011 Normas e indicações: A prova tem a duração de 70 minutos. Não é permitida a consulta de elementos de estudo e não
6. Demanda por Moeda no Modelo Monetarista 6.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM
 6. Demanda por Moeda no Modelo Monetarista 6.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM Carvalho et al. (2015: cap. 6) 27/10/2017 1 Monetaristas Os monetaristas reformulam a teoria quantitativa
6. Demanda por Moeda no Modelo Monetarista 6.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM Carvalho et al. (2015: cap. 6) 27/10/2017 1 Monetaristas Os monetaristas reformulam a teoria quantitativa
Normas Internacionais de Avaliação. IVS Negócios e Participações em Negócios
 Normas Internacionais de Avaliação IVS 200 - Negócios e Participações em Negócios Agenda Norma e Abrangência Implementação, Relatório e Data de Entrada em Vigor Definições Negócios Direito de Propriedade
Normas Internacionais de Avaliação IVS 200 - Negócios e Participações em Negócios Agenda Norma e Abrangência Implementação, Relatório e Data de Entrada em Vigor Definições Negócios Direito de Propriedade
de Dividendos na Prática? Modelo de dividendo IV. Como se dá o estabelecimento de Política V. Outros aspectos a serem levados em Clientela
 FEA - USP Graduação Ciências Contábeis EAC0511 Administração Financeira) Profa. Joanília Cia Tema 06 Dividendos A empresa deve: distribuir dividendos ou reter lucro para reinvestimento? Qual a proporção
FEA - USP Graduação Ciências Contábeis EAC0511 Administração Financeira) Profa. Joanília Cia Tema 06 Dividendos A empresa deve: distribuir dividendos ou reter lucro para reinvestimento? Qual a proporção
Estrutura de Capital
 Estrutura de Capital Estrutura de Capital Capital de Terceiros 25% Capital Próprio 50% Capital de Terceiros 50% Capital Próprio 75% Estrutura de Capital AC PC RLP Capital de Terceiros (exigível) AP Capital
Estrutura de Capital Estrutura de Capital Capital de Terceiros 25% Capital Próprio 50% Capital de Terceiros 50% Capital Próprio 75% Estrutura de Capital AC PC RLP Capital de Terceiros (exigível) AP Capital
Introdução Introdução
 Introdução 14 1 Introdução A metodologia de fluxo de caixa descontado (FCD), emergiu como melhor prática para avaliação de empresas em meados dos anos 70, estabelecendo a técnica de Valor Presente Líquido
Introdução 14 1 Introdução A metodologia de fluxo de caixa descontado (FCD), emergiu como melhor prática para avaliação de empresas em meados dos anos 70, estabelecendo a técnica de Valor Presente Líquido
O que é risco de negócio? Decisões de Estrutura de Capital: Conceitos Básicos
 Decisões de Estrutura de Capital: Conceitos Básicos Prof. Antonio Lopo Martinez Risco do negócio vs. risco financeiro Teoria da estrutura de capital Exemplo de fluxo de caixa perpétuo Estabelecendo a estrutura
Decisões de Estrutura de Capital: Conceitos Básicos Prof. Antonio Lopo Martinez Risco do negócio vs. risco financeiro Teoria da estrutura de capital Exemplo de fluxo de caixa perpétuo Estabelecendo a estrutura
Moeda, taxas de juros e taxas de câmbio
 Moeda, taxas de juros e taxas de câmbio Referência: Cap. 15 de Economia Internacional: Teoria e Política, 6ª. Edição Paul R. Krugman e Maurice Obstfeld Economia Internacional II - Material para aulas (3)
Moeda, taxas de juros e taxas de câmbio Referência: Cap. 15 de Economia Internacional: Teoria e Política, 6ª. Edição Paul R. Krugman e Maurice Obstfeld Economia Internacional II - Material para aulas (3)
é maior (menor) do que zero. Assim, o multiplicador em (c) será maior se b 1 é grande (investimento é sensível à renda),
 EAE-06 Teoria Macroeconômica I Prof. Márcio I. Nakane Lista de Exercícios 3 IS - Gabarito. Blanchard, cap. 5, exercício, (a) O produto de equilíbrio é: = [ ][c c 0 c T + I + G] O multiplicador é [ ]. c
EAE-06 Teoria Macroeconômica I Prof. Márcio I. Nakane Lista de Exercícios 3 IS - Gabarito. Blanchard, cap. 5, exercício, (a) O produto de equilíbrio é: = [ ][c c 0 c T + I + G] O multiplicador é [ ]. c
UMA INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE GESTÃO ABSOLUTA E RELATIVA DE INVESTIMENTOS. Ney Roberto Ottoni de Brito
 UMA INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE GESTÃO ABSOLUTA E RELATIVA DE INVESTIMENTOS Ney Roberto Ottoni de Brito Junho 2005 I. INTRODUÇÃO Este trabalho objetiva apresentar os conceitos de gestão absoluta e de gestão
UMA INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE GESTÃO ABSOLUTA E RELATIVA DE INVESTIMENTOS Ney Roberto Ottoni de Brito Junho 2005 I. INTRODUÇÃO Este trabalho objetiva apresentar os conceitos de gestão absoluta e de gestão
Decisões de Financiamentos e Estrutura de Capital. Professor: Francisco Tavares
 Decisões de Financiamentos e Estrutura de Capital Professor: Francisco Tavares RISCO E RETORNO Definição de risco Em administração e finanças, risco é a possibilidade de perda financeira. Os ativos (reais
Decisões de Financiamentos e Estrutura de Capital Professor: Francisco Tavares RISCO E RETORNO Definição de risco Em administração e finanças, risco é a possibilidade de perda financeira. Os ativos (reais
Investimento / PIB 1,0% 4,0% FBCF / PIB 20,8% 19,4% Investimento / FBCF 4,7% 20,6%
 7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES Este trabalho pretendeu entender o comportamento do investimento em ativo imobilizado das companhias abertas com ações negociadas em bolsa no período entre 1987 e 2002 através
7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES Este trabalho pretendeu entender o comportamento do investimento em ativo imobilizado das companhias abertas com ações negociadas em bolsa no período entre 1987 e 2002 através
ELE2005: Análise Estratégica de Investimentos e de Decisões com Teoria dos Jogos e Jogos de Opções Reais.
 ELE2005: Análise Estratégica de Investimentos e de Decisões com Teoria dos Jogos e Jogos de Opções Reais. Segunda Prova Extra (P2 de segunda chamada) 18/12/2006 OBS: 1) A prova é SEM CONSULTA. A nota da
ELE2005: Análise Estratégica de Investimentos e de Decisões com Teoria dos Jogos e Jogos de Opções Reais. Segunda Prova Extra (P2 de segunda chamada) 18/12/2006 OBS: 1) A prova é SEM CONSULTA. A nota da
Conclusões Conclusões
 Conclusões 97 6 Conclusões Este trabalho teve dois grupos de objetivos principais: (i) analisar criticamente as características teóricas dos modelos de avaliação de custo de capital próprio propostos para
Conclusões 97 6 Conclusões Este trabalho teve dois grupos de objetivos principais: (i) analisar criticamente as características teóricas dos modelos de avaliação de custo de capital próprio propostos para
Testes de Hipóteses para. uma Única Amostra. Objetivos de Aprendizagem. 9.1 Teste de Hipóteses. UFMG-ICEx-EST-027/031 07/06/ :07
 -027/031 07/06/2018 10:07 9 ESQUEMA DO CAPÍTULO 9.1 TESTE DE HIPÓTESES 9.2 TESTES PARA A MÉDIA DE UMA DISTRIBUIÇÃO NORMAL, VARIÂNCIA CONHECIDA 9.3 TESTES PARA A MÉDIA DE UMA DISTRIBUIÇÃO NORMAL, VARIÂNCIA
-027/031 07/06/2018 10:07 9 ESQUEMA DO CAPÍTULO 9.1 TESTE DE HIPÓTESES 9.2 TESTES PARA A MÉDIA DE UMA DISTRIBUIÇÃO NORMAL, VARIÂNCIA CONHECIDA 9.3 TESTES PARA A MÉDIA DE UMA DISTRIBUIÇÃO NORMAL, VARIÂNCIA
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa Programa de Mestrado Profissional em Economia
 Insper Instituto de Ensino e Pesquisa Programa de Mestrado Profissional em Economia Flavio Lopes Lima DEMANDA POR INVESTIMENTO EM SITUAÇÕES DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A ESTRUTURA DE
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa Programa de Mestrado Profissional em Economia Flavio Lopes Lima DEMANDA POR INVESTIMENTO EM SITUAÇÕES DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A ESTRUTURA DE
CONCEITOS FUNDAMENTAIS
 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ECONOMETRIA É a aplicação de métodos estatísticos e matemáticos na análise de dados econômicos com o propósito de dar conteúdo empírico a teorias econômicas e confirmá-las ou não.
CONCEITOS FUNDAMENTAIS ECONOMETRIA É a aplicação de métodos estatísticos e matemáticos na análise de dados econômicos com o propósito de dar conteúdo empírico a teorias econômicas e confirmá-las ou não.
6 Construção das Curvas de Juros Revisão da Literatura
 6 Construção das Curvas de Juros 6.1. Revisão da Literatura (Nelson & Siegel, 1987) contribuíram para a literatura sobre curva de juros ao proporem um modelo parcimonioso de decomposição da curva básica
6 Construção das Curvas de Juros 6.1. Revisão da Literatura (Nelson & Siegel, 1987) contribuíram para a literatura sobre curva de juros ao proporem um modelo parcimonioso de decomposição da curva básica
INTRODUÇÃO À FINANÇAS CORPORATIVAS
 INTRODUÇÃO À FINANÇAS CORPORATIVAS OBJETIVO GERAL Identificar e explicar alguns conceitos básicos de finanças corporativas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Discutir e identificar as 3 diferentes áreas de finanças;
INTRODUÇÃO À FINANÇAS CORPORATIVAS OBJETIVO GERAL Identificar e explicar alguns conceitos básicos de finanças corporativas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Discutir e identificar as 3 diferentes áreas de finanças;
O que será visto neste tópico...
 FEA -USP Graduação em Ciências Contábeis EAC0511-2014/2 Turma 01 Profa. Joanília Cia 1. Introdução Tema 01 Introdução I. Evolução de Finanças II. Questões de Finanças x Oquestões Oportunidades de Carreira
FEA -USP Graduação em Ciências Contábeis EAC0511-2014/2 Turma 01 Profa. Joanília Cia 1. Introdução Tema 01 Introdução I. Evolução de Finanças II. Questões de Finanças x Oquestões Oportunidades de Carreira
Artigo ECONOMIA MONETÁRIA I [A] 24/3/2005 PROF. GIÁCOMO BALBINOTTO NETO [UFRGS] 1. Demanda de Moeda por Especulação O Modelo de James Tobin (1958)
![Artigo ECONOMIA MONETÁRIA I [A] 24/3/2005 PROF. GIÁCOMO BALBINOTTO NETO [UFRGS] 1. Demanda de Moeda por Especulação O Modelo de James Tobin (1958) Artigo ECONOMIA MONETÁRIA I [A] 24/3/2005 PROF. GIÁCOMO BALBINOTTO NETO [UFRGS] 1. Demanda de Moeda por Especulação O Modelo de James Tobin (1958)](/thumbs/54/34033134.jpg) Demanda de Moeda por Especulação O Modelo de James Tobin (1958) Prof. Giácomo Balbinotto Neto UFRGS/FCE 25 Artigo Tobin, James (1958). Liquidity Preference as a Behaviour Toward Risk. Review of Economics
Demanda de Moeda por Especulação O Modelo de James Tobin (1958) Prof. Giácomo Balbinotto Neto UFRGS/FCE 25 Artigo Tobin, James (1958). Liquidity Preference as a Behaviour Toward Risk. Review of Economics
Tecnologia em Gestão Financeira. Decisões Financeiras I
 Tecnologia em Gestão Financeira Decisões Financeiras I Prof. Lélis Pedro de Andrade Iº Semestre 2012 Formiga - MG Planejamento, Tipos e Fontes de Financiamento de Longo Prazo e Crescimento da Empresa Ross,
Tecnologia em Gestão Financeira Decisões Financeiras I Prof. Lélis Pedro de Andrade Iº Semestre 2012 Formiga - MG Planejamento, Tipos e Fontes de Financiamento de Longo Prazo e Crescimento da Empresa Ross,
3 Modelos de Precificação por Arbitragem
 3 Modelos de Precificação por Arbitragem Na literatura de finanças, duas abordagens opostas para modelos de precificação de ativos podem ser destacadas - modelos de equilíbrio geral e modelos de equilíbrio
3 Modelos de Precificação por Arbitragem Na literatura de finanças, duas abordagens opostas para modelos de precificação de ativos podem ser destacadas - modelos de equilíbrio geral e modelos de equilíbrio
PROV O ECONOMIA. Questão nº 1. Padrão de Resposta Esperado:
 Questão nº a) A redução da alíquota do depósito compulsório libera mais recursos para os bancos emprestarem à sociedade, aumentando a oferta de moeda e deslocando a curva LM para a direita. A maior oferta
Questão nº a) A redução da alíquota do depósito compulsório libera mais recursos para os bancos emprestarem à sociedade, aumentando a oferta de moeda e deslocando a curva LM para a direita. A maior oferta
Banco Industrial do Brasil S.A. Gerenciamento de Riscos de Capital
 Banco Industrial do Brasil S.A. Gerenciamento de Riscos de Capital 2014 Sumário 1. INTRODUÇÃO... 3 2. OBJETIVO... 3 3. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL... 4 4. PLANO DE CAPITAL... 7 2 1. Introdução
Banco Industrial do Brasil S.A. Gerenciamento de Riscos de Capital 2014 Sumário 1. INTRODUÇÃO... 3 2. OBJETIVO... 3 3. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL... 4 4. PLANO DE CAPITAL... 7 2 1. Introdução
Gestão Financeira. Plano de Aula - 12 Aulas (Aulas de 1 hora)
 6640 - Gestão Financeira Plano de Aula - 12 Aulas (Aulas de 1 hora) Aula 1 Capítulo 1 - Introdução 1. I ntrodução...25 1.1. Controle Financeiro...30 1.2. Projeção Financeira...30 1.3. Responsabilidade
6640 - Gestão Financeira Plano de Aula - 12 Aulas (Aulas de 1 hora) Aula 1 Capítulo 1 - Introdução 1. I ntrodução...25 1.1. Controle Financeiro...30 1.2. Projeção Financeira...30 1.3. Responsabilidade
Avaliação Distribuída 2º Mini-Teste (30 de Abril de h30) Os telemóveis deverão ser desligados e guardados antes do início do teste.
 LICENCIATURA EM ECONOMIA MACROECONOMIA II LEC 206 (2006-2007) Avaliação Distribuída 2º Mini-Teste (30 de Abril de 2007 16h30) Duração: 60 minutos Não é permitida qualquer forma de consulta. Os telemóveis
LICENCIATURA EM ECONOMIA MACROECONOMIA II LEC 206 (2006-2007) Avaliação Distribuída 2º Mini-Teste (30 de Abril de 2007 16h30) Duração: 60 minutos Não é permitida qualquer forma de consulta. Os telemóveis
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA. Ênfase em Banking (Economia e Finanças Bancárias) MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA - ÊNFASE BANKING 1.
 MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA Ênfase em Banking (Economia e Finanças Bancárias) MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA - ÊNFASE BANKING 1 vire aqui DISCIPLINAS MATEMÁTICA Esta disciplina tem como objetivo
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA Ênfase em Banking (Economia e Finanças Bancárias) MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA - ÊNFASE BANKING 1 vire aqui DISCIPLINAS MATEMÁTICA Esta disciplina tem como objetivo
