Investimento e Financiamento no Brasil *
|
|
|
- Sabrina Penha Escobar
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Investimento e Financiamento no Brasil - 1 Investimento e Financiamento no Brasil * Elton Eustáquio Casagrande 1 Sumário: 1. Introdução; 2. A economia brasileira, ; 3. Os modelos empíricos do investimento; 4. Financiamento no Brasil; 5. O modelo; 6. Resultados e observações finais. Palavras-chave: investimento; financiamento; assimetria de informações; modelos de investimento. Código JEL: 1. Introdução O tema deste trabalho é o estudo do financiamento empresarial no Brasil na primeira metade da década de 90. Dada a importância inclusive histórica do autofinanciamento para as empresas brasileiras, objetivamos identificar as variáveis que financiaram o investimento de 596 empresas brasileiras nossa amostra entre 1990 e Aplicamos os modelos de investimento desenvolvidos por Fazzari, Hubbard & Petersen (1988) e Fazzari & Petersen (1993) que revelaram, tanto quando aplicados à economia americana quanto a outras economias, a importância do financiamento interno como prova empírica da hipótese da assimetria de informações. Neste trabalho tratamos da relação financiamento-investimento buscando identificar a origem dos recursos investidos pelas empresas entre 1990 e 1994, no Brasil, período marcado por grandes transformações no marco regulatório da economia. A metodologia adotada foi: na seção um introduzimos o contexto da economia brasileira no início da década de 90. Na seção dois resenhamos a teoria do investimento, avaliando qual versão, entre os modelos, melhor se adequaria a ser testada no Brasil. Na seção três debatemos dois estudos econométricos que abordam o financiamento do investimento no Brasil. O primeiro realizado em 1986, a partir de uma amostra de empresas para o período de 1970 a 1976, e o segundo realizado por nós, a partir de uma amostra fornecida pela SERASA 2. Com o respaldo da discussão metodológica da seção dois e das evidências reunidas, concluímos o artigo fazendo duas avaliações: uma teórica e outra empírica. A primeira sobre a escolha do modelo de investimento mais adequado para aplicação à amostra SERASA e a segunda sobre as evidências tanto em relação aos estudos feitos anteriormente no Brasil quanto aos estudos internacionais. 2. A economia brasileira, A observação das alterações do contexto econômico e político são essenciais na investigação tanto do comportamento do investimento quanto no estudo do financiamento, sobretudo quando o ritmo e o volume de investimentos passam a depender exclusivamente do setor privado. A natureza da decisão na esfera privada é singular por sua sensibilidade às condições econômicas futuras, as quais determinam o sucesso dos empreendimentos. Contrastando com a decisão da esfera privada, a esfera pública coloca em movimento o investimento definido por políticas de desenvolvimento, servindo de estímulo às decisões empresariais privadas, uma vez que o gasto público é um dos componentes da demanda efetiva. As expectativas futuras exercem, nesse caso, menos efeitos sobre os gastos privados. O gasto público, por sua vez, favorece a formação de expectativas otimistas e colabora com o clima de crescimento. Porém, em situações de rompimento da política de formação e expansão industrial conduzida pelo Estado, o in- * Texto elaborado a partir da tese de doutorado orientada pelo prof. dr. Luiz Carlos Bresser Pereira (FGV/SP). Também contei com a orientação do prof. dr. Steven M. Fazzari, da Washington University (Bolsa CAPES). 1 Professor do Departamento de Economia da Unesp Campus Araraquara. 2 SERASA empresa especialista em análise e em informações econômico-financeiras e cadastrais.
2 Investimento e Financiamento no Brasil - 2 vestimento privado perde seu escudeiro na determinação da lógica do mercado. Nesse momento, a decisão privada revela sua sensibilidade, isto é, sua capacidade de adequação, podendo responder a situações favoráveis ou incubar projetos aguardando o momento mais propício. O início da década de 90 foi marcado pelo completo redirecionamento da lógica do financiamento do investimento produtivo privado, uma vez que a abertura comercial, implantada pelo governo Collor, não teve como contrapartida a implantação de uma política que favorecesse o fortalecimento da indústria nacional, muito menos de uma política creditícia. Em que pese as ponderações sobre os benefícios de uma política industrial e o custo de uma política de proteção de mercado, a constatação das pressões impostas às empresas produtivas pela concorrência mostra um desequilíbrio entre a tentativa de estabilização e a manutenção da capacidade financeira das mesmas em um ambiente de escassez de crédito como foi o período O rompimento com o padrão de financiamento estatal e a ausência de uma intervenção que redefinisse o sistema de crédito no Brasil impuseram a continuação da forma de autofinanciamento das empresas. O padrão de financiamento que vigorou até o final da década de 80 conjugou a poupança externa e a estatal de modo a financiar a expansão das atividades produtivas. A decisiva participação do Estado, através da sua poupança e da proteção ao mercado interno, combinada com poupança externa, caracteriza uma forma de financiamento muito freqüente nos períodos iniciais do desenvolvimento. É marcante, no entanto, a mudança do padrão de financiamento que vigorou na década de 80 em relação à de 70. Nos anos 80, o Estado sepultou os planos de desenvolvimento e dedicou-se quase que exclusivamente às discussões sobre formulações de políticas de estabilização e ajuste estrutural. Enquanto a poupança do setor privado cresceu, a do setor público retraiu-se. Nos anos 90, como consolidação das mudanças ocorridas na década anterior, a participação do Estado na poupança total foi negativa. Os investimentos que na década de 70 dependeram do governo foram bastante reduzidos em 80, recuperando-se somente a partir de 95. O investimento, se perdeu prioridade na esfera pública coincidentemente com a perda da capacidade de investimento do Estado e a fragilidade da moeda, foi, por outro lado, questão sempre decisiva para as empresas, tornando-se decisão estratégica a partir de A economia, depois de 1990, sofreu mudanças profundas, delineadas pelo ajuste fiscal, pela abertura comercial e pela elevada taxa de juros, que tiveram efeito recessivo, marcadamente entre 1990 e A produção industrial do país, segundo dados do IBGE, tomando por base a evolução do índice de base fixa, cai 18,13% entre 1989 e 1992 e 8,71% entre 1989 e 1993, recuperando-se somente em 1994, quando atinge o mesmo desempenho de 1989, a despeito da política de abertura comercial que reduziu drasticamente as tarifas médias de importação. A abertura comercial, utilizada como instrumento de competição, pressionou a capacidade de autofinanciamento das empresas, limitando os reajustes de preços dos produtos nacionais. Se uma empresa precisava então de crédito para capital de giro ou outra forma de financiamento, como as taxas de juros eram bastante elevadas, para suportá-las havia necessidade de um processo inflacionário duradouro, para que a empresa pudesse repassar a seus preços o custo daquele financiamento. A tentativa das empresas, até a implantação da U.R.V., foi sempre de indexar os preços pelo indexador que apresentava maior índice, buscando assim eliminar ao máximo o custo financeiro do capital obtido, possibilidade que a abertura comercial limitou. Com juros altos e disponibilidade de crédito somente a curto prazo, não havia muitas alternativas para financiamento, seja para investimentos seja para capital de giro. O efeito prático dessa política econômica praticada entre 1990 e 1994 foi provocar
3 Investimento e Financiamento no Brasil - 3 prejuízos para as empresas, verificáveis nas publicações especializadas em negócios. A taxa de lucro, para as maiores S.A.s, foi negativa entre 90 e 92. Analisando-se os dados de 596 empresas (grandes, médias e pequenas) da amostra, cedidos pela SERASA, verifica-se que entre elas se observa o mesmo desempenho, ou seja, prejuízo entre 1991 e 93. Segundo sondagens conjunturais realizadas anualmente entre 1990 e 94 pela revista Conjuntura Econômica, a principal fonte de recursos para financiar o investimento no período foi o lucro. Classicamente, os recursos com que uma empresa pode contar correspondem aos lucros e à depreciação acumulados. No período, o estoque de recursos de financiamento reduziu-se à depreciação. Os prejuízos registrados pelas empresas de nossa amostra afetaram significativamente, portanto, a capacidade de investimento dessas empresas. A década de 90 é marcada por choques de modernidade na administração reengenharia e, em particular, na produção. A imposição de certificações como as das ISO forçou as empresas a investirem em qualidade e eficiência, dispensando outros objetivos. Essa questão merece especial atenção uma vez que a produtividade na economia aumenta significativamente a partir dos anos Discutir, portanto, o financiamento na economia brasileira tem sua importância na medida que a competição externa combinada com a recessão reduziu a capacidade de geração de recursos das empresas. O sistema financeiro brasileiro não é organizado para oferecer créditos de longo prazo, sendo este apenas possível pelo sistema do BNDES. Em termos macroeconômicos, o financiamento por meio do mercado de capitais é insignificante no país. O autofinanciamento foi, por décadas e independentemente da ação do Estado, vital enquanto fonte de recursos para as empresas. A ocorrência da taxa de lucro negativa no período 91-93, segundo a amostra SERASA, elimina a hipótese de que a perspectiva de lucro tenha orientado qualquer decisão de investimento. Sendo os lucros uma fonte de recursos importante para o financiamento, as empresas, naquele período, não puderam contar com essa opção. Outras possibilidades de financiamento, segundo dados da sondagem, como empréstimos de longo prazo, aumento de capital, novas emissões e venda de ativos, foram pouco relevantes. Em que pese a importância do relacionamento entre o mercado de crédito e de capitais com as empresas no Brasil, é pouco significativa a participação de fundos externos de longo prazo no financiamento das empresas. Isso pode significar, por um lado, uma forte evidência do racionamento de crédito existente na economia brasileira, ou uma indesejabilidade das empresas em financiarem-se naquelas condições. Bresser Pereira (1993) mostrou que nos anos 70 a diferença representada pelo cushion pad entre as taxas de lucro e juros estimularam a decisão de investir. Na década de 90, o cushion pad invertido, ou seja, uma diferença muito grande entre as respectivas taxas de lucro e juros favorável à última desincentivaram, por sua vez, os investimentos. Tabela 1 - Remuneração nas aplicações e custo efetivo dos empréstimos (% real a.a.) ANO INFLAÇÃO OVER CDB CAP. GIRO DESC. DUPL Fonte: Banco Central do Brasil 3 Ver Bresser Pereira, 1996, p. 92.
4 Investimento e Financiamento no Brasil - 4 A tabela 1 mostra a inflação anual e os custos de financiamento reais ao ano. As colunas 3 e 4 apresentam os rendimentos percentuais ao ano dos títulos públicos (coluna 3) e privados (coluna 4). As colunas 5 e 6 apresentam o custo de captação de empréstimos para capital de giro e desconto de duplicatas. Os depósitos a vista recebiam juros e correção monetária e tinham liquidez imediata. O alto custo de captação de recursos a curto prazo eram repassados aos preços dos produtos vendidos, estabelecendo um ciclo vicioso inflacionário. Em tempos críticos como no início da década de 90, Bresser Pereira (1990) demonstrou que os juros tiveram maior relevância para os empresários frente à decisão de investimento. Adicionalmente, as severas limitações de crédito e as evidências de prejuízos empresariais nos anos de 1990 a 1994 levantaram a questão sobre qual forma de financiamento deveriam as empresas adotar para investir no período. Investigar a forma de financiamento no Brasil implica realizar uma reflexão sobre a estruturação de modelos empíricos do investimento. 3. Os modelos empíricos do investimento Historicamente os modelos empíricos do investimento, como o do acelerador, o neoclássico e o de liquidez, foram testados a partir de informações financeiras das empresas. Autores de diferentes linhas como Meyer & Kuh (1957), Hall & Jorgenson (1967), Jorgenson & Siebert (1968), Elliot (1973), entre outros, investigaram os determinantes do investimento organizando cada um a sua amostra, com variados números de empresas. O modelo neoclássico considera os fundos externos como perfeitos substitutos aos fundos internos das firmas. A aceitação do teorema Modigliani & Miller (1958 e 1961) faz o gasto de investimento ser explicado pelas variáveis reais, como os preços e a tecnologia, e trata com absoluta independência as relações com o mercado de capitais e de crédito. Com essa formulação, Jorgenson provou que o coeficiente da variável vendas é dominante e estatisticamente relevante para explicar o comportamento do investimento. As firmas escolhem o quanto produzir sob a noção de mercados em concorrência perfeita, vendendo a oferta que criam. As expectativas de vendas das firmas têm, portanto, um importante impacto sobre o gasto de investimento. Em termos econométricos, essa variável predomina sobre outras que possam vir a ser incluídas na equação, sendo assim subjacente ao modelo proposto por Clark (1917), apud Chirinko (1993). Segundo Fazzari & Petersen (1993), as versões derivadas do acelerador, como a da teoria neoclássica, têm sido utilizadas com excelentes resultados, porém os fortes efeitos do acelerador têm dificultado uma avaliação mais realista do próprio modelo. Na versão neoclássica, o custo de capital afeta o investimento somente através de variáveis que também incluem as vendas. Não se pode separar os efeitos de vendas e do custo de capital sobre o investimento e tratá-los independentemente do ponto de vista da política econômica. Na expectativa de um volume de vendas maior, a empresa ajusta seu estoque de capital sempre que a taxa de retorno do investimento seja, no mínimo, igual ao custo de capital, representado pela taxa de juros. O resultado econométrico favorável do modelo neoclássico continha um viés que fundamentou ao mesmo tempo que expressou todo o significado da firma representativa. Apoiava-se na seleção de grandes firmas cujo comportamento representativo era exclusivo de uma parte privilegiada da amostra em relação à população das firmas, conferindo aos autores neoclássicos a condição de afirmar que as firmas comportavam-se de acordo com o teorema MM. Embora Elliot (1973) tenha revertido os resultados neoclássicos recuperando os
5 Investimento e Financiamento no Brasil - 5 argumentos apresentados por Meyer & Kuh (1957) de que a condição de liquidez das firmas afetava o gasto de investimento 4, o conceito de firma representativa ainda predominava ocultando as diferenças financeiras entre as empresas. O aspecto comum entre os trabalhos neoclássicos e aqueles de sua época cujas abordagens eram alternativas era a aceitação do conceito de firma representativa. O modelo econométrico é aplicado para todas as firmas, desconsiderando suas características financeiras. Assim, os testes não poderiam identificar se a sensibilidade do investimento em relação às variáveis financeiras diferiam entre as várias firmas. A versão recente da teoria do investimento apostava que o modelo neoclássico, consistindo em uma versão moderna do acelerador, escondia uma relação fatal à teoria neoclássica, em função da aceitação do conceito de firma representativa. Ao supor que o crescimento das vendas devia-se à política de maximização de lucros que, assim, estimulava a firma a ajustar seu nível ótimo de capital, ocultou uma outra relação, ou seja, strong accelerator effects have clouded the empirical evaluation of the neoclassical model because many versions of the neoclassical approach allow the cost of capital to affect investment only through variables that also include sales or output. (Fazzari, 1993, p. 18) O impacto das vendas pode, nesse sentido, estar sendo subestimado, enquanto que o impacto do custo do capital, por outro lado, pode estar sendo superestimado. A implicação primeira é que a não separação dos efeitos pode dar à abordagem neoclássica mais crédito do que lhe é devido e, em segundo lugar, causar grandes danos aos agentes econômicos, se a política econômica for orientada sobre tal indeterminação. Em termos de determinação, além do benefício da separação de elementos como vendas de elementos como custo de capital, outras variáveis oriundas dos estudos rejeitados pelos critérios neoclássicos, sendo testados novamente em condições de concorrência imperfeita, puderam contribuir para o entendimento do comportamento do investimento. Firmas em diferentes condições financeiras teriam também condições diferentes de financiamento, seja nos mercados de crédito, como mostraram Stiglitz & Weiss (1981 ) e Stiglitz (1992), seja nos mercados de capitais (Myers & Majluf, 1984). Houve necessidade de romper com o conceito de firma representativa, postulando-se no lugar um outro conceito, denominado de hierarquia financeira (Fazzari et alli, 1988). Este conceito teria sentido se a presença de informações assimétricas fosse verificada. Para tanto, a equação neoclássica do investimento testada com a introdução das variáveis financeiras deveria revelar uma sensibilidade muito diferente entre as variáveis financeiras e o investimento entre grupos de firmas. Fazzari et alli (1988) provam, ao utilizar diversas versões do modelo do acelerador, a relevância das variáveis de liquidez (lucros + depreciação), principalmente para certas classes de firmas dentro da amostra total aquelas que, segundo a hipótese dos autores, estariam mais suscetíveis ao racionamento de crédito devido à assimetria, ou seja, as firmas com baixo grau de distribuição de dividendos. Essa classe estaria informando ao mercado a necessidade de reter dividendos para se financiar devido às restrições encontradas por elas no mercado de capitais. Procurando superar as dúvidas deixadas pelo trabalho de Fazzari et alli (1988), especialmente aquelas relativas ao significado da variável cash flow funcionar como uma proxy das mudanças na demanda do investimento, Fazzari & Petersen (1993) testaram a hipótese do capital circulante líquido servir como fonte de recursos para 4 A indefinição em determinar se um ou outro modelo é mais adequado, em termos econométricos, para identificar as variáveis financiadoras do gasto de investimento é explicada por Fazzari, Hubbard & Petersen, 1988, p
6 Investimento e Financiamento no Brasil - 6 financiar o investimento 5. Embora o modelo Q tenha tido esta função, são muitas as críticas em relação à sua confiabilidade. A introdução do capital circulante cumpriria, assim, uma função estratégica, como veremos 6. O capital circulante é conhecido amplamente pela sua função mantenedora das atividades produtivas de curto prazo, sendo extremamente sensível às flutuações do cash flow (lucros + depreciação) e às vendas. A firma administra-o de acordo com a sua necessidade de liquidez, principalmente diante das necessidades operacionais, flutuações da demanda e despesas inesperadas. A reversibilidade do capital de giro contrapõe-se à irreversibilidade do capital fixo, permitindo às firmas estabelecerem um trade-off, contraindo-o para subsidiar os gastos com investimentos fixos. Em geral a rentabilidade das operações de uma firma determinará a taxa de expansão desse recurso e sua resistência em épocas de crise econômica. Em princípio, a rentabilidade do capital do giro relaciona-se inversamente com seu volume, porque os recursos de curto prazo normalmente são remunerados a uma taxa menor do que os de longo prazo. Inversamente, um elevado volume de capital de giro reduziria a rentabilidade dos ativos de uma firma, dado que o capital fixo é mais rentável do que o circulante. Se o parâmetro da variação do capital circulante fosse estatisticamente relevante, então os autores poderiam resolver duas questões: 1. que o cash flow não está funcionando como uma proxy da demanda por investimento; 2. que o capital circulante, tendo sinal negativo na equação do investimento, concorre com o investimento fixo, expondo assim o grau de racionamento de crédito enfrentado pelas empresas em relação a suas classes de distribuição de dividendos. Firmas com baixo grau de distribuição deveriam depender muito mais da contração do capital circulante líquido do que firmas com alto grau de distribuição de dividendos para investir. Mudanças no capital circulante estão positivamente relacionadas com os lucros, produto e ciclos econômicos. Então, se o capital circulante líquido funciona como uma proxy a efeitos omissos da demanda por investimento, seu coeficiente deveria ser positivo e deveria reduzir o coeficiente do cash flow na equação. Porém, o coeficiente do capital circulante teve sinal negativo no estudo de Fazzari & Petersen (1993) e quando presente na equação do investimento não afetou o coeficiente do cash flow. Estudos como os de Hoshi, Kashyap & Scharfstein (1991), Schaller (1993), Hu & Schiantarelli (1994) e Hubbard, Kashyap & Whited (1995), entre outros, testaram a importância de fatores financeiros para o gasto de investimento. A versão de Fazzari & Petersen (1993) foi, entretanto, pouco explorada. Acreditamos que para o caso brasileiro essa versão seja a mais apropriada para revelar o grau de racionamento de crédito enfrentado pelas empresas, em função da inexistência de mecanismos e fontes de financiamento de longo prazo, derivados do padrão de financiamento e da alta inflação então vigentes. Assim, quanto maior a necessidade de recursos provenientes do capital circulante líquido maior a evidência de necessidade de financiamentos por parte das empresas. 4. Financiamento no Brasil Entre as poucas abordagens econométricas feitas sobre o financiamento do investimento no Brasil, na década passada, destacamos a de Filardo (1986). Filardo (1986) investigou uma função de demanda por investimento a partir de uma amostra de 314 empresas, para o período de 1970 a 1977, obtida através do CADEC (Cadastro Especial de Contribuintes). Fazem parte da amostra empresas de diversos setores da 5 Capital de giro é definido como a diferença entre o ativo e o passivo circulante do período corrente. 6 A amostra utilizada nesse estudo contou com 48 firmas, de 1970 a 1984, com elevado grau de retenção de dividendos, oriundas da base de dados do artigo de Fazzari et alli (1988).
7 Investimento e Financiamento no Brasil - 7 indústria da transformação. A autora estimou a função de investimento proposta por Eisner (1978), para o qual o investimento é uma função de duas variáveis independentes e suas defasagens: vendas e lucratividade. A relação básica proposta foi do investimento como função das vendas e das taxas de lucros que foram estimadas segundo vários níveis de agregação e formas de mensuração, através de regressão. As agregações foram propostas para firma, média das firmas e média da indústria. Os resultados mais significativos foram obtidos através da estimativa da função investimento para a média da firma; a cross-section das médias das firmas entre indústrias apontaram.542 para a taxa de crescimento das vendas e.0042 para a sua defasada; para os lucros do período e.939 para os lucros passados; o R 2 foi de.46 e o teste F, Com exceção da taxa de crescimento das vendas defasadas em um período, todas as demais tiveram significância a 1%. A variável, taxa de crescimento das vendas nos períodos t e t -1, foi significante e positivamente relacionada com o investimento 7. Para a autora, a taxa de crescimento das vendas no momento atual e passado é um indicador para a firma de sua participação no mercado e traz informações sobre a demanda futura pelos seus produtos. Logo, esta é a razão pela qual a taxa de crescimento das vendas está correlacionada positivamente com o investimento. (Filardo, 1986, p. 71) Quanto aos lucros em t e t -1, É possível concluir que o fato da taxa de lucro em t -1 ter sinal positivo e em t, sinal negativo, indica que as duas variáveis não estão entrando como uma proxi de lucros futuros esperados por causa da inversão de sinal. (Filardo, 1986, p. 71) Estudos de outra natureza, como as sondagens realizadas pela Conjuntura Econômica, apontam sistematicamente, desde os anos 70, a predominância do autofinanciamento do investimento produtivo para um grupo de grandes empresas no Brasil. Estudos de natureza financeira, como o realizado por Zonneschain (1998), mostram que para uma amostra de 216 empresas da indústria de transformação, de capital aberto, selecionadas pelo critério de maior volume de ações negociadas na Bolsa de Valores de 1989 a 96, o autofinanciamento foi decisivo em 5 dos 8 anos estudados. O número de empresas da amostra não é constante. Logo, a autora não tem a prioridade de acompanhar a evolução do mesmo grupo de empresas ao longo do tempo. São empresas que mantêm uma relação muito próxima com os investidores do mercado de capitais. As decisões estratégicas dessas empresas influenciam os preços de seus títulos e sua capacidade de obter financiamento através da emissão acionária. Apesar do grau de interação com o mercado e da fluidez de suas informações, a fonte principal de financiamento não foram as emissões. A questão que tal evidência suscita é como as empresas no Brasil se financiam, especialmente quando constata-se um volume grande de prejuízos, como os registrados entre 1990 e 1994? Procurando avaliar a sensibilidade do investimento às variáveis financeiras para uma amostra de 596 empresas no Brasil, testaremos dois modelos, a exemplo do que fizeram Fazzari et alli (1988) e Fazzari & Petersen (1993). Logo, poderemos avaliar se os lucros foram importantes para os investimentos no início da década, como foram no estudo de Filardo (1986). Em segundo lugar, acreditamos que a introdução da variável 7 Outros sets de resultados obtidos com desagregação à nível de 5 gêneros da indústria confirmam os resultados da taxa de crescimento das vendas e da lucratividade a nível agregado (isto é, para uma combinação de todas as firmas, em todos os anos, em todas as indústrias).
8 Investimento e Financiamento no Brasil - 8 contração do capital circulante revelará mais sobre o comportamento do financiamento empresarial no Brasil. 5. O modelo As empresas que compõem a amostra são classificadas como empresas grandes (155) e empresas pequenas e médias (441) dos setores industrial, comercial e de serviços, totalizando 596 empresas 8. É esperado que o parâmetro da variável VCG tenha sinal negativo nos testes realizados e que a contração do capital circulante seja mais importante para o grupo das pequenas e médias empresas (PME) do que para as grandes empresas (exclusivamente de capital aberto). Nossas hipóteses derivam de duas circunstâncias: no Brasil, mesmo as empresas de capital aberto, que divulgam suas informações no mercado de capitais, não têm amenizados problemas decorrentes das imperfeições de um mercado de capitais em desenvolvimento. O racionamento de crédito no Brasil é predominante e não exclusivo de certos grupos de empresas. Indicando X a generalização de qualquer uma das variáveis, investimento, lucros etc., e t o índice do ano, Xt será a observação da variável X no t-ésimo ano. O número de observações de cada variável X por ano será: N - Xt = 596. n= 1 5 N O número total de observações de cada variável X, entre 1990 e 1994, será: = 5x596 = nt1 n= 1 Xt O modelo I de demanda por investimento estimado pelo método dos mínimos quadrados tem a seguinte forma: CAPt / K = St / K + St 1 / K + CFt / K + CFt 1 / K + γ + e (I), onde: CAP t /K t = Investimento no período S t /K t = Vendas no período S t-1 /K t = Vendas defasadas em um período CF t = Lucros + Depreciação CF t-1 = Defasagem de CF γ = Variáveis dummies e = Erro K = Estoque de capital no início do período O modelo I tem uma grande proximidade com aquele testado por Filardo (1986). Enquanto a autora utilizou o investimento como a diferença do valor do imobilizado de um período para outro, preferimos utilizar o dado de investimento oriundo da demonstração de origens e aplicações de recursos. No cálculo, a autora não especifica a dedução da depreciação. Subentende-se que de alguma forma ela deve ter eliminado esse valor. Em nosso estudo estamos trabalhando com o fluxo de investimento contratado. Outra modificação consiste na soma dos lucros à depreciação para formar o es- 8 SERASA.
9 Investimento e Financiamento no Brasil - 9 toque de recursos, que não deixam o caixa e que servem para financiar a compra de ativos. Finalmente, a autora mantém o intercepto da estimação e, dada a sua metodologia de estimação, utilizando critérios através de médias, não pôde padronizar as médias das variáveis. Admitindo um comportamento semelhante entre as diversas empresas, desconsideraremos o intercepto na estimação. Também padronizamos as médias das variáveis, no sentido de forçar a média em zero para todas elas. O modelo II identifica as variáveis responsáveis pela variação do capital de giro: VCGt = CFt / Kt + St / Kt + CGt / Kt (II), e (IIA) onde: CG t = Capital circulante líquido. No modelo (IIA) suprimimos a variável CG. A soma total de investimentos, em capital circulante líquido e fixo, conformam o modelo IIB: I t = CF t /K t + S t (IIB). Seguindo a metodologia de Fazzari & Petersen (1993), utilizaremos o método dos mínimos quadrados de dois estágios para testar o modelo III. Com o método dos mínimos quadrados de dois estágios, incorporamos a variação do capital circulante líquido, obtendo o modelo III: CAPt / K = St / K + St 1 / K + CFt / K + CFt 1 / K + VCGt / K + γ + e (III) onde: VCG t /K = Variação do Capital de Giro. 6. Resultados e observações finais Em termos de comportamento, verifica-se que as PME distribuíram sistematicamente dividendos. As GDE de capital aberto não adotaram tal prática e quando o fizeram acentuaram os prejuízos. 44,7% das PME registraram prejuízos enquanto entre as grandes 50,8% o fizeram. A variação negativa do capital de giro aconteceu para 45,6% das PME, enquanto essa variação ocorreu para 50,2% das grandes. De acordo com a hipótese de que a variação do capital de giro fornece uma condição de financiamento para as firmas, a variância da taxa de investimento fixo deve ser menor que a variância do capital de giro e do cash flow. Empiricamente constatou-se que o desvio padrão da taxa de investimento (1.089) é 78,4% menor do que o do cash flow (5.06), que por sua vez é 4,2% menor que o do capital de giro (5.28), para o grupo das PME. No caso das grandes, o desvio padrão da taxa de investimento (0.37) é 15,9% menor do que o do cash flow (0.44), que por sua vez, é 24,1% menor do que o desvio da variação do capital de giro (0.58). A elevada oscilação da variação do capital de giro em relação às outras variáveis prova que é o recurso mais contraído quando o investimento ocorre seguido do CF. A reversibilidade do capital de giro compensa a falta de recursos de longo prazo como fonte de financiamento. O modelo de regressão I tabela 2, de estrutura semelhante à de Filardo (1986), não teve desempenho adequado, principalmente dado o valor de R 2, que é irrelevante nos modelos IB e IC. O parâmetro de CF não é estatisticamente relevante no modelo IA, e só ganha relevância quando a variável vendas é excluída. A exclusão das defasagens também melhora o desempenho de CF. A não exclusão da variável vendas assegura um poder explicativo maior do teste, conforme se pode deduzir da comparação entre os modelos IA e IC com o modelo IB.
10 Investimento e Financiamento no Brasil - 10 Tabela 2 Estimativa da função investimento Variável dependente: investimento 9 Variáveis independentes Modelo com vendas I Modelo sem vendas IA Modelo sem defasagens IB S t- /K t (-6.013) (8.985) S t-1 /K t (7.822) CF t- /K t (-0.070) ( ) (-3.189) CF t-1 /K t (-4.463) ( ) R F N.OBS Estatísticas t entre parêntesis O insucesso do modelo I reforça a tese de que para períodos de inflação elevada, caracterizados pela realização de prejuízos líquidos para muitas empresas, recursos do capital circulante podem ter sido a opção de financiamento utilizada. As empresas mantinham, devido à alta inflação, um grande volume de recursos na forma líquida, remunerados diariamente a juro e correção monetária. Em outros casos, a especulação não se dava com as aplicações financeiras, mas com os estoques. Assim, diante de uma possibilidade ou necessidade de investimento, ocorria a contração de aplicações financeiras ou de estoques, gerando liquidez para aquisição de ativos permanentes. Por outro lado, apesar do elevado custo das fontes de curto prazo, era possível repassar tais custos aos preços, fechando o circuito de financiamento. Antes de testar a variável VCG na equação de demanda por investimentos, é necessário estimar seus determinantes. O modelo II, estimado abaixo, mostra que CF é estatisticamente relevante e principal determinante da variação do capital de giro. Quando uma firma tem lucro, ocorre aumento do capital circulante líquido. Como previmos anteriormente, o montante do capital circulante não está negativamente relacionado com sua variação porque os recursos disponíveis eram remunerados pelos bancos e devido à inflação as empresas ganhavam com a especulação da conta estoque. Tabela 3 Estimativa da função investimento em capital circulante e investimento total Variável independente Modelo II Modelo IIA Modelo IIB Variável dependente: variação do capital de giro Variável dependente: variação do capital de giro Variável dependente: investimento total (em ativos fixos e capital circulante) S t /K t (-8.417) (-3.171) (0.475) CF t /K t (88.440) ( ) (25.264) CG t /K t (16.908) R F N.OBS Estatísticas t entre parêntesis Como se observa, o modelo II é extremamente adequado e conforme o valor R 2 o modelo explica 85% do comportamento das firmas. Somando os investimentos em ativo fixo e capital circulante, produzimos o modelo IIB que, como se vê, é explicativo dado R 2. O resultado elevado de CF nesse modelo deve-se quase totalmente à aplicação do investimento em capital circulante e não em ativo imobilizado, considerando os 9 O modelo não é full-rank.
11 Investimento e Financiamento no Brasil - 11 resultados dos modelos II, IIA e IIB. Uma vez conhecidas as relações entre capital circulante, cash flow e variação do capital de giro, estimaremos os parâmetros das variáveis explicativas do investimento fixo. Na tabela 4 estimamos o modelo III, segundo a versão desenvolvida por Fazzari & Petersen (1993). Verifica-se que neste modelo a variável vendas tem parâmetros muito pequenos. A sua exclusão e de sua defasada não afetam o valor dos parâmetros de CF e VCG. Os lucros (0.69) e a variação do capital circulante (-0.55) são explicativos e estatisticamente relevantes. Como esperado, o sinal da variação do capital circulante líquido é negativo, mostrando que a decisão de investir em capital circulante concorre com a decisão de investir em ativos fixos. Quando observamos os grupos PME e GDE (pequenas/médias e grandes empresas), obtemos a confirmação da significância estatística da variação do capital circulante para as duas amostras. Como previmos, a contração do capital circulante é mais importante para o grupo das PME. Para essa amostra, o parâmetro de VCG foi (- 0.54) e do cash flow (0.70). O coeficiente das vendas, embora seja estatisticamente relevante, a 1% o valor do parâmetro é quase insignificante. Para as grandes empresas, encontramos apenas os coeficientes do capital circulante (-0.36) e das vendas (0.04) estatisticamente relevantes. As empresas nesse grupo são sensíveis à variabilidade do faturamento. Embora o parâmetro de VCG tenha sido menor para as GDE em relação às PME, confirma-se a relevância da contração do capital circulante líquido, principalmente para o conjunto da amostra, como aponta a tabela 4. Tabela 4 Estimativa da função investimento - 2 estágios Variável independente Modelo III com vendas Modelo IIIA sem vendas S t /K t (-5.990) S t-1 /K t (6.521) CF t /K t (8.047) (8.329) CF t-1 /K (2.797) (4.636) VCG t /K t (-8.599) (9.614) R F N.OBS Estatísticas t entre parêntesis. A teoria neoclássica afirma que o efeito de CF sobre o investimento deve ser interpretado como uma proxy para fatores que alteram a demanda por investimento, ao invés de servir de evidência de restrição financeira. Se isso é verdade, então a variação do capital circulante líquido, o qual é positivamente relacionado com os lucros e com vendas, deveria ter um sinal positivo na equação de demanda por investimento do modelo III, fato não observado. O valor de R 2, que poderia ser considerado baixo, sofre influências da heterogeneidade da amostra e, utilizando o método de dois estágios, não há consenso de sua importância 10. O sinal positivo do coeficiente do cash flow e o sinal negativo do coeficiente da variação do capital circulante líquido provam que os lucros não estão representando a lucratividade esperada. O coeficiente do capital circulante não perde relevância, muito menos importância, quando a variável vendas está no modelo. Com a relevância estatística do parâmetro do capital circulante líquido compro- 10 O artigo de Fazzari & Petersen (1993) nem o apresenta.
12 Investimento e Financiamento no Brasil - 12 vamos a restrição ao crédito, causa básica da incapacidade da economia em expandir emprego e renda. Mais do que fontes de longo prazo, os fatores que alimentam a liquidez das empresas, sobretudo das pequenas e médias, é que possibilitam uma expansão do investimento. As implicações da dependência da contração do capital circulante para investir colocaram a economia brasileira em uma situação estruturalmente frágil. Como o investimento em capital circulante concorre com os investimentos em ativos fixos, a contração do capital circulante para realizar investimentos reduz as garantias de solvência das firmas ao longo do ciclo de investimento. Nos períodos recessivos ocorre naturalmente a redução do capital circulante líquido. Logo, as firmas devem reduzir ou paralisar seus investimentos. Porém é difícil realizar o ajuste na proporção devida, considerando o custo de tal paralisação. De qualquer forma, a variável responsável pela proteção da solvência das empresas no Brasil, ao contrário das evidências internacionais, está comprometida com o aumento da capacidade produtiva da economia. Os efeitos negativos de um choque exógeno (como uma crise financeira) ou de uma política econômica restritiva são amplificados, causando um impacto maior do que o esperado sobre o emprego e a renda devido à sensibilidade do investimento para com as variáveis financeiras das empresas. Referências bibliográficas AKERLOF, G.A. The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism. Quarterly Journal of Economics, 1970, v. 84, n. 3, p BRESSER PEREIRA, L.C. Interest rate and investment decision in normal and excepcional times. Trabalho apresentado em conferência em Knoxville, Tennessee, julho de CANUTO, O. & FERREIRA, R.R. Assimetrias de informação e ciclos econômicos: Stiglitz é keynesiano? Ensaios FEE, 1999, n. 2, p CASAGRANDE, E.E. O investimento e o financiamento em tempos anormais: a decisão de investir e financiar no Brasil, Tese de Doutorado (Economia de Empresas) Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, CHIRINKO, R.S. Business fixed investment spending: modeling strategies, empirical results and policy implications. Journal of Economic Literature, 1993, v. 31, p CONJUNTURA ECONÔMICA, Rio de Janeiro, vários números. COPELAND, T., KOLLER, T. & MURRIN, J. Valuation: measuring and managing the value of companies. N.Y., Wiley, ELLIOT, W. Theories of corporate investment behavior revisited. American Economic Review, 1973, v. 63, p EXAME, São Paulo, vários números. FILARDO, M. L. R. O investimento das empresas brasileiras: uma avaliação empírica. São Paulo, Tese (Doutorado em Economia) Faculdade de Economia e Administração de São Paulo, USP. FAZZARI, S.M. & MOTT, T. The investment theories of Kalecki and Keynes: an empirical study of firm data, Journal of Post Keynesian Economics, , v. 9, n. 2, p FAZZARI, S.M., HUBBARD, G. & PETERSEN, B. Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1988, n. 1, p FAZZARI, S.M. Keynesian theories of investment: neo, post and new. Revista de Economia Política, 1989, v. 9, n. 4, p FAZZARI, S.M. & PETERSON, B. Working capital and fixed investment: new evidence on finance constraints. Randal Journal of Economics, 1993, v. 24, n. 3, p FAZZARI, S.M. & VARIATTO, A.M. Asymmetric information and keynesian theories of investment. Journal of Post Keynesian Economics, 1994, v. 16, n. 3, p FAZZARI, S.M. & VARIATTO, A.M. Varieties of keynesian investment theories: further reflections. Journal of Post Keynesian Economics, 1996, v. 18, n. 3, p GORDON, M. The neoclassical and a post keynesian theory of investment. Journal of Post Keynesian Economics, 1992, v. 14, n. 4, p GREENWALD, B. & STIGLITZ, J. Examining alternative macroeconomic theories. Brookings Papers on Economic Activity, 1988, v. 1, n. 1, p HALL, R. & JORGENSON, D. Tax policy and investment behavior. American Economic Review,
13 Investimento e Financiamento no Brasil , v. 57, p HOSHI, T., KASHYAP, A.K., & SCHARFSTEIN, D. Corporate structure, liquidity and investment: evidence from japanese industrial groups. Quarterly Journal of Economics, 1991, v. 106, p HUBBARD, G., GLENN, A. KASHYAP, A.K., & WHITED, T.M. Internal finance and firm investment. Journal of Money, Credit and Banking, 1995, v. 27, n. 3, p HU, X. & SCHIANTARELLI, F. Investment and financing constraints: a switching regression approach using U.S. firms panel data. Boston College Department of Economics. Working Paper, 284, JORGENSON, D.W. & SIEBERT, C.D. A comparison of alternative theories of corporate investment behavior. The American Economic Review, 1968, v. 58, n. 4, JORGENSON, D. Econometric studies of investment behavior: a survey. Journal of Economic Literature, 1971, v. 9, n. 4, p KALECKI, M. The principle of increasing risk. Economica, 1937, n. 4, p KAPLAN, S. & ZINGALES, L. Investment cash flow sensitivities are not valid measures of financing constraints. NBER, 2000, working paper, n. 7659, U.S.A. KEYNES, J.M. (1936) The general theory of employment, interest and money. New York, Harcourt, Brace & World, LEAL FERREIRA, C.K. O financiamento da indústria e infra-estrutura no Brasil: crédito de longo prazo e mercado de capitais. Campinas, 1995, 177 p. Tese de Doutoramento. Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. MEYER, J. & KUH, E. The investment decision. Cambridge, Harvard University Press, MYERS, S. & MAJLUF, N. Corporate financing and investment decision when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 1984, v. 13, n. 2, p MODIGLIANI, F. & MILLER, M. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review, 1958, v. 48, n. 3, p MODIGLIANI, F. & MILLER, M. Dividend policy, growth and the valuation of shares. Journal of Business, 1961, v. 34, n. 4, p PINDYCK, R. Irreversibility, uncertainty and investment. Journal of Economic Literature, 1991, v. 29, n. 3, p STIGLITZ, J. & WEISS, A. Credit rationing in markets with imperfect information. American Economic Review, 1981, v. 71, n. 3, p STIGLITZ, J. & WEISS, A. Asymmetric information in credit markets and its implications for macroeconomics. Oxford Economic Papers, n. 44, p ZONENSCHAIN, C.N. Estrutura de capital das empresas no Brasil. Revista do BNDES, 1998, v. 5, n. 10, p
INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO NO BRASIL *
 Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2002, Vol. VIII, No. 2 (jul-dic), pp. 213-231 recibido 28-06-02 / arbitrado 17-09-02 INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO NO BRASIL * Elton Eustáquio Casagrande UNIVERSIDAD
Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2002, Vol. VIII, No. 2 (jul-dic), pp. 213-231 recibido 28-06-02 / arbitrado 17-09-02 INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO NO BRASIL * Elton Eustáquio Casagrande UNIVERSIDAD
Curitiba - 16 e 17 de outubro de Universidade Federal do Paraná SEMINÁRIO
 Curitiba - 16 e 17 de outubro de 2000 - Universidade Federal do Paraná SEMINÁRIO A Teoria do Investimento com Assimetria de Informações Otaviano Canuto * Elton Eustáquio Casagrande ** Apresentação Recentemente
Curitiba - 16 e 17 de outubro de 2000 - Universidade Federal do Paraná SEMINÁRIO A Teoria do Investimento com Assimetria de Informações Otaviano Canuto * Elton Eustáquio Casagrande ** Apresentação Recentemente
Modelos de Investimento: metodologia e resultados. Abstract
 Modelos de Investimento: metodologia e resultados Elton Eustaquio Casagrande * Abstract This papers provides an overview of the empirical studies on corporate financing patterns and firm s investment behavior.
Modelos de Investimento: metodologia e resultados Elton Eustaquio Casagrande * Abstract This papers provides an overview of the empirical studies on corporate financing patterns and firm s investment behavior.
Modelos de Investimento: Metodologia e Resultados
 Revista de Economia Política, vol. 22, nº 1 (85), janeiro-março/2002 Modelos de Investimento: Metodologia e Resultados ELTON EUSTAQUIO CASAGRANDE* This papers provides an overview of the empirical studies
Revista de Economia Política, vol. 22, nº 1 (85), janeiro-março/2002 Modelos de Investimento: Metodologia e Resultados ELTON EUSTAQUIO CASAGRANDE* This papers provides an overview of the empirical studies
Desenvolvimento financeiro e decisões de investimento das firmas brasileiras
 Desenvolvimento financeiro e decisões de investimento das firmas brasileiras Aquiles Elie Guimarães Kalatzis * Fernanda de Castro ** RESUMO - Este artigo analisa os efeitos do desenvolvimento financeiro
Desenvolvimento financeiro e decisões de investimento das firmas brasileiras Aquiles Elie Guimarães Kalatzis * Fernanda de Castro ** RESUMO - Este artigo analisa os efeitos do desenvolvimento financeiro
Elton Eustáquio Casagrande e Alexandre Sartoris 1 Resumo
 Investimento e Financiamento: um enfoque sobre empresas de capital aberto Elton Eustáquio Casagrande e Alexandre Sartoris 1 Resumo Neste trabalho discutimos as condições de financiamento no Brasil no período
Investimento e Financiamento: um enfoque sobre empresas de capital aberto Elton Eustáquio Casagrande e Alexandre Sartoris 1 Resumo Neste trabalho discutimos as condições de financiamento no Brasil no período
Investimento / PIB 1,0% 4,0% FBCF / PIB 20,8% 19,4% Investimento / FBCF 4,7% 20,6%
 7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES Este trabalho pretendeu entender o comportamento do investimento em ativo imobilizado das companhias abertas com ações negociadas em bolsa no período entre 1987 e 2002 através
7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES Este trabalho pretendeu entender o comportamento do investimento em ativo imobilizado das companhias abertas com ações negociadas em bolsa no período entre 1987 e 2002 através
Decisões de investimento e restrição financeira: um modelo dinâmico com abordagem Bayesiana
 Decisões de investimento e restrição financeira: um modelo dinâmico com abordagem Bayesiana Aquiles Elie Guimarães Kalatzis * Camila Fernanda Bassetto ** RESUMO - Esse trabalho analisa a presença de restrição
Decisões de investimento e restrição financeira: um modelo dinâmico com abordagem Bayesiana Aquiles Elie Guimarães Kalatzis * Camila Fernanda Bassetto ** RESUMO - Esse trabalho analisa a presença de restrição
Fundação Getúlio Vargas / EPGE Economia Monetária e Financeira Prof. Marcos Antonio Silveira. 1 Visão Geral
 Fundação Getúlio Vargas / EPGE Economia Monetária e Financeira Prof. Marcos Antonio Silveira Nota de Aula 14 Canais Alternativos de Transmissão da Política Monetária: Canais de Crédito Bibliografia: Mishkin,
Fundação Getúlio Vargas / EPGE Economia Monetária e Financeira Prof. Marcos Antonio Silveira Nota de Aula 14 Canais Alternativos de Transmissão da Política Monetária: Canais de Crédito Bibliografia: Mishkin,
EXERCÍCIO 1 DE FIXAÇÃO. 1 Associe o segmento de estudo em finanças com o seu objeto de estudo:
 EXERCÍCIO 1 DE FIXAÇÃO 1 Associe o segmento de estudo em finanças com o seu objeto de estudo: MF Mercado Financeiro FC Finanças Corporativas FP Finanças Pessoais (FC) Estuda os mecanismos das decisões
EXERCÍCIO 1 DE FIXAÇÃO 1 Associe o segmento de estudo em finanças com o seu objeto de estudo: MF Mercado Financeiro FC Finanças Corporativas FP Finanças Pessoais (FC) Estuda os mecanismos das decisões
3 Análise das comissões pagas aos coordenadores do IPO
 3 Análise das comissões pagas aos coordenadores do IPO Para investigar se empréstimos pré-ipo são instrumentos de investimento em relacionamento entre bancos e firmas ou instrumentos para viabilizar IPOs
3 Análise das comissões pagas aos coordenadores do IPO Para investigar se empréstimos pré-ipo são instrumentos de investimento em relacionamento entre bancos e firmas ou instrumentos para viabilizar IPOs
3 Metodologia. Lucro empresa privada = a + b Valorização Ibovespa
 3 Metodologia Segundo a metodologia de Aswath Damodaran 15, a avaliação de empresas de capital fechado possui, porque a informação disponível para avaliação é limitada e as empresas fechadas não possuem
3 Metodologia Segundo a metodologia de Aswath Damodaran 15, a avaliação de empresas de capital fechado possui, porque a informação disponível para avaliação é limitada e as empresas fechadas não possuem
12 Flutuações de Curto Prazo
 12 Flutuações de Curto Prazo Flutuações Econômicas de Curto Prazo A atividade econômica flutua de ano para ano. Em quase todos os anos, a produção aumenta. Nem toda flutuação é causada por variação da
12 Flutuações de Curto Prazo Flutuações Econômicas de Curto Prazo A atividade econômica flutua de ano para ano. Em quase todos os anos, a produção aumenta. Nem toda flutuação é causada por variação da
Finanças Corporativas. Prof.: André Carvalhal
 Finanças Corporativas Prof.: André Carvalhal Objetivo do Curso Apresentar e discutir os conceitos básicos de finanças corporativas, em especial avaliação de investimentos e estrutura de capital da firma
Finanças Corporativas Prof.: André Carvalhal Objetivo do Curso Apresentar e discutir os conceitos básicos de finanças corporativas, em especial avaliação de investimentos e estrutura de capital da firma
Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de Ciências Administrativas
 Universidade Federal de Pernambuco Centro de Ciências Sociais Aplicadas Departamento de Ciências Administrativas Programa de Pós Graduação em Administração Propad Relatório executivo da dissertação - A
Universidade Federal de Pernambuco Centro de Ciências Sociais Aplicadas Departamento de Ciências Administrativas Programa de Pós Graduação em Administração Propad Relatório executivo da dissertação - A
Macroeconomia Aberta. CE-571 MACROECONOMIA III Prof. Dr. Fernando Nogueira da Costa Programa 1º semestre.
 Macroeconomia Aberta CE-571 MACROECONOMIA III Prof. Dr. Fernando Nogueira da Costa Programa 1º semestre http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/ PARTE I: Determinantes da taxa de câmbio e do balanço
Macroeconomia Aberta CE-571 MACROECONOMIA III Prof. Dr. Fernando Nogueira da Costa Programa 1º semestre http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/ PARTE I: Determinantes da taxa de câmbio e do balanço
Setor Externo: Ajuste Forçado e Retomada da Economia Brasileira
 7 Setor Externo: Ajuste Forçado e Retomada da Economia Brasileira Vera Martins da Silva (*) A economia brasileira está saindo do fundo do poço, mas muito mais lentamente do que o desejado pela grande massa
7 Setor Externo: Ajuste Forçado e Retomada da Economia Brasileira Vera Martins da Silva (*) A economia brasileira está saindo do fundo do poço, mas muito mais lentamente do que o desejado pela grande massa
Palavras-chave: Restrição financeira, assimetria de informação, estrutura de capital
 João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016 ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DO INVESTIMENTO EM RELAÇÃO AO FLUXO DE CAIXA: UM ESTUDO NAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA LISTADAS NA BM&FBOVESPA ENTRE
João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016 ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DO INVESTIMENTO EM RELAÇÃO AO FLUXO DE CAIXA: UM ESTUDO NAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA LISTADAS NA BM&FBOVESPA ENTRE
Tópicos Teóricos em Finanças: Teoria de Contratos, Teoria de Investmentos e Mercados de Balcão
 Tópicos Teóricos em Finanças: Teoria de Contratos, Teoria de Investmentos e Mercados de Balcão Palestrante: Roberto B. Pinheiro Introdução O objetivo deste mini-curso é apresentar aos alunos as principais
Tópicos Teóricos em Finanças: Teoria de Contratos, Teoria de Investmentos e Mercados de Balcão Palestrante: Roberto B. Pinheiro Introdução O objetivo deste mini-curso é apresentar aos alunos as principais
UMA INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE GESTÃO ABSOLUTA E RELATIVA DE INVESTIMENTOS. Ney Roberto Ottoni de Brito
 UMA INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE GESTÃO ABSOLUTA E RELATIVA DE INVESTIMENTOS Ney Roberto Ottoni de Brito Junho 2005 I. INTRODUÇÃO Este trabalho objetiva apresentar os conceitos de gestão absoluta e de gestão
UMA INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE GESTÃO ABSOLUTA E RELATIVA DE INVESTIMENTOS Ney Roberto Ottoni de Brito Junho 2005 I. INTRODUÇÃO Este trabalho objetiva apresentar os conceitos de gestão absoluta e de gestão
Parte 2 Fundamentos macroeconômicos Sessão 2
 Parte 2 Fundamentos macroeconômicos Sessão 2 Reinaldo Gonçalves Sumário 1. Demanda efetiva 2. Pensamento Keynesiano 3. Pensamento Kaleckiano 4. Monetarismo 5. Economia Novo-clássica 6. Modelos de ciclos
Parte 2 Fundamentos macroeconômicos Sessão 2 Reinaldo Gonçalves Sumário 1. Demanda efetiva 2. Pensamento Keynesiano 3. Pensamento Kaleckiano 4. Monetarismo 5. Economia Novo-clássica 6. Modelos de ciclos
MOEDA, TAXAS DE JUROS E TAXAS DE CÂMBIO TÓPICOS DO CAPÍTULO
 MOEDA, TAXAS DE JUROS E TAXAS DE CÂMBIO R e f e r ê n c i a : C a p. 15 d e E c o n o m i a I n t e r n a c i o n a l : T e o r i a e P o l í t i c a, 1 0 ª. E d i ç ã o P a u l R. K r u g m a n e M a
MOEDA, TAXAS DE JUROS E TAXAS DE CÂMBIO R e f e r ê n c i a : C a p. 15 d e E c o n o m i a I n t e r n a c i o n a l : T e o r i a e P o l í t i c a, 1 0 ª. E d i ç ã o P a u l R. K r u g m a n e M a
DIVIDENDOS E OUTROS PAYOUTS ESTV-IPV
 DIVIDENDOS E OUTROS PAYOUTS ESTV-IPV Comportamento dos preços à volta da data Ex-Dividend Date Num mercado perfeitamente eficientemente, o preço das acções cairá pelo montante de dividendos na data exdividendo.
DIVIDENDOS E OUTROS PAYOUTS ESTV-IPV Comportamento dos preços à volta da data Ex-Dividend Date Num mercado perfeitamente eficientemente, o preço das acções cairá pelo montante de dividendos na data exdividendo.
Restrições Financeiras aos Investimentos Fixos de Empresas Brasileiras de Capital Aberto Listadas em Bolsas de Valores no Período de 1995 a 2003
 Mario José Soares Esteves Filho Restrições Financeiras aos Investimentos Fixos de Empresas Brasileiras de Capital Aberto Listadas em Bolsas de Valores no Período de 1995 a 2003 Dissertação de Mestrado
Mario José Soares Esteves Filho Restrições Financeiras aos Investimentos Fixos de Empresas Brasileiras de Capital Aberto Listadas em Bolsas de Valores no Período de 1995 a 2003 Dissertação de Mestrado
Os Dilemas e Desafios da Produtividade no Brasil
 A Produtividade em Pauta Fernanda De Negri e Luiz Ricardo Cavalcante 8 de Agosto de 2015 Fernanda de Negri A Produtividade em Pauta Graduada em economia pela UFPR, mestre e doutora pela UNICAMP e atualmente
A Produtividade em Pauta Fernanda De Negri e Luiz Ricardo Cavalcante 8 de Agosto de 2015 Fernanda de Negri A Produtividade em Pauta Graduada em economia pela UFPR, mestre e doutora pela UNICAMP e atualmente
Moeda, taxas de juros e taxas de câmbio
 Moeda, taxas de juros e taxas de câmbio Referência: Cap. 15 de Economia Internacional: Teoria e Política, 6ª. Edição Paul R. Krugman e Maurice Obstfeld Economia Internacional II - Material para aulas (3)
Moeda, taxas de juros e taxas de câmbio Referência: Cap. 15 de Economia Internacional: Teoria e Política, 6ª. Edição Paul R. Krugman e Maurice Obstfeld Economia Internacional II - Material para aulas (3)
Tema: Estimar um modelo para medir o risco sistemático das carteiras no mercado brasileiro utilizando o fator mercado e medidas de liquidez.
 Aluno: Rafael Milanesi Caldeira Professor Orientador: Adriana Bruscato Bortoluzzo Tema: Estimar um modelo para medir o risco sistemático das carteiras no mercado brasileiro utilizando o fator mercado e
Aluno: Rafael Milanesi Caldeira Professor Orientador: Adriana Bruscato Bortoluzzo Tema: Estimar um modelo para medir o risco sistemático das carteiras no mercado brasileiro utilizando o fator mercado e
Macroeconomia para executivos de MKT. Lista de questões de múltipla escolha
 Macroeconomia para executivos de MKT Lista de questões de múltipla escolha CAP. 3. Ambiente Externo, Cenário Macroeconômico e Mensuração da Atividade Econômica 5.1) A diferença entre Produto Nacional Bruto
Macroeconomia para executivos de MKT Lista de questões de múltipla escolha CAP. 3. Ambiente Externo, Cenário Macroeconômico e Mensuração da Atividade Econômica 5.1) A diferença entre Produto Nacional Bruto
Tese de doutorado apresentada ao Curso de Pós-Graduação da FGV/EAESP.
 R U T H R E N A T A H A M B U R G E R Tese de doutorado apresentada ao Curso de Pós-Graduação da FGV/EAESP. Área de concentração: Contabilidade, Finanças e Controle. Orientador: Prof. Dr. Claudio V. Furtado
R U T H R E N A T A H A M B U R G E R Tese de doutorado apresentada ao Curso de Pós-Graduação da FGV/EAESP. Área de concentração: Contabilidade, Finanças e Controle. Orientador: Prof. Dr. Claudio V. Furtado
5. ANÁLISE DE RESULTADOS
 79 5. ANÁLISE DE RESULTADOS O instrumental teórico elaborado no segundo capítulo demonstra que a principal diferença entre os modelos construídos que captam somente o efeito das restrições no mercado de
79 5. ANÁLISE DE RESULTADOS O instrumental teórico elaborado no segundo capítulo demonstra que a principal diferença entre os modelos construídos que captam somente o efeito das restrições no mercado de
SUMÁRIO. Parte I Fundamentos de Finanças, 1. Prefácio, xv. Links da web, 32 Sugestões de leituras, 32 Respostas dos testes de verificação, 33
 SUMÁRIO Prefácio, xv Parte I Fundamentos de Finanças, 1 1 Introdução às Finanças Corporativas, 2 1.1 Como evoluíram as finanças das empresas, 4 1.2 As novas responsabilidades da administração financeira,
SUMÁRIO Prefácio, xv Parte I Fundamentos de Finanças, 1 1 Introdução às Finanças Corporativas, 2 1.1 Como evoluíram as finanças das empresas, 4 1.2 As novas responsabilidades da administração financeira,
DISCIPLINA: ANALISE DE INVESTIMENTOS AULA 1
 DISCIPLINA: ANALISE DE INVESTIMENTOS AULA 1 Assunto: conceitos fundamentais Prof Ms Keilla Lopes Graduada em Administração pela UEFS Especialista em Gestão Empresarial pela UEFS Mestre em Administração
DISCIPLINA: ANALISE DE INVESTIMENTOS AULA 1 Assunto: conceitos fundamentais Prof Ms Keilla Lopes Graduada em Administração pela UEFS Especialista em Gestão Empresarial pela UEFS Mestre em Administração
Gestão Financeira. Plano de Aula - 12 Aulas (Aulas de 1 hora)
 6640 - Gestão Financeira Plano de Aula - 12 Aulas (Aulas de 1 hora) Aula 1 Capítulo 1 - Introdução 1. I ntrodução...25 1.1. Controle Financeiro...30 1.2. Projeção Financeira...30 1.3. Responsabilidade
6640 - Gestão Financeira Plano de Aula - 12 Aulas (Aulas de 1 hora) Aula 1 Capítulo 1 - Introdução 1. I ntrodução...25 1.1. Controle Financeiro...30 1.2. Projeção Financeira...30 1.3. Responsabilidade
6 Referências Bibliográficas
 6 Referências Bibliográficas BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Economia Bancária e Crédito. Brasília,. 125 p. BERNANKE, B.; GERTLER, M. Agency Costs, Collateral, and Business Fluctuations. NBER Working
6 Referências Bibliográficas BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Economia Bancária e Crédito. Brasília,. 125 p. BERNANKE, B.; GERTLER, M. Agency Costs, Collateral, and Business Fluctuations. NBER Working
A avaliação da magnitude, da distribuição no tempo e do risco dos fluxos de caixa futuros é a essência do orçamento de capital.
 Fluxo de Caixa o administrador financeiro precisa preocupar-se com o montante de fluxo de caixa que espera receber, quando irá recebê-lo e qual a probabilidade de recebê-lo. A avaliação da magnitude, da
Fluxo de Caixa o administrador financeiro precisa preocupar-se com o montante de fluxo de caixa que espera receber, quando irá recebê-lo e qual a probabilidade de recebê-lo. A avaliação da magnitude, da
Formulário de Referência CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS Versão : 3
 4.2. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros. O governo brasileiro exerceu e
4.2. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros. O governo brasileiro exerceu e
Estrutura Ótima de Capital
 Estrutura Ótima de Capital Estrutura de Capital Objetivo dos gestores: maximizar o valor de mercado da empresa (V): V = D + CP Mas qual a relação ótima entre CP (capital próprio) e D (dívida com terceiros)?
Estrutura Ótima de Capital Estrutura de Capital Objetivo dos gestores: maximizar o valor de mercado da empresa (V): V = D + CP Mas qual a relação ótima entre CP (capital próprio) e D (dívida com terceiros)?
Decisões de Financiamentos e Estrutura de Capital. Professor: Francisco Tavares
 Decisões de Financiamentos e Estrutura de Capital Professor: Francisco Tavares RISCO E RETORNO Definição de risco Em administração e finanças, risco é a possibilidade de perda financeira. Os ativos (reais
Decisões de Financiamentos e Estrutura de Capital Professor: Francisco Tavares RISCO E RETORNO Definição de risco Em administração e finanças, risco é a possibilidade de perda financeira. Os ativos (reais
Parte I Aspectos Gerais Internos e Externos da Empresa, 1
 Sumário Prefácio, xvii Parte I Aspectos Gerais Internos e Externos da Empresa, 1 1 Identificação da empresa, 3 1.1 Interligação entre mercados e agentes, 3 1.1.1 Poupança e financiamento das empresas,
Sumário Prefácio, xvii Parte I Aspectos Gerais Internos e Externos da Empresa, 1 1 Identificação da empresa, 3 1.1 Interligação entre mercados e agentes, 3 1.1.1 Poupança e financiamento das empresas,
Is There a Stable Phillips Curve After All?
 Is There a Stable Phillips Curve After All? PET - Economia - UnB 05 de Maio de 2014 Terry Fitzgerald Brian Holtemeyer Juan Pablo Nicolin Terry Fitzgerald Brian Holtemeyer Juan Pablo Nicolin Vice-Presidente
Is There a Stable Phillips Curve After All? PET - Economia - UnB 05 de Maio de 2014 Terry Fitzgerald Brian Holtemeyer Juan Pablo Nicolin Terry Fitzgerald Brian Holtemeyer Juan Pablo Nicolin Vice-Presidente
Avalição de Empresas Valuation
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto - FEA-RP Graduação em Ciências Contábeis Avalição de Empresas Valuation Prof. Dr. Modelos de avaliação de
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto - FEA-RP Graduação em Ciências Contábeis Avalição de Empresas Valuation Prof. Dr. Modelos de avaliação de
AS MODERNAS TEORIAS DO INVESTIMENTO:UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE SUAS DIFICULDADES
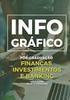 Referência deste trabalho: ISSN 1676-0085 CASAGRANDE, Elton Eustaqui; CEREZETTI, Fernando Valvano. As modernas teorias do investimento: uma perspectiva histórica de suas dificuldades. In: Anais do VII
Referência deste trabalho: ISSN 1676-0085 CASAGRANDE, Elton Eustaqui; CEREZETTI, Fernando Valvano. As modernas teorias do investimento: uma perspectiva histórica de suas dificuldades. In: Anais do VII
1 O PROBLEMA DE PESQUISA
 1 O PROBLEMA DE PESQUISA 1.1. Introdução Desde a edição do clássico artigo de Modigliani e Miller (1958), uma expressiva quantidade de trabalhos acadêmicos sobre o tema da estrutura de capital foi publicada
1 O PROBLEMA DE PESQUISA 1.1. Introdução Desde a edição do clássico artigo de Modigliani e Miller (1958), uma expressiva quantidade de trabalhos acadêmicos sobre o tema da estrutura de capital foi publicada
Unidade IV AVALIAÇÃO DAS. Prof. Walter Dominas
 Unidade IV AVALIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Prof. Walter Dominas Conteúdo da unidade IV 1) Análise do capital de giro Ciclo operacional, Ciclo Econômico e Financeiro Importância do Capital Circulante
Unidade IV AVALIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Prof. Walter Dominas Conteúdo da unidade IV 1) Análise do capital de giro Ciclo operacional, Ciclo Econômico e Financeiro Importância do Capital Circulante
O Mercado Monetário, a Taxa de Juros e a Taxa de Câmbio
 O Mercado Monetário, a Taxa de Juros e a Taxa de Câmbio Introdução Os fatores que afetam a oferta ou a demanda de moeda de um país estão entre os principais determinantes da taxa de câmbio. O modelo integra
O Mercado Monetário, a Taxa de Juros e a Taxa de Câmbio Introdução Os fatores que afetam a oferta ou a demanda de moeda de um país estão entre os principais determinantes da taxa de câmbio. O modelo integra
Salário Mínimo, Bolsa Família e desempenho. Desempenho relativo recente da economia do Nordeste
 Salário Mínimo, Bolsa Família e desempenho relativo recente da economia do Nordeste PET - Economia - UnB 15 de julho de 2013 Alexandre Rands Barros Autores Introdução Graduado em Ciências Econômicas pela
Salário Mínimo, Bolsa Família e desempenho relativo recente da economia do Nordeste PET - Economia - UnB 15 de julho de 2013 Alexandre Rands Barros Autores Introdução Graduado em Ciências Econômicas pela
4 Resultados 4.1. Efeitos sobre Rentabilidade
 23 4 Resultados 4.1. Efeitos sobre Rentabilidade A metodologia de Propensity Score Matching (PSM) tem como finalidade tornar os grupos de controle e tratamento comparáveis. Para tanto, tal metodologia
23 4 Resultados 4.1. Efeitos sobre Rentabilidade A metodologia de Propensity Score Matching (PSM) tem como finalidade tornar os grupos de controle e tratamento comparáveis. Para tanto, tal metodologia
Painel Estrutura de Capital: Estado-da- Arte e Desdobramentos Futuros
 Painel Estrutura de Capital: Estado-da- Arte e Desdobramentos Futuros Paulo Renato Soares Terra PPGA/EA/UFRGS CNPQ XXXVI ENANPAD 23-26/09/2012 Tese e Estágio Pesquisador Sênior Tese de Doutorado TERRA
Painel Estrutura de Capital: Estado-da- Arte e Desdobramentos Futuros Paulo Renato Soares Terra PPGA/EA/UFRGS CNPQ XXXVI ENANPAD 23-26/09/2012 Tese e Estágio Pesquisador Sênior Tese de Doutorado TERRA
Departamento de Administração SUMÁRIO
 SUMÁRIO 1- Introdução...1 2- Objetivos...1 3- Metodologia...1 4- Referencial Teórico...2 4.1 Modelo 1...2 4.2 Modelo 2...2 4.3 Modelo 3...3 5 Resultados...4 5.1 Resultados do 1º Modelo...4 5.2 Resultados
SUMÁRIO 1- Introdução...1 2- Objetivos...1 3- Metodologia...1 4- Referencial Teórico...2 4.1 Modelo 1...2 4.2 Modelo 2...2 4.3 Modelo 3...3 5 Resultados...4 5.1 Resultados do 1º Modelo...4 5.2 Resultados
10.5 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DA CONTROLADORA E SUAS CONTROLADAS
 10.5 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DA CONTROLADORA E SUAS CONTROLADAS Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são como segue: (a) Apuração do resultado O resultado
10.5 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS DA CONTROLADORA E SUAS CONTROLADAS Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são como segue: (a) Apuração do resultado O resultado
magnitude desta diferença é exatamente o risco microeconômico do investimento em capital fixo de longo prazo.
 75 5. Conclusões Na análise de um investimento com características de incerteza, presente nos fluxos de caixa esperados do projeto, com irreversibilidade dos custos operacionais, onde o empreendedor possui
75 5. Conclusões Na análise de um investimento com características de incerteza, presente nos fluxos de caixa esperados do projeto, com irreversibilidade dos custos operacionais, onde o empreendedor possui
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA. Ênfase em Banking (Economia e Finanças Bancárias) MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA - ÊNFASE BANKING 1.
 MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA Ênfase em Banking (Economia e Finanças Bancárias) MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA - ÊNFASE BANKING 1 vire aqui DISCIPLINAS MATEMÁTICA Esta disciplina tem como objetivo
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA Ênfase em Banking (Economia e Finanças Bancárias) MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA - ÊNFASE BANKING 1 vire aqui DISCIPLINAS MATEMÁTICA Esta disciplina tem como objetivo
FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO: FAGEN41029 COMPONENTE CURRICULAR: Gestão Financeira e Valor de Empresas e Regionalidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO: FAGEN41029 COMPONENTE CURRICULAR: Gestão Financeira e Valor de Empresas e Regionalidade
SUMÁRIO CAPÍTULO 1 FINANÇAS CORPORATIVAS
 SUMÁRIO CAPÍTULO 1 FINANÇAS CORPORATIVAS... 1 1.1 Comportamento financeiro da economia... 1 1.1.1 Produção e lucro... 1 1.1.2 Inter-relação entre os aspectos econômicos e financeiros... 3 1.2 Objetivos
SUMÁRIO CAPÍTULO 1 FINANÇAS CORPORATIVAS... 1 1.1 Comportamento financeiro da economia... 1 1.1.1 Produção e lucro... 1 1.1.2 Inter-relação entre os aspectos econômicos e financeiros... 3 1.2 Objetivos
EAE0111 Fundamentos de Macroeconomia. Lista 3
 EAE0111 Fundamentos de Macroeconomia Lista 3 Prof: Danilo Igliori Questão 1 Em sua Teoria Geral, Keynes propôs que, no curto prazo, a renda total da economia era determinada: a) Pela produtividade marginal
EAE0111 Fundamentos de Macroeconomia Lista 3 Prof: Danilo Igliori Questão 1 Em sua Teoria Geral, Keynes propôs que, no curto prazo, a renda total da economia era determinada: a) Pela produtividade marginal
Contabilidade Social Carmen Feijó [et al.] 4ª edição
![Contabilidade Social Carmen Feijó [et al.] 4ª edição Contabilidade Social Carmen Feijó [et al.] 4ª edição](/thumbs/74/70615803.jpg) Contabilidade Social Carmen Feijó [et al.] 4ª edição CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO A CONTABILIDADE SOCIAL Professor Rodrigo Nobre Fernandez Pelotas 2015 2 Introdução As contas nacionais são a principal fonte de
Contabilidade Social Carmen Feijó [et al.] 4ª edição CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO A CONTABILIDADE SOCIAL Professor Rodrigo Nobre Fernandez Pelotas 2015 2 Introdução As contas nacionais são a principal fonte de
Aula 23 Tema: Política monetária: distorções e regra de Taylor
 TEORIA MACROECONÔMICA II ECO1217 Aula 23 Tema: Política monetária: distorções e regra de Taylor 10/06/07 1 Revisando... No curto prazo, a política monetária afeta o produto e a sua composição: um aumento
TEORIA MACROECONÔMICA II ECO1217 Aula 23 Tema: Política monetária: distorções e regra de Taylor 10/06/07 1 Revisando... No curto prazo, a política monetária afeta o produto e a sua composição: um aumento
Sumário Resumido. PARTE I Avaliação da Saúde Financeira da Empresa 1. PARTE IV Avaliando Oportunidades de Investimento 245
 Sumário Resumido PARTE I Avaliação da Saúde Financeira da Empresa 1 Capítulo 1 Interpretação de Demonstrações Financeiras 3 Capítulo 2 Avaliação do Desempenho Financeiro 37 PARTE II Planejamento do Desempenho
Sumário Resumido PARTE I Avaliação da Saúde Financeira da Empresa 1 Capítulo 1 Interpretação de Demonstrações Financeiras 3 Capítulo 2 Avaliação do Desempenho Financeiro 37 PARTE II Planejamento do Desempenho
Análise de Viabilidade Econômica de Projetos de Investimento
 Análise de Viabilidade Econômica de Projetos de Investimento ANÁLISE DE CENÁRIOS Prof. Luciel Henrique de Oliveira - luciel@fae.br UNIFAE - São João da Boa Vista http://gp2unifae.wikispaces.com Análise
Análise de Viabilidade Econômica de Projetos de Investimento ANÁLISE DE CENÁRIOS Prof. Luciel Henrique de Oliveira - luciel@fae.br UNIFAE - São João da Boa Vista http://gp2unifae.wikispaces.com Análise
2 Credibilidade da Política Monetária e Prêmio de Risco Inflacionário
 2 Credibilidade da Política Monetária e Prêmio de Risco Inflacionário 2.1. Introdução O reconhecimento da importância das expectativas de inflação em determinar a inflação corrente tem motivado a adoção
2 Credibilidade da Política Monetária e Prêmio de Risco Inflacionário 2.1. Introdução O reconhecimento da importância das expectativas de inflação em determinar a inflação corrente tem motivado a adoção
AVALIAÇÃO DE ATIVOS. Vinícius Meireles Aleixo ITA Bolsista PIBIC-CNPq Arnoldo Souza Cabral ITA
 AVALIAÇÃO DE ATIVOS Vinícius Meireles Aleixo ITA Bolsista PIBIC-CNPq viniciusaleixo@yahoo.com.br Arnoldo Souza Cabral ITA cabral@ita.br Resumo. A motivação para o trabalho proposto provém do interesse
AVALIAÇÃO DE ATIVOS Vinícius Meireles Aleixo ITA Bolsista PIBIC-CNPq viniciusaleixo@yahoo.com.br Arnoldo Souza Cabral ITA cabral@ita.br Resumo. A motivação para o trabalho proposto provém do interesse
Universidade de São Paulo - USP Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto Departamento de Economia LISTA 1
 Universidade de São Paulo - USP Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto Departamento de Economia Disciplina: REC2201 - Teoria Macroeconômica I Profa. Dra. Roseli da Silva
Universidade de São Paulo - USP Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto Departamento de Economia Disciplina: REC2201 - Teoria Macroeconômica I Profa. Dra. Roseli da Silva
Duas Não Linearidades e Uma
 Duas Não Linearidades e Uma Assimetria: i Taxa de Câmbio, Crescimento e Inflação no Brasil Nl Nelson Barbosa Secretário de Política Econômica Ministério da Fazenda 7º Fórum de Economia da FGV SP 30 de
Duas Não Linearidades e Uma Assimetria: i Taxa de Câmbio, Crescimento e Inflação no Brasil Nl Nelson Barbosa Secretário de Política Econômica Ministério da Fazenda 7º Fórum de Economia da FGV SP 30 de
DFC DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
 DFC DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA Base Legal CPC 03 e Seção 07 da NBC TG 1.000 O presente auto estudo embasará os conceitos e procedimentos técnicos contemplados no CPC 03 (IFRS Integral) e na Seção 07
DFC DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA Base Legal CPC 03 e Seção 07 da NBC TG 1.000 O presente auto estudo embasará os conceitos e procedimentos técnicos contemplados no CPC 03 (IFRS Integral) e na Seção 07
Avaliação Financeira de Empresas e Empreendimentos Imobiliários
 Curso de Especialização em Gerenciamento da Construção Civil Avaliação Financeira de Empresas e Empreendimentos Imobiliários Prof. MSC Miguel Adriano Gonçalves 1- Funções da administração financeira Setor
Curso de Especialização em Gerenciamento da Construção Civil Avaliação Financeira de Empresas e Empreendimentos Imobiliários Prof. MSC Miguel Adriano Gonçalves 1- Funções da administração financeira Setor
Investimento e Financiamento: um enfoque sobre empresas de capital aberto. Elton Eustáquio Casagrande e Alexandre Sartoris 1
 Investimento e Financiamento: um enfoque sobre empresas de capital aberto Elton Eustáquio Casagrande e Alexandre Sartoris 1 Resumo O objetivo do artigo é analisar a presença de restrição financeira nas
Investimento e Financiamento: um enfoque sobre empresas de capital aberto Elton Eustáquio Casagrande e Alexandre Sartoris 1 Resumo O objetivo do artigo é analisar a presença de restrição financeira nas
XI Encontro de Iniciação à Docência
 4CCSADEMT03 O MODELO IS LM: UMA ABORDAGEM PARA A ECONOMIA BRASILEIRA NO PERÍODO DE 1995 2007 Tatyanna Nadábia de Souza Lima (1), Marcilia Nobre Gadelha (2), Sinézio Fernandes Maia (3) Centro de Ciências
4CCSADEMT03 O MODELO IS LM: UMA ABORDAGEM PARA A ECONOMIA BRASILEIRA NO PERÍODO DE 1995 2007 Tatyanna Nadábia de Souza Lima (1), Marcilia Nobre Gadelha (2), Sinézio Fernandes Maia (3) Centro de Ciências
Restrições Macroeconômicas ao Crescimento da Economia Brasileira Diagnósticos e algumas proposições de política
 Restrições Macroeconômicas ao Crescimento da Economia Brasileira Diagnósticos e algumas proposições de política José Luis Oreiro (UnB/CNPq) Lionello Punzo (Univeridade de Siena) Eliane Araújo (IPEA-RJ)
Restrições Macroeconômicas ao Crescimento da Economia Brasileira Diagnósticos e algumas proposições de política José Luis Oreiro (UnB/CNPq) Lionello Punzo (Univeridade de Siena) Eliane Araújo (IPEA-RJ)
EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2016
 EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2016 Professor Fernando Rugitsky Tópico 2: Demanda agregada, oferta agregada e ciclos econômicos [4 aulas] FEA/USP PLANO 1. O modelo IS-LM 2. Oferta agregada e concorrência
EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2016 Professor Fernando Rugitsky Tópico 2: Demanda agregada, oferta agregada e ciclos econômicos [4 aulas] FEA/USP PLANO 1. O modelo IS-LM 2. Oferta agregada e concorrência
Fluxo de Caixa, ADRs e Restrições de Crédito no Brasil
 Vol. 5, No.2 Vitória-ES, Mai Ago 2008 p. 144-151 ISSN 1807-734X DOI: http://dx.doi.org/10.15728/bbr.2008.5.2.4 Fluxo de Caixa, ADRs e Restrições de Crédito no Brasil Cristiano M. Costa Department of Economics,
Vol. 5, No.2 Vitória-ES, Mai Ago 2008 p. 144-151 ISSN 1807-734X DOI: http://dx.doi.org/10.15728/bbr.2008.5.2.4 Fluxo de Caixa, ADRs e Restrições de Crédito no Brasil Cristiano M. Costa Department of Economics,
Entendendo o Fluxo de Caixa Guia prático para elaboração e interpretação da Demonstração dos Fluxos de Caixa de acordo com a nova legislação
 Entendendo o Fluxo de Caixa Guia prático para elaboração e interpretação da Demonstração dos Fluxos de Caixa de acordo com a nova legislação societária. Entendendo o Fluxo de Caixa Guia prático para elaboração
Entendendo o Fluxo de Caixa Guia prático para elaboração e interpretação da Demonstração dos Fluxos de Caixa de acordo com a nova legislação societária. Entendendo o Fluxo de Caixa Guia prático para elaboração
Central de cursos Prof.Pimentel Curso CPA 10 Educare
 QUESTÕES CPA 10 MÓDULO 3 1) O Produto Interno Bruto de uma economia representa, em valores monetários e para determinado período, a soma de todos os bens e serviços a) intermediários e finais, a preço
QUESTÕES CPA 10 MÓDULO 3 1) O Produto Interno Bruto de uma economia representa, em valores monetários e para determinado período, a soma de todos os bens e serviços a) intermediários e finais, a preço
Nota de Aula 2: Moeda. HICKS, J. A Theory of Economic History, Oxford University Press, 1969, caps.5 e 6
 Fundação Getúlio Vargas / EPGE Economia Monetária e Financeira Prof. Marcos Antonio Silveira Nota de Aula 2: Moeda Bibliografia: Mishkin, cap. 3 Nota de aula Bibliografia opcional: Sistema Brasileiro de
Fundação Getúlio Vargas / EPGE Economia Monetária e Financeira Prof. Marcos Antonio Silveira Nota de Aula 2: Moeda Bibliografia: Mishkin, cap. 3 Nota de aula Bibliografia opcional: Sistema Brasileiro de
EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2017
 EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2017 Professor Fernando Rugitsky Tópico 2: Demanda agregada, oferta agregada e ciclos econômicos [6 aulas] FEA/USP PLANO 1. O modelo IS-LM 2. Oferta agregada e concorrência
EAE 206 Macroeconomia I 1o. semestre de 2017 Professor Fernando Rugitsky Tópico 2: Demanda agregada, oferta agregada e ciclos econômicos [6 aulas] FEA/USP PLANO 1. O modelo IS-LM 2. Oferta agregada e concorrência
1T06 1T05 Var % 491,7 422,4 16,4% 37,7 27,2 38,5%
 RESULTADOS DO 1T06 São Paulo, 26 de abril 2006 A Natura Cosméticos S.A. (Bovespa: NATU3) anuncia hoje os resultados do primeiro trimestre de 2006 (1T06). As informações financeiras e operacionais a seguir,
RESULTADOS DO 1T06 São Paulo, 26 de abril 2006 A Natura Cosméticos S.A. (Bovespa: NATU3) anuncia hoje os resultados do primeiro trimestre de 2006 (1T06). As informações financeiras e operacionais a seguir,
Considerações finais
 Considerações finais Rodrigo de Souza Vieira SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros VIEIRA, RS. Crescimento econômico no estado de São Paulo: uma análise espacial [online]. São Paulo: Editora UNESP;
Considerações finais Rodrigo de Souza Vieira SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros VIEIRA, RS. Crescimento econômico no estado de São Paulo: uma análise espacial [online]. São Paulo: Editora UNESP;
4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM
 4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM Carvalho et al. (2015: cap. 6) 06/05/2019 1 Monetaristas Como reação à síntese neoclássica e a crença no trade-off estável
4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM Carvalho et al. (2015: cap. 6) 06/05/2019 1 Monetaristas Como reação à síntese neoclássica e a crença no trade-off estável
o do banco central818doc-start F. Author, S. Another (Universities of Somewhere and Elsewhere) Presentation Title Conference Name, / 67
 o do banco central818doc-start F. Author, S. Another (Universities of Somewhere and Elsewhere) Presentation Title Conference Name, 2013 1 / 67 Flutuações e Tendência Figura: Decomposição do Produto F.
o do banco central818doc-start F. Author, S. Another (Universities of Somewhere and Elsewhere) Presentation Title Conference Name, 2013 1 / 67 Flutuações e Tendência Figura: Decomposição do Produto F.
O que será visto neste tópico...
 FEA -USP Graduação em Ciências Contábeis EAC0511-2014/2 Turma 01 Profa. Joanília Cia 1. Introdução Tema 01 Introdução I. Evolução de Finanças II. Questões de Finanças x Oquestões Oportunidades de Carreira
FEA -USP Graduação em Ciências Contábeis EAC0511-2014/2 Turma 01 Profa. Joanília Cia 1. Introdução Tema 01 Introdução I. Evolução de Finanças II. Questões de Finanças x Oquestões Oportunidades de Carreira
Seção 27 Redução ao Valor Recuperável de Ativos
 (ii) concedida durante o período; (iii) perdida durante o período; (iv) exercida durante o período; (v) expirada durante o período; (vi) em aberto no final do período; (vii) exercível ao final do período.
(ii) concedida durante o período; (iii) perdida durante o período; (iv) exercida durante o período; (v) expirada durante o período; (vi) em aberto no final do período; (vii) exercível ao final do período.
Earnings Release 1T14
 Belo Horizonte, 20 de maio de 2014 O Banco Bonsucesso S.A. ( Banco Bonsucesso, Bonsucesso ou Banco ), Banco múltiplo, de capital privado, com atuação em todo o território brasileiro nos segmentos de empréstimos
Belo Horizonte, 20 de maio de 2014 O Banco Bonsucesso S.A. ( Banco Bonsucesso, Bonsucesso ou Banco ), Banco múltiplo, de capital privado, com atuação em todo o território brasileiro nos segmentos de empréstimos
Tecnologia em Gestão Financeira. Decisões Financeiras I
 Tecnologia em Gestão Financeira Decisões Financeiras I Prof. Lélis Pedro de Andrade Iº Semestre 2012 Formiga - MG Planejamento, Tipos e Fontes de Financiamento de Longo Prazo e Crescimento da Empresa Ross,
Tecnologia em Gestão Financeira Decisões Financeiras I Prof. Lélis Pedro de Andrade Iº Semestre 2012 Formiga - MG Planejamento, Tipos e Fontes de Financiamento de Longo Prazo e Crescimento da Empresa Ross,
Os efeitos fiscais da redução da Selic Felipe Scudeler Salto1 e Josué Alfredo Pellegrini2
 Os efeitos fiscais da redução da Selic Felipe Scudeler Salto1 e Josué Alfredo Pellegrini2 A redução da Selic, desde outubro do ano passado, já produziu efeitos importantes sobre a dinâmica da dívida pública.
Os efeitos fiscais da redução da Selic Felipe Scudeler Salto1 e Josué Alfredo Pellegrini2 A redução da Selic, desde outubro do ano passado, já produziu efeitos importantes sobre a dinâmica da dívida pública.
Análise de indicadores financeiros de estrutura e endividamento da Arezzo&Co ( )
 Análise de indicadores financeiros de estrutura e endividamento da Arezzo&Co (27 214) Gabriel Vinicius Chimanski dos Santos (UFPR) gvchimanski@gmail.com Ruth Margareth Hofmann (UFPR) ruthofmann@gmail.com
Análise de indicadores financeiros de estrutura e endividamento da Arezzo&Co (27 214) Gabriel Vinicius Chimanski dos Santos (UFPR) gvchimanski@gmail.com Ruth Margareth Hofmann (UFPR) ruthofmann@gmail.com
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 20 1. Ambiente Macroeconômico O ano de 20 foi marcado por uma das piores crises da economia mundial. Com epicentro no sistema financeiro norteamericano, a crise se alastrou
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 20 1. Ambiente Macroeconômico O ano de 20 foi marcado por uma das piores crises da economia mundial. Com epicentro no sistema financeiro norteamericano, a crise se alastrou
UNIDADE IV FINANCIAMENTO DO SETOR PÚBLICO, DÉFICIT E DÍVIDA PÚBLICA
 UNIDADE IV FINANCIAMENTO DO SETOR PÚBLICO, DÉFICIT E DÍVIDA PÚBLICA 131 Daniele Oliveira, Dra. Déficit Público (R) (G) equilíbrio orçamentário ou superávit fiscal situação considerada pelas escolas clássica
UNIDADE IV FINANCIAMENTO DO SETOR PÚBLICO, DÉFICIT E DÍVIDA PÚBLICA 131 Daniele Oliveira, Dra. Déficit Público (R) (G) equilíbrio orçamentário ou superávit fiscal situação considerada pelas escolas clássica
A teoria macroeconômica de John Maynard Keynes
 A teoria macroeconômica de John Maynard Keynes Dr. Antony P. Mueller Professor de Economia Universidade Federal de Sergipe www.continentaleconomics.com John Maynard Keynes (1883-1946) Teoria Geral do Emprego,
A teoria macroeconômica de John Maynard Keynes Dr. Antony P. Mueller Professor de Economia Universidade Federal de Sergipe www.continentaleconomics.com John Maynard Keynes (1883-1946) Teoria Geral do Emprego,
Demanda Agregada salários e preços rígidos
 Demanda Agregada salários e preços rígidos Arranjos institucionais salários são periodicamente e não continuamente. revistos (1) comum em suporte para a rigidez de preços: custos associados com mudanças
Demanda Agregada salários e preços rígidos Arranjos institucionais salários são periodicamente e não continuamente. revistos (1) comum em suporte para a rigidez de preços: custos associados com mudanças
Normas Internacionais de Avaliação. IVS Negócios e Participações em Negócios
 Normas Internacionais de Avaliação IVS 200 - Negócios e Participações em Negócios Agenda Norma e Abrangência Implementação, Relatório e Data de Entrada em Vigor Definições Negócios Direito de Propriedade
Normas Internacionais de Avaliação IVS 200 - Negócios e Participações em Negócios Agenda Norma e Abrangência Implementação, Relatório e Data de Entrada em Vigor Definições Negócios Direito de Propriedade
1 Classificação das Empresas e Entidades e o Ambiente Institucional, 1
 Prefácio à 11 a edição, xv 1 Classificação das Empresas e Entidades e o Ambiente Institucional, 1 1.1 Classificação jurídica das empresas e entidades, 1 1.1.1 Empresas com objetivos econômicos, 1 1.1.2
Prefácio à 11 a edição, xv 1 Classificação das Empresas e Entidades e o Ambiente Institucional, 1 1.1 Classificação jurídica das empresas e entidades, 1 1.1.1 Empresas com objetivos econômicos, 1 1.1.2
Curso de Extensão: Noções de Macroeconomia para RI (Moeda)
 Federal University of Roraima, Brazil From the SelectedWorks of Elói Martins Senhoras Winter January 1, 2008 Curso de Extensão: Noções de Macroeconomia para RI (Moeda) Eloi Martins Senhoras Available at:
Federal University of Roraima, Brazil From the SelectedWorks of Elói Martins Senhoras Winter January 1, 2008 Curso de Extensão: Noções de Macroeconomia para RI (Moeda) Eloi Martins Senhoras Available at:
CONTABILIDADE GERAL. Contabilidade - Noções Gerais. Estrutura conceitual básica parte 14. Valter Ferreira
 CONTABILIDADE GERAL Contabilidade - Noções Gerais parte 14 Valter Ferreira Reconhecimento de despesas 4.49. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando resultarem em decréscimo
CONTABILIDADE GERAL Contabilidade - Noções Gerais parte 14 Valter Ferreira Reconhecimento de despesas 4.49. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando resultarem em decréscimo
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA EMPRESA WEG SA 1 ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY WEG SA
 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA EMPRESA WEG SA 1 ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY WEG SA Marcia Bonini Contri 2, Stela Maris Enderli 3 1 Trabalho desenvolvido na disciplina de
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA EMPRESA WEG SA 1 ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY WEG SA Marcia Bonini Contri 2, Stela Maris Enderli 3 1 Trabalho desenvolvido na disciplina de
4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM
 4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM Carvalho et al. (2015: cap. 6) 07/11/2018 1 Monetaristas Como reação à síntese neoclássica e a crença no trade-off estável
4. Modelo Monetarista 4.1. Demanda por moeda em Friedman: o restabelecimento da TQM Carvalho et al. (2015: cap. 6) 07/11/2018 1 Monetaristas Como reação à síntese neoclássica e a crença no trade-off estável
Resultados. 4.1 Resultado da análise buy and hold
 36 4 Resultados 4.1 Resultado da análise buy and hold Os resultados obtidos com a análise buy and hold estão em linha com os observados em estudos efetuados no mercado norte-americano, como Ritter (1991)
36 4 Resultados 4.1 Resultado da análise buy and hold Os resultados obtidos com a análise buy and hold estão em linha com os observados em estudos efetuados no mercado norte-americano, como Ritter (1991)
Investment Grade: Impactos na Economia Brasileira e no Setor Elétrico Brasileiro 1
 Investment Grade: Impactos na Economia Brasileira e no Setor Elétrico Brasileiro 1 Nivalde José de Castro 2 Roberto Brandão 3 A obtenção do Investiment Grade, em um cenário de crise financeira internacional,
Investment Grade: Impactos na Economia Brasileira e no Setor Elétrico Brasileiro 1 Nivalde José de Castro 2 Roberto Brandão 3 A obtenção do Investiment Grade, em um cenário de crise financeira internacional,
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO
 ADMINISTRAÇÃO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO INDICADORES : LIQUIDEZ E ESTRUTURA DE CAPITAL A análise através de índices consiste em relacionar contas e grupos de contas para extrair conclusões
ADMINISTRAÇÃO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO INDICADORES : LIQUIDEZ E ESTRUTURA DE CAPITAL A análise através de índices consiste em relacionar contas e grupos de contas para extrair conclusões
A TEORIA FINANCEIRA NO CONTEXTO DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS: O CASO DO SECTOR TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL. por
 A TEORIA FINANCEIRA NO CONTEXTO DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS: O CASO DO SECTOR TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL por Luís Miguel Rodrigues Miranda da Rocha Tese de Mestrado em Ciências Empresariais Orientada
A TEORIA FINANCEIRA NO CONTEXTO DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS: O CASO DO SECTOR TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL por Luís Miguel Rodrigues Miranda da Rocha Tese de Mestrado em Ciências Empresariais Orientada
Implicações do desempenho da Rentabilidade e da Margem de Lucro nos Investimentos da Indústria de Transformação
 Departamento de Competitividade e Tecnologia Implicações do desempenho da Rentabilidade e da Margem de Lucro nos Investimentos da Indústria de Transformação José Ricardo Roriz Coelho Vice Presidente da
Departamento de Competitividade e Tecnologia Implicações do desempenho da Rentabilidade e da Margem de Lucro nos Investimentos da Indústria de Transformação José Ricardo Roriz Coelho Vice Presidente da
FATORES EXPLICATIVOS DO SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL 1990 A 1997
 Economia e Desenvolvimento, nº 11, março/2000 Artigo Acadêmico FATORES EXPLICATIVOS DO SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL 1990 A 1997 Zenir Adornes da Silva * Resumo: Neste artigo, analisa-se a influência
Economia e Desenvolvimento, nº 11, março/2000 Artigo Acadêmico FATORES EXPLICATIVOS DO SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL 1990 A 1997 Zenir Adornes da Silva * Resumo: Neste artigo, analisa-se a influência
