CLUBES DE CIÊNCIAS E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BLUMENAU (SC).
|
|
|
- Daniela Frade Palhares
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 CLUBES DE CIÊNCIAS E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BLUMENAU (SC). Resumo BUCH, Gisele Moraes Buch PPGECIM/FURB gisele.buch@hotmail.com SCHROEDER, Edson PPGECIM/FURB edi.bnu@terra.com.br Eixo Temático: Didática: Teorias, Metodologias e Práticas Agência Financiadora: não contou com financiamento O objetivo central deste trabalho foi conhecer e analisar as percepções de cinco professores coordenadores dos Clubes de Ciências possuem sobre os Clubes de Ciências, implantados na Rede Municipal de Ensino de Blumenau (SC). Além disto, pretendemos conhecer abordagens metodológicas, de avaliação, além de identificar as dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades. Utilizamos como instrumento de coleta de dados da pesquisa, entrevistas semi-estruturadas, que foram gravadas e posteriormente transcritas e analisadas, na pesquisa original, a partir de quatro categorias de análise. Para este artigo selecionamos duas categorias: dificuldades encontradas pelos professores coordenadores do Clube, e os métodos de avaliação destes professores em relação aos seus alunos clubistas. No que diz respeito à suas percepções, entendemos que os professores coordenadores têm cultivado um conjunto de ideias expressas nas entrevistas, muitas das quais, adequadas em nosso julgamento. No entanto, percebemos fragilidades no que se refere às questões relacionadas ao fazer ciência, como atividade construtiva pelos alunos, além da necessidade de aprofundarem questões sobre a forma de avaliação de seus alunos, bem como uma explicitação de suas concepções sobre ciência. Consideramos que os professores coordenadores estão desenvolvendo um bom trabalho, mesmo diante das dificuldades encontradas como a falta de espaço, falta de materiais e recursos adequados, o tempo reduzido para o planejamento e execução das atividades, além das relacionadas às características mais pessoais dos alunos participantes, como motivação e envolvimento, comportamento inadequado, além das compreensões de como os alunos constroem seus conhecimentos. Palavras-chave: Clube de Ciências. Alfabetização científica. Ensino de ciências. Professores coordenadores.
2 3476 Introdução O ensino, hoje, em nosso país, encontra-se em uma delicada e preocupante situação. Uma situação nada diferente, no que diz respeito ao ensino de ciências. Esta não é uma especulação ou suposição. São fatos, evidenciados por pesquisas nacionais e internacionais (FOUREZ, 2003; GIL-PEREZ; VILCHES, 2005). Diante desta realidade, pesquisadores têm levantado fatores diversos, como a falta de capacitação dos professores, capacitações inadequadas, a situação atual das condições de trabalho dos professores, a falta de interesse dos alunos, entre outros fatores. Entretanto, a crise gera reflexão, o que possibilita oportunidades para se propor alternativas que possam ir ao encontro das expectativas dos professores brasileiros: um ensino de ciências muito mais significativo para os alunos (POZO; CRESPO, 2009; DELOZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002). Nesse contexto, apresentamos o Clube de Ciências como uma proposta que congrega um variado conjunto de ações com vistas à dinamização e o desenvolvimento de atividades. Esta proposta tem como objetivo geral proporcionar um espaço para que os alunos tenham oportunidade de desenvolver atitudes e habilidades científicas, além de contribuir para os processos de construção do conhecimento, estendendo suas ações e atendendo não somente a unidade escolar, mas a comunidade onde está inserido. Também temos como pressuposto, que os conhecimentos devem auxiliar os alunos na construção de uma cultura científica com vistas a um entendimento dos fenômenos do mundo físico, químico e biológico, dos aspectos ambientais necessários para a manutenção da vida, além da compreensão dos processos de produção do conhecimento humano e da tecnologia, suas aplicações, conseqüências e limitações (COLL, 2002). Cientes da emergência e importância da alfabetização científica de nossos alunos, a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau (SEMED) promoveu diversas ações, entre elas, a implantação de cinco Clubes de Ciências em escolas da rede. O Projeto já acontece desde o ano de 2005 na cidade de Blumenau (SC). Nesse sentido, pretendemos conhecer e analisar as percepções que norteiam os trabalhos de cinco professores coordenadores, no que diz respeito as suas atividades como orientadores e desencadeadores de processos construtivos que visam a alfabetização científica dos alunos, via Clubes de Ciências. Além disto, pretendemos conhecer abordagens
3 3477 metodológicas e de avaliação, utilizadas pelos professores coordenadores, além de identificar as dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades. O ensino de ciências naturais e a alfabetização científica Com a evolução da humanidade houve uma super valorização do conhecimento científico e tecnológico e, hoje, não é possível pensar o indivíduo sem que tenha, pelo menos, um conhecimento básico do saber científico e da influência das tecnologias sobre o nosso pensar e fazer. Um ensino de ciências que conduza a uma alfabetização científica e técnica significativa e socialmente responsável é o grande desafio para os professores. O que ensinamos na escola deve auxiliar os alunos na construção de uma cultura científica com vistas a um entendimento dos fenômenos do mundo físico, químico e biológico, dos aspectos ambientais necessários para a manutenção da vida, além da compreensão dos processos de produção do conhecimento humano e da tecnologia, suas aplicações, conseqüências e limitações. O que se pretende é que os alunos saibam utilizar os conhecimentos científicos como instrumentos que ofereçam novos significados e percepções sobre o mundo, criando outras possibilidades de interação com a realidade (SFORNI, 2004). Aguiar (1998) estende esta compreensão acrescentando, ainda, que a alfabetização científica deve estar comprometida com a racionalidade, o pensamento crítico e a objetividade. Possivelmente, um ensino baseado apenas na transmissão de informações destituídas de significado, é uma das causas que aqui colocamos em evidência: o desinteresse pelas aulas e pelo que nelas precisa ser aprendido. Além disto, os alunos podem não estar sendo incentivados no desenvolvimento de suas capacidades construtivas, não conseguem compreender a aplicação dos conhecimentos, não desenvolvem sua intelectualidade e atitudes como interesse pelos estudos, responsabilidade, crítica e até mesmo a criatividade. A escola é uma instituição cuja organização, diferente de outras instituições, tem como objetivo central garantir o acesso aos conhecimentos científicos, construídos e organizados historicamente. Tais conhecimentos científicos ensinados na escola, se considerarmos o seu valor e o seu sentido, muitas vezes estão afastados do cotidiano de grande parte dos alunos, e pouco os têm auxiliado na reflexão e ação sobre suas questões cotidianas. Percebemos que a transformação dos saberes ensinados em instrumentos do pensamento é um grande desafio a todos os envolvidos nos processos de ensino.
4 3478 A alfabetização científica é resultante de um processo contínuo de construção de conhecimento pelo indivíduo. A constituição dos conhecimentos científicos precisa fazer parte da vida cotidiana dos alunos para que os auxilie na solução de problemas simples, como por exemplo, a maneira correta de tomar pílula anticoncepcional, opinar sobre temas polêmicos como o uso de células embrionárias e da energia nuclear, enfim, contribui para o esclarecimento de um contexto científico-tecnológico que rodeia a todos nos dias atuais. Desta maneira, percebemos como é fundamental a necessidade da alfabetização científica para todos, que tem como objetivos formar indivíduos em três diferentes aspectos, segundo Fourez (1997): a) aspecto vocacional: facilita o descobrir e desenvolver aptidões; b) aspecto social: desenvolve no entrosamento e articulação nas atividades realizadas em grupo; c) aspecto pessoal: permite criar inclinações adequadas para a idade e etapa de desenvolvimento da criança, educando-a nos tempos livres. A alfabetização científica, como é referida por alguns autores como Pozo e Crespo (2009), Fourez (2003) e Chassot (2001) se constitui como uma das grandes linhas de investigação na educação em ciências. Pode-se quase afirmar que os analfabetos formais, que vivem num mundo sofisticadamente tecnológico, vivem o que poderia ser chamado de analfabetismo científico (CHASSOT, 2003) e, muito provavelmente são, também, analfabetos políticos. O problema com que nos defrontamos é, paradoxalmente, simples e complexo. Simples porque sabemos o que fazer: propor uma educação que alfabetize política e cientificamente cidadãos. Complexo, pois temos que sair do que se está fazendo e propor maneiras novas de ensinar nestes novos tempos (CHASSOT, 2008). Para aprender ciências, o estudante deve ser instigado, ter sua curiosidade aguçada faz-se necessário despertar o interesse pela ciência cotidiana. Alunos, por natureza, são curiosos e dinâmicos, mas, se estas importantes características forem reprimidas pelas atividades mecânicas e prontas em sala de aula, os processos de construção do conhecimento podem tornar-se desinteressantes e sem sentido. A aprendizagem de ciências de forma significativa pressupõe a participação efetiva dos alunos em seus processos de construção do conhecimento. Neste sentido, é preciso que os professores estejam preparados e tenham clareza de como esses processos podem ser desenvolvidos em suas aulas. Ensinar não é apenas repetir teorias e conceitos; é preciso uma
5 3479 participação efetiva dos alunos para que estes não se tornem passivos e indiferentes diante dos objetos do conhecimento. Diante das problemáticas mencionadas, consideramos a sala de aula um espaço limitado para o aprendizado de ciências. Com poucas aulas, excessivo número de alunos em sala, o desinteresse pelos estudos e a preocupação no cumprimento da grande quantidade de conteúdos a serem ensinados, qualquer professor encontra-se em difícil situação, quando almeja transformar suas aulas. O Clube de Ciências: definição e objetivos Os Clubes de Ciências surgiram no Brasil na década de No entanto, a proposta nasceu desacreditada, pois para a grande maioria dos professores e diretores não era normal realizar saídas a campo, coletar dados, fazer investigações, etc. Muitos pensavam não se tratar de um trabalho sério e honesto. Era complicado convencer as pessoas que fora da sala de aula também poder-se-ia estabelecer um interessante espaço pedagógico. Assim, de forma prematura e desacreditada, nasceram os Clubes de Ciências, que ganhavam confiança à medida que mostravam sua produção (MANCUSO; LIMA; BANDEIRA, 1996). Mancuso, Lima e Bandeira (1996) e Rodriguez (1972) apresentam o quem vem a ser, efetivamente, um Clube de Ciências na escola. Parece consensual entre os diferentes autores, que os Clubes se caracterizam como uma organização em que os jovens se reúnem, regularmente, no contraturno, em torno de temas, atividades ou problemas específicos, sempre coordenados por um professor devidamente qualificado. Seu propósito é o de incrementar o interesse pela ciência e matemática, além de proporcionar uma visão da ciência como um processo em contínua construção. O Clube de Ciências promove, a partir de diferentes ações, a inserção dos alunos na prática do fazer ciência, possibilitando aos membros a vivência do método científico, assim como a oportunidade de exercitarem um rigor, próprio do fazer ciência. A implantação dos Clubes de Ciências vai ao encontro dos anseios de muitos professores que o percebem como uma oportunidade para a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual dos seus alunos. Um Clube, ao desenvolver um projeto, necessita estender suas ações e atender não somente a unidade escolar, mas a comunidade onde está inserido. Com vistas à compreensão mais apurada da comunidade da qual fazem parte, além de mostrar preocupação com as questões relacionadas ao ambiente e qualidade de vida,
6 3480 tornando-se assim um espaço interessante para efetivar uma educação muito mais completa. A ação do Clube de Ciências não se limita apenas à aprendizagem de conceitos e fatos científicos, age também na formação pessoal do estudante, onde este aprende a respeitar semelhantes, exercitar a participação e o espírito de equipe por intermédio dos trabalhos em conjunto, a mudar atitudes pessoais. O ideal é que os estudantes vão descobrindo suas aptidões, desenvolvendo o espírito crítico diante dos debates construindo, assim, um perfil para os estudantes participantes. O aspecto social desenvolve articulação nas atividades realizadas em grupo e o aspecto pessoal, que permite criar inclinações adequadas para a idade e etapa de desenvolvimento do estudante (FOUREZ, 1997). Em Blumenau (SC), o projeto Clube de Ciências acontece na Rede Municipal de Ensino, coordenado pela SEMED, desde o final dos anos 1980, não se transformando em um projeto permanente, sendo encerrado nos anos seguintes. Ciente da emergência e importância da alfabetização científica de seus alunos, a SEMED promoveu diversas ações, para dinamizar o ensino, entre elas, a reimplantação dos Clubes. Atualmente a Rede Municipal atende cinco Clubes, efetivamente implantados e com projetos em andamento. Os professores que coordenam as atividades no Clube de Ciências dedicam horas específicas, recebendo instruções e apoio da coordenação da SEMED. Procedimentos metodológicos Para se conhecer e compreender as percepções que professores têm sobre os Clubes de Ciências, fez-se necessário uma aproximação das percepções, crenças e valores, dos discursos utilizados, enfim, de como se processa o coordenar um Clube (ADRIANO, 1997). Neste sentido, utilizamos como instrumentos de coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas com os cinco professores coordenadores da Rede Municipal de Ensino de Blumenau. As entrevistas permitiram uma maior aproximação da perspectiva dos sujeitos, na tentativa de conhecer suas percepções, aspirações, vontades, atitudes, ou seja, os significados atribuídos à realidade e às suas próprias ações (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Esta etapa foi gravada e as respostas transcritas posteriormente, com a autorização consciente e assinada dos participantes, e mantendo sua privacidade, devido a posicionamentos pessoais. Para este artigo, apresentamos duas categorias de análise, a partir de uma pesquisa maior que considerou quatro categorias, previamente estabelecidas (quadro 1). Organizamos
7 3481 as análises a partir das respostas dos cinco professores 1, agora denominados de P1, P2, P3,... procurando identificar relações entre as categorias, com a intenção de compreendermos melhor o que pensam professores e como organizam suas ações com vistas à concretização dos Clubes de Ciências, como coordenadores. Quadro 1: Categorias utilizadas para conhecer e analisar as percepções dos professores coordenadores de Clubes de Ciências. PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES COORDENADORES CATEGORIAS DE ANÁLISE Dificuldades encontradas no Clube de Ciências Avaliação A percepção dos professores coordenadores Nosso objetivo de partida foi identificar e analisar as concepções de cinco professores coordenadores, sobre Clube de Ciência, no que diz respeito as suas ações como orientadores, visando o aperfeiçoamento da alfabetização científica dos estudantes participantes. Quando questionados sobre as dificuldades que encontravam para o desenvolvimento do Clube que coordenavam na escola e como lidavam com essas dificuldades, os professores se posicionaram de diferentes maneiras: P1: O espaço que eu usava à tarde para os encontros, era uma sala de aula de manhã. Então não tinha como guardar os materiais, o Clube ter seu armário, seus materiais, não existia. Outro problema é a falta de freqüência dos alunos, poucos alunos vinham todas as semanas. [...]. Parece uma bobagem, você pede o Clube para tirar os alunos da sala e pede uma sala. Mas é necessário ter um senso de localização, de existência do Clube. A sala do Clube faz isso. P4: Como a escola é muito grande o espaço é limitado porque tu estás usando o laboratório nessa aula daí, na outra aula, está reservado para outra professora, aí tem que sair com todo o material. E têm coisas que precisam de computador, ai a informática está ocupada, ai quer imprimir, não dá. Então, esse ano, eu pedi que tivesse um computador com internet, então um notebook fica reservado para o Clube. Porque fica mais ágil. Já a estrutura da escola é muito boa, materiais, enfim é muito bom. 1 No início da investigação, apenas cinco Clubes de Ciências estavam em atividade na Rede Municipal de Ensino, em Blumenau.
8 3482 Este parece ser um problema a ser superado por alguns Clubes de Ciências da Rede Municipal. Conforme P1, é necessário ter um senso de localização, de existência do Clube. A sala do Clube faz isso. Entendemos que a construção de uma identidade para os Clubes de Ciências, tanto pelos alunos, como pelos professores, depende, entre as diversas ações, da disponibilização de uma sala que, aos poucos, vai se constituindo, pelos seus participantes, como um espaço de aprendizagem. Mas, ressaltamos, não se trata de uma sala de aula como todas as outras, pois um Clube de Ciências é um espaço diferente. Como espaço físico, um Clube precisa descaracterizar o cenário formal da sala de aula (MANCUSO, LIMA; BANDEIRA, 1996). Para P2, o problema é o horário de funcionamento do seu Clube, que coincide com outras atividades dos alunos participantes. P2 também cita o número reduzido de horas para se dedicar às atividades, argumentando que possui poucas horas para o planejamento mais adequado dos encontros. O professor P3, por sua vez, menciona o tempo de dedicação reduzido e a dificuldade financeira, fazendo um alerta: P3: Agora materiais eu tenho bastante e eu acho que o professor tem que ser criativo nessa hora, se não tiver um Becker, uma pipeta, improvisar. O Clube tem que ser totalmente diferente do que é colocado em sala de aula. Se tu vieres com a mesma proposta de sala de aula, teu Clube não dura muito tempo. professores: O professor P5 nos apresentou outro tipo de dificuldade, diferente dos demais P5: Em relação á escola eu não tenho dificuldade nenhuma porque faz parte do projeto pedagógico da escola, esses projetos, como o Clube de Ciências. A minha dificuldade são os alunos mesmo, eu tenho uma mistura muito grande aqui. Tem alunos com problema de aprendizado, com autismo. Então lidar com todas essas diferenças é o meu grande desafio. Mas fora isto, eu não encontro problemas. No que diz respeito a sua resposta, P5 reflete a angústia de muitos professores de ciências em lidar com desafios recorrentes em nossas escolas: um deles, diz respeito ao entendimento superficial de como os alunos constroem o conhecimento científico, ou seja, de como se apropriam dos saberes e os transformam em instrumentos de interlocução com suas realidades. Ratificamos que os professores necessitam conhecer, de forma mais aprofundada, a respeito dos aspectos gerais do desenvolvimento humano, isto é, o conhecimento dos
9 3483 aspectos psicológicos dos alunos e das suas potencialidades construtivas, o que, a nosso ver incidirá sobre o modo como um professor pensa o seu ensino e a sua relação com o aluno, de certa maneira, explicitada na frase: A minha dificuldade são os alunos mesmo, eu tenho uma mistura muito grande aqui. Outra questão, diz respeito às urgentes discussões sobre os processos inclusivos de alunos portadores de necessidades especiais, e o despreparo dos professores, uma realidade cada vez mais presente na escola: Têm alunos com problema de aprendizado, com autismo. Então lidar com todas essas diferenças é o meu grande desafio. Também questionamos os professores como avaliavam seus alunos nas atividades do Clube de Ciências. Neste sentido, encontramos diferentes posicionamentos no que diz respeito à avaliação, bem como fragilidades e incongruências, enfim, articulações possíveis. Entre os cinco professores, o professor P1, materializa todo um processo por meio de uma nota: P1: Eu uso método tradicional. Eu dou uma nota. Que é a linguagem que eles entendem. As outras avaliações são verbais a gente conversa, chama atenção, elogia, fala com eles o tempo todo e isso vai atingindo eles de forma positiva. Só que queira ou não existe uma ligação muito forte com o número. Analiso principalmente a participação, não avalio o acerto e o erro, como numa prova. Porque o erro é tão importante quanto o acerto. É como ele trata esse erro e o acerto, o raciocínio, a resolução de problemas, a ideia de ser prestativo: professor eu posso fazer! A iniciativa do aluno. [...]. Em sua justificativa, P1 argumenta sobre o papel do Clube no desenvolvimento da iniciativa, o companheirismo, o apoio, a solidariedade, valorizando a manifestação desses comportamentos. Entretanto, não consegue apontar quais critérios utilizaria, por exemplo, para avaliar os aspectos relacionados às atitudes. Na tentativa, entra em contradição quando argumenta: Se der uma nota de participação, seria ilusória, primeiro que é uma nota pautada no teu humor, no contato curto com o teu aluno, no preconceito que você tem sobre ele. Ou você faz uma avaliação totalmente imparcial, ou faça uma avaliação com conhecimento suficiente. P2: No momento o meu termômetro é a assiduidade, porque acredito que se meu aluno vem, é porque gosta. Não dou nota. O Clube é uma coisa totalmente desvinculada do cotidiano da sala de aula, por isso eu vejo que é uma forma espontânea de fazer ciências.
10 3484 P3: Alunos receptivos, interesse, participação aqui dentro e o compromisso com as obrigações do Clube, como trazer materiais. Não atribuo notas, faço elogios, levo os trabalhos importantes para comunidade para as outras salas, valorizando eles e como eles são úteis para escola, de se tornar gente, de estar contribuindo para a escola e para comunidade deles. P4: Não atribuo nota. Eu avalio durante os processos. Porque às vezes tem a questão de que alguns não gostam de determinada pesquisa. Eles só querem o prático, eles não querem pesquisa. Mas isso também faz parte do trabalho. Então eu olho a participação, o interesse, a pesquisa, o envolvimento. P5: O comprometimento deles com as atividades do Clube, o comportamento com os colegas, a participação principalmente. Mas não dou nota não, eu percebo as atitudes deles. A avaliação nos Clubes de Ciências é uma questão que consideramos importante, necessitando ser discutida e aprofundada entre os professores e coordenação geral da SEMED. Evidentemente, a atribuição de notas não deveria ser um objetivo dos professores coordenadores. Provavelmente alguns professores ainda não conseguiram se livrar do ranço positivista, ainda impregnado nas escolas (MANCUSO, LIMA; BANDEIRA, 1996). Há muitas formas de avaliar, como a avaliação participativa, em que o professor analisa e não quantifica o envolvimento do aluno nas atividades, embasando-se nos princípios norteadores do seu Clube. Entendemos, também, que o instrumento da auto-avaliação é essencial neste processo avaliativo e também precisa ser levado em consideração pelos professores. Considerações finais e contribuições Com a finalização da pesquisa, mas levando-se em consideração somente duas categorias de análise, foi possível tecermos algumas considerações a respeito dos Clubes de Ciências como uma proposta para o incremento da alfabetização científica em escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Blumenau. Muito embora a ideia dos Clubes de Ciências não seja recente, a proposta ainda não se disseminou pelas redes de ensino, tanto públicas como particulares. Se concentrarmos nossa atenção para as discussões teóricas a este respeito, veremos, também, que ainda há uma produção bastante incipiente. Entendemos que, nesse sentido, abre-se um leque bastante promissor para pesquisas em ensino de ciências, tendo-se como objeto principal os Clubes de
11 3485 Ciências e suas interfaces com questões recorrentes na área, entre as quais, destacamos: a alfabetização científica e os processos de construção do conhecimento, os projetos de investigação, história da ciência, a leitura e escrita em ciências, aprendizagem significativa, ciência, tecnologia e sociedade, entre outras. O Clube de Ciências consiste em uma possibilidade para ampliar possibilidades de inserção dos alunos no fazer ciência, influenciando expressivamente sobre o desenvolvimento de atitudes e habilidades que, esperamos, nossos alunos desenvolvam e utilizem, tanto para as aulas de ciências como para as outras disciplinas. Reconhecemos que a sala de aula tradicional, associada a outras questões como os tempos escolares, o excessivo número de alunos e conteúdos para serem ensinados, limitam o desenvolvimento de alguns objetivos que julgamos importantes para a promoção de uma educação muito mais presente e significativa. No que diz respeito à suas percepções a respeito de um Clube de Ciências, entendemos que os cinco professores coordenadores, atuantes na Rede Municipal de Ensino de Blumenau, já têm cultivado um conjunto de ideias, que foram expressas pelas entrevistas, muitas das quais, adequadas em nosso julgamento. Entretanto, percebemos que há fragilidades no que se refere às questões relacionadas à avaliação. Outra questão relaciona-se ao fato de que esses professores não podem passar ao largo do seu processo de educação continuada, que deve acontecer periodicamente, com a participação efetiva da coordenação geral e, claro, da universidade responsável pela formação de professores de ciências. Nesses encontros de formação, entre os temas possíveis, colocamos em evidência os objetivos do ensino de ciências, a alfabetização científica dos alunos e o papel dos Clubes neste movimento, concepção de ciência e o ensino, entre outros. As percepções passam por transformações e consideramos isso salutar. Entretanto, sugerimos e os professores passem por esse processo de forma compartilhada, jamais de forma isolada. Consideramos que os professores coordenadores estão desenvolvendo um bom trabalho, mesmo diante das dificuldades encontradas como a falta de espaço, falta de materiais e recursos adequados, tempo reduzido para o planejamento e execução das atividades, além das relacionadas às características mais pessoais dos alunos participantes, como motivação e envolvimento, comportamento inadequado, além das compreensões de como os alunos constroem seus conhecimentos.
12 3486 A partir das considerações, apresentamos algumas implicações que consideramos importantes para o desenvolvimento dos Clubes de Ciências como proposta para a melhoria da alfabetização em nossa cidade: a) A função mediadora do professor coordenador é determinante para o desenvolvimento dos alunos participantes, tanto no que diz respeito às aprendizagens como às motivações que os manterão centrados, mesmo diante das adversidades e elas, certamente, surgirão. Os alunos se desenvolvem quando interagem com materiais disponíveis pela cultura, no entanto, as interações não são determinadas pelos recursos em si, mas pelos objetivos e metas de trabalho, definidos e socialmente determinados; b) Materiais escritos também são importantes e devem estar presentes nas atividades dos Clubes. Sua utilização pode prover os meios para a reflexão, bem como o emprego da sistematização, uma vez que introduzem e auxiliam os alunos na compreensão das diferentes formas de representação utilizadas pela comunidade científica: os conceitos visuais e verbais. Também alertamos os professores sobre a importância do registro escrito, contribuindo para a memória dos Clubes, bem como podem se transformar em importantes instrumentos de avaliação do desenvolvimento dos alunos participantes; c) Embora cada aluno tenha características psicológicas e sociais muito peculiares, as atividades do Clube precisam estar baseadas no desenvolvimento de conhecimentos e habilidades comuns. Entre outras ações, isto é possível pelas atividades em equipes e as apresentações, nas discussões, pela resolução de tarefas ou outras atividades em que são incentivadas a agir de forma deliberada e constante com seus pares; d) As atividades e conhecimentos precisam transpor os limites do Clube. Deve ser preocupação dos professores e seus alunos a criação de conexões significativas entre a realidade social e os conteúdos escolares e entre estes e a realidade social; e) Da mesma forma que os alunos aprendem e necessitam da assistência, os professores coordenadores também necessitam de apoio, no que se refere à sua profissão. Portanto, também precisam de novos conhecimentos, assistência e feedbacks constantes. Muitas vezes, encontram-se isolados, até mesmo dos seus pares. Possíveis soluções incluem, necessariamente, a participação conjunta das escolas, SEMED e universidade. Muitas ações neste sentido já são levadas a cabo, entretanto, ainda há problemas de diferentes ordens, como por exemplo, resultados ainda incipientes no
13 3487 que se refere aos reflexos dos esforços empreendidos nos cursos de formação continuada, no dia-a-dia dos professores coordenadores. f) No processo da alfabetização científica faz-se necessário, também, que os alunos sejam familiarizados com domínios de investigação, técnicas e instrumentos. Para isso é imperativo que a formação continuada auxilie os futuros professores na identificação de canais de comunicação entre os alunos e o professor nos Clubes. Os professores necessitam estar atentos às dificuldades características que os alunos enfrentam em suas atividades, como os procedimentos científicos são conduzidos, além do papel fundamental do registro escrito nos Clubes de Ciências, conforme já havíamos mencionado anteriormente. No processo de apropriação da cultura científica, os alunos vão construindo, em atividades compartilhadas, seus conhecimentos, processo que se estende e se intensifica nos Clubes de Ciências. Todavia, voltamos a insistir, isso se dá nas situações de ensino em que professor e alunos encontram-se engajados em processos ativos para o desenvolvimento da intelectualidade. Isso significa uma compreensão, por parte dos professores coordenadores de que os alunos precisam ser continuamente desafiados na resolução de tarefas com seus desafios associados, bem como nos procedimentos para a sua resolução destes desafios. Os dados indicam que muitos professores valorizam os recursos e metodologias que conduzem a estes patamares de aprendizagem, mas alguns, ainda encontram dificuldades em organizar seus processos de ensino, prejudicados pela falta de espaços adequados, recursos financeiros e materiais, tempo e, até mesmo, dificuldades em lidar com alunos que necessitam de apoios mais específicos, como os portadores de autismo e os hiperativos. Cabe aos professores coordenadores, o papel de organização do processo de ensino como atividade culturalmente organizada, com atenção voltada para aspectos essenciais como a formação de espaços interativos em sala de aula, além da apresentação de tarefas situadas e significativas, o que incluiu a formulação de tarefas e o domínio conceitual específico, um aspecto pouco mencionado pelos professores. REFERÊNCIAS ADRIANO, M. E. D. A. A pesquisa no cotidiano escolar. In: Fazenda, I. C. A. Metodologia da pesquisa educacional. 4 ed. São Paulo: Cortez, AGUIAR, O. Mudanças conceituais (ou cognitivas) na educação em ciências: revisão crítica e novas direções para a pesquisa. Química Nova na Escola, n. 9, mai., 1998.
14 3488 GIL-PEREZ, D.; VILCHES, A. Importância da alfabetização na sociedade actual. In: CACHAPUZ, A. A necessária renovação do ensino das ciências. São Paulo: Cortez, p. CHASSOT, A. Sete escritos sobre educação e ciência. São Paulo: Cortez, 2008., A. Educação consciência. Santa Cruz do Sul: Edunisc, p., A. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. Ijuí: Editora UNIJUÍ, COLL, César. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, FOUREZ, G. Crise no ensino de ciências? Investigações em ensino de ciências, v.8, n.2, ago Disponível em Acesso em: 15 mai , G. Alfabetización Científica Y Tecnológica. Acerca de las finalidades de la enseñanza de las ciencias. Buenos Aires- Argentina. Ediciones Colihue, GIL-PEREZ, D.; VILCHES, A. et al. Importância da alfabetização na sociedade actual. In: CACHAPUZ, A. A necessária renovação do ensino das ciências. São Paulo: Cortez, LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, MANCUSO, R.; LIMA, V. M. R.; BANDEIRA, V. Clubes de Ciências: criação, funcionamento, dinamização. Porto Alegre: SE/CECIRS, POZO, J.I.; CRESPO, M.A.G. A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, RODRIGUEZ, J. J. Como organizar y planificar um club científico. Buenos Aires: Kapelusz, SFORNI, M. S. de F. Aprendizagem conceitual e organização do ensino: contribuições da Teoria da Atividade. Araraquara: JM Editora, 2004.
CLUBES DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA: CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BLUMENAU (SC).
 CLUBES DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA: CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BLUMENAU (SC). CLUBS OF SCIENCE AND SCIENCE EDUCATION: TEACHER S CONCEPTIONS OF MUNICIPAL
CLUBES DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA: CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BLUMENAU (SC). CLUBS OF SCIENCE AND SCIENCE EDUCATION: TEACHER S CONCEPTIONS OF MUNICIPAL
Experiências em Ensino de Ciências V.8, No
 CLUBES DE CIÊNCIAS E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BLUMENAU (SC) Science Clubs and science literacy: conceptions by coordinating teachers
CLUBES DE CIÊNCIAS E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BLUMENAU (SC) Science Clubs and science literacy: conceptions by coordinating teachers
- estabelecer um ambiente de relações interpessoais que possibilitem e potencializem
 O desenvolvimento social e cognitivo do estudante pressupõe que ele tenha condições, contando com o apoio dos educadores, de criar uma cultura inovadora no colégio, a qual promova o desenvolvimento pessoal
O desenvolvimento social e cognitivo do estudante pressupõe que ele tenha condições, contando com o apoio dos educadores, de criar uma cultura inovadora no colégio, a qual promova o desenvolvimento pessoal
CLUBES DE CIÊNCIAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DE BLUMENAU SC.
 CLUBES DE CIÊNCIAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DE BLUMENAU SC. CLUBS OF SCIENCES: CONTRIBUTIONS TO SCIENTIFIC LITERACY IN THE MUNICIPAL TEACHING
CLUBES DE CIÊNCIAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DE BLUMENAU SC. CLUBS OF SCIENCES: CONTRIBUTIONS TO SCIENTIFIC LITERACY IN THE MUNICIPAL TEACHING
O ENSINO DA MATEMÁTICA EM SALA DE AULA: UM ESTUDO DIDÁTICO-REFLEXIVO COM UMA TURMA DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 O ENSINO DA MATEMÁTICA EM SALA DE AULA: UM ESTUDO DIDÁTICO-REFLEXIVO COM UMA TURMA DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Antonio Carlos Belarmino Segundo, Rodolfo Moreira Cabral. Universidade Estadual da Paraíba,
O ENSINO DA MATEMÁTICA EM SALA DE AULA: UM ESTUDO DIDÁTICO-REFLEXIVO COM UMA TURMA DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Antonio Carlos Belarmino Segundo, Rodolfo Moreira Cabral. Universidade Estadual da Paraíba,
O JOGO COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS
 O JOGO COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS Lidia Ribeiro da Silva Universidade Federal de Campina Grande, lidiaribeiroufcg@gmail.com Luana Maria Ferreira Duarte Universidade
O JOGO COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS Lidia Ribeiro da Silva Universidade Federal de Campina Grande, lidiaribeiroufcg@gmail.com Luana Maria Ferreira Duarte Universidade
CLUBES DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E ECOFORMAÇÃO
 Universidade Federal do Rio Grande do Norte Instituto de Química PIBID- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência CLUBES DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E ECOFORMAÇÃO
Universidade Federal do Rio Grande do Norte Instituto de Química PIBID- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência CLUBES DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E ECOFORMAÇÃO
A FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROFESSORA/DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA E OS REFLEXOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
 A FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROFESSORA/DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA E OS REFLEXOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA Danilene Donin Berticelli Aluna do mestrado em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
A FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROFESSORA/DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA E OS REFLEXOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA Danilene Donin Berticelli Aluna do mestrado em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
4.3 A solução de problemas segundo Pozo
 39 4.3 A solução de problemas segundo Pozo Na década de noventa, a publicação organizada por Pozo [19] nos dá uma visão mais atual da resolução de problemas. A obra sai um pouco do universo Matemático
39 4.3 A solução de problemas segundo Pozo Na década de noventa, a publicação organizada por Pozo [19] nos dá uma visão mais atual da resolução de problemas. A obra sai um pouco do universo Matemático
CONSTRUÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTRUCIONAIS (PVI): UMA PROPOSTA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NO IFG
 CONSTRUÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTRUCIONAIS (PVI): UMA PROPOSTA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NO IFG Pedro Itallo Vaz Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) pedroivaz@hotmail.com
CONSTRUÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTRUCIONAIS (PVI): UMA PROPOSTA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NO IFG Pedro Itallo Vaz Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) pedroivaz@hotmail.com
O processo de alfabetização científica em espaço de ensino não-formal. Valente - BA 2018
 O processo de alfabetização científica em espaço de ensino não-formal Autor: Adaltro José Araujo Silva 1 e-mail: adaltro_bio@yahoo.com.br Valente - BA 2018 1 UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia
O processo de alfabetização científica em espaço de ensino não-formal Autor: Adaltro José Araujo Silva 1 e-mail: adaltro_bio@yahoo.com.br Valente - BA 2018 1 UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia
FUNDAMENTOS DA SUPERVISÃO ESCOLAR
 FUNDAMENTOS DA SUPERVISÃO ESCOLAR Profª. Carla Verônica AULA 03 SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO Identificar os princípios da gestão participativa; Analisar a dialética do ambiente escolar; Perceber
FUNDAMENTOS DA SUPERVISÃO ESCOLAR Profª. Carla Verônica AULA 03 SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO Identificar os princípios da gestão participativa; Analisar a dialética do ambiente escolar; Perceber
O ENSINO DE BOTÂNICA COM O RECURSO DO JOGO: UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS.
 O ENSINO DE BOTÂNICA COM O RECURSO DO JOGO: UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. Lidiane Rodrigues Diniz; Universidade Federal da Paraíba lidiany-rd@hotmail.com Fabrícia de Fátima Araújo Chaves;
O ENSINO DE BOTÂNICA COM O RECURSO DO JOGO: UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. Lidiane Rodrigues Diniz; Universidade Federal da Paraíba lidiany-rd@hotmail.com Fabrícia de Fátima Araújo Chaves;
ENSINO MÉDIO: INOVAÇÃO E MATERIALIDADE PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA 1. Palavras-Chave: Ensino Médio. Inovação Pedagógica. Pensamento docente.
 ENSINO MÉDIO: INOVAÇÃO E MATERIALIDADE PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA 1 RESUMO Letícia Ramos da Silva 2 Trata-se de um estudo que apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa realizada em quatro escolas
ENSINO MÉDIO: INOVAÇÃO E MATERIALIDADE PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA 1 RESUMO Letícia Ramos da Silva 2 Trata-se de um estudo que apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa realizada em quatro escolas
O REPENSAR DO FAZER DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR NO PROCESSO DE REFLEXÃO COMPARTILHADA COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 O REPENSAR DO FAZER DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR NO PROCESSO DE REFLEXÃO COMPARTILHADA COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA Lenice Heloísa de Arruda Silva (UFGD) RESUMO No trabalho investigou-se, em um processo
O REPENSAR DO FAZER DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR NO PROCESSO DE REFLEXÃO COMPARTILHADA COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA Lenice Heloísa de Arruda Silva (UFGD) RESUMO No trabalho investigou-se, em um processo
Acreditamos no seu envolvimento e dedicação à sua realização e confiamos no seu sucesso.
 ATIVIDADE INTEGRADORA CURSO: LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO ESCOLAR CIRCUITO: 9 PERIODO: 7º Caro (a) aluno (a), Esta atividade deverá ser desenvolvida individualmente
ATIVIDADE INTEGRADORA CURSO: LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO ESCOLAR CIRCUITO: 9 PERIODO: 7º Caro (a) aluno (a), Esta atividade deverá ser desenvolvida individualmente
ELEMENTOS ARTÍSTICOS COMO ESTRATÉGIA DE SALA DE AULA PARA A INOVAÇÃO DO USO DO LAPTOP EDUCACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR
 ELEMENTOS ARTÍSTICOS COMO ESTRATÉGIA DE SALA DE AULA PARA A INOVAÇÃO DO USO DO LAPTOP EDUCACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR 09/2011 Novas Tecnologias em Educação Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
ELEMENTOS ARTÍSTICOS COMO ESTRATÉGIA DE SALA DE AULA PARA A INOVAÇÃO DO USO DO LAPTOP EDUCACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR 09/2011 Novas Tecnologias em Educação Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
XVIII ENDIPE Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira
 PRÁTICAS AVALIATIVAS DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM RONDONÓPOLIS-MT Kelly Bomfim Alves de Oliveira - PPGEdu/UFMT/CUR Adelmo Carvalho da Silva - PPGEdu/UFMT
PRÁTICAS AVALIATIVAS DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM RONDONÓPOLIS-MT Kelly Bomfim Alves de Oliveira - PPGEdu/UFMT/CUR Adelmo Carvalho da Silva - PPGEdu/UFMT
CRIATIVIDADE E PRODUÇÃO TEXTUAL: PRÁTICAS DE INCENTIVO À LEITURA
 CRIATIVIDADE E PRODUÇÃO TEXTUAL: PRÁTICAS DE INCENTIVO À LEITURA Isabel Lima da Silva Oliveira ¹ Estudante do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal da Paraíba. UFPB Campus IV, limaisabel16@gmail.com
CRIATIVIDADE E PRODUÇÃO TEXTUAL: PRÁTICAS DE INCENTIVO À LEITURA Isabel Lima da Silva Oliveira ¹ Estudante do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal da Paraíba. UFPB Campus IV, limaisabel16@gmail.com
A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E O BOM ENSINO DE HISTÓRIA: POSSIBILIDADE DE AUTONOMIA DOS DOCENTES E DISCENTES
 A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E O BOM ENSINO DE HISTÓRIA: POSSIBILIDADE DE AUTONOMIA DOS DOCENTES E DISCENTES SANTOS, Luciana Souza - UNINOVE lucianasouza_16@hotmail.com.br MELLO, Márcia Natália Motta UNINOVE
A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E O BOM ENSINO DE HISTÓRIA: POSSIBILIDADE DE AUTONOMIA DOS DOCENTES E DISCENTES SANTOS, Luciana Souza - UNINOVE lucianasouza_16@hotmail.com.br MELLO, Márcia Natália Motta UNINOVE
o que é? Resgatar um conteúdo trabalhado em sala de aula, por meio de novas aplicações ou exercícios
 lição de casa F1 o que é? É um recurso didático que o professor propõe aos alunos para potencializar a relação dele com o objeto de conhecimento. A lição pode ter vários objetivos: Resgatar um conteúdo
lição de casa F1 o que é? É um recurso didático que o professor propõe aos alunos para potencializar a relação dele com o objeto de conhecimento. A lição pode ter vários objetivos: Resgatar um conteúdo
CONSTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE
 1 CONSTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE Joana D`arc Anselmo da Silva Estudante do Curso de Licenciatura em Pedagogia, bolsista PIBID Universidade Federal da Paraíba. UFPB Campus IV, joanadarc945@gmail.com
1 CONSTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE Joana D`arc Anselmo da Silva Estudante do Curso de Licenciatura em Pedagogia, bolsista PIBID Universidade Federal da Paraíba. UFPB Campus IV, joanadarc945@gmail.com
Metodologia para o Ensino de Ciências
 LICENCIATURAS EM FÍSICA, QUÍMICA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Metodologia para o Ensino de Ciências Prof. Nelson Luiz Reyes Marques LICENCIATURAS EM FÍSICA, QUÍMICA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Desafios para o Ensino
LICENCIATURAS EM FÍSICA, QUÍMICA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Metodologia para o Ensino de Ciências Prof. Nelson Luiz Reyes Marques LICENCIATURAS EM FÍSICA, QUÍMICA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Desafios para o Ensino
A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NO PROCESSO DE ENSINO DOS PROFESSORES DE TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IMPERATRIZ-MA 1
 A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NO PROCESSO DE ENSINO DOS PROFESSORES DE TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IMPERATRIZ-MA 1 Tais Pereira dos Santos (1 autora) Acadêmica da Faculdade de Educação Santa Terezinha
A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NO PROCESSO DE ENSINO DOS PROFESSORES DE TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IMPERATRIZ-MA 1 Tais Pereira dos Santos (1 autora) Acadêmica da Faculdade de Educação Santa Terezinha
OBJETIVOS. PALAVRAS-CHAVE: Clube de Ciências; alfabetização científica, Projeto ENERBIO.
 IX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS Girona, 9-12 de septiembre de 2013 COMUNICACIÓN CLUBES DE CIÊNCIAS VINCULADOS AO PROJETO ENERBIO ENERGIA DA TRANSFORMAÇÃO: PROMOTORES
IX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS Girona, 9-12 de septiembre de 2013 COMUNICACIÓN CLUBES DE CIÊNCIAS VINCULADOS AO PROJETO ENERBIO ENERGIA DA TRANSFORMAÇÃO: PROMOTORES
OS CAMINHOS DA METACOGNIÇÃO
 Fundação Carlos Chagas Difusão de Idéias dezembro/2006 página 1 OS CAMINHOS DA METACOGNIÇÃO Marina Nunes e Claudia Davis: busca por um melhor entendimento do processo de ensinoaprendizagem. Fundação Carlos
Fundação Carlos Chagas Difusão de Idéias dezembro/2006 página 1 OS CAMINHOS DA METACOGNIÇÃO Marina Nunes e Claudia Davis: busca por um melhor entendimento do processo de ensinoaprendizagem. Fundação Carlos
Atuação do professor em Sala de Aula e Inovação do Ensino. Anne L. Scarinci
 Atuação do professor em Sala de Aula e Inovação do Ensino Anne L. Scarinci Problema motivador Indício: truncamento da seqüência pedagógica Caracterizar a atuação do professor em sala de aula Onde buscamos
Atuação do professor em Sala de Aula e Inovação do Ensino Anne L. Scarinci Problema motivador Indício: truncamento da seqüência pedagógica Caracterizar a atuação do professor em sala de aula Onde buscamos
ENSINO DE QUÍMICA E SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA. (*) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.
 ENSINO DE QUÍMICA E SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA Laís Conceição TAVARES (**) Ivoneide Maria Menezes BARRA (*) Karen Albuquerque Dias da COSTA (**) (*) Instituto Federal de Educação, Ciência e
ENSINO DE QUÍMICA E SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA Laís Conceição TAVARES (**) Ivoneide Maria Menezes BARRA (*) Karen Albuquerque Dias da COSTA (**) (*) Instituto Federal de Educação, Ciência e
PLANO GESTÃO Números de alunos da escola e sua distribuição por turno, ano e turma.
 PLANO GESTÃO 2016 1. Identificação da Unidade Escolar E.E. Professora Conceição Ribeiro Avenida Sinimbu, s/nº - Jardim Vista Alegre Cep: 13056-500 Campinas/SP 1.1 Equipe Gestora Diretor: Sueli Guizzo Bento
PLANO GESTÃO 2016 1. Identificação da Unidade Escolar E.E. Professora Conceição Ribeiro Avenida Sinimbu, s/nº - Jardim Vista Alegre Cep: 13056-500 Campinas/SP 1.1 Equipe Gestora Diretor: Sueli Guizzo Bento
Relembrando a aula
 Relembrando a aula 29-03... A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO Docente: Dra. Eduarda Maria Schneider E-mail: emschneider@utfpr.edu.br Aula 31-03 Interpretando imagens... Imagem 2. Imagem 1. Questão inicial A relação
Relembrando a aula 29-03... A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO Docente: Dra. Eduarda Maria Schneider E-mail: emschneider@utfpr.edu.br Aula 31-03 Interpretando imagens... Imagem 2. Imagem 1. Questão inicial A relação
A CONTEXTUALIZAÇÃO COMO AGENTE FACILITADOR NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
 27 a 30 de Agosto de 2014 A CONTEXTUALIZAÇÃO COMO AGENTE FACILITADOR NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA BARROSO, Poliana Polinabarroso@saocamilo-es.br BICALHO, Alessandro Erick alessandrobicalho@saocamilo-es.br
27 a 30 de Agosto de 2014 A CONTEXTUALIZAÇÃO COMO AGENTE FACILITADOR NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA BARROSO, Poliana Polinabarroso@saocamilo-es.br BICALHO, Alessandro Erick alessandrobicalho@saocamilo-es.br
ETNOMATEMÁTICA E LETRAMENTO: UM OLHAR SOBRE O CONHECIMENTO MATEMÁTICO EM UMA FEIRA LIVRE
 ETNOMATEMÁTICA E LETRAMENTO: UM OLHAR SOBRE O CONHECIMENTO MATEMÁTICO EM UMA FEIRA LIVRE Sandra Regina RICCI Mestranda em Educação em Ciências e Matemática, Universidade Federal de Goiás sandraricci@brturbo.com.br
ETNOMATEMÁTICA E LETRAMENTO: UM OLHAR SOBRE O CONHECIMENTO MATEMÁTICO EM UMA FEIRA LIVRE Sandra Regina RICCI Mestranda em Educação em Ciências e Matemática, Universidade Federal de Goiás sandraricci@brturbo.com.br
AS CONTRIBUIÇÕES DAS AULAS EXPERIMENTAIS NA CONSTRUÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 AS CONTRIBUIÇÕES DAS AULAS EXPERIMENTAIS NA CONSTRUÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL Gisele Carvalho Lomeu Mestranda do Programa Pós-Graduação de Ensino de Ciências e Matemática/UNEMAT
AS CONTRIBUIÇÕES DAS AULAS EXPERIMENTAIS NA CONSTRUÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL Gisele Carvalho Lomeu Mestranda do Programa Pós-Graduação de Ensino de Ciências e Matemática/UNEMAT
A EXPERIMENTAÇÃO NO COTIDIANO DA ESCOLA PLENA DE TEMPO INTEGRAL NILO PÓVOAS EM CUIABÁ-MT
 A EXPERIMENTAÇÃO NO COTIDIANO DA ESCOLA PLENA DE TEMPO INTEGRAL NILO PÓVOAS EM CUIABÁ-MT Amanda Katiélly Souza Silva amandaquimica2014@gmail.com Isabela Camacho Silveira silveiraisabelacamacho@gmail.com
A EXPERIMENTAÇÃO NO COTIDIANO DA ESCOLA PLENA DE TEMPO INTEGRAL NILO PÓVOAS EM CUIABÁ-MT Amanda Katiélly Souza Silva amandaquimica2014@gmail.com Isabela Camacho Silveira silveiraisabelacamacho@gmail.com
Indisciplina na Escola: Desafio para a Escola e para a Família
 Indisciplina na Escola: Desafio para a Escola e para a Família Francisco Canindé de Assunção Faculdade do Norte do Paraná FACNORTE / SAPIENS canindeassuncao@gmail.com Resumo: Atualmente é comum, nas discussões
Indisciplina na Escola: Desafio para a Escola e para a Família Francisco Canindé de Assunção Faculdade do Norte do Paraná FACNORTE / SAPIENS canindeassuncao@gmail.com Resumo: Atualmente é comum, nas discussões
O ALUNO CEGO E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO CAMPO DA MATEMÁTICA: A PERCEPÇÃO DE DOIS EDUCADORES.
 O ALUNO CEGO E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO CAMPO DA MATEMÁTICA: A PERCEPÇÃO DE DOIS EDUCADORES. Pedro Fellype da Silva Pontes Graduando em matemática UEPB fellype.pontes@gmail.com Bolsista do
O ALUNO CEGO E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO CAMPO DA MATEMÁTICA: A PERCEPÇÃO DE DOIS EDUCADORES. Pedro Fellype da Silva Pontes Graduando em matemática UEPB fellype.pontes@gmail.com Bolsista do
JOGOS ONLINE, UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
 JOGOS ONLINE, UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA Bruno Grilo Honorio Universidade Luterana do Brasil brunoghonorio@yahoo.com.br Lucas Gabriel Seibert Universidade Luterana
JOGOS ONLINE, UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA Bruno Grilo Honorio Universidade Luterana do Brasil brunoghonorio@yahoo.com.br Lucas Gabriel Seibert Universidade Luterana
UMA REFLEXÃO SOBRE O LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA NAS AÇÕES DO PIBID
 UMA REFLEXÃO SOBRE O LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA NAS AÇÕES DO PIBID CARVALHO, Samila Costa 1 SOUZA, Thais Lima de 2 TURINO, Roberta3 FRANCISCO, Alda Maria Silva 4 INTRODUÇÃO As dificuldades encontradas
UMA REFLEXÃO SOBRE O LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA NAS AÇÕES DO PIBID CARVALHO, Samila Costa 1 SOUZA, Thais Lima de 2 TURINO, Roberta3 FRANCISCO, Alda Maria Silva 4 INTRODUÇÃO As dificuldades encontradas
SISTEMATIZAÇÃO COLETIVA DO CONHECIMENTO COMO ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO
 SISTEMATIZAÇÃO COLETIVA DO CONHECIMENTO COMO ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO Resumo Paulo Sérgio Maniesi O presente artigo apresenta a sistematização preliminar dos resultados
SISTEMATIZAÇÃO COLETIVA DO CONHECIMENTO COMO ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO Resumo Paulo Sérgio Maniesi O presente artigo apresenta a sistematização preliminar dos resultados
AVALIAÇÕES EXTERNAS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM UMA ESCOLA DA SME/RJ. Resumo
 AVALIAÇÕES EXTERNAS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM UMA ESCOLA DA SME/RJ Claudia Claro Chaves de Andrade Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO Resumo
AVALIAÇÕES EXTERNAS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM UMA ESCOLA DA SME/RJ Claudia Claro Chaves de Andrade Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO Resumo
ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA DAS CRIANÇAS NOS ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL: A IMPORTÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO
 ISSN 2177-9139 ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA DAS CRIANÇAS NOS ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL: A IMPORTÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO Paola Reyer Marques paolareyer@gmail.com Universidade Federal do Rio Grande,
ISSN 2177-9139 ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA DAS CRIANÇAS NOS ANOS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL: A IMPORTÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO Paola Reyer Marques paolareyer@gmail.com Universidade Federal do Rio Grande,
DIDÁTICA MULTICULTURAL SABERES CONSTRUÍDOS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM RESUMO
 01566 DIDÁTICA MULTICULTURAL SABERES CONSTRUÍDOS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM Elana Cristiana dos Santos Costa Universidade Federal do Rio de Janeiro Programa de Pós-Graduação em Educação RESUMO O presente
01566 DIDÁTICA MULTICULTURAL SABERES CONSTRUÍDOS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM Elana Cristiana dos Santos Costa Universidade Federal do Rio de Janeiro Programa de Pós-Graduação em Educação RESUMO O presente
AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RECIFE: SUAS PROBLEMÁTICAS E POSSIBILIDADES
 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RECIFE: SUAS PROBLEMÁTICAS E POSSIBILIDADES Autor: Natália Gabriela da Silva; Co-Autor: Jorge José A. da Silva Filho; Orientador:
AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RECIFE: SUAS PROBLEMÁTICAS E POSSIBILIDADES Autor: Natália Gabriela da Silva; Co-Autor: Jorge José A. da Silva Filho; Orientador:
PROJETO INSTITUCIONAL PIBID/UFF: EIXOS NORTEADORES AO SEU DESENVOLVIMENTO
 03549 PROJETO INSTITUCIONAL PIBID/UFF: EIXOS NORTEADORES AO SEU DESENVOLVIMENTO Dra. Dinah Vasconcellos Terra (UFF) Dra. Anne Michelle Dysman Gomes (UFF) Dra. Maura Ventura Chinelli (UFF) Resumo Este trabalho
03549 PROJETO INSTITUCIONAL PIBID/UFF: EIXOS NORTEADORES AO SEU DESENVOLVIMENTO Dra. Dinah Vasconcellos Terra (UFF) Dra. Anne Michelle Dysman Gomes (UFF) Dra. Maura Ventura Chinelli (UFF) Resumo Este trabalho
Capítulo PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL RESUMO
 de Longa 19 Duração Capítulo Relatório Anual / PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL Ana Tiyomi Obara (Coordenador) Maria Aparecida Gonçalves Dias da Silva Harumi Irene Suzuki Ricardo Massato
de Longa 19 Duração Capítulo Relatório Anual / PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL Ana Tiyomi Obara (Coordenador) Maria Aparecida Gonçalves Dias da Silva Harumi Irene Suzuki Ricardo Massato
Colégio Valsassina. Modelo pedagógico do jardim de infância
 Colégio Valsassina Modelo pedagógico do jardim de infância Educação emocional Aprendizagem pela experimentação Educação para a ciência Fatores múltiplos da inteligência Plano anual de expressão plástica
Colégio Valsassina Modelo pedagógico do jardim de infância Educação emocional Aprendizagem pela experimentação Educação para a ciência Fatores múltiplos da inteligência Plano anual de expressão plástica
desmascaradas na 5ª série do Ensino Fundamental.
 ZERO HORA ZH Escola PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2003 Nº 69 O PRIMEIRO CADERNO A GENTE NUNCA ESQUECE Página 8 FOTOS RICARDO DUARTE/ZH O QUE FAZER Características que, se freqüentes, podem
ZERO HORA ZH Escola PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2003 Nº 69 O PRIMEIRO CADERNO A GENTE NUNCA ESQUECE Página 8 FOTOS RICARDO DUARTE/ZH O QUE FAZER Características que, se freqüentes, podem
LUDICIDADE COMO RECURSO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 1 LUDICIDADE COMO RECURSO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL Silvana de Oliveira Pinto Silvia Maria Barreto dos Santos Ulbra Cachoeira do Sul silvanaopg@gmail.com RESUMO O presente trabalho trata do relato
1 LUDICIDADE COMO RECURSO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL Silvana de Oliveira Pinto Silvia Maria Barreto dos Santos Ulbra Cachoeira do Sul silvanaopg@gmail.com RESUMO O presente trabalho trata do relato
ENTREVISTA PROF. DR ELIO CARLOS RICARDO 1
 ENTREVISTA PROF. DR ELIO CARLOS RICARDO 1 Livre-docente de Ensino de Ciências e Matemática, Faculdade de Educação da USP. Entrevista concedida à TV SENAI/SC por ocasião de Formação continuada, no âmbito
ENTREVISTA PROF. DR ELIO CARLOS RICARDO 1 Livre-docente de Ensino de Ciências e Matemática, Faculdade de Educação da USP. Entrevista concedida à TV SENAI/SC por ocasião de Formação continuada, no âmbito
O Valor da Educação. Ana Carolina Rocha Eliézer dos Santos Josiane Feitosa
 O Valor da Educação Ana Carolina Rocha Eliézer dos Santos Josiane Feitosa Objetivo Mostrar sobre a perspectiva da teoria Piagetiana a importância da relação família- escola desenvolvimento dos processos
O Valor da Educação Ana Carolina Rocha Eliézer dos Santos Josiane Feitosa Objetivo Mostrar sobre a perspectiva da teoria Piagetiana a importância da relação família- escola desenvolvimento dos processos
Concepções de ensino-aprendizagem de docentes de Física Quântica do ensino superior
 Concepções de ensino-aprendizagem de docentes de Física Quântica do ensino superior Natália Pimenta 1 e Maria Inês Ribas Rodrigues 2 Universidade Federal do ABC 1 natalia.pimenta@aluno.ufabc.edu.br, 2
Concepções de ensino-aprendizagem de docentes de Física Quântica do ensino superior Natália Pimenta 1 e Maria Inês Ribas Rodrigues 2 Universidade Federal do ABC 1 natalia.pimenta@aluno.ufabc.edu.br, 2
PIBID E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O DIFERENCIAL NA VIDA ACADÊMICA DOS ALUNOS DE LICENCIATURA 1
 PIBID E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O DIFERENCIAL NA VIDA ACADÊMICA DOS ALUNOS DE LICENCIATURA 1 Cristian Tássio Queiroz 2 Sandra Mara Marasini 3 Resumo: Este artigo vai falar da contribuição do programa
PIBID E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O DIFERENCIAL NA VIDA ACADÊMICA DOS ALUNOS DE LICENCIATURA 1 Cristian Tássio Queiroz 2 Sandra Mara Marasini 3 Resumo: Este artigo vai falar da contribuição do programa
DIAGNÓSTICO DO ENSINO E APRENDIZADO DA CARTOGRAFIA NOS DIFERENTES NÍVEIS DE FORMAÇÃO
 DIAGNÓSTICO DO ENSINO E APRENDIZADO DA CARTOGRAFIA NOS DIFERENTES NÍVEIS DE FORMAÇÃO Adriana Aparecida Silva 1 Fabrícia Alves da Silva 2 Pôster GT - Geografia Resumo O ensino e aprendizado da cartografia
DIAGNÓSTICO DO ENSINO E APRENDIZADO DA CARTOGRAFIA NOS DIFERENTES NÍVEIS DE FORMAÇÃO Adriana Aparecida Silva 1 Fabrícia Alves da Silva 2 Pôster GT - Geografia Resumo O ensino e aprendizado da cartografia
A CONCEPÇÃO DE ENSINO ELABORADA PELOS ESTUDANTES DAS LICENCIATURAS
 A CONCEPÇÃO DE ENSINO ELABORADA PELOS ESTUDANTES DAS LICENCIATURAS Osmar Mackeivicz Introdução Para Veiga (2006) o ensino constitui tarefa básica do processo didático e corresponde a diversas dimensões
A CONCEPÇÃO DE ENSINO ELABORADA PELOS ESTUDANTES DAS LICENCIATURAS Osmar Mackeivicz Introdução Para Veiga (2006) o ensino constitui tarefa básica do processo didático e corresponde a diversas dimensões
UTILIZAÇÃO DE JOGOS DE TABULEIROS COMO MOTIVADOR PARA UM ENSINO EM GRUPO
 UTILIZAÇÃO DE JOGOS DE TABULEIROS COMO MOTIVADOR PARA UM ENSINO EM GRUPO Edimara Cantú de Pinho 1 ; Edemar Benedetti Filho 2 1 Estudante do Curso de Química (licenciatura) da UEMS, Unidade Universitária
UTILIZAÇÃO DE JOGOS DE TABULEIROS COMO MOTIVADOR PARA UM ENSINO EM GRUPO Edimara Cantú de Pinho 1 ; Edemar Benedetti Filho 2 1 Estudante do Curso de Química (licenciatura) da UEMS, Unidade Universitária
Universidade Federal do Amapá UNIFAP Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias - PROEAC Departamento de Extensão - DEX
 IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA CADASTRO DO(S) AUTOR(ES) E DO(S) COORDENADOR(ES) (X) Autor ( ) Coordenador (X) Docente ( ) Aluno de Graduação Bolsista ( )Aluno de Pós-Graduação ( )Servidor
IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA CADASTRO DO(S) AUTOR(ES) E DO(S) COORDENADOR(ES) (X) Autor ( ) Coordenador (X) Docente ( ) Aluno de Graduação Bolsista ( )Aluno de Pós-Graduação ( )Servidor
Conteúdos: como se aprende
 Conteúdos: como se aprende Geralmente utilizamos o termo conteúdos quando tratamos dos conhecimentos específicos das disciplinas ou matérias escolares. Mas, se nos atermos a uma concepção educativa integral,
Conteúdos: como se aprende Geralmente utilizamos o termo conteúdos quando tratamos dos conhecimentos específicos das disciplinas ou matérias escolares. Mas, se nos atermos a uma concepção educativa integral,
O CUBO E O GEOGEBRA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL NO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA
 O CUBO E O GEOGEBRA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL NO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA Antonia Francisca Caldas da Silva 1 Patrícia Costa Oliveira 2 1. Introdução Este
O CUBO E O GEOGEBRA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL NO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA Antonia Francisca Caldas da Silva 1 Patrícia Costa Oliveira 2 1. Introdução Este
O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE: PLANO DE ENSINO E ORGANIZAÇÃO DA AULA
 O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE: PLANO DE ENSINO E ORGANIZAÇÃO DA AULA PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) OU PROPOSTA PEDAGÓGICA Representa a ação intencional e um compromisso sociopolítico definido coletivamente
O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE: PLANO DE ENSINO E ORGANIZAÇÃO DA AULA PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) OU PROPOSTA PEDAGÓGICA Representa a ação intencional e um compromisso sociopolítico definido coletivamente
A IMPORTÂNCIA DA CARTOGRAFIA ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL: o papel da Cartografia Tátil
 A IMPORTÂNCIA DA CARTOGRAFIA ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL: o papel da Cartografia Tátil Fernanda Taynara de Oliveira Graduando em Geografia Universidade Estadual de Goiás Campus Minaçu Kelytha
A IMPORTÂNCIA DA CARTOGRAFIA ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL: o papel da Cartografia Tátil Fernanda Taynara de Oliveira Graduando em Geografia Universidade Estadual de Goiás Campus Minaçu Kelytha
DOCUMENTO PARA AS PRÉ-CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE RIO CLARO: BASE PARA A CONAE / 2010
 DOCUMENTO PARA AS PRÉ-CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE RIO CLARO: BASE PARA A CONAE / 2010 Construindo o Sistema Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de
DOCUMENTO PARA AS PRÉ-CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE RIO CLARO: BASE PARA A CONAE / 2010 Construindo o Sistema Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de
ALGUMAS METODOLOGIAS DE ENSINO UTILIZADAS PELOS PROFESSORES QUE LECIONAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: ALGUMAS IMPLICAÇÕES A PRÁTICA DOCENTE
 ALGUMAS METODOLOGIAS DE ENSINO UTILIZADAS PELOS PROFESSORES QUE LECIONAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: ALGUMAS IMPLICAÇÕES A PRÁTICA DOCENTE João Batista Rodrigues da Silva (1); Maurílio Nogueira dos Santos
ALGUMAS METODOLOGIAS DE ENSINO UTILIZADAS PELOS PROFESSORES QUE LECIONAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: ALGUMAS IMPLICAÇÕES A PRÁTICA DOCENTE João Batista Rodrigues da Silva (1); Maurílio Nogueira dos Santos
aprendizagem significativa
 aprendizagem significativa Criando percepções e sentidos Construindo sentidos Como a aprendizagem significativa pode contribuir para o processo de ensino e assimilação de novos conceitos H á alguns anos,
aprendizagem significativa Criando percepções e sentidos Construindo sentidos Como a aprendizagem significativa pode contribuir para o processo de ensino e assimilação de novos conceitos H á alguns anos,
O PIBID E OS JOGOS LÚDICOS COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA DO ENSINO-APRENDIZAGEM DA QUÍMICA NO NÍVEL MÉDIO: JOGO DAS TRÊS PISTAS
 O PIBID E OS JOGOS LÚDICOS COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA DO ENSINO-APRENDIZAGEM DA QUÍMICA NO NÍVEL MÉDIO: JOGO DAS TRÊS PISTAS Aline dos Santos Silva (UFCG); Gerlândia Estevam do Nascimento (UFCG); Israel
O PIBID E OS JOGOS LÚDICOS COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA DO ENSINO-APRENDIZAGEM DA QUÍMICA NO NÍVEL MÉDIO: JOGO DAS TRÊS PISTAS Aline dos Santos Silva (UFCG); Gerlândia Estevam do Nascimento (UFCG); Israel
PRÁTICA DOCENTE: UMA ABORDAGEM REFLEXIVA. Palavras-chave: Prática docente, Alfabetização Biológica, Pré-requisito.
 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE - UNINORTE ESCOLA INTERNATIONAL UNIVERSILITES LICENCIATURA EM PEDAGOGIA Iraci Uchoa PRÁTICA DOCENTE: UMA ABORDAGEM REFLEXIVA Resumo: O contexto social do mundo contemporâneo
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE - UNINORTE ESCOLA INTERNATIONAL UNIVERSILITES LICENCIATURA EM PEDAGOGIA Iraci Uchoa PRÁTICA DOCENTE: UMA ABORDAGEM REFLEXIVA Resumo: O contexto social do mundo contemporâneo
PERFIL DO ALUNO CONHECIMENTOS. CAPACIDADES. ATITUDES.
 PERFIL DO ALUNO CONHECIMENTOS. CAPACIDADES. ATITUDES. Educar para um Mundo em Mudança. Educar para Mudar o Mundo. Maria Emília Brederode Santos PERFIL DO ALUNO 2 INTRODUÇÃO As mudanças no mundo, hoje,
PERFIL DO ALUNO CONHECIMENTOS. CAPACIDADES. ATITUDES. Educar para um Mundo em Mudança. Educar para Mudar o Mundo. Maria Emília Brederode Santos PERFIL DO ALUNO 2 INTRODUÇÃO As mudanças no mundo, hoje,
A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO ALTERNATIVA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
 ISSN 2316-7785 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO ALTERNATIVA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM Philipe Rocha Cardoso 1 philipexyx@hotmail.com Leidian da Silva Moreira 2 keit_julie@hotmail.com Daniela Souza
ISSN 2316-7785 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO ALTERNATIVA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM Philipe Rocha Cardoso 1 philipexyx@hotmail.com Leidian da Silva Moreira 2 keit_julie@hotmail.com Daniela Souza
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
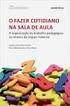 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO INTRODUÇÃO As diferentes unidades que compõem o conjunto de cadernos, visam desenvolver práticas de ensino de matemática que favoreçam as aprendizagens dos alunos. A
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO INTRODUÇÃO As diferentes unidades que compõem o conjunto de cadernos, visam desenvolver práticas de ensino de matemática que favoreçam as aprendizagens dos alunos. A
AS DIFICUDADES NO ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS SURDOS NA EREM MACIEL MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PE
 AS DIFICUDADES NO ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS SURDOS NA EREM MACIEL MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PE Suzana Ferreira da Silva Universidade de Pernambuco, suzanasilva.sf@gmail.com Introdução
AS DIFICUDADES NO ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS SURDOS NA EREM MACIEL MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PE Suzana Ferreira da Silva Universidade de Pernambuco, suzanasilva.sf@gmail.com Introdução
A PRESENÇA DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA EM LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 1
 A PRESENÇA DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA EM LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 1 Nicole Gomes Hinterholz 2, Kamila Sandri Dos Passos 3, Fabiane De Andrade Leite 4, Erica Do Espirito Santo Hermel 5. 1
A PRESENÇA DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA EM LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 1 Nicole Gomes Hinterholz 2, Kamila Sandri Dos Passos 3, Fabiane De Andrade Leite 4, Erica Do Espirito Santo Hermel 5. 1
Educação integral no Ensino Médio. Uma proposta para promover a escola do jovem do século 21
 Educação integral no Ensino Médio Uma proposta para promover a escola do jovem do século 21 Educação integral no Ensino Médio Uma proposta para promover a escola do jovem do século 21 O mundo passa por
Educação integral no Ensino Médio Uma proposta para promover a escola do jovem do século 21 Educação integral no Ensino Médio Uma proposta para promover a escola do jovem do século 21 O mundo passa por
FORMAÇÃO CONTINUADA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE TANGARÁ DA SERRA, MT
 FORMAÇÃO CONTINUADA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE TANGARÁ DA SERRA, MT Cicero Manoel da Silva Adailton Alves Da Silva Resumo A auto formação e os programas
FORMAÇÃO CONTINUADA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE TANGARÁ DA SERRA, MT Cicero Manoel da Silva Adailton Alves Da Silva Resumo A auto formação e os programas
APRENDENDO A ENSINAR MATEMÁTICA POR MEIO DOS RECURSOS DIDÁTICOS: MONITORIA, JOGOS, LEITURAS E ESCRITAS E LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA.
 APRENDENDO A ENSINAR MATEMÁTICA POR MEIO DOS RECURSOS DIDÁTICOS: MONITORIA, JOGOS, LEITURAS E ESCRITAS E LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA. Dagma Ramos SILVA; Camila Caroline FERREIRA; Maria Bárbara
APRENDENDO A ENSINAR MATEMÁTICA POR MEIO DOS RECURSOS DIDÁTICOS: MONITORIA, JOGOS, LEITURAS E ESCRITAS E LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA. Dagma Ramos SILVA; Camila Caroline FERREIRA; Maria Bárbara
NARRATIVAS DE FORMAÇÃO: UMA PERSPECTIVA A PARTIR DO OLHAR DO FUTURO PROFESSOR
 1 ÁREA TEMÁTICA:(marque uma das opções) ( ) COMUNICAÇÃO ( ) CULTURA ( ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA (X) EDUCAÇÃO ( ) MEIO AMBIENTE ( ) SAÚDE ( ) TECNOLOGIA E PRODUÇÃO ( ) TRABALHO NARRATIVAS DE FORMAÇÃO:
1 ÁREA TEMÁTICA:(marque uma das opções) ( ) COMUNICAÇÃO ( ) CULTURA ( ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA (X) EDUCAÇÃO ( ) MEIO AMBIENTE ( ) SAÚDE ( ) TECNOLOGIA E PRODUÇÃO ( ) TRABALHO NARRATIVAS DE FORMAÇÃO:
Aula 5 OFÍCINA TEMÁTICA NO ENSINO DE QUÍMICA
 OFÍCINA TEMÁTICA NO ENSINO DE QUÍMICA META Apresentar formas de organização de conteúdos privilegiando o estabelecimento de relações entre os vários conhecimentos químicos e entre a Química e suas aplicações
OFÍCINA TEMÁTICA NO ENSINO DE QUÍMICA META Apresentar formas de organização de conteúdos privilegiando o estabelecimento de relações entre os vários conhecimentos químicos e entre a Química e suas aplicações
AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS. A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos
 AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos fundamentais da concepção atual de aprendizagem. Esta participação deve, porém, ser orientada tendo
AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos fundamentais da concepção atual de aprendizagem. Esta participação deve, porém, ser orientada tendo
Associação Catarinense das Fundações Educacionais ACAFE
 Associação Catarinense das Fundações Educacionais ACAFE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÂO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO 2017 PARECERES DOS RECURSOS PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 11) De acordo com a Proposta
Associação Catarinense das Fundações Educacionais ACAFE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÂO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO 2017 PARECERES DOS RECURSOS PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 11) De acordo com a Proposta
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: perspectivas para a melhoria da educação para todos
 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: perspectivas para a melhoria da educação para todos Autor(a): Inalmir Bruno Andrade da Silva Coautor(es): Humberto de Medeiros Silva Email: bruno_sjs@hotmail.com Página 1 1 Introdução
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: perspectivas para a melhoria da educação para todos Autor(a): Inalmir Bruno Andrade da Silva Coautor(es): Humberto de Medeiros Silva Email: bruno_sjs@hotmail.com Página 1 1 Introdução
A Reconstrução/Reorganização do Conhecimento na Educação de Jovens e Adultos e a Organização do Trabalho Pedagógico
 A Reconstrução/Reorganização do Conhecimento na Educação de Jovens e Adultos e a Organização do Trabalho Pedagógico Pesquisadores: Stela C. Bertholo Piconez (coordenadora), Gabriele Greggersen Bretzke,
A Reconstrução/Reorganização do Conhecimento na Educação de Jovens e Adultos e a Organização do Trabalho Pedagógico Pesquisadores: Stela C. Bertholo Piconez (coordenadora), Gabriele Greggersen Bretzke,
Educação Ambiental. Profª. Ms. Alessandra Freitas Profª. Ms. Gabriela Maffei Professoras do Curso de Pedagogia das Faculdades COC
 Educação Ambiental Profª. Ms. Alessandra Freitas Profª. Ms. Gabriela Maffei Professoras do Curso de Pedagogia das Faculdades COC Vídeo AREIA INTERATIVIDADE Natureza e Meio Ambiente 2 pólos Constituição
Educação Ambiental Profª. Ms. Alessandra Freitas Profª. Ms. Gabriela Maffei Professoras do Curso de Pedagogia das Faculdades COC Vídeo AREIA INTERATIVIDADE Natureza e Meio Ambiente 2 pólos Constituição
A INTERDISCIPLINARIDADE COMO EIXO NORTEADOR NO ENSINO DE BIOLOGIA.
 A INTERDISCIPLINARIDADE COMO EIXO NORTEADOR NO ENSINO DE BIOLOGIA. Nilda Guedes Vasconcelos¹; Dra. Cláudia Patrícia Fernandes dos Santos² Universidade Federal de Campina Grande¹² - nildagvasconcelos@gmail.com
A INTERDISCIPLINARIDADE COMO EIXO NORTEADOR NO ENSINO DE BIOLOGIA. Nilda Guedes Vasconcelos¹; Dra. Cláudia Patrícia Fernandes dos Santos² Universidade Federal de Campina Grande¹² - nildagvasconcelos@gmail.com
A INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA COMO PRINCÍPIO PEDAGÓGICO NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE PLANO CARTESIANO: ALGUMAS REFLEXÕES 1
 A INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA COMO PRINCÍPIO PEDAGÓGICO NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE PLANO CARTESIANO: ALGUMAS REFLEXÕES 1 Sandra Beatriz Neuckamp 2, Paula Maria Dos Santos Pedry 3, Jéssica Zilio Gonçalves
A INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA COMO PRINCÍPIO PEDAGÓGICO NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE PLANO CARTESIANO: ALGUMAS REFLEXÕES 1 Sandra Beatriz Neuckamp 2, Paula Maria Dos Santos Pedry 3, Jéssica Zilio Gonçalves
O PAPEL DO EDUCADOR NO PROCESSO DE ENSINO DAS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 O PAPEL DO EDUCADOR NO PROCESSO DE ENSINO DAS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 1 Geysse Gadelha Rocha, 2 Maria Mirian de Fatima Melo Costa, 3 Luciano Gutembergue Bonfim. ¹ Graduanda em Pedagogia pela
O PAPEL DO EDUCADOR NO PROCESSO DE ENSINO DAS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 1 Geysse Gadelha Rocha, 2 Maria Mirian de Fatima Melo Costa, 3 Luciano Gutembergue Bonfim. ¹ Graduanda em Pedagogia pela
8. Capacitação dos Professores que fazem a inclusão de alunos portadores de paralisia cerebral
 8. Capacitação dos Professores que fazem a inclusão de alunos portadores de paralisia cerebral Reconhecemos a importância do conhecimento teórico do professor para realizar, com mais segurança, o seu trabalho
8. Capacitação dos Professores que fazem a inclusão de alunos portadores de paralisia cerebral Reconhecemos a importância do conhecimento teórico do professor para realizar, com mais segurança, o seu trabalho
Diretrizes Curriculares 17 a 18 de janeiro de 2002
 Diretrizes Curriculares 17 a 18 de janeiro de 2002 Documento do Fórum de Entidades em Psicologia PROJETO DE RESOLUÇÃO INSTITUI AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
Diretrizes Curriculares 17 a 18 de janeiro de 2002 Documento do Fórum de Entidades em Psicologia PROJETO DE RESOLUÇÃO INSTITUI AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
GABARITO QUESTÕES OBJETIVAS
 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DECEx - DEPA COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (Casa de Thomaz Coelho/1889) CONCURSO PARA PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO - PROVA DE 07 DE JULHO
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DECEx - DEPA COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (Casa de Thomaz Coelho/1889) CONCURSO PARA PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO - PROVA DE 07 DE JULHO
Aula 5 OFICINAS TEMÁTICAS NO ENSINO MÉDIO. Rafael de Jesus Santana Danilo Almeida Rodrigues
 Aula 5 OFICINAS TEMÁTICAS NO ENSINO MÉDIO META Propor a construção do conhecimento químico a partir do desenvolvimento de ofi cinas temáticas. OBJETIVOS Ao fi nal desta aula, o aluno deverá: Compreender
Aula 5 OFICINAS TEMÁTICAS NO ENSINO MÉDIO META Propor a construção do conhecimento químico a partir do desenvolvimento de ofi cinas temáticas. OBJETIVOS Ao fi nal desta aula, o aluno deverá: Compreender
O SABER PEDAGÓGICO E A INTERDISCIPLINARIDADE COMO PRÁTICA DE ENSINO APRENDIZAGEM 1
 O SABER PEDAGÓGICO E A INTERDISCIPLINARIDADE COMO PRÁTICA DE ENSINO APRENDIZAGEM 1 Elenice de Alencar Silva Cursando Licenciatura em Pedagogia UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO cesi@uema.br
O SABER PEDAGÓGICO E A INTERDISCIPLINARIDADE COMO PRÁTICA DE ENSINO APRENDIZAGEM 1 Elenice de Alencar Silva Cursando Licenciatura em Pedagogia UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO cesi@uema.br
APONTAMENTOS SOBRE AS ATUAIS POLITICAS DE CURRÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL RESUMO
 APONTAMENTOS SOBRE AS ATUAIS POLITICAS DE CURRÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Gisele Gimenes do Amaral Miguel giselegimenes@hotmail.com Mikaéla Silva mikaela.silva@hotmail.com Naiara da Silva Santos naiarasilva11.02.1997@gmail.com
APONTAMENTOS SOBRE AS ATUAIS POLITICAS DE CURRÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Gisele Gimenes do Amaral Miguel giselegimenes@hotmail.com Mikaéla Silva mikaela.silva@hotmail.com Naiara da Silva Santos naiarasilva11.02.1997@gmail.com
A EXPRESSÃO DA CRIATIVIDADE DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NO DESENHO DE TAREFAS
 XVIII Encontro Baiano de Educação Matemática A sala de aula de Matemática e suas vertentes UESC, Ilhéus, Bahia de 03 a 06 de julho de 2019 A EXPRESSÃO DA CRIATIVIDADE DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA
XVIII Encontro Baiano de Educação Matemática A sala de aula de Matemática e suas vertentes UESC, Ilhéus, Bahia de 03 a 06 de julho de 2019 A EXPRESSÃO DA CRIATIVIDADE DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA
REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO PELA PESQUISA SEGUNDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO POLITÉCNICO 1
 REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO PELA PESQUISA SEGUNDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO POLITÉCNICO 1 Aline Giovana Finger 2, Maria Cristina Pansera De Araújo 3. 1 Projeto de Iniciação Científica 2 Acadêmica do curso
REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO PELA PESQUISA SEGUNDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO POLITÉCNICO 1 Aline Giovana Finger 2, Maria Cristina Pansera De Araújo 3. 1 Projeto de Iniciação Científica 2 Acadêmica do curso
VISÃO GERAL DA DISCIPLINA
 VISÃO GERAL DA DISCIPLINA Antes eu não gostava de Matemática, mas agora a professora joga, conta história e deixa a gente falar né? Então é bem mais divertido, eu estou gostando mais. Pedro, 9 anos. Neste
VISÃO GERAL DA DISCIPLINA Antes eu não gostava de Matemática, mas agora a professora joga, conta história e deixa a gente falar né? Então é bem mais divertido, eu estou gostando mais. Pedro, 9 anos. Neste
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: IDENTIDADE E SABERES DOCENTE
 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: IDENTIDADE E SABERES DOCENTE Resumo Danielle de Sousa Macena- UFCG danyellehta-@hotmail.com Januzzi Gonçalves Bezerra UFCG januzzigoncalves@gmail.com Janaina Gonçalves Bezerra
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: IDENTIDADE E SABERES DOCENTE Resumo Danielle de Sousa Macena- UFCG danyellehta-@hotmail.com Januzzi Gonçalves Bezerra UFCG januzzigoncalves@gmail.com Janaina Gonçalves Bezerra
Girleane Rodrigues Florentino, Bruno Lopes Oliveira da Silva
 O ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: UMA CHAMADA Á REFLEXÃO NA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO CARLOS RIOS EM ARCOVERDE/PE Girleane Rodrigues Florentino, Bruno Lopes Oliveira
O ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: UMA CHAMADA Á REFLEXÃO NA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO CARLOS RIOS EM ARCOVERDE/PE Girleane Rodrigues Florentino, Bruno Lopes Oliveira
A percepção de inclusão dos discentes numa escola regular do Ensino Médio na cidade de Matinhas-PB
 A percepção de inclusão dos discentes numa escola regular do Ensino Médio na cidade de Matinhas-PB Joseane Tavares Barbosa 1 ; Michelly Arruda Menezes 2 ; Matheus Silva Ferreira 3 ; Nehemias Nazaré Lourenço
A percepção de inclusão dos discentes numa escola regular do Ensino Médio na cidade de Matinhas-PB Joseane Tavares Barbosa 1 ; Michelly Arruda Menezes 2 ; Matheus Silva Ferreira 3 ; Nehemias Nazaré Lourenço
A UTILIZAÇÃO DE JOGOS LÚDICOS COMO AUXÍLIO NA ABORDAGEM DE TEMÁTICAS AMBIENTAIS NO ENSINO DE QUÍMICA
 A UTILIZAÇÃO DE JOGOS LÚDICOS COMO AUXÍLIO NA ABORDAGEM DE TEMÁTICAS AMBIENTAIS NO ENSINO DE QUÍMICA Joseane Tavares Barbosa 1 ; Maria Janaína de Oliveira 1 (orientadora) Joseane Tavares Barbosa 1 (autora)
A UTILIZAÇÃO DE JOGOS LÚDICOS COMO AUXÍLIO NA ABORDAGEM DE TEMÁTICAS AMBIENTAIS NO ENSINO DE QUÍMICA Joseane Tavares Barbosa 1 ; Maria Janaína de Oliveira 1 (orientadora) Joseane Tavares Barbosa 1 (autora)
A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
 A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. Ives Alves de Jesus¹ ¹ Estudante do curso de licenciatura plena em pedagogia, Campus Crixás. yves-alves@outlook.com
A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. Ives Alves de Jesus¹ ¹ Estudante do curso de licenciatura plena em pedagogia, Campus Crixás. yves-alves@outlook.com
CURSO: PEDAGOGIA EMENTAS º PERÍODO
 CURSO: PEDAGOGIA EMENTAS - 2016.1 1º PERÍODO DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO Estudo da história geral da Educação e da Pedagogia, enfatizando a educação brasileira. Políticas ao longo da história engendradas
CURSO: PEDAGOGIA EMENTAS - 2016.1 1º PERÍODO DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO Estudo da história geral da Educação e da Pedagogia, enfatizando a educação brasileira. Políticas ao longo da história engendradas
A MATEMÁTICA NO COTIDIANO: RECONHECENDO E TRABALHANDO COM SITUAÇÕES QUE ENVOLVEM FUNÇÕES
 A MATEMÁTICA NO COTIDIANO: RECONHECENDO E TRABALHANDO COM SITUAÇÕES QUE ENVOLVEM FUNÇÕES Educação Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio GT 10 José Jorge Casimiro Dos SANTOS jorge.cassimiro14@gmail.com
A MATEMÁTICA NO COTIDIANO: RECONHECENDO E TRABALHANDO COM SITUAÇÕES QUE ENVOLVEM FUNÇÕES Educação Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio GT 10 José Jorge Casimiro Dos SANTOS jorge.cassimiro14@gmail.com
SER PROTAGONISTA DO SEU TEMPO, DESAFIO DA BNCC PARA O ENSINO MÉDIO
 SER PROTAGONISTA DO SEU TEMPO, DESAFIO DA BNCC PARA O ENSINO MÉDIO Na BNCC Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos),
SER PROTAGONISTA DO SEU TEMPO, DESAFIO DA BNCC PARA O ENSINO MÉDIO Na BNCC Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos),
