Diferenças Educacionais entre Coortes de Adultos no Século XX: O Papel do Sexo e da Raça *
|
|
|
- Thomaz do Amaral Beppler
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Diferenças Educacionais entre Coortes de Adultos no Século XX: O Papel do Sexo e da Raça * Letícia Junqueira Marteleto Vitor Felipe O. de Miranda Palavras-chave: educação; desigualdade; raça; sexo. Resumo Ao longo do século XX houve uma melhora geral da escolar média da população brasileira. Entretanto, o Brasil continua apresentando baixos níveis de escolar e alta desigualdade de oportuns educacionais. Estes fenômenos têm sido tradicionalmente associados a fatores sócio-econômicos, demográficos e familiares como renda, número de irmãos e escolar dos pais. Uma grande parte das desigualdades educacionais também provém de características sociais adscritas, como sexo e raça. Neste trabalho as desigualdades educacionais geradas por estes dois fatores são investigadas entre coortes de adultos nascidos ao longo do século XX. Utilizando-se os dados das PNADs de 1977 a 1999, o objetivo do artigo é identificar níveis e padrões de desigualdade educacional gerados por sexo e raça, sendo a última só disponível a partir de Os resultados descritivos mostram, por exemplo, que existia uma superior masculina em relação ao nível de escolar que foi revertida pelas mulheres nascidas a partir da segunda metade do século XX, e continua crescendo nas coortes mais novas. Além disso, o hiato de escolar em favor dos brancos em relação aos negros não foi anulado até o final do século passado. Na segunda parte do trabalho, usamos dados de 1987 a 1999 para estimar regressões por mínimos quadrados com o objetivo de identificar como sexo e raça interagem determinando, numa perspectiva de coorte, a escolar de adultos de 25 a 50 anos. Ocorreu superação educacional feminina tanto entre os brancos quanto entre os negros? Ela ocorreu com intens diferente dentro de cada grupo racial? Já a desigualdade educacional inter-racial se mantém entre coortes, quando se analisa o que ocorreu com homens e mulheres isoladamente? Isto se deu com intens distinta em cada sexo? Ao buscar respostas para estas perguntas, entre outras, este trabalho contribui para um melhor entendimento das desigualdades educacionais geradas por raça e sexo ao longo do século passado. * Trabalho apresentado no XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú - MG Brasil, de de Setembro de Pesquisa financiada pelo CNPq através do Projeto PROFIX. Agradecemos a excelente assistência de pesquisa e comentários das colegas Clarissa Guimarães Rodrigues e Raquel Silvério Matos. Pesquisadora do Cedeplar/UFMG,, Projeto PROFIX/CNPq Assistente de pesquisa do Cedeplar/UFMG, Projeto PROFIX/CNPq 1
2 Diferenças Educacionais entre Coortes de Adultos no Século XX: O Papel do Sexo e da Raça * Letícia Junqueira Marteleto Vitor Felipe O. de Miranda 1. Introdução Ao longo do século XX houve uma melhora geral da escolar média da população brasileira. Entretanto, o Brasil continua apresentando baixos níveis de escolar e alta desigualdade de oportuns educacionais quando comparado a outros países desenvolvidos e em desenvolvimento. Uma análise do quadro geral da educação formal de adultos e jovens pode ser feita através do Gráfico 1. 8 Gráfico 1 Anos de Escolar, em média, por : Brasil, anos 35 anos 25 anos 15 anos ano O baixo nível de escolar e as desigualdades de oportun têm sido tradicionalmente associados a fatores sócio-econômicos, demográficos e familiares como renda, número de irmãos e escolar dos pais (BARROS E LAM 1996; MARTELETO 2002). Contudo, uma grande parte das desigualdades de oportun também provém de características sociais adscritas, como sexo e raça. Neste artigo, as desigualdades educacionais geradas por estes dois fatores são investigadas entre coortes de adultos nascidos ao longo do século XX. A questão central é a identificação de níveis e padrões de desigualdade educacional geradas por características sociais adscritas. Este trabalho tem ainda uma preocupação adicional. Além de analisar o papel de sexo e raça separadamente, investigaremos também como foi a evolução das desigualdades educacionais no Brasil * Trabalho apresentado no XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú - MG Brasil, de de Setembro de Pesquisa financiada pelo CNPq através do Projeto PROFIX. Agradecemos a excelente assistência de pesquisa e comentários das colegas Clarissa Guimarães Rodrigues e Raquel Silvério Matos. Pesquisadora do Cedeplar/UFMG Assistente de pesquisa do Cedeplar/UFMG, Projeto PROFIX/CNPq 2
3 quando tomamos em consideração simultaneamente a raça e o sexo do indivíduo. Por exemplo, se verificará se o padrão observado na escolar de adultos negros se repete quando analisamos o que ocorreu com homens e mulheres negras separadamente. E também por outro ângulo: quais as diferenças aparecem quando analisamos o que ocorreu com mulheres negras e brancas separadamente. 2. Revisão da Literatura Dentre as desigualdades de oportuns sociais, é bastante evidente a diferenciação entre brancos e negros em relação ao acesso à educação formal, bem como em relação ao desempenho escolar entre esses grupos raciais. Análises sobre esta desigualdade racial situada no contexto da desigualdade socioeconômica e da pobreza no Brasil são bastante documentadas (HENRIQUES 2001, SILVA E HASENBALG 1992). Os trabalhos que procuram analisar os determinantes, conseqüências e impactos socioeconômicos da desigualdade racial chegam à conclusão que a população negra se encontra submetida a uma intensa desigualdade de oportuns sociais refletida através dos indicadores de condições de vida e bem estar social. Por exemplo, há uma evidente desigualdade no acesso ao trabalho qualificado pelos pretos e pardos em relação aos brancos, o que acentua ainda mais a posição inferior dos primeiros na hierarquia de classes sociais (BELTRÃO 2003). No que tange aos indicadores habitacionais, os dados revelam que apesar de uma melhoria dos mesmos ao longo das últimas décadas, os níveis de precariedade das condições habitacionais são maiores para os negros. O mesmo ocorre com os indicadores do padrão de consumo, onde se verifica que nos domicílios chefiados por brancos a posse de bens duráveis é maior que nos domicílios chefiados por negros (HENRIQUES 2001). A análise desses indicadores permite concluir a estreita relação existente entre pobreza e composição racial da população de forma a evidenciar que ao longo de toda a pirâmide etária do país existe uma sobre-representação da comun negra no interior das populações pobre e indigente (HENRIQUES 2001). As crianças e jovens não-brancos têm uma desvantagem no que se refere ao acesso ao sistema escolar. A proporção entre negros e pardos que não têm acesso ao sistema educacional é três vezes maior que entre brancos (SILVA E HASENBALG 1992). Diante desses resultados infere-se que uma proporção mais elevada de crianças não-brancas ingressa tardiamente na escola e que, portanto, essa população terá um desempenho escolar inferior àquelas crianças que entraram na escola com a apropriada (SILVA E HASENBALG 1992). Pode-se dizer que um dos motivos dessa dispar racial na probabil de ingressar na escola está ligado ao perfil socioeconômico da família a que pertence a criança. No entanto, mantendo-se constantes as condições socioeconômicas para efeito de análise, verifica-se que ainda persistem os diferenciais de raça entre crianças brancas e negras que pertencem a famílias com a mesma renda per capita, no que diz respeito às oportuns de ingresso no sistema escolar (HENRIQUES 2001, SILVA E HASENBALG 1992). Além das desigualdades no acesso à escola, existem também diferenças no desempenho escolar dos alunos, visto que os alunos pardos ou mulatos têm desempenho inferior àquele observado para os alunos brancos. Essa diferença racial ainda é maior no caso dos alunos pretos, mesmo após o controle pelo nível socioeconômico. O efeito negativo associado à cor sobre o rendimento escolar indica que a comun negra não só tem menos chances de ingressar no sistema educacional, como também aqueles que já freqüentam a escola possuem maiores probabils de ter um desempenho escolar pior do que seus colegas da cor branca. É também bastante documentado na literatura casos de desigualdade educacional entre sexos. Em alguns países, como a China, as mulheres estão em desvantagem educacional em relação aos homens na infância e adolescência (HANNUM 1999), em outros o homem está em 3
4 desvantagem (MENSCH E LLOYD 1998). Estes fatos são usados para defender a promoção de políticas a favor de investimentos direcionados a cada sexo, e por isso é necessário conhecer a situação específica em que se encontra cada nação em relação à igualdade ou desigualdade entre os sexos antes de se implantarem políticas públicas (KNODEL 1996). Essa desigualdade de oportuns no início da carreira educacional leva a futuras desigualdades nos níveis de educação formal, que são o enfoque deste trabalho. 3. Descrição dos Dados e Metodologia 3.1. Descrição dos Dados Foram utilizados os dados das PNADs (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), coletados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Utilizamos os dados das PNADs dos anos de 1977 a 1999 com o objetivo de seguir coortes de jovens e adultos nascidos de 1927 a Os dados analisados contêm informações sobre indivíduos de 25 a 50 anos de. Devido à configuração do sistema educacional, e como exemplifica parcialmente o Gráfico 2, os ganhos mais significativos de escolar ocorrem entre 7 e 25 anos e, a partir daí, o nível de escolar se mantém relativamente constante. Por esse motivo escolhemos em algumas ocasiões tratar os indivíduos de 25 a 50 anos como um só grupo, o que proporcionou, por sua vez, uma amostra maior para nossa análise. 7.5 Gráfico 2 Anos de Escolar de indivíduos de 14 a 35 anos: Brasil, coortes de , , e Coorte Coorte Coorte Coorte Quanto à questão racial é importante destacar dois pontos. Primeiramente, os questionários da PNAD definem cinco raças: branco, preto, pardo, amarelo e indígena. A variável raça, todavia, só está disponível a partir da PNAD de 1987, ou seja, para coortes a partir de Em segundo lugar, devido à maior complex visual de se trabalhar com cinco raças e pelo fato dos indivíduos amarelos e indígenas entrevistados constituírem um grupo estatisticamente pequeno (Tabela 1), optou-se por representar neste trabalho apenas os indivíduos brancos, pretos e pardos. Na maioria das ocasiões, ao longo deste texto, pretos e pardos foram agrupados como negros. 4
5 Tabela 1 Composição racial da população brasileira segundo amostra das PNADs de 1987, 1992 e Raça Ano Branco 52,52 % 51,59 % 50,73 % Preto 5,44 % 5,48 % 5,48 % Pardo 41,58 % 42,53 % 43,24 % Amarelo 0,45 % 0,32 % 0,35 % Indígena ** 0,09 % 0,19 % [N] Fonte: PNADs 1987, 1992 e ** A PNAD de 1987 não inclui a raça indígena. A Tabela 2 mostra a composição da população de adultos de 25 a 50 anos de acordo com as características usadas para estimar os modelos de regressão da Seção 6 e os respectivos desvios padrões. Tabela 2 Características sócio-econômicas selecionadas de adultos de 25 a 50 anos: Brasil, Ano % Média % % % Região (%) [N] Escolar Mulher Branco Urbano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste , ,6% 60,2% 76,9% 2,9% 2% 48,8% 16,6% 6,9% ,15 5,53 51,9% 59,4% 77,2% 2,9% 24,7% 48,7% 16,7% 7,0% ,42 5,62 51,9% 59,2% 77,7% 3,1% 24,7% 48,5% 16,6% 7,1% ,74 5,77 51,8% 58,7% 77,6% 3,1% 24,6% 48,7% 16,5% 7,1% , ,7% 5% 81,2% 4,1% 25,5% 47,1% 16,5% % ,97 5,96 51,7% 57,7% 81,5% 4,0% 25,4% 47,0% 16,6% 6,9% ,42 6,14 51,9% 57,4% 81,9% % 25,7% 46,7% 1% 7,0% , ,1% 58,3% 82,1% 4,4% 25,7% 46,6% 1% 7,1% ,82 6,41 51,9% 57,5% 82,4% % 25,6% 46,5% 16,4% 7,2% ,00 6,55 51,9% 5% 82,2% 4,4% 25,5% 46,5% 1% % ,16 6,67 52,0% 56,7% 82,3% 4,5% 25,6% 46,2% 16,4% % ,00 6,04 51,9% 58,0% 80,4% 3,9% 2% 4% 16,5% 7,1% DP -- 4,55 0,500 0,494 0,397 0,193 0,435 0,499 0,371 0,256 [N] Fonte: PNADs 1987 a 1999 A Tabela 3 mostra a escolar média de acordo com variáveis selecionadas e utilizadas nas regressões deste artigo. Através dela vemos que os brancos possuíram mais que os negros por todo período , chegando a diferença a 2,4 anos em Já entre homens e mulheres esta mesma diferença é, também em 1999, de 0,35 anos a favor das mulheres, sendo que a superação educacional feminina se mostra como um fenômeno da década de noventa. Em 1990 a escolar média das mulheres adultas se apresentou maior que a dos homens pela primeira vez, tendo as mulheres 5,79 anos de estudo e o homem 5,74. Dentre as regiões houve aumento da escolar em todas elas e ao longo de todos os anos, com exceção da região Norte, que apresentou quedas nos anos de 1992 e
6 Tabela 3 Anos de Escolar, em média, de acordo com características selecionadas, por ano: Brasil, Média Nacional 5 5,53 5,62 5,77 3 5,96 6,14 1 6,41 6,55 6,67 6,04 Raça branco 0 6,49 6,56 6,76 7 6,95 7,15 7,27 7,44 7,59 7,69 7,03 não-branco 3 4,05 4,17 4,28 8 4,56 4,72 4,94 4,98 5,12 5,29 4,62 Sexo mulher 5,27 5,50 5,60 5,79 6 6,01 6,24 6,41 6,53 6,70 4 6,11 homem 5,43 5,56 5,63 5,74 5,79 5,91 6,02 6,20 6,27 9 6,49 5,97 Urbano urbano 6,20 7 6,44 6,60 6,53 6,65 0 6,97 7,07 7,22 4 6,78 rural 2,51 2,68 2,75 2,86 2,81 2,96 3,14 3,31 3,30 3,46 3,58 3,03 Região Norte 6,17 6,14 3 6,45 5,98 4 6,10 6, ,64 6,24 Nordeste 3,72 7 4,01 4,11 5 4,58 4,65 5 4,91 5,04 5,17 4,52 Sudeste 6,04 6,28 1 6,49 6,49 6,61 2 7,02 7,12 7,27 7 6,74 Sul 5,53 5,61 5,76 5,92 6,13 6,25 6,51 6,62 6,70 5 7,03 0 Centro-Oeste 5,56 5, ,93 6,07 6,18 1 6,55 6,68 6,76 6,16 Escolar do Pai não concluiu a 1ª série do 1 grau , ª à 3ª séries do 1 grau , ª série do 1 grau , ª à 7ª séries do 1 grau , ª série do 1 grau , grau incompleto , grau completo , Superior incompleto , Superior completo ou mais , Escolar da Mãe não concluiu a 1ª série do 1 grau , ª à 3ª séries do 1 grau ª série do 1 grau , ª à 7ª séries do 1 grau , ª série do 1 grau , grau incompleto , grau completo , Superior incompleto , Superior completo ou mais [N] Fonte: PNADs 1987 a Metodologia Três modelos são estimados neste trabalho (Seção 6) para verificar a existência de relação significativa entre educação do indivíduo adulto e os atributos sexo e raça. Os dois primeiros modelos (Equação 1 e 2) compreendem o período e 1996, respectivamente, e seus resultados estão representados na Tabela 4. Ambos incluem 7 variáveis dummy para captar os efeitos de: sexo, raça, zona (rural/urbano) e região. O primeiro modelo inclui ainda uma variável de tendência anual. Desta forma, são estimados através do método de Mínimos Quadrados Ordinários pelas seguintes regressões: Y i = a + bd i + ct i + e i (Equação 1) Y i = a + bd i + e i (Equação 2) Onde Y i corresponde aos para cada adulto i, D i é um vetor com as 7 variáveis dummy citadas acima, T i é o termo de tendência linear, e i é um termo de erro normalmente distribuído e a uma constante. O terceiro modelo (Equação 3) é reprodução do segundo, mas incluindo-se variáveis de controle para escolar dos pais, atributo tradicionalmente associado na literatura a determinação da escolar do indivíduo e só disponível conjuntamente com raça e sexo na PNAD de Y i = a + bd i + fe i + e i (Equação 3) Onde E i é um vetor de variáveis dummy para diferentes níveis de educação do pai e da mãe do indivíduo i, de acordo com as categorias dispostas na Tabela 5. 6
7 4. As Diferenças Educacionais entre Sexos e entre Raças separadamente Quando a análise dos níveis de escolar é elaborada por sexo, verificamos que nas coortes da primeira metade do século XX existia uma superior masculina em relação ao nível de escolar, a qual foi revertida pelas mulheres a partir das coortes nascidas na segunda metade. 8,0 Gráfico 3 Anos de Escolar, por sexo e ; Brasil: 1977 a ,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Mulher 25 anos Homem 25 anos Mulher 35 anos Homem 35 anos ano Os Gráfico 3 e 4 nos indicam (em nível e em diferença, respectivamente) que a superação da escolar feminina entre adultos ocorreu pela primeira vez nas coortes nascidas na década de Percebe-se que as mulheres de 25 anos já superavam os homens de sua por volta de 1977, o que corresponde à coorte de Entre os indivíduos de 35 anos, as mulheres superam pela primeira vez em 1987; ou seja, também aquelas da coorte de ,80 Gráfico 4 Anos de escolar a mais (ou a menos) das mulheres em relação aos homens 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0, ano anos 35 anos Os Gráficos 5 a 15 mostram detalhadamente este processo de superação da escolar das coortes femininas. Neles estão representadas as coortes de a
8 65 1, de homens e mulheres, entre 32 e 39 anos de. Pode-se perceber que entre as coortes do início da década de 1950 (Gráfico 9) as mulheres e homens estão quase em igualdade quanto à escolar. Essa fase de igualdade durou por volta de uma década, até que a escolar feminina ultrapassou a masculina. O Gráfico 14 mostra que, entre as coortes nascidas quase dez anos depois, já se configurava claramente a superior da educação feminina, com diferenças superiores a meio ano de escolar. Gráfico 5 Anos de Escolar, em média, de indivíduos de 32 a 39 anos, por sexo: Brasil, Coorte Gráfico 7 Anos de Escolar, em média, de indivíduos de 32 a 39 anos, por sexo: Brasil, Coorte Home Mulhe Homen Mulher Gráfico 6 Anos de Escolar, em média, de indivíduos de 32 a 39 anos, por sexo: Brasil, Coorte Homens Mulheres Gráfico 8 Anos de Escolar, em média, de indivíduos de 32 a 39 anos, por sexo: Brasil, Coorte Home Mulhe Gráfico 9 Anos de Escolar, em média, de indivíduos de 32 a 39 anos, por sexo: Brasil, Coorte Homens Mulheres Gráfico 10 Anos de Escolar, em média, de indivíduos de 32 a 39 anos, por sexo: Brasil, Coorte Homen Mulhere 1 A escolar média de uma coorte bienal é dada pela média aritmética simples da escolar das duas coortes anuais que a compõem. Por exemplo, a escolar da coorte aos 30 anos é dada pela média da escolar da coorte de 1949 (medida em 1979) e da coorte de 1950 (medida em 1980). 8
9 Gráfico 11 Anos de Escolar, em média, de indivíduos de 32 a 39 anos, por sexo: Brasil, Coorte Homens Mulhere Gráfico 12 Anos de Escolar, em média, de indivíduos de 32 a 39 anos, por sexo: Brasil, Coorte Homen Mulher Gráfico 13 Anos de Escolar, em média, de indivíduos de 32 a 39 anos, por sexo: Brasil, Coorte Homen Mulher Gráfico 14 Anos de Escolar, em média, de indivíduos de 32 a 39 anos, por sexo: Brasil, Coorte Hom Mulh Gráfico 15 Anos de Escolar, em média, de indivíduos de 32 a 39 anos, por sexo: Brasil, Coorte Hom Mulh O Gráfico 5 mostra que, nas coortes de , os homens de 35 anos apresentavam, em média, 4,13 enquanto as mulheres da mesma tinham 1 uma diferença de 0,32 ano a mais para os homens. Como se pode concluir, isto se deu nos anos de Através do Gráfico 9, nota-se que, na coorte de , as escolars médias de homens e mulheres aos 35 anos atingiram níveis quase equivalentes: 5,60 e 5,63 respectivamente. Este fato, por sua vez, ocorreu em No final da década de 90, no entanto, a superior da escolar feminina sobre a dos homens, entre indivíduos de 35 anos, já havia saltado para 0,45 anos. Nas coortes de as mulheres tinham 7,29 anos de escolar e os homens 4 anos (Gráfico 15). Em relação às diferenças de escolar entre raças, não ocorreu processo de equiparação ou superação semelhante ao ocorrido entre os sexos. Os gráficos 16 e 17 demonstram que a superior educacional dos brancos não foi anulada até o final do século passado. Nas coortes de , por exemplo, enquanto os brancos tinham, aos 25 anos de, 8,33, os negros possuíam apenas 6,26 situação que ocorre no final da década de 90. 9
10 Anos de Escolar Gráfico 16 Anos de Escolar, em média, por coorte e raça de indivíduos de 25 a 40 anos Brancos Idade Negros Brancos Negros Brancos Negros Brancos Negros Brancos Negros Brancos Negros Brancos Negros Anos de Escolar Gráfico 17 Anos de Escolar, em média, por coorte e raça de indivíduos de 41 a 50 anos Idade Brancos Negros Brancos Negros Brancos Negros Brancos Negros Brancos Negros Brancos Negros Os gráficos acima demonstram que a desigualdade entre negros e brancos persistiu por todo o século XX, não demonstrando sinal de queda. 5. Análise de Raça e Sexo conjuntamente Através da seção anterior percebemos que houve uma superação da educação formal feminina e uma manutenção da desigualdade educacional entre raças, sendo a média de anos de escolar dos brancos mais alta que a dos negros. É interessante, entretanto, observar como isto ocorreu quando diferenças de sexo e raça são consideradas conjuntamente. Vamos analisar os dados para tentar responder, em linhas gerais, a quatro perguntas: 1. Ocorreu superação feminina tanto entre os brancos quanto entre os negros? 2. Ela ocorreu ao mesmo momento e com mesma intens em cada um destes grupos? 3. Houve a manutenção da desigualdade racial tanto entre os homens quanto entre as mulheres? 4. Ocorreu em momentos diferentes e com intens diferente em cada sexo? 10
11 O Gráfico 18, a seguir, mostra a escolar média das coortes de 1937 a 1969, de acordo com raça e sexo. A escolar de cada coorte foi calculada pela média aritmética da escolar de seus indivíduos ao longo da faixa etária 30 a 50 anos 2. Como se verifica que os ganhos de escolar não são muito significativos após os 30 anos de, considerouse que a média é uma medida representativa. 9 Gráfico 18 Anos de escolar, em média, por raça e sexo e coorte: Brasil, coortes de 1937 a Mulher Branca Homem Branco Mulher Negra Homem Negro coorte Percebe-se um processo de superação de escolar por parte das mulheres em ambas as raças. A reversão feminina ocorreu, todavia, primeiramente entre os negros do que entre os brancos. Isto fica constatado mais claramente no Gráfico 19, que é uma versão do gráfico anterior em diferença, separando por raça. Entre os negros a primeira coorte feminina a superar a masculina é a de Já entre os brancos a primeira superação ocorre efetivamente apenas na coorte de Além do que as coortes de mulheres negras mantêm, durante grande parte do período representado, uma superior em relação aos homens de sua raça maior do que a das coortes de mulheres brancas. 2 Como não é possível obter dados de todas coortes para toda esta faixa etária através da PNAD, ponderou-se pelo número de observações disponíveis. Para a coorte de 1938, por exemplo, só é possível obter a média de escolar de seus indivíduos aos 49 e aos 50 anos (PNADs de 1977 e 1978, respectivamente). Para a escolar desta coorte considerou-se então a média simples deste dois valores. 11
12 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Gráfico 19 Anos de escolar a mais ou a menos das mulheres em relação aos homens, por raça: Brasil, coortes de 1937 a coorte Entre Brancos Entre Negros Quando tomamos o Gráfico 18 em diferença novamente, mas agora separadamente por sexo (Gráfico 20), verifica-se que a superior educacional dos brancos se manteve em ambas as raças, apesar de ter se mostrado maior entre os homens. 3,10 Gráfico 20 Anos de escolar a mais dos brancos em relação aos negros, por sexo: Brasil, coortes de 1937 a ,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 Entre mulheres Entre homens coorte É interessante comparar o resultado desta seção com aquele obtido na anterior. Na seção 4 verificou-se que estão em maior desvantagem educacional os negros em relação aos brancos e os homens em relação às mulheres. Nesta seção, por sua vez, constatou-se que, apesar das mulheres negras apresentarem índices de escolar inferiores aos das mulheres brancas, elas mostraram um desempenho em relação aos homens de sua própria raça superior ao das mulheres brancas. 6. Estimação de Modelos Nesta seção serão estimados alguns modelos para captar o efeito de sexo e raça na determinação da escolar dos indivíduos adultos. Na Tabela 4 estão os resultados de duas 12
13 regressões estimadas por Mínimos Quadrados Ordinários para escolar média de indivíduos de 25 a 50 anos a primeira para todo o período , e a segunda apenas para o ano de Esta última foi incluída para podermos comparar com a regressão da Tabela X, que inclui apenas o ano de 1996 e também variáveis adicionais para anos de escolar do pai e da mãe, dado que este é o único ano, dentre os analisados, em que a PNAD contém um suplemento com variáveis relativas a escolar dos pais. Tabela 4. Coeficientes e Desvios Padrões de Regressões por Mínimos Quadrados Anos de Escolar de Adultos Brasil, e Coef. Desvio Padrão Coef. Desvio Padrão Mulher=1 0,058*** 0,008 0,110*** 0,025 Branco=1 2,054*** 0,008 1,989*** 0,027 Urbano=1 3,474*** 0,010 3,406*** 0,034 Região (Sudeste omitido) Sul -0,200*** 0,011-0,288*** 0,037 Centro-oeste 0,200*** 0,013 0,077*** 0,044 Norte 0,327*** 0,016 0,169*** 0,053 Nordeste -0,325*** 0,010-0,355*** 0,033 Ano 0,087*** 0, Constante -5,910*** 0,091 2,576 0,042 R 2 ajustado 0,1568 0,1378 [N] Fonte: PNADs 1977 a Notas: ***Significativo a 1%; **Significativo a 5%; *Significativo a 10%. A regressão da Tabela 4 sugere que, na média, o efeito da raça sobre a determinação da escolar é mais forte do que sexo. No período de 1987 a 1999, para dois indivíduos adultos do mesmo sexo, região, zona (rural ou urbana) e vivendo no mesmo ano, mas de raças diferentes, o branco teve em média aproximadamente 2 anos de estudo a mais que o negro. A vantagem educacional das mulheres em relação aos homens foi de apenas 0,058 anos. O efeito da zona é ainda maior que de sexo ou de raça, contudo a regressão nos mostra que, conforme proposto no início deste artigo, as duas características adscritas foram influentes na determinação da escolar de adultos, sendo o efeito da raça proporcionalmente muito maior que de sexo. As regressões da Tabela 4, entretanto, não levam em consideração uma variável tradicionalmente tida na bibliografia como de extrema influência sobre a determinação da escolar do indivíduo: a escolar de seus pais (MARTELETO, 2001). Este efeito pode ser captado na regressão representada na Tabela 5, para o ano de Esta última regressão nos mostra que, após incluir controles para educação do pai e da mãe, raça e sexo continuam tendo influência sobre o nível de educação atingido na fase adulta. O padrão se mantém brancos e mulheres apresentam níveis mais altos de escolar e raça continua sendo muito mais significativo que sexo. O grau de explicação do modelo aumenta bastante também. O valor da estatística R 2 quase dobra, passando de 0,1568 para 0,2893. Um fato adicional a se notar é que escolar da mãe se mostra mais determinante que escolar do pai na determinação da escolar do adulto para qualquer nível de escolar dos pais; visto que muitos trabalhos têm utilizado apenas a escolar do pai na análise da determinação da escolar do filho. 13
14 Tabela 5. Coeficiente e Desvio Padrão de Regressões por Mínimos Quadrados Anos de Escolar de Adultos Brasil, 1996 Coeficiente Desvio Padrão Mulher=1 0,065*** 0,023 Branco=1 1,323*** 0,025 Urbano=1 2,754*** 0,032 Região (Sudeste omitido) Sul -0,316*** 0,033 Centro-oeste 0,028*** 0,040 Norte 0,100*** 0,048 Nordeste -0,259*** 0,030 Escolar do Pai (não concluiu a 1 a série do 1 o grau omitido) 1 a à 3 a séries do 1 o grau concluídas 0,151*** 0,034 4 a série do 1 o grau concluída 1,374*** 0,042 5 a à 7 a séries do 1 o grau concluídas 1,731*** 0,091 8 a série do 1 o grau concluída 2,521*** 0,084 2 o grau incompleto 3,179*** 0,174 2 o grau completo 3,145*** 0,085 Superior incompleto 3,250*** 0,270 Superior completo ou mais 4,162*** 0,105 Escolar da Mãe (não concluiu a 1 a série do 1 o grau omitido) 1 a à 3 a séries do 1 o grau concluídas 0,601*** 0,034 4 a série do 1 o grau concluída 1,785*** 0,043 5 a à 7 a séries do 1 o grau concluídas 2,150*** 0,086 8 a série do 1 o grau concluída 3,247*** 0,084 2 o grau incompleto 3,695*** 0,171 2 o grau completo 3,950*** 0,084 Superior incompleto 4,289*** 0,372 Superior completo ou mais 4,570*** 0,137 Constante 2,415*** 0,039 R 2 ajustado 0,2893 [N] Fonte: PNAD Notas: ***Significativo a 1%; **Significativo a 5%; *Significativo a 10%. 7. Conclusão e Discussão As análises apresentadas neste trabalho nos mostram que, apesar da escolar média do brasileiro ter aumentado bastante ao longo do século XX, desigualdades educacionais ainda são presentes no Brasil e elas são bem claras, inclusive aquelas determinadas por fatores adscritos. A desigualdade educacional de sexo, antes a favor dos homens, se reverteu em favor das mulheres; e a proveniente de raça permaneceu durante todo o século passado a favor dos brancos. O trabalho mostra ainda que a superação educacional feminina se iniciou nas coortes da década de 1950 e continuou aumentando ao longo das coortes seguintes. Em 1999 esta diferença entre indivíduos de 25 anos já era de 0,72 anos de escolar a mais para as mulheres. Para esta mesma faixa etária, os brancos, por sua vez, tinham em média 2,45 anos a mais que os negros. Ao interagir sexo e raça, como feito na Seção 5, percebe-se dois aspectos interessantes. Primeiro, que a superação educacional feminina ocorreu primeiramente entre os 14
15 negros do que entre os brancos. A primeira coorte feminina negra a superar uma masculina negra em na fase adulta foi a de Entre os brancos a primeira foi a de Em segundo lugar, os homens negros apresentaram, para quase a total das coortes analisadas, uma desvantagem educacional maior em relação aos homens brancos do que as mulheres negras em relação às mulheres brancas. As regressões estimadas na Seção 6 vêm, em seguida, comprovar a relação de sexo e raça na determinação da escolar de adultos no Brasil e as suas desigualdades. Deve-se frisar ainda que, apesar da desvantagem educacional feminina ter sido eliminada em um primeiro momento, ela se reverteu e agora tem-se outro problema que merece atenção. Quais os fatores estão impedindo que os homens tenham o mesmo acesso à educação que as mulheres? Há estudos que indicam que esses fatores se encontram no início da carreira educacional dos indivíduos. O trade-off entre escola e trabalho é maior para os meninos (LEME E WAJNMAN 2000). Há indícios entretanto de que existe também na sociedade brasileira uma proteção maior à menina, deixando-a mais na esfera familiar, cuidando de tarefas domésticas e irmãos menores, o que contribui para um decréscimo no desempenho na escola (LEME E WAJNMAN 2000; MARTELETO 2002). Outros trabalhos sugerem ainda que meninas, em geral, são mais estudiosas (KNODEL 1996). Contudo, muito acontece na trajetória feminina posterior casamento, matern o que, definitivamente já foi comprovado na literatura como fator dificultador do aumento da escolar da mulher. Merece estudo em que e condições de fato os meninos/homens perdem o passo em relação às meninas/mulheres. Assim, é essencial ter em mente que a reversão da desigualdade educacional entre os sexos não deve ser tomada como algo positivo em si, mas como manifestação de alguma deficiência da sociedade brasileira em garantir oportuns iguais aos indivíduos. Como pode ser visto ao longo de todo o artigo, em uma perspectiva de sexo e raça o homem negro é a categoria que apresenta, atualmente, menos. Enquanto em 1999 um homem negro de 25 anos possuía em média 5,6, uma mulher negra da mesma possuía 6,7; um homem branco 8,2 e uma mulher branca 8,6. Faz-se interessante desta forma, investigar em futuras pesquisas os fatores envolvidos na causal e perpetuação da desigualdade educacional no Brasil e o que está causando o forte viés de desvantagem na direção dos homens e dos negros. 8. Referências Bibliográficas BARROS, R. e LAM, D. Income and Educational Inequality and Children's Schooling Attainment, Opportunity Foregone: Education in Brazil, edited by Nancy Birdsall and Richard Sabot, Inter-American Development Bank BIANCHI, S. The Changing Economic Roles of Women and Men. in Reynolds Farley (ed.) State of the Union: America in the 1990s. Vol.1: Economic Trends. New York: Russell Sage Foundation BIRDSALL, N., SABOT, R. Opportunity Foregone: Education in Brazil. Washington: Inter- American Development Bank, BLOSSFELD, H. P., SHAVIT, Y. Persisting barriers: changes in educational opportunities in thirteen countries. In: SHAVIT, Y., BLOSSFELD, H. P. (eds.). Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries. Westview Press,
16 DURYEA, S. Family Labor Supply and Schooling in Brazil. Tese de doutorado, University of Michigan, Ann Arbor: University of Michigan, Population Studies Center, GRUSKY, D. B. Social Stratification: Class, Race and Gender in Sociological Perspective. Westview Press, HANNUM, E. Political change and the urban-rural gap in basic education in China, Comparative Education Review, us, 43 (2), p , HENRIQUES, R. (org.). Desigualdade e pobreza no Brasil. Brasília: IPEA, Texto para discussão n. 807, KNODEL, J. e JONES, G. Post-Cairo population policy: does promoting girls' schooling miss the mark? Population and Development Review, vol. 22, n. 4, p , KNODEL, J. The closing of the gender gap in schooling: the case of Thailand. Comparative Education, n. 33, p.61-86, LAM, D., DURYEA, S. Effects of schooling on fertility, labor supply, and investments in children, with evidence from Brazil. Journal of Human Resources, v. 34(1),p , LAM, D., LEVISON, D. Declining inequality in schooling in Brazil and its effects on inequality in earnings. Journal of Development Economics, n. 37, p , LEME, M., WAJNMAN, S. A Alocação do Tempo dos Adolescentes Brasileiros entre o Trabalho e a Escola. Anais do XII Encontro Nacional de Estudos Populacionais da ABEP, v.1. Caxambú, MARE, R. Social Background and School Continuation Decisions. Journal of the American Statistical Association, v. 75, p , MARTELETO, L. The Role of Demographic and Family Change on Children s Schooling: Evidence from Brazil. Tese de Doutorado: The University of Michigan, MARTELETO, L. O Papel do Tamanho da Família na Escolar dos Jovens. Revista Brasileira de Estudos de População, vol. 19, n. 2, MENSCH, B. e LLOYD, C. Gender differences in the schooling experiences of adolescents in low-income countries: the case of Kenya. Studies in Family Planning, 29 (2), p , PSACHAROPOULOS, G., ARRIAGADA, A.M. The determinants of early age human capital formation: Evidence from Brazil. Economic Development and Cultural Change, v.37, p , RIGOTTI, I. A Transição da Escolar no Brasil e as Desigualdades Regionais. Trabalho apresentado na Conferência da IUSSP, Salvador, Brasil,
17 ROSEMBERG, F. Raça e desigualdade educacional no Brasil. In: AQUINO, Julio G. (org.). Diferenças e preconceito na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, SEWELL, W. H., HALLER, A. O., PORTES, A. The educational and early occupational attainment process. American Sociological Review, v. 34, p , SILVA, N., HASENBALG, C. (orgs.). Relações raciais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Rio Fundo, SILVA, N., MELLO e SOUZA, A. Um Modelo para Análise da Estratificação Educacional no Brasil. Cadernos de Pesquisa, Agosto, v.58, p.49-57, WOOD, C., CARVALHO, J. A. The Demography of Inequality in Brazil. Cambridge: Cambridge University Press,
TEXTO PARA DISCUSSÃO Nº 242
 TEXTO PARA DISCUSSÃO Nº 242 DESIGUALDADE INTERGERACIONAL DE OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS: UMA ANÁLISE DA MATRÍCULA E ESCOLARIDADE DAS CRIANÇAS BRASILEIRAS Letícia J. Marteleto Dezembro de 2004 Ficha catalográfica
TEXTO PARA DISCUSSÃO Nº 242 DESIGUALDADE INTERGERACIONAL DE OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS: UMA ANÁLISE DA MATRÍCULA E ESCOLARIDADE DAS CRIANÇAS BRASILEIRAS Letícia J. Marteleto Dezembro de 2004 Ficha catalográfica
DEMOGRAFIA E EDUCAÇÃO
 DEMOGRAFIA E EDUCAÇÃO Um trabalho pioneiro de demografia da educação foi desenvolvido por Coale e Hoover (1958). A ideia era mostrar que o gasto com educação não era neutro em relação à idade, sendo mais
DEMOGRAFIA E EDUCAÇÃO Um trabalho pioneiro de demografia da educação foi desenvolvido por Coale e Hoover (1958). A ideia era mostrar que o gasto com educação não era neutro em relação à idade, sendo mais
Letícia Marteleto Departamento de Demografia e CEDEPLAR Universidade Federal de Minas Gerais
 Desigualdade regional e intergeracional de oportunidades educacionais: Uma análise longitudinal da matrícula e escolaridade de crianças e jovens no Brasil Letícia Marteleto Departamento de Demografia e
Desigualdade regional e intergeracional de oportunidades educacionais: Uma análise longitudinal da matrícula e escolaridade de crianças e jovens no Brasil Letícia Marteleto Departamento de Demografia e
GÊNERO E RAÇA NO ACESSO AOS CARGOS DE CHEFIA NO BRASIL 2007
 GÊNERO E RAÇA NO ACESSO AOS CARGOS DE CHEFIA NO BRASIL 2007 Bárbara Castilho 1 Estatísticas evidenciam desigualdades sociais entre homens e mulheres e entre indivíduos de distintas características de cor
GÊNERO E RAÇA NO ACESSO AOS CARGOS DE CHEFIA NO BRASIL 2007 Bárbara Castilho 1 Estatísticas evidenciam desigualdades sociais entre homens e mulheres e entre indivíduos de distintas características de cor
Os estudos contemporâneos sobre desigualdades raciais no Brasil Raça, desigualdades e política no Brasil contemporâneo. Aula 9 -
 Os estudos contemporâneos sobre desigualdades raciais no Brasil Raça, desigualdades e política no Brasil contemporâneo. Aula 9 - Roteiro O modelo de realização socioeconômica de Carlos Hasenbalg e Nelson
Os estudos contemporâneos sobre desigualdades raciais no Brasil Raça, desigualdades e política no Brasil contemporâneo. Aula 9 - Roteiro O modelo de realização socioeconômica de Carlos Hasenbalg e Nelson
1 Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal//SUPLAV
 O perfil das mulheres de 10 anos e mais de idade no Distrito Federal e na Periferia Metropolitana de Brasília - PMB segundo a ótica raça/cor 2010 Lucilene Dias Cordeiro 1 1 Secretaria de Estado de Educação
O perfil das mulheres de 10 anos e mais de idade no Distrito Federal e na Periferia Metropolitana de Brasília - PMB segundo a ótica raça/cor 2010 Lucilene Dias Cordeiro 1 1 Secretaria de Estado de Educação
Desigualdades nos riscos de mortalidade na infância e de gravidez na adolescência em populações vulneráveis nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo
 Desigualdades nos riscos de mortalidade na infância e de gravidez na adolescência em populações vulneráveis nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo Mário Francisco Giani Monteiro Palavras-chave: Mortalidade
Desigualdades nos riscos de mortalidade na infância e de gravidez na adolescência em populações vulneráveis nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo Mário Francisco Giani Monteiro Palavras-chave: Mortalidade
UM ESTUDO SOBRE AS MÃES ADOLESCENTES BRASILEIRAS
 UM ESTUDO SOBRE AS MÃES ADOLESCENTES BRASILEIRAS Maria Salet Ferreira Novellino 1 Neste estudo, analiso as mães-adolescentes brasileiras de 15 a 19 anos de idade relacionando dados sócio-demográficos dessas
UM ESTUDO SOBRE AS MÃES ADOLESCENTES BRASILEIRAS Maria Salet Ferreira Novellino 1 Neste estudo, analiso as mães-adolescentes brasileiras de 15 a 19 anos de idade relacionando dados sócio-demográficos dessas
Aspectos Socio-Econômicos do Câncer no Brasil
 segunda-feira, outubro 03, 2016 Aspectos Socio-Econômicos do Câncer no Brasil André Medici Kaizô Beltrão Introdução Este artigo é a revisão de parte de um documento mais amplo escrito no ano de 2013 (Aspectos
segunda-feira, outubro 03, 2016 Aspectos Socio-Econômicos do Câncer no Brasil André Medici Kaizô Beltrão Introdução Este artigo é a revisão de parte de um documento mais amplo escrito no ano de 2013 (Aspectos
Como superar a precariedade do emprego feminino
 Como superar a precariedade do emprego feminino Ana Flávia Machado (Cedeplar/UFMG) Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe Fatos estilizados Radical mudança do papel das mulheres
Como superar a precariedade do emprego feminino Ana Flávia Machado (Cedeplar/UFMG) Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe Fatos estilizados Radical mudança do papel das mulheres
EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE MATRÍCULA, EVASÃO E TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO NA SÉRIE K NAS DÉCADAS DE 80 E 90: UMA ANÁLISE DE COORTE
 EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE MATRÍCULA, EVASÃO E TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO NA SÉRIE K NAS DÉCADAS DE 80 E 90: UMA ANÁLISE DE COORTE Juliana de Lucena Ruas Riani 1 Adriana de Miranda Ribeiro 2 1) Introdução Até a
EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE MATRÍCULA, EVASÃO E TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO NA SÉRIE K NAS DÉCADAS DE 80 E 90: UMA ANÁLISE DE COORTE Juliana de Lucena Ruas Riani 1 Adriana de Miranda Ribeiro 2 1) Introdução Até a
Diretoria de Pesquisas - DPE Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS Gerência de Indicadores Sociais - GEISO 17/12/2014
 2014 Diretoria de Pesquisas - DPE Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS Gerência de Indicadores Sociais - GEISO 17/12/2014 Indicadores Sociais Construção baseada em observações geralmente
2014 Diretoria de Pesquisas - DPE Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS Gerência de Indicadores Sociais - GEISO 17/12/2014 Indicadores Sociais Construção baseada em observações geralmente
Palavras-chave: Arranjos domiciliares; Benefício de Prestação Continuada; Idoso; PNAD
 Idosos atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) que vivem em domicílios com outros rendimentos: perfil sociodemográfico e comparação com os idosos que vivem em domicílios com presença de
Idosos atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) que vivem em domicílios com outros rendimentos: perfil sociodemográfico e comparação com os idosos que vivem em domicílios com presença de
Uma análise dos diferenciais salariais no Brasil
 Uma análise dos diferenciais salariais no Brasil Ricardo Paes de Barros DIPES/IPEA Rosane Mendonça UFF/IPEA Gostaríamos de agradecer a toda a nossa equipe no IPEA pelo excelente trabalho de assistência
Uma análise dos diferenciais salariais no Brasil Ricardo Paes de Barros DIPES/IPEA Rosane Mendonça UFF/IPEA Gostaríamos de agradecer a toda a nossa equipe no IPEA pelo excelente trabalho de assistência
Diferenciais Socioespaciais da População sem Registro Civil de Nascimento: uma análise das informações do Censo Demográfico 2010
 Diferenciais Socioespaciais da População sem Registro Civil de Nascimento: uma análise das informações do Censo Demográfico 2010 Claudio Dutra Crespo Palavras-chave : subregistro de nascimento, censo 2010,
Diferenciais Socioespaciais da População sem Registro Civil de Nascimento: uma análise das informações do Censo Demográfico 2010 Claudio Dutra Crespo Palavras-chave : subregistro de nascimento, censo 2010,
Empoderando vidas. Fortalecendo nações.
 Empoderando vidas. Fortalecendo nações. INTRODUÇÃO O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil baseia-se exclusivamente nos Censos Demográficos, realizados de 10 em 10 anos, pelo Instituto Brasileiro de
Empoderando vidas. Fortalecendo nações. INTRODUÇÃO O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil baseia-se exclusivamente nos Censos Demográficos, realizados de 10 em 10 anos, pelo Instituto Brasileiro de
Avaliação de impacto do bônus sociorracial da UFMG no desempenho acadêmico dos estudantes
 1 Avaliação de impacto do bônus sociorracial da UFMG no desempenho acadêmico dos estudantes Sub-Comissão de Avaliação da Comissão de Estudo e Acompanhamento de Medidas de Inclusão Social no Corpo Discente
1 Avaliação de impacto do bônus sociorracial da UFMG no desempenho acadêmico dos estudantes Sub-Comissão de Avaliação da Comissão de Estudo e Acompanhamento de Medidas de Inclusão Social no Corpo Discente
Seminário Taller. Santiago do Chile
 Seminário Taller Censos 2010 e a inclusão do enfoque étnico No rumo de uma construção participativa com os povos indígenas e afrodescendentes da América Latina Santiago do Chile A experiência do LAESER
Seminário Taller Censos 2010 e a inclusão do enfoque étnico No rumo de uma construção participativa com os povos indígenas e afrodescendentes da América Latina Santiago do Chile A experiência do LAESER
Panorama do Mercado de Trabalho. Centro de Políticas Públicas do Insper
 Panorama do Mercado de Trabalho Centro de Políticas Públicas do Insper Março de 2017 Apresentação Com o objetivo de ampliar o debate sobre a economia brasileira e o mercado de trabalho e difundir informações
Panorama do Mercado de Trabalho Centro de Políticas Públicas do Insper Março de 2017 Apresentação Com o objetivo de ampliar o debate sobre a economia brasileira e o mercado de trabalho e difundir informações
O MAPA DA EXTREMA INDIGÊNCIA NO CEARÁ E O CUSTO FINANCEIRO DE SUA EXTINÇÃO
 CAEN-UFC RELATÓRIO DE PESQUISA Nº5 O MAPA DA EXTREMA INDIGÊNCIA NO CEARÁ E O CUSTO FINANCEIRO DE SUA EXTINÇÃO (Apresenta um Comparativo com os Estados Brasileiros) Autores da Pesquisa Flávio Ataliba Barreto
CAEN-UFC RELATÓRIO DE PESQUISA Nº5 O MAPA DA EXTREMA INDIGÊNCIA NO CEARÁ E O CUSTO FINANCEIRO DE SUA EXTINÇÃO (Apresenta um Comparativo com os Estados Brasileiros) Autores da Pesquisa Flávio Ataliba Barreto
ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL, MERCADO DE TRABALHO, DESIGUALDADES RACIAIS: UMA INTRODUÇÃO. Márcia Lima 1
 ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL, MERCADO DE TRABALHO, DESIGUALDADES RACIAIS: UMA INTRODUÇÃO. 1. Introdução Márcia Lima 1 O objetivo desta exposição é fornecer aos alunos algumas informações sobre as principais características
ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL, MERCADO DE TRABALHO, DESIGUALDADES RACIAIS: UMA INTRODUÇÃO. 1. Introdução Márcia Lima 1 O objetivo desta exposição é fornecer aos alunos algumas informações sobre as principais características
Políticas de mulheres na perspectiva da cidadania econômica
 Fazendo Gênero 8 - Corpo, Violência e Poder Florianópolis, de 25 a 28 de agosto de 2008 Políticas de mulheres na perspectiva da cidadania econômica Maria Salet Ferreira Novellino; João Raposo Belchior
Fazendo Gênero 8 - Corpo, Violência e Poder Florianópolis, de 25 a 28 de agosto de 2008 Políticas de mulheres na perspectiva da cidadania econômica Maria Salet Ferreira Novellino; João Raposo Belchior
Atualização das Projeções e Estimativas Populacionais para o Rio Grande do Sul e seus Municípios
 Atualização das Projeções e Estimativas Populacionais para o Rio Grande do Sul e seus Municípios Maria de Lourdes Teixeira Jardim Fundação de Economia e Estatística Palavras-Chave: Projeções de população,
Atualização das Projeções e Estimativas Populacionais para o Rio Grande do Sul e seus Municípios Maria de Lourdes Teixeira Jardim Fundação de Economia e Estatística Palavras-Chave: Projeções de população,
Determinantes Sociais da Saúde. Professor: Dr. Eduardo Arruda
 Determinantes Sociais da Saúde Professor: Dr. Eduardo Arruda Conteúdo Programático desta aula Epidemiologia social e os Determinantes Sociais da Saúde (DSS); Principais Iniquidades em Saúde no Brasil;
Determinantes Sociais da Saúde Professor: Dr. Eduardo Arruda Conteúdo Programático desta aula Epidemiologia social e os Determinantes Sociais da Saúde (DSS); Principais Iniquidades em Saúde no Brasil;
TRANSIÇÃO NA ESTRUTURA ETÁRIA- EDUCACIONAL E MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL
 TRANSIÇÃO NA ESTRUTURA ETÁRIA- EDUCACIONAL E MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL Ernesto F. Amaral, Viviana Salinas, Eunice Vargas, Joseph E. Potter, Eduardo Rios-Neto, Daniel S. Hamermesh PRC - Universidade
TRANSIÇÃO NA ESTRUTURA ETÁRIA- EDUCACIONAL E MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL Ernesto F. Amaral, Viviana Salinas, Eunice Vargas, Joseph E. Potter, Eduardo Rios-Neto, Daniel S. Hamermesh PRC - Universidade
CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA DE MINAS GERAIS PELA PNAD 2013
 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA DE MINAS GERAIS PELA PNAD 2013 Eleusy Natália Miguel Universidade Federal de Viçosa, eleusy.arq@gmail.com INTRODUÇÃO Observa-se o exponencial crescimento da população
CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA DE MINAS GERAIS PELA PNAD 2013 Eleusy Natália Miguel Universidade Federal de Viçosa, eleusy.arq@gmail.com INTRODUÇÃO Observa-se o exponencial crescimento da população
Meta 1 Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola
 1 Meta 1 Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola Sem acesso à escola não há acesso pleno à Educação. Nesse sentido, o Todos Pela Educação estabeleceu em 2006 como a primeira de suas cinco Metas a
1 Meta 1 Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola Sem acesso à escola não há acesso pleno à Educação. Nesse sentido, o Todos Pela Educação estabeleceu em 2006 como a primeira de suas cinco Metas a
David Lam University of Michigan. Letícia Marteleto UFMG/Cedeplar
 A Dinâmica da Escolaridade das Crianças Brasileiras durante a Transição Demográfica: aumento no tamanho da coorte versus diminuição no tamanho da família * David Lam University of Michigan Letícia Marteleto
A Dinâmica da Escolaridade das Crianças Brasileiras durante a Transição Demográfica: aumento no tamanho da coorte versus diminuição no tamanho da família * David Lam University of Michigan Letícia Marteleto
O Efeito do Trabalho Infantil para os Rendimentos dos Jovens, Controlando o Background Familiar *
 O Efeito do Trabalho Infantil para os Rendimentos dos Jovens, Controlando o Background Familiar * Ana Lúcia Kassouf 1 USP/ESALQ 1. INTRODUÇÃO O trabalho infantil tem sido criticado e combatido em todo
O Efeito do Trabalho Infantil para os Rendimentos dos Jovens, Controlando o Background Familiar * Ana Lúcia Kassouf 1 USP/ESALQ 1. INTRODUÇÃO O trabalho infantil tem sido criticado e combatido em todo
Primeira Infância: Cumprimento das metas do PNE. Mozart Neves Ramos
 Primeira Infância: Cumprimento das metas do PNE Mozart Neves Ramos mozart@ias.org.br 1. s Rápidas Crianças, jovens e adultos de todas as idades respondem a tratamentos, atenção e estímulos. Entretanto,
Primeira Infância: Cumprimento das metas do PNE Mozart Neves Ramos mozart@ias.org.br 1. s Rápidas Crianças, jovens e adultos de todas as idades respondem a tratamentos, atenção e estímulos. Entretanto,
3.2 Populações O que é uma população? Quais os atributos de uma população? Tamanho populacional
 51 Licenciatura em Ciências USP/Univesp 3.2 Populações 3.2.1. O que é uma população? No tópico anterior definimos população como um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que ocupam um determinado espaço
51 Licenciatura em Ciências USP/Univesp 3.2 Populações 3.2.1. O que é uma população? No tópico anterior definimos população como um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que ocupam um determinado espaço
Indicadores Demográficos. Atividades Integradas III
 Indicadores Demográficos Atividades Integradas III Dados demográficos Dados demográficos básicos são uma parte essencial de qualquer investigação epidemiológica: - fazem a contagem da linha de base da
Indicadores Demográficos Atividades Integradas III Dados demográficos Dados demográficos básicos são uma parte essencial de qualquer investigação epidemiológica: - fazem a contagem da linha de base da
Avaliação do bônus sociorracial da UFMG
 1 Avaliação do bônus sociorracial da UFMG André Braz Golgher Ernesto Friedrich de Lima Amaral Alan Vítor Coelho Neves Sub-Comissão de Avaliação da Comissão de Estudo e Acompanhamento de Medidas de Inclusão
1 Avaliação do bônus sociorracial da UFMG André Braz Golgher Ernesto Friedrich de Lima Amaral Alan Vítor Coelho Neves Sub-Comissão de Avaliação da Comissão de Estudo e Acompanhamento de Medidas de Inclusão
EPIDEMIOLOGIA. Profª Ms. Karla Prado de Souza Cruvinel
 EPIDEMIOLOGIA Profª Ms. Karla Prado de Souza Cruvinel O QUE É EPIDEMIOLOGIA? Compreende: Estudo dos determinantes de saúdedoença: contribuindo para o avanço no conhecimento etiológico-clínico Análise das
EPIDEMIOLOGIA Profª Ms. Karla Prado de Souza Cruvinel O QUE É EPIDEMIOLOGIA? Compreende: Estudo dos determinantes de saúdedoença: contribuindo para o avanço no conhecimento etiológico-clínico Análise das
TRABALHO DE GEOGRAFIA DE RECUPERAÇÃO 2º ANO
 TRABALHO DE GEOGRAFIA DE RECUPERAÇÃO 2º ANO 1.(Ufla-MG) Uma análise da sequência histórica dos censos do Brasil indica que o censo de 2000 demonstrava um país que se encontrava na chamada fase de transição
TRABALHO DE GEOGRAFIA DE RECUPERAÇÃO 2º ANO 1.(Ufla-MG) Uma análise da sequência histórica dos censos do Brasil indica que o censo de 2000 demonstrava um país que se encontrava na chamada fase de transição
ANÁLISE DOS DADOS DE MORTALIDADE DE 2001
 ANÁLISE DOS DADOS DE MORTALIDADE DE 2001 Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica Departamento de Análise da Situação de Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde Janeiro
ANÁLISE DOS DADOS DE MORTALIDADE DE 2001 Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica Departamento de Análise da Situação de Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde Janeiro
Influência de programas governamentais na fecundidade dos mais pobres: uma comparação entre Brasil e México *
 Influência de programas governamentais na fecundidade dos mais pobres: uma comparação entre Brasil e México * Resumo Ernesto F. Amaral Joseph E. Potter México e Brasil experimentaram um declínio substancial
Influência de programas governamentais na fecundidade dos mais pobres: uma comparação entre Brasil e México * Resumo Ernesto F. Amaral Joseph E. Potter México e Brasil experimentaram um declínio substancial
Características. Em 2014, foram visitados 151 mil domicílios e entrevistadas 363 mil pessoas. Abrangência nacional
 Rio de Janeiro, 13/11/2015 Abrangência nacional Características Temas investigados no questionário básico Características gerais dos moradores Educação Migração Trabalho e rendimento Trabalho infantil
Rio de Janeiro, 13/11/2015 Abrangência nacional Características Temas investigados no questionário básico Características gerais dos moradores Educação Migração Trabalho e rendimento Trabalho infantil
Indicadores Sociais Municipais 2010. Uma análise dos resultados do universo do Censo Demográfico 2010
 Diretoria de Pesquisas Coordenação de População e Indicadores Sociais Indicadores Sociais Municipais 2010 Uma análise dos resultados do universo do Censo Demográfico 2010 Rio, 16/11/ 2011 Justificativa:
Diretoria de Pesquisas Coordenação de População e Indicadores Sociais Indicadores Sociais Municipais 2010 Uma análise dos resultados do universo do Censo Demográfico 2010 Rio, 16/11/ 2011 Justificativa:
O MERCADO DE TRABALHO EM 2011
 OS NEGROS NO MERCADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL Novembro de 2012 O MERCADO DE TRABALHO EM 2011 Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra Os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego podem
OS NEGROS NO MERCADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL Novembro de 2012 O MERCADO DE TRABALHO EM 2011 Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra Os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego podem
Mulheres Negras e a Mortalidade Materna no Brasil
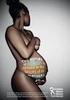 Mulheres Negras e a Mortalidade Materna no Brasil Mário F G Monteiro (IMS-UERJ) Leila Adesse (IPAS - Brasil) Jacques Levin (IMS-UERJ) TRABALHO APRESENTADO NO SEMINÁRIO MORTALIDADE MATERNA E DIREITOS HUMANOS
Mulheres Negras e a Mortalidade Materna no Brasil Mário F G Monteiro (IMS-UERJ) Leila Adesse (IPAS - Brasil) Jacques Levin (IMS-UERJ) TRABALHO APRESENTADO NO SEMINÁRIO MORTALIDADE MATERNA E DIREITOS HUMANOS
GEOGRAFIA - 2 o ANO MÓDULO 16 DEMOGRAFIA: CONCEITOS E TRANSIÇÃO
 GEOGRAFIA - 2 o ANO MÓDULO 16 DEMOGRAFIA: CONCEITOS E TRANSIÇÃO C ANOS POPULAÇÃO AUMENTO r (milhões) (milhões) (%) b m (por mil) (por mil) NASCIDOS (milhões) ( 1940 41,0 10,9 2,39 44,4 20,9 20,6 1950 51,9
GEOGRAFIA - 2 o ANO MÓDULO 16 DEMOGRAFIA: CONCEITOS E TRANSIÇÃO C ANOS POPULAÇÃO AUMENTO r (milhões) (milhões) (%) b m (por mil) (por mil) NASCIDOS (milhões) ( 1940 41,0 10,9 2,39 44,4 20,9 20,6 1950 51,9
Empoderando vidas. Fortalecendo nações.
 Empoderando vidas. Fortalecendo nações. Nota metodológica sobre o cálculo de indicadores demográficos do Brasil Apesar dos avanços na qualidade das estatísticas vitais no Brasil, eles ocorreram de forma
Empoderando vidas. Fortalecendo nações. Nota metodológica sobre o cálculo de indicadores demográficos do Brasil Apesar dos avanços na qualidade das estatísticas vitais no Brasil, eles ocorreram de forma
Analfabetismo no Brasil: Tendências, Perfil e Efetividade dos Programas de Alfabetização de Adultos. Reynaldo Fernandes. Inep/MEC e FEA-RP/USP
 Analfabetismo no Brasil: Tendências, Perfil e Efetividade dos Programas de Alfabetização de Adultos Reynaldo Fernandes Inep/MEC e FEA-RP/USP Evolução dos indicadores de analfabetismo no Brasil Tabela 1
Analfabetismo no Brasil: Tendências, Perfil e Efetividade dos Programas de Alfabetização de Adultos Reynaldo Fernandes Inep/MEC e FEA-RP/USP Evolução dos indicadores de analfabetismo no Brasil Tabela 1
Caracterização do território
 Perfil do Município de Pedra Preta, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 4205,57 km² IDHM 2010 0,679 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 15755 hab. Densidade
Perfil do Município de Pedra Preta, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 4205,57 km² IDHM 2010 0,679 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 15755 hab. Densidade
NOTÍCIAS ETENE 04 DE MAIO DE 2011 RESULTADOS DO CENSO 2010
 NOTÍCIAS ETENE 04 DE MAIO DE 2011 RESULTADOS DO CENSO 2010 População brasileira cresce quase 20 vezes desde 1872 A população do Brasil alcançou a marca de 190.755.799 habitantes na data de referência do
NOTÍCIAS ETENE 04 DE MAIO DE 2011 RESULTADOS DO CENSO 2010 População brasileira cresce quase 20 vezes desde 1872 A população do Brasil alcançou a marca de 190.755.799 habitantes na data de referência do
Panorama do Mercado de Trabalho Brasileiro
 Brasileiro Centro de Políticas Públicas do Insper Março de 2014 Panorama Educacional Apresentação Com o objetivo de ampliar o debate sobre a economia brasileira e o mercado de trabalho e difundir informações
Brasileiro Centro de Políticas Públicas do Insper Março de 2014 Panorama Educacional Apresentação Com o objetivo de ampliar o debate sobre a economia brasileira e o mercado de trabalho e difundir informações
A Condição Nem-nem entre os Jovens é Permanente?
 A Condição Nem-nem entre os Jovens é Permanente? Naercio A. Menezes Filho Pedro Henrique Fonseca Cabanas Bruno Kawaoka Komatsu Policy Paper nº 7 Agosto, 2013 Copyright Insper. Todos os direitos reservados.
A Condição Nem-nem entre os Jovens é Permanente? Naercio A. Menezes Filho Pedro Henrique Fonseca Cabanas Bruno Kawaoka Komatsu Policy Paper nº 7 Agosto, 2013 Copyright Insper. Todos os direitos reservados.
Consultoria para realizar pesquisa para estimar a prevalência de nascimentos pré-termo no Brasil e explorar possíveis causas
 ANEXO 2 UNICEF Brasil Consultoria para realizar pesquisa para estimar a prevalência de nascimentos pré-termo no Brasil e explorar possíveis causas Documento técnico com análise dos fatores associados à
ANEXO 2 UNICEF Brasil Consultoria para realizar pesquisa para estimar a prevalência de nascimentos pré-termo no Brasil e explorar possíveis causas Documento técnico com análise dos fatores associados à
Caracterização do território
 Perfil do Município de São José do Xingu, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 7493,63 km² IDHM 2010 0,657 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 5240 hab. Densidade
Perfil do Município de São José do Xingu, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 7493,63 km² IDHM 2010 0,657 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 5240 hab. Densidade
Colégio Ressurreição
 Colégio Ressurreição Atividade de revisão para a prova específica do 2º bimestre Responda em seu caderno as questões abaixo: 1. (Ufrgs 2005) Sobre a demografia brasileira, são feitas as seguintes afirmações:
Colégio Ressurreição Atividade de revisão para a prova específica do 2º bimestre Responda em seu caderno as questões abaixo: 1. (Ufrgs 2005) Sobre a demografia brasileira, são feitas as seguintes afirmações:
O acesso de jovens ao ensino superior no Estado do Rio de Janeiro
 O acesso de jovens ao ensino superior no Estado do Rio de Janeiro Giovani Quintaes* Andréia Arpon* Adriana Fontes* Beatriz Cunha* Palavras-chave: educação; universidade; jovens; favelas. Resumo O artigo
O acesso de jovens ao ensino superior no Estado do Rio de Janeiro Giovani Quintaes* Andréia Arpon* Adriana Fontes* Beatriz Cunha* Palavras-chave: educação; universidade; jovens; favelas. Resumo O artigo
Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça 1995 a 2015
 Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça 1 O Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, estudo que o Ipea produz desde 2004 em parceria com a ONU Mulheres, tem como objetivo disponibilizar dados sobre
Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça 1 O Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, estudo que o Ipea produz desde 2004 em parceria com a ONU Mulheres, tem como objetivo disponibilizar dados sobre
FECUNDIDADE EM DECLÍNIO
 FECUNDIDADE EM DECLÍNIO Breve nota sobre a redução no número médio de filhos por mulher no Brasil Elza Berquó Suzana Cavenaghi RESUMO Este artigo analisa os dados sobre fecundidade no Brasil apresentados
FECUNDIDADE EM DECLÍNIO Breve nota sobre a redução no número médio de filhos por mulher no Brasil Elza Berquó Suzana Cavenaghi RESUMO Este artigo analisa os dados sobre fecundidade no Brasil apresentados
Caracterização do território
 Perfil do Município de Curitiba, PR 08/07/2014 - Pág 1 de 14 Report a map error Caracterização do território Área 437,42 km² IDHM 2010 0,823 Faixa do IDHM Muito Alto (IDHM entre 0,8 e 1) (Censo 2010) 1751907
Perfil do Município de Curitiba, PR 08/07/2014 - Pág 1 de 14 Report a map error Caracterização do território Área 437,42 km² IDHM 2010 0,823 Faixa do IDHM Muito Alto (IDHM entre 0,8 e 1) (Censo 2010) 1751907
Acesso ao ensino superior no Brasil: desafios para o alcance da equidade educacional
 Acesso ao ensino superior no Brasil: desafios para o alcance da equidade educacional Seminário Internacional Pobreza, Desigualdade e Desempenho Educacional FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO agosto de 2011 Danielle
Acesso ao ensino superior no Brasil: desafios para o alcance da equidade educacional Seminário Internacional Pobreza, Desigualdade e Desempenho Educacional FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO agosto de 2011 Danielle
25/11/2016 IBGE sala de imprensa notícias PNAD 2015: rendimentos têm queda e desigualdade mantém trajetória de redução
 PNAD 2015: rendimentos têm queda e desigualdade mantém trajetória de redução fotos saiba mais De 2014 para 2015, houve, pela primeira vez em 11 anos, queda nos rendimentos reais (corrigidos pela inflação).
PNAD 2015: rendimentos têm queda e desigualdade mantém trajetória de redução fotos saiba mais De 2014 para 2015, houve, pela primeira vez em 11 anos, queda nos rendimentos reais (corrigidos pela inflação).
Caracterização do território
 Perfil do Município de Rosário Oeste, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 8061,98 km² IDHM 2010 0,650 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 17679 hab. Densidade
Perfil do Município de Rosário Oeste, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 8061,98 km² IDHM 2010 0,650 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 17679 hab. Densidade
Caracterização do território
 Perfil do Município de Novo Santo Antônio, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 4386,24 km² IDHM 2010 0,653 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 2005 hab.
Perfil do Município de Novo Santo Antônio, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 4386,24 km² IDHM 2010 0,653 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 2005 hab.
Caracterização do território
 Perfil do Município de Alto Araguaia, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 5557,93 km² IDHM 2010 0,704 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 15644 hab. Densidade
Perfil do Município de Alto Araguaia, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 5557,93 km² IDHM 2010 0,704 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 15644 hab. Densidade
Causas de morte em idosos no Brasil *
 Causas de morte em idosos no Brasil * Ana Maria Nogales Vasconcelos Palavras-chave: mortalidade, causas de morte, envelhecimento, transição demográfica e epidemiológica. Resumo Até muito recentemente,
Causas de morte em idosos no Brasil * Ana Maria Nogales Vasconcelos Palavras-chave: mortalidade, causas de morte, envelhecimento, transição demográfica e epidemiológica. Resumo Até muito recentemente,
QUANTO TEMPO UM JOVEM QUE TRABALHA PERDE PARA SE EDUCAR? Maria Carolina da Silva Leme * I. Introdução
 QUANTO TEMPO UM JOVEM QUE TRABALHA PERDE PARA SE EDUCAR? Maria Carolina da Silva Leme * Nas últimas décadas a frequência à escola entre os jovens brasileiros aumentou consideravelmente. Porém, quando se
QUANTO TEMPO UM JOVEM QUE TRABALHA PERDE PARA SE EDUCAR? Maria Carolina da Silva Leme * Nas últimas décadas a frequência à escola entre os jovens brasileiros aumentou consideravelmente. Porém, quando se
Abordagem Estrutural do Mercado de Capitais
 Abordagem Estrutural do Mercado de Capitais Cenário: tendência de queda da taxa de juros, declínio do ren6smo de renda fixa em relação ao de renda variável, ganho de importância do mercado de capitais.
Abordagem Estrutural do Mercado de Capitais Cenário: tendência de queda da taxa de juros, declínio do ren6smo de renda fixa em relação ao de renda variável, ganho de importância do mercado de capitais.
Caracterização do território
 Perfil do Município de Canarana, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 10877,15 km² IDHM 2010 0,693 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 18754 hab. Densidade
Perfil do Município de Canarana, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 10877,15 km² IDHM 2010 0,693 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 18754 hab. Densidade
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE ENFERMAGEM Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000 SP - SP Tel.: (11) 3085-4066 Fax: 3088-8213 E-mail: ee@edu.usp.br C.P. 5751 - CEP 01061-970 São Paulo
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE ENFERMAGEM Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000 SP - SP Tel.: (11) 3085-4066 Fax: 3088-8213 E-mail: ee@edu.usp.br C.P. 5751 - CEP 01061-970 São Paulo
A formação e a diversidade cultural da população brasileira; Aspectos demográficos e estrutura da população brasileira.
 A formação e a diversidade cultural da população brasileira; Aspectos demográficos e estrutura da população brasileira. A formação e a diversidade cultural da população brasileira Os primeiros habitantes
A formação e a diversidade cultural da população brasileira; Aspectos demográficos e estrutura da população brasileira. A formação e a diversidade cultural da população brasileira Os primeiros habitantes
Caracterização do território
 Perfil do Município de Alto Garças, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 3670,07 km² IDHM 2010 0,701 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 10350 hab. Densidade
Perfil do Município de Alto Garças, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 3670,07 km² IDHM 2010 0,701 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 10350 hab. Densidade
4 Metodologia. 1 Recordemos que o Geres é um estudo longitudinal que avalia alunos em Leitura e Matemática do
 4 Metodologia Em razão da disponibilidade de dados longitudinais propiciada pelo Geres 2005 1, que acompanha a escolarização de um painel de alunos ao longo de quatro anos, a presente pesquisa pôde fazer
4 Metodologia Em razão da disponibilidade de dados longitudinais propiciada pelo Geres 2005 1, que acompanha a escolarização de um painel de alunos ao longo de quatro anos, a presente pesquisa pôde fazer
Caracterização do território
 Perfil do Município de Barra do Garças, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 9176,17 km² IDHM 2010 0,748 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 56560 hab. Densidade
Perfil do Município de Barra do Garças, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 9176,17 km² IDHM 2010 0,748 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 56560 hab. Densidade
Caracterização do território
 Perfil do Município de Novo São Joaquim, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 5039,25 km² IDHM 2010 0,649 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 6042 hab. Densidade
Perfil do Município de Novo São Joaquim, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 5039,25 km² IDHM 2010 0,649 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 6042 hab. Densidade
Caracterização do território
 Perfil do Município de Chapada dos Guimarães, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 5657,43 km² IDHM 2010 0,688 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 17821 hab.
Perfil do Município de Chapada dos Guimarães, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 5657,43 km² IDHM 2010 0,688 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 17821 hab.
Caracterização do território
 Perfil do Município de Rondonópolis, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 4181,58 km² IDHM 2010 0,755 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 195476 hab. Densidade
Perfil do Município de Rondonópolis, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 4181,58 km² IDHM 2010 0,755 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 195476 hab. Densidade
Caracterização do território
 Perfil do Município de Campo Verde, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 4810,5 km² IDHM 2010 0,750 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 31589 hab. Densidade
Perfil do Município de Campo Verde, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 4810,5 km² IDHM 2010 0,750 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 31589 hab. Densidade
Caracterização do território
 Perfil do Município de Bom Jesus do Araguaia, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 4299,96 km² IDHM 2010 0,661 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 5314 hab.
Perfil do Município de Bom Jesus do Araguaia, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 4299,96 km² IDHM 2010 0,661 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 5314 hab.
Caracterização do território
 Perfil do Município de Nova Bandeirantes, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 9573,21 km² IDHM 2010 0,650 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 11643 hab.
Perfil do Município de Nova Bandeirantes, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 9573,21 km² IDHM 2010 0,650 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 11643 hab.
Caracterização do território
 Perfil do Município de Jaciara, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 1663,25 km² IDHM 2010 0,735 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 25647 hab. Densidade
Perfil do Município de Jaciara, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 1663,25 km² IDHM 2010 0,735 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 25647 hab. Densidade
A inserção do negro no mercado de trabalho no Distrito Federal
 PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO NO DISTRITO FEDERAL A inserção do negro no mercado de trabalho no Novembro de 2011 A discussão sobre trabalho decente, capitaneada pela Organização Internacional do Trabalho
PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO NO DISTRITO FEDERAL A inserção do negro no mercado de trabalho no Novembro de 2011 A discussão sobre trabalho decente, capitaneada pela Organização Internacional do Trabalho
A concentração de desempenho escolar e sua relação socioeconômica: análise sobre os microdados do ENEM 2013 RESUMO
 1 A concentração de desempenho escolar e sua relação socioeconômica: análise sobre os microdados do ENEM 2013 Eixo Temático: Políticas Públicas e Programas Educacionais RESUMO Há muito tempo é investigada
1 A concentração de desempenho escolar e sua relação socioeconômica: análise sobre os microdados do ENEM 2013 Eixo Temático: Políticas Públicas e Programas Educacionais RESUMO Há muito tempo é investigada
Caracterização do território
 Perfil do Município de Confresa, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 5819,29 km² IDHM 2010 0,668 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 25124 hab. Densidade
Perfil do Município de Confresa, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 5819,29 km² IDHM 2010 0,668 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 25124 hab. Densidade
Caracterização do território
 Perfil do Município de Vila Rica, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 7468,7 km² IDHM 2010 0,688 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 21382 hab. Densidade
Perfil do Município de Vila Rica, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 7468,7 km² IDHM 2010 0,688 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 21382 hab. Densidade
Alfabetização. Censo Demográfico 2010 Características da população e dos domicílios Resultados do universo
 Alfabetização A alfabetização é o primeiro passo para o acesso à informação escrita e a níveis de educação mais elevados. Assegurar que as crianças frequentem o ensino fundamental nas idades apropriadas
Alfabetização A alfabetização é o primeiro passo para o acesso à informação escrita e a níveis de educação mais elevados. Assegurar que as crianças frequentem o ensino fundamental nas idades apropriadas
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA CURSO DE GESTÃO PÚBLICA
 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA CURSO DE GESTÃO PÚBLICA Professor: Ernesto Friedrich de Lima Amaral Disciplina: Avaliação
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA CURSO DE GESTÃO PÚBLICA Professor: Ernesto Friedrich de Lima Amaral Disciplina: Avaliação
Caracterização do território
 Perfil do Município de Santo Antônio do Leverger, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 12301,06 km² IDHM 2010 0,656 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 18463
Perfil do Município de Santo Antônio do Leverger, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 12301,06 km² IDHM 2010 0,656 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 18463
DESIGUALDADE DE RENDA E POBREZA RURAL NO BRASIL SEGUNDO O GÊNERO: UMA ABORDAGEM REGIONAL COM OS RESULTADOS DA PNAD 2009
 DESIGUALDADE DE RENDA E POBREZA RURAL NO BRASIL SEGUNDO O GÊNERO: UMA ABORDAGEM REGIONAL COM OS RESULTADOS DA PNAD 2009 Ezequiel da Silva Calisto Faculdade de Ciências Econômicas Centro de Economia e Administração
DESIGUALDADE DE RENDA E POBREZA RURAL NO BRASIL SEGUNDO O GÊNERO: UMA ABORDAGEM REGIONAL COM OS RESULTADOS DA PNAD 2009 Ezequiel da Silva Calisto Faculdade de Ciências Econômicas Centro de Economia e Administração
Caracterização do território
 Perfil do Município de São Félix do Araguaia, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 16915,81 km² IDHM 2010 0,668 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 10625
Perfil do Município de São Félix do Araguaia, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 16915,81 km² IDHM 2010 0,668 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 10625
UMA ANALISE COMPARATIVA DOS DETERMINANTES DA FECUNDIDADE DO NORDESTE E NO ESTADO DE SÃO PAULO (UMA APLICAÇÃO DO MODELO BONGAARTS)
 UMA ANALISE COMPARATIVA DOS DETERMINANTES DA FECUNDIDADE DO NORDESTE E NO ESTADO DE SÃO PAULO (UMA APLICAÇÃO DO MODELO BONGAARTS) Josimar Mendes de Vasconcelos 1 (josimar@ccet.ufrn.br) Rita de Cássia de
UMA ANALISE COMPARATIVA DOS DETERMINANTES DA FECUNDIDADE DO NORDESTE E NO ESTADO DE SÃO PAULO (UMA APLICAÇÃO DO MODELO BONGAARTS) Josimar Mendes de Vasconcelos 1 (josimar@ccet.ufrn.br) Rita de Cássia de
O que aconteceu com as escolas de Excelência com Equidade nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em 2011?
 Anos Iniciais do Ensino Fundamental O que aconteceu com as escolas de Excelência com Equidade nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em? O que aconteceu com as escolas de Excelência com Equidade nos Anos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental O que aconteceu com as escolas de Excelência com Equidade nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em? O que aconteceu com as escolas de Excelência com Equidade nos Anos
Caracterização do território
 Perfil do Município de Porto Esperidião, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 5833,71 km² IDHM 2010 0,652 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 11031 hab. Densidade
Perfil do Município de Porto Esperidião, MT 02/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 5833,71 km² IDHM 2010 0,652 Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699) (Censo 2010) 11031 hab. Densidade
Gênero e desigualdade
 economia Gênero e desigualdade A disparidade de ganhos financeiros entre homens e mulheres diminuiu muito nos últimos anos no país. Contudo, quando se observam as diferenças em função do nível de escolaridade,
economia Gênero e desigualdade A disparidade de ganhos financeiros entre homens e mulheres diminuiu muito nos últimos anos no país. Contudo, quando se observam as diferenças em função do nível de escolaridade,
Panorama do Mercado de Trabalho PNAD Contínua. Centro de Políticas Públicas do Insper
 Panorama do Mercado de Trabalho PNAD Contínua Centro de Políticas Públicas do Insper Dezembro de 2016 Apresentação Com o objetivo de ampliar o debate sobre a economia brasileira e o mercado de trabalho
Panorama do Mercado de Trabalho PNAD Contínua Centro de Políticas Públicas do Insper Dezembro de 2016 Apresentação Com o objetivo de ampliar o debate sobre a economia brasileira e o mercado de trabalho
Fundação Oswaldo Cruz
 Fundação Oswaldo Cruz Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca Carla Lourenço Tavares de Andrade (ENSP) Célia Landmann Szwarcwald
Fundação Oswaldo Cruz Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca Carla Lourenço Tavares de Andrade (ENSP) Célia Landmann Szwarcwald
PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E RAÇA/COR: UMA AVALIAÇÃO DO BOLSA-ESCOLA EM MINAS GERAIS CONSIDERANDO BRANCOS E NEGROS
 PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E RAÇA/COR: UMA AVALIAÇÃO DO BOLSA-ESCOLA EM MINAS GERAIS CONSIDERANDO BRANCOS E NEGROS Luciene Aparecida Ferreira de Barros Longo Resumo: Historicamente negros
PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E RAÇA/COR: UMA AVALIAÇÃO DO BOLSA-ESCOLA EM MINAS GERAIS CONSIDERANDO BRANCOS E NEGROS Luciene Aparecida Ferreira de Barros Longo Resumo: Historicamente negros
PERFIL DO MICROEMPREENDEDOR
 PERFIL DO MICROEMPREENDEDOR do Rio de Janeiro NOTA CONJUNTURAL DO OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DEZEMBRO DE 2011 06 2011 PANORAMA GERAL Os microempreendedores
PERFIL DO MICROEMPREENDEDOR do Rio de Janeiro NOTA CONJUNTURAL DO OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DEZEMBRO DE 2011 06 2011 PANORAMA GERAL Os microempreendedores
A importância do quesito cor na qualificação dos dados epidemiológicos e como instrumento de tomada de decisão em Políticas Públicas de Saúde
 A importância do quesito cor na qualificação dos dados epidemiológicos e como instrumento de tomada de decisão em Políticas Públicas de Saúde Fernanda Lopes Rio de Janeiro, maio de 2011 O mandato do UNFPA
A importância do quesito cor na qualificação dos dados epidemiológicos e como instrumento de tomada de decisão em Políticas Públicas de Saúde Fernanda Lopes Rio de Janeiro, maio de 2011 O mandato do UNFPA
REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA Especial 8 de Março Dia Internacional da Mulher
 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA Especial 8 de Março Dia Internacional da Mulher Edição Especial INSERÇÃO DAS MULHERES DE ENSINO SUPERIOR NO MERCADO DE TRABALHO Introdução De maneira geral, as mulheres
REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA Especial 8 de Março Dia Internacional da Mulher Edição Especial INSERÇÃO DAS MULHERES DE ENSINO SUPERIOR NO MERCADO DE TRABALHO Introdução De maneira geral, as mulheres
Briefing. Boletim Epidemiológico 2011
 Briefing Boletim Epidemiológico 2011 1. HIV Estimativa de infectados pelo HIV (2006): 630.000 Prevalência da infecção (15 a 49 anos): 0,61 % Fem. 0,41% Masc. 0,82% 2. Números gerais da aids * Casos acumulados
Briefing Boletim Epidemiológico 2011 1. HIV Estimativa de infectados pelo HIV (2006): 630.000 Prevalência da infecção (15 a 49 anos): 0,61 % Fem. 0,41% Masc. 0,82% 2. Números gerais da aids * Casos acumulados
IBGE mostra que desigualdade de gênero e raça no Brasil perdura
 IBGE mostra que desigualdade de gênero e raça no Brasil perdura As mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens por semana. Em 2015, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas,
IBGE mostra que desigualdade de gênero e raça no Brasil perdura As mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens por semana. Em 2015, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas,
Caracterização do território
 Perfil do Município de Alta Floresta, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 8983,98 km² IDHM 2010 0,714 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 49164 hab. Densidade
Perfil do Município de Alta Floresta, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 8983,98 km² IDHM 2010 0,714 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 49164 hab. Densidade
Metodologias de Estimativas e Projeções Populacionais para Áreas Menores: A experiência do Rio Grande do Sul
 Metodologias de Estimativas e Projeções Populacionais para Áreas Menores: A experiência do Rio Grande do Sul Maria de Lourdes Teixeira Jardim Técnica da Fundação de Economia e Estatística Resumo: O desenvolvimento
Metodologias de Estimativas e Projeções Populacionais para Áreas Menores: A experiência do Rio Grande do Sul Maria de Lourdes Teixeira Jardim Técnica da Fundação de Economia e Estatística Resumo: O desenvolvimento
Caracterização do território
 Perfil do Município de Campo Novo do Parecis, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 9480,98 km² IDHM 2010 0,734 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 27577
Perfil do Município de Campo Novo do Parecis, MT 01/08/2013 - Pág 1 de 14 Caracterização do território Área 9480,98 km² IDHM 2010 0,734 Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799) (Censo 2010) 27577
