III Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental IX Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental Trabalho para Tema-Livre
|
|
|
- Elias Palha
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 III Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental IX Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental Trabalho para Tema-Livre TÍTULO: Dor e trauma: algumas reflexões psicanalíticas Autora: Patrícia Paraboni Endereço: Rua Paulino Fernandes, 10 ap.13 Botafogo Rio de Janeiro/RJ Psicóloga, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Introdução Dor e trauma: algumas reflexões psicanalíticas Um século depois do início das pesquisas freudianas, continuamos debruçados sobre elas, pois ainda hoje são imprescindíveis para compreendermos o humano e as patologias que o acometem. Acompanhamos na obra de Freud vários momentos e desdobramentos diferentes onde pressupostos são formulados, questionados, refutados, ampliados ou reformulados. Do início aos últimos tempos de suas pesquisas, Freud se questiona sobre a relação entre o corpo e psiquismo. A dimensão do corpo na Psicanálise toma distância do corpo abordado pela biologia e fisiologia e se institui como corpo pulsional (da representação e do transbordamento). Os sintomas corporais da histeria foram os primeiros a chamar a atenção de Freud; a histérica tenta expressar um estado mental através de um sintoma corporal. O sintoma histérico é uma solução de compromisso entre psique e corpo enquanto formação substitutiva. Posteriormente, Freud virá a se debruçar sobre os fenômenos clínicos marcados pela compulsão à repetição, fenômenos que demandam um modelo explicativo distinto daquele que se aplicava ao sintoma histérico. Na virada dos anos vinte assistimos ao advento de uma nova concepção sobre esses sintomas que se ancoram numa dimensão traumática. A segunda teoria do trauma e a idéia de dor psíquica produzida pelo traumatismo trazem novas explicações para esse tipo de sintomatologia relacionada com a compulsão à repetição. O trauma produz no eu um efeito paralisante, incapacitando-o de fazer o seu trabalho de ligação da força pulsional. O eu tenta
2 conter o transbordamento pulsional, mas só o consegue de maneira elementar, precária. A dor parece ser um dos resultados desse domínio precário do qual o eu foi capaz de realizar. Diante do eu paralisado, desamparado, só resta a dor. A dor física pode se configurar como resposta a uma dor psíquica, resposta primitiva, uma vez que nela está em jogo uma convocação do corpo e não de processos psíquicos mais complexos, tais como o pensamento, por exemplo. Este trabalho sobre Dor e Trauma em Freud visa contemplar uma parte de nossa pesquisa de Mestrado, voltada, essencialmente, para a questão da dor psíquica e sua manifestação como dor física. A dor física em questão é aquela que não possui um comprometimento orgânico que a evidencie, caso, por exemplo, das dores crônicas e fibromialgia. Cabe ressaltar que estamos aqui diante de um sintoma diferente daquele que caracteriza a histeria. No caso da dor crônica somos remetidos, de alguma forma, para o registro do além do princípio do prazer, registro do aquém do representacional. O objetivo desse trabalho é abordar a questão da dor na obra de Freud. Alguns desdobramentos deste tema que aparecem aqui mencionados serão abordados, de maneira detalhada, em trabalhos posteriores. A concepção de dor na primeira teoria do trauma Em 1895, Freud escreve o Projeto para uma Psicologia Científica. Este trabalho, considerado pré-psicanalítico, é dividido em três partes, sendo que na primeira delas há um subcapítulo intitulado Dor, fenômeno considerado por Freud como decorrente de uma falha na função biológica (a de se manter o nível de excitação no sistema nervoso o mais baixo possível). Do ponto de vista biológico, o sistema nervoso é constituído de neurônios cuja diferenciação se dá devido à quantidade de excitação que por eles passa. Os neurônios φ se tornam permeáveis por se encontrarem na periferia do corpo e receberem grandes quantidades do exterior do organismo. As quantidades que chegam aos neurônios ψ são menores, pois já foram amenizadas pelos aparelhos de terminações nervosas e neurônios φ. Os neurônios ψ sofrem modificações, suas barreiras de contato são facilitadas em diferentes graus; eles são os portadores da memória e dos processos psíquicos em geral. A memória é constituída pela diferença nas facilitações entre os neurônios ψ. No caso da dor, grandes quantidades de excitação irrompem em φ e ψ, as facilitações deixadas em ψ cancelando totalmente a resistência das barreiras de contato. No fenômeno da dor ψ torna-se permeável como φ; é
3 como se os neurônios ψ tivessem sido atingidos por um raio, tal é o modo imperativo como a dor age nos neurônios. Em algumas páginas adiante vemos descrita a vivência dolorosa. Os neurônios ψ estão expostos a quantidades externas mediadas e amortecidas por φ ou por quantidades enormes que rompem os dispositivos protetores de φ - situação da dor. Essa irrupção causada pela dor produz nos neurônios ψ um grande aumento no seu nível, sentido como desprazeroso pelos neurônios ω (responsáveis pelas qualidades sensações conscientes. Eles são excitados com as percepções, não com as recordações). A sensação desprazerosa desperta uma inclinação para a eliminação da quantidade exacerbada de excitação e uma facilitação entre eliminação e imagem do objeto hostil - responsável pela produção da dor. Cada vez que a imagem desse objeto for reocupada por uma nova percepção, será desencadeado um estado semelhante ao doloroso. Surge o desprazer e a inclinação para a eliminação. A irrupção de grandes quantidades em ψ - dor - gera uma facilitação excelente entre a imagem do objeto hostil com os neurônios do núcleo de ψ (neurônios-chave). A reativação na memória desse objeto que causa a dor, não acarretará uma nova irrupção, mas a produção de quantidades endógenas pelos neurônios-chave ou secretores sensação de desprazer - que produzirão, por sua vez, um movimento na direção da eliminação dessa quantidade endógena. Na vivência dolorosa há uma espécie de repulsa em manter a imagem do objeto hostil ocupada; a defesa primária abandona o mais rápido possível essa imagem. Ela é uma espécie de defesa reflexa, para evitar e dar fim ao aumento de excitação. Na segunda parte do Projeto, ao se ocupar da psicopatologia da histeria, Freud supõe uma relação entre a sintomatologia da histeria e a dimensão do sexual. Como é sabido, o relato e análise do Caso Emma abre vias importantes para entendermos essa relação histeria-sintoma-sexual, base da concepção de trauma que Freud sustentava nesse período. Voltemos, no entanto, a 1893, no texto Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos para traçarmos algumas considerações sobre o trauma. Freud demonstra aí que o que leva a formação dos sintomas histéricos deve ser buscado na vida psíquica. Para tal, valese dos ensinamentos de Charcot e, também, de suas próprias investigações acerca dos sintomas histéricos paralisias traumáticas. Neste momento, o trauma é suposto como sendo grave, contendo a idéia de perigo mortal, ameaça à vida, mas não a ponto de pôr termo a atividade psíquica; ele teria uma relação com alguma parte do corpo, o que explicaria as contraturas e dores presentes na histeria traumática. Haveria assim, segundo Freud, uma relação simbólica entre trauma e sintoma.
4 Em relação às dores Freud escreve: É como se houvesse a intenção de expressar o estado mental através de um estado físico (FREUD, 1893, p. 43). Freud desfaz a distinção entre histeria comum e traumática, afirmando que ambas resultam de um trauma psíquico e que todo sintoma seria determinado pelo trauma. O trauma psíquico atuaria no sintoma histérico, sustentando-o. Freud se pergunta como a lembrança do acontecimento traumático mantém a totalidade do afeto. Por que este não teria sofrido desgaste ou esquecimento ao longo do tempo? Ele entende que, ao experimentar uma impressão psíquica, a soma de excitação no sistema nervoso aumenta. Mas, para preservar a saúde faz-se necessário que essa quantidade diminua via atividade motora - que descarregará essa quantidade de excitação excedente. Quando não é possível descarregá-la o sujeito vem a adoecer. As lembranças se tornam patogênicas porque: 1) o conteúdo de suas representações envolveu um trauma, ou seja, uma soma de excitação grande; que o sistema nervoso não teve condições ou força de manipulá-lo de nenhuma maneira; 2) o sujeito não quis reagir ao trauma ou 3) a reação foi vedada por motivos sociais. Os sintomas são considerados, então, o resultado de traumas psíquicos sem reação, que não foram ab-reagidos, já que o afeto não foi descarregado. Em 1894, em As Neuropsicoses de Defesa, Freud sustenta que o adoecimento ocorre devido a uma incompatibilidade na esfera representacional. O eu se confronta com uma experiência, representação ou sentimento que suscita um afeto soma de excitação - tão aflitivo que, para defender-se, o sujeito decide esquecê-lo, por não ter capacidade para resolver a contradição entre a representação incompatível e seu eu por meio da atividade do pensamento. Na histeria, a soma de excitação pode se desligar da representação enfraquecendo-a. Mas, em contrapartida, essa soma de excitação se transforma em algo somático processo conversivo. O fator característico da histeria é a capacidade de conversão. Nesses sujeitos, parece haver uma aptidão psicofísica para transpor enormes somas de excitação para a inervação somática (FREUD, 1894, p. 57). A teoria da sedução - assim denominada porque o teor traumático proveria de uma sedução na infância provocada por um adulto ou criança maior - diz respeito a uma experiência precoce de relações sexuais com excitação real dos órgãos genitais (FREUD, 1896, p. 151), momento em que a criança ainda não atingiu uma maturidade sexual e não é capaz de compreender o fato ocorrido. O traumático se estabelece porque a criança é incapaz de lidar psiquicamente com o abuso. No entanto, o traumático só virá a se configurar enquanto tal a posteriori, depois da puberdade, quando uma outra cena reativará a primeira e
5 o sujeito, nesse momento, com maturidade sexual suficiente, será capaz de compreender o abuso, a sedução ocorrida na infância. Com o caso Emma, apresentado no Projeto, acompanhamos claramente esta idéia: o que restou da cena da infância foi um traço psíquico inconsciente despertado por ocasião da vivência da cena aos 12 anos a qual desencadeou o efeito traumático. Haveria, portanto, uma ação póstuma do trauma sexual. No artigo que ora estamos acompanhando, Freud afirma que a causa das neuroses é uma perturbação na economia do sistema nervoso cuja fonte se situaria na vida sexual do sujeito; no caso da histeria, o agente provocador seria uma lembrança relacionada à vida sexual. (FREUD, 1896) Em Observações Adicionais sobre as Neuropsicoses de Defesa de 1896, Freud descreve a etiologia específica da histeria, sublinhando que não são as experiências em si que agem de modo traumático, mas antes sua revivescência como lembrança depois que o sujeito ingressa na maturidade sexual (FREUD, 1896, p. 165). O que vai determinar a histeria é o fato de um trauma sexual atual despertar o traço mnêmico de um trauma da infância. Na Comunicação Preliminar (1893), inserida nos Estudos sobre a Histeria, Breuer e Freud descrevem o trauma como uma experiência que evoca afetos aflitivos, tais como: susto, angústia, vergonha ou dor física. Mas a constituição do trauma vai se dar de acordo com a suscetibilidade da pessoa afetada. A incapacidade de reagir ao trauma psíquico é aqui um fator significativo (quando há a perda de um ente querido, por exemplo) ou porque a pessoa recebe a experiência com susto e o afeto despertado é paralisante, tornando a reação impossível. Em setembro de 1897 Freud escreve uma carta (69) a Fliess. Esta carta 69 anuncia o abandono da teoria da sedução e proclama o que está por vir: o papel predominante da fantasia como fator etiológico na formação da neurose, a sexualidade infantil e o complexo de Édipo. A sedução é afastada do pólo central na explicação da etiologia da histeria. Ela seria fruto da fantasia e não da realidade factual, embora às vezes o seja. Freud minimiza a importância da sedução, mas não a nega. (MONZANI, 1989) A noção de sedução é reformulada e nos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905) ela encontra-se no trato da mãe para com a criança. Os cuidados e a ternura materna são para a criança fonte incessante de excitação e satisfação sexuais. A mãe a contempla com sentimentos derivados de sua própria vida sexual, a acaricia, a beija, a embala, a trata como o substituto de um objeto sexual plenamente legítimo. A mãe desperta a pulsão sexual na criança, fator importante para a vida anímica desta. A tarefa da mãe é ensinar seu filho a amar e é isso que ocorre aqui.
6 Nas novas conferências Freud reforçará o que pensou em 1905 sobre a sedução materna e sua importância. Ele reafirmará que há pelo menos uma sedução a qual todos somos expostos e da qual precisamos para poder fantasiar. Através de gestos inocentes (carícias, pequenos atritos entre o corpo da mãe e o da criança, cuidados com a higiene do bebê, etc.) a criança recebe e introjeta os fantasmas e o desejo da mãe a primeira sedutora. (MONZANI, 1989) A dor entre a primeira e a segunda teoria do trauma: considerações teóricas relevantes para o tema nesse período Com o auxílio do Índice Remissivo Geral, situado no final de cada volume das Obras Completas de Sigmund Freud, fizemos uma busca pela palavra dor para melhor localizá-la e a encontramos nos textos que se seguem. Em 1900, na Interpretação dos sonhos, Freud se refere à dor como possível instigadora dos sonhos. Na Parte I, Freud descreve o adormecimento como o fechamento dos canais sensoriais mais importantes, embora não inteiramente; exemplo disso é o caso de um homem que durante o sono teve um ataque de gota repentinamente e sonhou que estava nas mãos da inquisição, sendo torturado no cavalete. Como podemos verificar houve uma semelhança entre o estímulo constatado ao despertar e o conteúdo do sonho. Há estímulos somáticos orgânicos que são desconhecidos durante o dia, mas que podem fornecer material para a formação do sonho. Os estímulos somáticos fornecem à mente material para suas atividades imaginativas. A imaginação onírica tem uma forma específica para representar o organismo, vejamos: num sonho causado por uma dor de cabeça, a cabeça pode ser representada pelo teto de um quarto, coberto de aranhas repelentes e semelhantes a sapos (FREUD, 1900, p.120, vol. IV) No entanto, em inúmeros casos, estímulos sensoriais e motores poderosamente excitantes permanecem sem efeito durante o sono. Há também casos em que o sonhador pode ficar ciente da sensação em seu sono, mas o trabalho onírico não transforma a dor em sonho; ou então provoca o despertar. O sonho enquanto realização de desejo pode servir para dar uma imagem mais agradável à dor como, por exemplo, no caso de uma paciente de Freud, que fez uma cirurgia no maxilar e precisava de um aparelho de resfriamento no lado do rosto, dia e noite. Porém, logo que adormecia ele era posto de lado. Um dia, após novamente jogar o aparelho no chão, Freud foi chamado e ela lhe respondeu que jogou o aparelho no chão porque sonhou que não estava mais sentindo dor e por isso não precisava mais do aparelho, então jogou-o fora. O próprio Freud conta um sonho seu que serviu de negação para sua doença, no sonho ele
7 montava um cavalo e depois cavalgava, situação impossível diante da dor causada por furúnculos na região do escroto. O intento do sonho prolongar o sono, em vez de acordar - foi bem sucedido; ele é guardião do sono, não perturbador dele. As dores, em ambos casos, foram silenciadas pelo desejo de dormir e de negá-las. A dor nos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905) primeiramente é pensada com o sadismo e o masoquismo, ou seja, a capacidade de infligir dor ao objeto sexual e o prazer na dor. No masoquismo a satisfação está atrelada ao padecimento de dor física ou anímica advinda do objeto sexual. Aqui dor e crueldade são componentes da pulsão sexual. Na histeria, ao contrário do sadismo e masoquismo, há um grau de recalcamento sexual excessivo, há uma grande resistência à pulsão sexual, mas ao mesmo tempo, um desenvolvimento desmedido da mesma. Resumidamente: no caso da histeria há uma necessidade sexual desmedida e uma excessiva renúncia ao sexual (FREUD, 1905, p. 156). A doença sintoma - é a saída para escapar da premência da pulsão e do antagonismo da renúncia ao sexual. Em 1914, é introduzido o conceito de narcisismo, gerando muitos embaraços à teoria freudiana, pondo em questionamento pressupostos importantes da teoria, os quais, ao longo do tempo, puderam ser elaborados por Freud. O advento do conceito narcisismo na teoria freudiana possui grande importância por ter operado uma mudança significativa na teoria. A partir da introdução desse conceito veio a ser desenvolvida a segunda teoria pulsional, a segunda tópica, a segunda teoria da angústia. O texto dedicado ao narcisismo (1914) é essencial em nosso estudo, pois vem nos auxiliar, por exemplo, na compreensão da mobilidade da libido. A dor orgânica, dentre outros fenômenos, é abordada nesse texto para exemplificar a mobilidade libidinal, a balança energética entre libido do ego e libido do objeto. Quando o sujeito é acometido por uma doença, ele tende a retirar seu investimento do mundo externo, redirecionando-o para o ego. As incômodas sensações corporais substituem a disposição amorosa por uma completa indiferença para com o mundo. A alma inteira encontra-se recolhida na estreita cavidade do molar (FREUD, 1914, p. 103). Os investimentos libidinais estão concentrados no órgão doente; depois de curado, esses investimentos são reenviados para os objetos do mundo. A partir de sua constituição, o eu precisará continuamente ser investido de libido. Mas, se esse investimento libidinal ultrapassar uma certa quantidade surge a sensação de desprazer. O eu tem que amar para não adoecer; tem que depositar esse investimento libidinal excedente nos objetos do mundo. Na medida em que os objetos são investidos, a libido no eu se esvazia, mas nunca totalmente. Há sempre uma reserva de quantidade, necessária para o
8 funcionamento do eu. Quando ocorre uma alteração no eu doença orgânica, por exemplo - há uma alteração na distribuição dessa libido. A retirada do investimento libidinal dos objetos e seu retorno para o eu é importante para reenriquecer o eu, pois diante da dor ele fica debilitado. Em 1915, Freud se ocupa de explicar mais detalhadamente a pulsão, conceito fundamental na teoria; abordar a pulsão seus componentes e destinos - é importante para compreendermos no texto posterior O Recalque como a dor pode ser uma pseudopulsão e, além disso, como ela poderia ser uma resposta ao traumático pulsional (a partir, como veremos adiante, do texto de 1920). Nesse sentido, talvez a dor também possa ser pensada como um dos destinos da pulsão. Em Pulsões e seus destinos (1915) Freud se dedica à diferenciação dos estímulos pulsionais, abordando a sua composição e os modos pelos quais o aparelho psíquico lida e se defende desses estímulos. Freud identifica dois tipos de estímulos: os pulsionais, de origem interna, e outros de origem externa (para os quais uma fuga motora seria suficiente para cessálos). O estímulo pulsional é mais complexo; ele é constante, interno e do qual não há como fugir, exigindo uma reação adequada (específica) para sua satisfação. Essa exigência de ação específica acaba criando complicações, pois exige do sistema nervoso atividades complexas e articuladas umas com as outras que visam obter do mundo ações que satisfaçam as fontes internas de estímulos. Para atingir tal meta é necessário interferir no mundo externo e alterá-lo (o grito do bebê, por exemplo, faz com que a mãe venha lhe amamentar, pois ele está com fome). O estímulo pulsional é composto de quatro elementos: 1)fonte (processo somático em um órgão ou parte do corpo do qual se origina o estímulo, representado na vida psíquica pela pulsão), 2)pressão (fator motor, soma da força ou medida de exigência de trabalho), 3)objeto (meio pelo qual a pulsão atinge a satisfação; é variável, podendo ser um objeto externo ou parte do próprio corpo) e 4)meta (satisfação que pode se configurar como ativa ou passiva). Do ponto de vista biológico, Freud considera que a pulsão é o conceito-limite entre o somático e o psíquico, ou seja, é o representante psíquico dos estímulos que se originam do interior do corpo e alcançam a psique. O percurso do corpo ao psíquico exige deste um trabalho de processamento da estimulação, que requer uma satisfação. A relação do corpo com o psiquismo obriga este a trabalhar. Nesse texto de 1915, Freud vai se ocupar dos destinos que o aparelho psíquico dá às pulsões sexuais. São apontadas quatro soluções possíveis: transformação em seu contrário, redirecionamento contra a própria pessoa, recalque ou sublimação. Os destinos pulsionais de
9 redirecionamento contra a própria pessoa e de transformação em seu contrário (de atividade para passividade) são dependentes da organização narcísica e carregam a marca dessa fase. Esses dois tipos de defesa contra as pulsões são tentativas de defesa de um eu primitivo. A partir de um maior desenvolvimento, as defesas tendem a ser efetuadas com outros recursos, tais como o recalque ou sublimação. No trabalho sobre O Recalque (1915) Freud fala da dor como sendo uma pseudopulsão. A dor causada por um ferimento produz excitação constante e um aumento de tensão, daí sua semelhança com a pulsão. A dor (tal como a pulsão) é imperativa, ela só pode cessar pela intervenção de um agente tóxico ou por distração psíquica. A dor e a segunda teoria do trauma Em 1920, há uma retomada do trauma (agora articulado ao pulsional), com ênfase no fator econômico (excesso de excitações que inundam o psiquismo, ficando fora do princípio do prazer). A dor reaparece aqui atrelada ao trauma, tendo como base a formulação da segunda teoria pulsional. O trauma em 1920 emergiu com toda força, mas seu retorno foi conseqüência de trabalhos e questionamentos anteriores de Freud, por exemplo, os trabalhos sobre as psicoses, as neuroses de guerra, a compulsão à repetição. A novidade proposta nesse texto é a idéia de que a compulsão à repetição faz retornar certas experiências do passado que não incluem nenhuma possibilidade de prazer. A compulsão à repetição seria, portanto, a tendência mais primitiva da qual Freud estava à procura. Ela é mais elementar, mais arcaica e mais pulsional que o princípio do prazer. O fenômeno da compulsão à repetição levou Freud a formular a pulsão de morte devido ao caráter demoníaco de retorno do desprazeroso, sem relação com o prazer ou com o desejo. A partir disso, uma outra questão se faz ouvir: qual a função da compulsão, qual sua relação com o princípio do prazer? Freud percebe que a compulsão à repetição surge em conseqüência e em resposta ao traumático. O trauma, nessa segunda teoria, consiste na ruptura da camada protetora contra estímulos, destruição do dispositivo protetor pelo excesso de excitações afluentes provocada pela inundação no aparelho psíquico por grandes quantidades de excitação. O trauma causa uma perturbação econômica no aparelho, levando-o a acionar mecanismos de defesa mais arcaicos (que visam dominar e ligar o traumático) deixando o princípio do prazer fora de ação. Ao aparelho resta tentar lidar com esse excesso capturando-o e enlaçando-o psiquicamente, já que não conseguiu conter a inundação. Freud compara o trauma com o fenômeno da dor, sendo esta considerada como efração do pára-excitações em extensão
10 limitada, enquanto o trauma seria efração em grande extensão. É provável que o desprazer específico da dor física seja conseqüência do rompimento do escudo protetor em uma área limitada (FREUD, 1920, p. 154). O que significa essa diferença entre trauma e dor em termos de extensão de ruptura? Sobre essa questão, Lejarraga (1996) assinala que trauma e dor são da ordem do inassimilável, não fazendo parte do espaço representativo. Ambos encontram-se próximos, mas são irredutíveis um ao outro. No trauma, o excesso quantitativo é inassimilado por não ter sido absorvido pelo sistema egóico. Mas no processo de elaboração desse traumático a energia pulsional pode ligar-se, transformar-se em inscrições e dar origem a uma atividade fantasmática. Na dor há um sobreinvestimento narcísico do órgão dolorido 1. A dor age em relação inversa ao traumático. O sobreinvestimento na região dolorida produz um esvaziamento no eu, diferentemente da desorganização egóica produzida pelo trauma. O esvaziamento no eu durará enquanto a dor permanecer. As afecções dolorosas, enquanto perduram, exercem uma influência poderosa sobre a distribuição e alocação da libido do doente. As excitações que provém do interior do organismo são as excitações pulsionais e contra elas não há escudo de proteção. Por esta razão, podem provocar perturbações econômicas equivalentes àquelas das neuroses traumáticas (LEJARRAGA, 1996). Freud utiliza a neurose traumática como paradigma na construção desta nova teoria do trauma. Nesse tipo de neurose há uma extensa ruptura no escudo protetor devido à ausência de prontidão (ausência do sinal de angústia). Assim, o psiquismo não encontra condições para capturar e enlaçar os afluxos de excitação. A causa da neurose traumática é o terror e perigo de morte vividos como ameaça externa ao eu. A defesa do escudo protetor é a prontidão para o medo e o sobreinvestimento dos sistemas receptores capazes de formar uma barreira contra os estímulos. Os sonhos traumáticos operam justamente a favor da captura e da ligação das impressões traumáticas. O pulsional pode ser traumático quando sua força (pulsão de morte) não é absorvida no campo representacional, irrompendo, portanto, como estranha ao aparelho egóico, não submetida ao princípio do prazer. A invasão energética é catastrófica para o eu e impede o reinado do princípio do prazer. A ligação é um processo que captura a força pulsional transformando-a em inscrição representacional. (LEJARRAGA, 1996) 1 Aqui se comprova a importância de contemplar a questão do narcisismo e da mobilidade do investimento libidinal.
11 Em 1920 Freud formula um além do princípio do prazer que é o registro energético não assimilado às redes de representação do inconsciente; para além da representação há o irrepresentável, energia não capturada e ligada. No texto de 1926, Inibições, sintomas e ansiedade 2, Freud se ocupará mais detidamente da questão da angústia e de sua relação com o traumático, ou seja, a falta da angústia sinal seria responsável pela ausência de preparo do eu para receber as quantidades de excitações e tentar reforçar seu escudo protetor para se defender da possível invasão. O trauma resultaria justamente desse despreparo devido à falta da angústia sinal - por parte do eu, gerando a incapacidade de conter e ligar o excesso pulsional. A angústia pode ser automática (reação espontânea diante da invasão pulsional) ou angústia sinal (que sinaliza o perigo da invasão e a conseqüente liberação da angústia automática). O protótipo da situação traumática, que produz a angústia automática é o estado de desamparo. No texto de 1926, podemos identificá-lo como sendo a situação traumática por excelência. A angústia se configura primeiramente como reação ao desamparo - em última instância, o trauma - sendo que depois, o sinal de angústia avisará que há uma situação de perigo. O eu experimenta o trauma passivamente mas o repete ativamente na compulsão à repetição, em versão enfraquecida, na tentativa de dominar o curso do traumático. Freud situa o trauma do nascimento como trauma primordial. O desequilíbrio energético seria experimentado pelo recém-nascido como dor. O ser humano nasceria despreparado, incapaz de canalizar e metabolizar as estimulações internas sozinho. Ele precisará de alguém que o auxilie a ordenar e canalizar psiquicamente essas excitações. O estado de desamparo já se faz presente, portanto, no nascimento. O nascimento seria o protótipo da angústia pelas sensações físicas que suscita. O perigo de ser inundado pelo afluxo pulsional, sem poder contê-lo, será deslocado para o perigo de perda, de separação da mãe. A angústia consistiria numa reação ao perigo da perda do objeto, a falta da mãe configurando-se para o bebê como uma situação traumática. A dor consiste numa reação real à perda do objeto, enquanto a angústia é uma reação ao perigo que essa perda acarreta. A angústia de separação é o denominador comum para as angústias que aparecem no nascimento (desmame, defecação, castração). A angústia de castração parece pôr um ponto final nessa série de angústias anteriores. A angústia de castração, segundo Lejarraga (1996), deve ser entendida como angústia sinal de perigo, indicadora do que deve ser evitado ameaça à integridade narcísica. 2 Utilizaremos o termo angústia ao invés de ansiedade (usada na tradução brasileira das obras completas).
12 Em 1926, Freud propõe aproximações e diferenças entre angústia e dor como reações à perda do objeto. Ele menciona, como ilustração, a situação da criancinha que, diante de um estranho em vez de sua mãe, demonstra angústia diante do perigo da perda do objeto. Além disso, a expressão em seu rosto e sua reação de chorar revela que a criança está sentindo dor. Nesse momento ela não sabe distinguir entre a ausência temporária e a perda permanente da mãe; essa situação é traumática para ela. Porém, sentir falta da mãe é diferente do trauma do nascimento porque neste não existe qualquer objeto, sendo a angústia a única reação que ocorre. Desde o nascimento, repetidas situações de satisfação criam o objeto-mãe e, a cada vez que a criança sente uma necessidade, ela sente anseio pela mãe. A dor seria aqui a reação real à perda do objeto e a angústia uma reação ao perigo da perda do próprio objeto. Ao se referir à dor, Freud afirma que só tem uma certeza: ela ocorre em primeiro lugar e como uma coisa regular sempre que um estímulo que incide na periferia irrompe através dos dispositivos do escudo protetor contra estímulos e passa a atuar como um estímulo instintual contínuo, contra o qual uma ação muscular, que é em geral efetiva porque afasta do estímulo o ponto que está sendo estimulado, é impotente. (FREUD, 1926, p. 165) O sentimento de perda do objeto é causa de dor e equivalente à sensação de dor física. Essa analogia torna possível pensarmos numa dor interna mental para nos referirmos à situação de anseio da criança pela mãe. Na dor física há um alto grau de investimento narcísico no ponto doloroso; esse investimento tende a aumentar e vai esvaziando, nessa proporção, o eu. Nessa perspectiva, a transição da dor física para a dor psíquica corresponderia a uma mudança de investimento narcísico para o de objeto. O investimento é contínuo, pois o eu não consegue operar a ligação dessa quantidade de excitação e inibir essa continuidade, com o custo da revivência de um estado de desamparo psíquico. CONSIDERAÇÕES FINAIS Após esse percurso nos escritos de Freud, podemos perceber que dor e trauma estão intimamente relacionados, tanto na primeira como na segunda teoria do trauma. Ambos se referem a uma incapacidade de contenção da quantidade que adentra o sistema psíquico. Diante da invasão de tamanha soma de excitação, o ego vê-se impossibilitado de realizar o trabalho que seu vínculo com o corporal exige: transformar a quantidade de excitação afluente em representações. Quando não é possível ligar a força pulsional, esta tende a permanecer inassimilada pelo aparelho, provocando e acionando a compulsão à repetição.
13 Vejamos resumidamente como a dor é descrita ao longo da obra freudiana: no Projeto é uma falha no dispositivo de proteção do sistema nervoso que visa manter o nível de excitação constante e o mais baixo possível. No decorrer da obra vemos a dor relacionada com os sonhos, podendo neles aparecer sob forma figurada ou não. O desejo que opera na formação do sonho pode estar à serviço da negação da dor, criando, no lugar dela, uma outra situação que produz prazer. Em 1905, a dor é relacionada ao sadismo e ao masoquismo, sendo, em ambos, atrelada ao prazer. No caso da histeria, a doença funciona como uma solução de compromisso entre o excessivo recalcamento das moções sexuais e a necessidade sexual desmedida. Em 1914, a dor provoca um desinvestimento libidinal no objeto e um reinvestimento no eu. A dor, em 1915, é pensada como pseudopulsão, porque é constante, imperativa e não há fuga capaz de cessar a estimulação dolorosa. Em 1920, a dor é ruptura no escudo protetor do aparelho em extensão limitada e está atrelada ao traumático. Em 1926, é considerada como equivalente da angústia automática e é despertada diante da situação de desamparo, enquanto reação real à perda do objeto. Já a angústia sinal é entendida como reação ao perigo da perda do objeto. Seria necessário haver uma primeira situação de dor para que a angústia sinal pudesse ter elementos para reconhecer uma situação de perigo, avisar e mobilizar as defesas do eu; caso contrário ele será invadido pelo excesso pulsional e experimentará o trauma e a dor. A dor física diante da perda do objeto remete, analogamente, a uma dor interna mental de anseio pelo objeto. A relação da dor com os sonhos, formulada em 1900, articulada com o prazer e a satisfação de desejos, é ampliada em 1920; no caso do sonho traumático, ela não estaria a serviço da realização de desejo, seu intuito sendo o de dominar a força pulsional traumática. A dor presente nos sonhos traumáticos é a dor psíquica. Poderia a dor física ser pensada como uma resposta primária (porque convoca o corpo) à dor psíquica? Diferentemente do trauma, ela é ruptura, mas em extensão limitada. A dor física já seria uma dominação precária do traumático, de um transbordamento pulsional no espaço egóico. A transformação da dor psíquica em dor física parece também comportar uma outra dimensão bastante importante: uma convocação do outro. Não estaria em jogo aí a tentativa de apaziguar um estado de desamparo mais essencial? Estas hipóteses, esboçadas neste trabalho, correspondente a uma fase ainda bem inicial de nossa pesquisa, ainda necessitam, entretanto, de muita elaboração e desenvolvimento. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
14 FREUD, Sigmund. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, (vol. I ao XXIV) BREUER, F. e FREUD, S. Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos: Comunicação Preliminar (1893). Rio de Janeiro: Imago, (Vol. II) FREUD, S. Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos: uma conferência (1893). Rio de Janeiro: Imago, (Vol. III). As Neuropsicoses de Defesa (1894). Rio de Janeiro: Imago, (Vol. III). Observações Adicionais sobre as Neuropsicoses de Defesa (1896). Rio de Janeiro: Imago, (Vol. III). A Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses (1896). Rio de Janeiro: Imago, (Vol. III). Carta 69 (21 de setembro de 1897). Rio de Janeiro: Imago, (Vol. I). A Interpretação dos Sonhos Parte I e II ( ). Rio de Janeiro: Imago, (Vol. IV e V). Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905). Rio de Janeiro: Imago, (Vol. VII). Inibições, Sintomas e Ansiedade (1926). Rio de Janeiro: Imago, (Vol. XX) FREUD, S. Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente, Vol. I/coordenação geral da tradução Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago Ed À Guisa de Introdução ao Narcisismo (1914). Rio de Janeiro: Imago Ed Pulsões e Destinos da Pulsão (1915). Rio de Janeiro: Imago Ed O Recalque (1915). Rio de Janeiro: Imago Ed FREUD, S. Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente, Vol. II/coordenação geral da tradução Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago Ed Além do Princípio do Prazer (1920). Rio de Janeiro: Imago Ed
15 GABBI JUNIOR, Osmyr F. Notas a projeto de uma psicologia: as origens utilitaristas da psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, LEJARRAGA, Ana L. O Trauma e seus Destinos. Rio de Janeiro: Editora Revinter, MONZANI, Luiz R. Freud: o movimento de um pensamento. 2ª ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 1989.
2. Considerações Freudianas para o estudo da Psicossomática 2.1 Conceito de Trauma em Freud
 16 2. Considerações Freudianas para o estudo da Psicossomática 2.1 Conceito de Trauma em Freud O conceito de trauma sempre esteve presente na obra de Freud, tão importante numa época em que o sexual era
16 2. Considerações Freudianas para o estudo da Psicossomática 2.1 Conceito de Trauma em Freud O conceito de trauma sempre esteve presente na obra de Freud, tão importante numa época em que o sexual era
A Concepção de Trauma em Sigmund Freud e Sándor Ferenczi
 A Concepção de Trauma em Sigmund Freud e Sándor Ferenczi Fernanda Altermann Batista Email: fealtermann@hotmail.com Esse trabalho surgiu de pesquisa realizada no Laboratório de Epistemologia e Clínica Psicanalítica
A Concepção de Trauma em Sigmund Freud e Sándor Ferenczi Fernanda Altermann Batista Email: fealtermann@hotmail.com Esse trabalho surgiu de pesquisa realizada no Laboratório de Epistemologia e Clínica Psicanalítica
O MASOQUISMO E O PROBLEMA ECONÔMICO EM FREUD. Esse trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado, vinculada ao Programa de
 O MASOQUISMO E O PROBLEMA ECONÔMICO EM FREUD Mariana Rocha Lima Sonia Leite Esse trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado, vinculada ao Programa de Pós Graduação em Psicanálise da UERJ, cujo objetivo
O MASOQUISMO E O PROBLEMA ECONÔMICO EM FREUD Mariana Rocha Lima Sonia Leite Esse trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado, vinculada ao Programa de Pós Graduação em Psicanálise da UERJ, cujo objetivo
8. Referências bibliográficas
 8. Referências bibliográficas ABRAM, J. (2000). A Linguagem de Winnicott. Revinter, Rio de Janeiro. ANDRADE, V. M. (2003). Um diálogo entre a psicanálise e a neurociência. Casa do Psicólogo, São Paulo.
8. Referências bibliográficas ABRAM, J. (2000). A Linguagem de Winnicott. Revinter, Rio de Janeiro. ANDRADE, V. M. (2003). Um diálogo entre a psicanálise e a neurociência. Casa do Psicólogo, São Paulo.
Escola Secundária de Carregal do Sal
 Escola Secundária de Carregal do Sal Área de Projecto 2006\2007 Sigmund Freud 1 2 Sigmund Freud 1856-----------------Nasceu em Freiberg 1881-----------------Licenciatura em Medicina 1885-----------------Estuda
Escola Secundária de Carregal do Sal Área de Projecto 2006\2007 Sigmund Freud 1 2 Sigmund Freud 1856-----------------Nasceu em Freiberg 1881-----------------Licenciatura em Medicina 1885-----------------Estuda
Curso de Atualização em Psicopatologia 7ª aula Decio Tenenbaum
 Curso de Atualização em Psicopatologia 7ª aula Decio Tenenbaum Centro de Medicina Psicossomática e Psicologia Médica do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro 6ª aula Psicopatologia
Curso de Atualização em Psicopatologia 7ª aula Decio Tenenbaum Centro de Medicina Psicossomática e Psicologia Médica do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro 6ª aula Psicopatologia
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIA PSICANALÍTICA Deptº de Psicologia / Fafich - UFMG
 1 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIA PSICANALÍTICA Deptº de Psicologia / Fafich - UFMG Disciplina: Conceitos Fundamentais A 1º sem. 2018 Ementa: O curso tem como principal objetivo o estudo de conceitos
1 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIA PSICANALÍTICA Deptº de Psicologia / Fafich - UFMG Disciplina: Conceitos Fundamentais A 1º sem. 2018 Ementa: O curso tem como principal objetivo o estudo de conceitos
TRAUMA E PULSÃO EM PSICANÁLISE
 TRAUMA E PULSÃO EM PSICANÁLISE Aluno: Bruno Daemon Barbosa Orientador: Monah Winograd Introdução A teoria do trauma de Sándor Ferenczi e suas reformulações técnicas e teóricas na proposta terapêutica da
TRAUMA E PULSÃO EM PSICANÁLISE Aluno: Bruno Daemon Barbosa Orientador: Monah Winograd Introdução A teoria do trauma de Sándor Ferenczi e suas reformulações técnicas e teóricas na proposta terapêutica da
A PULSÃO DE MORTE E AS PSICOPATOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS. sobre o tema ainda não se chegou a um consenso sobre a etiologia e os mecanismos psíquicos
 A PULSÃO DE MORTE E AS PSICOPATOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS Aldo Ivan Pereira Paiva As "Psicopatologias Contemporâneas, cujas patologias mais conhecidas são os distúrbios alimentares, a síndrome do pânico, os
A PULSÃO DE MORTE E AS PSICOPATOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS Aldo Ivan Pereira Paiva As "Psicopatologias Contemporâneas, cujas patologias mais conhecidas são os distúrbios alimentares, a síndrome do pânico, os
A teoria das pulsões e a biologia. A descrição das origens da pulsão em Freud
 www.franklingoldgrub.com Édipo 3 x 4 - franklin goldgrub 6º Capítulo - (texto parcial) A teoria das pulsões e a biologia A descrição das origens da pulsão em Freud Ao empreender sua reflexão sobre a origem
www.franklingoldgrub.com Édipo 3 x 4 - franklin goldgrub 6º Capítulo - (texto parcial) A teoria das pulsões e a biologia A descrição das origens da pulsão em Freud Ao empreender sua reflexão sobre a origem
O SINTOMA EM FREUD SOB UMA VISÃO PSICANALÍTICA NO HOSPITAL
 O SINTOMA EM FREUD SOB UMA VISÃO PSICANALÍTICA NO Resumo: HOSPITAL Cláudio Roberto Pereira Senos, Paula Land Curi, Paulo Roberto Mattos Para os que convivem no âmbito do hospital geral, o discurso médico
O SINTOMA EM FREUD SOB UMA VISÃO PSICANALÍTICA NO Resumo: HOSPITAL Cláudio Roberto Pereira Senos, Paula Land Curi, Paulo Roberto Mattos Para os que convivem no âmbito do hospital geral, o discurso médico
INTER-RELAÇÕES ENTRE INCONSCIENTE, AMOR E ÉTICA NA OBRA FREUDIANA
 INTER-RELAÇÕES ENTRE INCONSCIENTE, AMOR E ÉTICA NA OBRA FREUDIANA 2015 Lucas Ferreira Pedro dos Santos Psicólogo formado pela UFMG. Mestrando em Psicologia pela PUC-MG (Brasil) E-mail de contato: lucasfpsantos@gmail.com
INTER-RELAÇÕES ENTRE INCONSCIENTE, AMOR E ÉTICA NA OBRA FREUDIANA 2015 Lucas Ferreira Pedro dos Santos Psicólogo formado pela UFMG. Mestrando em Psicologia pela PUC-MG (Brasil) E-mail de contato: lucasfpsantos@gmail.com
ISSN: O SINTOMA FALTA DE DESEJO EM UMA CONCEPÇÃO FREUDIANA
 O SINTOMA FALTA DE DESEJO EM UMA CONCEPÇÃO FREUDIANA Carla Cristiane de Oliveira Pinheiro * (UESB) Maria da Conceição Fonseca- Silva ** (UESB) RESUMO O objetivo deste artigo é avaliar a teoria Freudiana
O SINTOMA FALTA DE DESEJO EM UMA CONCEPÇÃO FREUDIANA Carla Cristiane de Oliveira Pinheiro * (UESB) Maria da Conceição Fonseca- Silva ** (UESB) RESUMO O objetivo deste artigo é avaliar a teoria Freudiana
Decio Tenenbaum
 Decio Tenenbaum decio@tenenbaum.com.br Fator biográfico comum: Patologia dos vínculos básicos ou Patologia diádica Papel do vínculo diádico: Estabelecimento do espaço de segurança para o desenvolvimento
Decio Tenenbaum decio@tenenbaum.com.br Fator biográfico comum: Patologia dos vínculos básicos ou Patologia diádica Papel do vínculo diádico: Estabelecimento do espaço de segurança para o desenvolvimento
A ETIOLOGIA DAS PSICONEUROSES NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE: UM ESTUDO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE HISTERIA E NEUROSE OBSESSIVA,
 A ETIOLOGIA DAS PSICONEUROSES NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE: UM ESTUDO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE HISTERIA E NEUROSE OBSESSIVA, 1886-1897. Isabelle Maurutto Schoffen (PIC/CNPq-UEM), Helio Honda
A ETIOLOGIA DAS PSICONEUROSES NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE: UM ESTUDO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE HISTERIA E NEUROSE OBSESSIVA, 1886-1897. Isabelle Maurutto Schoffen (PIC/CNPq-UEM), Helio Honda
e correto. O título deste ensaio de Freud, tal como traduzido pela Imago Editora, seria Inibições, sintomas e ansiedade.
 Introdução Desde os primeiros momentos de minha incursão pela pesquisa sobre o trauma psíquico, alguns eixos temáticos se mostraram pertinentes. São eles: 1. o trauma e a sexualidade; 2. o trauma e o só
Introdução Desde os primeiros momentos de minha incursão pela pesquisa sobre o trauma psíquico, alguns eixos temáticos se mostraram pertinentes. São eles: 1. o trauma e a sexualidade; 2. o trauma e o só
MECANISMOS DE DEFESA DO EGO. Prof. Domingos de Oliveira
 MECANISMOS DE DEFESA DO EGO Prof. Domingos de Oliveira O método psicológico ou psicanalítico afirma que a origem da doença mental é decorrente de estados de perturbação afetiva ligada à história de pessoa.
MECANISMOS DE DEFESA DO EGO Prof. Domingos de Oliveira O método psicológico ou psicanalítico afirma que a origem da doença mental é decorrente de estados de perturbação afetiva ligada à história de pessoa.
O NÃO LUGAR DAS NÃO NEUROSES NA SAÚDE MENTAL
 O NÃO LUGAR DAS NÃO NEUROSES NA SAÚDE MENTAL Letícia Tiemi Takuschi RESUMO: Percebe-se que existe nos equipamentos de saúde mental da rede pública uma dificuldade em diagnosticar e, por conseguinte, uma
O NÃO LUGAR DAS NÃO NEUROSES NA SAÚDE MENTAL Letícia Tiemi Takuschi RESUMO: Percebe-se que existe nos equipamentos de saúde mental da rede pública uma dificuldade em diagnosticar e, por conseguinte, uma
A psicanálise surgiu na década de 1890, com Sigmund Freud
 PSICANÁLISE A psicanálise surgiu na década de 1890, com Sigmund Freud médico neurologista interessado em achar um tratamento efetivo para pacientes com sintomas neuróticos, principalmente histéricos.
PSICANÁLISE A psicanálise surgiu na década de 1890, com Sigmund Freud médico neurologista interessado em achar um tratamento efetivo para pacientes com sintomas neuróticos, principalmente histéricos.
SIGMUND FREUD ( )
 SIGMUND FREUD (1856-1939) Uma lição clínica em La Salpêtrière André Brouillet (1887) JOSEF BREUER (1842-1925) médico e fisiologista tratamento da histeria com hipnose JOSEF BREUER (1842-1925) método catártico
SIGMUND FREUD (1856-1939) Uma lição clínica em La Salpêtrière André Brouillet (1887) JOSEF BREUER (1842-1925) médico e fisiologista tratamento da histeria com hipnose JOSEF BREUER (1842-1925) método catártico
Profa. Dra. Adriana Cristina Ferreira Caldana
 Profa. Dra. Adriana Cristina Ferreira Caldana PALAVRAS-CHAVE Análise da Psique Humana Sonhos Fantasias Esquecimento Interioridade A obra de Sigmund Freud (1856-1939): BASEADA EM: EXPERIÊNCIAS PESSOAIS
Profa. Dra. Adriana Cristina Ferreira Caldana PALAVRAS-CHAVE Análise da Psique Humana Sonhos Fantasias Esquecimento Interioridade A obra de Sigmund Freud (1856-1939): BASEADA EM: EXPERIÊNCIAS PESSOAIS
a condição para o surgimento de um verdadeiro símbolo não é de natureza intelectual, mas afetiva. Ferenczi (1913) - Ontogenese dos Símbolos
 a condição para o surgimento de um verdadeiro símbolo não é de natureza intelectual, mas afetiva. Ferenczi (1913) - Ontogenese dos Símbolos APRESENTAÇÃO No mês de setembro deste ano de 2018 completaram-se
a condição para o surgimento de um verdadeiro símbolo não é de natureza intelectual, mas afetiva. Ferenczi (1913) - Ontogenese dos Símbolos APRESENTAÇÃO No mês de setembro deste ano de 2018 completaram-se
A QUESTÂO DO EU, A ANGÚSTIA E A CONSTITUIÇÃO DA REALIDADE PARA A PSICANÁLISE 1
 A QUESTÂO DO EU, A ANGÚSTIA E A CONSTITUIÇÃO DA REALIDADE PARA A PSICANÁLISE 1 Joana Souza Mestranda do Programa de Pós-graduação em Psicanálise da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Especialização
A QUESTÂO DO EU, A ANGÚSTIA E A CONSTITUIÇÃO DA REALIDADE PARA A PSICANÁLISE 1 Joana Souza Mestranda do Programa de Pós-graduação em Psicanálise da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Especialização
Quando o inominável se manifesta no corpo: a psicossomática psicanalítica no contexto das relações objetais
 Apresentação em pôster Quando o inominável se manifesta no corpo: a psicossomática psicanalítica no contexto das relações objetais Bruno Quintino de Oliveira¹; Issa Damous²; 1.Discente-pesquisador do Deptº
Apresentação em pôster Quando o inominável se manifesta no corpo: a psicossomática psicanalítica no contexto das relações objetais Bruno Quintino de Oliveira¹; Issa Damous²; 1.Discente-pesquisador do Deptº
Prefácio. Itinerário para uma leitura de Freud
 Itinerário para uma leitura de Freud Prefácio Esta pequena obra pretende reunir as teses da psicanálise sob a forma mais concisa e na redação mais categórica, de uma maneira por assim dizer dogmática.
Itinerário para uma leitura de Freud Prefácio Esta pequena obra pretende reunir as teses da psicanálise sob a forma mais concisa e na redação mais categórica, de uma maneira por assim dizer dogmática.
Como a análise pode permitir o encontro com o amor pleno
 Centro de Estudos Psicanalíticos - CEP Como a análise pode permitir o encontro com o amor pleno Laura Maria do Val Lanari Ciclo II, terça-feira à noite O presente trabalho tem por objetivo relatar as primeiras
Centro de Estudos Psicanalíticos - CEP Como a análise pode permitir o encontro com o amor pleno Laura Maria do Val Lanari Ciclo II, terça-feira à noite O presente trabalho tem por objetivo relatar as primeiras
INTRODUÇÃO À PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA. Profa. Dra. Laura Carmilo granado
 INTRODUÇÃO À PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA Profa. Dra. Laura Carmilo granado Pathos Passividade, paixão e padecimento - padecimentos ou paixões próprios à alma (PEREIRA, 2000) Pathos na Grécia antiga Platão
INTRODUÇÃO À PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA Profa. Dra. Laura Carmilo granado Pathos Passividade, paixão e padecimento - padecimentos ou paixões próprios à alma (PEREIRA, 2000) Pathos na Grécia antiga Platão
CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS
 CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTERIA Cláudia Sampaio Barral Ciclo VI quarta-feira/manhã São Paulo 2015 A Histeria não é uma doença, mas a doença em estado puro, aquela que não
CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTERIA Cláudia Sampaio Barral Ciclo VI quarta-feira/manhã São Paulo 2015 A Histeria não é uma doença, mas a doença em estado puro, aquela que não
Curso de Atualização em Psicopatologia 2ª aula Decio Tenenbaum
 Curso de Atualização em Psicopatologia 2ª aula Decio Tenenbaum Centro de Medicina Psicossomática e Psicologia Médica do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro 2ª aula Diferenciação
Curso de Atualização em Psicopatologia 2ª aula Decio Tenenbaum Centro de Medicina Psicossomática e Psicologia Médica do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro 2ª aula Diferenciação
ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE RETAGUARDA À PACIENTES ADULTOS ONCOLÓGICOS: RELATO TEÓRICO-CLÍNICO DE UMA EXPERIÊNCIA
 1 ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE RETAGUARDA À PACIENTES ADULTOS ONCOLÓGICOS: RELATO TEÓRICO-CLÍNICO DE UMA EXPERIÊNCIA DUVAL, Melissa. R. Hospital Espírita Fabiano de Cristo, Caieiras - SP RESUMO : Partindo
1 ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE RETAGUARDA À PACIENTES ADULTOS ONCOLÓGICOS: RELATO TEÓRICO-CLÍNICO DE UMA EXPERIÊNCIA DUVAL, Melissa. R. Hospital Espírita Fabiano de Cristo, Caieiras - SP RESUMO : Partindo
8 Referências bibliográficas
 8 Referências bibliográficas ANDRÉ, S. A impostura perversa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. BARANDE, R. Poderemos nós não ser perversos? Psicanalistas, ainda mais um esforço. In: M UZAN, M. et al.
8 Referências bibliográficas ANDRÉ, S. A impostura perversa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. BARANDE, R. Poderemos nós não ser perversos? Psicanalistas, ainda mais um esforço. In: M UZAN, M. et al.
INTRODUÇÃO - GENERALIDADES SOBRE AS ADICÇÕES
 SUMÁRIO PREFÁCIO - 11 INTRODUÇÃO - GENERALIDADES SOBRE AS ADICÇÕES DEFINIÇÃO E HISTÓRICO...14 OBSERVAÇÕES SOBRE O CONTEXTO SOCIAL E PSÍQUICO...19 A AMPLIDÃO DO FENÔMENO ADICTIVO...24 A ADICÇÃO VISTA PELOS
SUMÁRIO PREFÁCIO - 11 INTRODUÇÃO - GENERALIDADES SOBRE AS ADICÇÕES DEFINIÇÃO E HISTÓRICO...14 OBSERVAÇÕES SOBRE O CONTEXTO SOCIAL E PSÍQUICO...19 A AMPLIDÃO DO FENÔMENO ADICTIVO...24 A ADICÇÃO VISTA PELOS
PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA CONTEMPORANEIDADE: UMA VISÃO PSICANALÍTICA
 O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA CONTEMPORANEIDADE: UMA VISÃO PSICANALÍTICA Flávia Angelo Verceze (Discente do Curso de Pós Graduação em Clínica Psicanalítica da UEL, Londrina PR, Brasil; Silvia Nogueira
O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA CONTEMPORANEIDADE: UMA VISÃO PSICANALÍTICA Flávia Angelo Verceze (Discente do Curso de Pós Graduação em Clínica Psicanalítica da UEL, Londrina PR, Brasil; Silvia Nogueira
FREUD E LACAN NA CLÍNICA DE 2009
 FREUD E LACAN NA CLÍNICA DE 2009 APRESENTAÇÃO O Corpo de Formação em Psicanálise do Instituto da Psicanálise Lacaniana- IPLA trabalhará neste ano de 2009 a atualidade clínica dos quatro conceitos fundamentais
FREUD E LACAN NA CLÍNICA DE 2009 APRESENTAÇÃO O Corpo de Formação em Psicanálise do Instituto da Psicanálise Lacaniana- IPLA trabalhará neste ano de 2009 a atualidade clínica dos quatro conceitos fundamentais
V SEMINÁRIO DE PRÁTICA DE PESQUISA EM PSICOLOGIA ISSN: Universidade Estadual de Maringá 18 a 19 de Fevereiro de 2016
 A TIMIDEZ COMO ANGÚSTIA SOCIAL Guilherme Franco Viléla (Departamento de Psicologia,, Maringá- PR, Brasil). Hélio Honda (Departamento de Psicologia,, Maringá-PR, Brasil). contato: guifvilela@hotmail.com
A TIMIDEZ COMO ANGÚSTIA SOCIAL Guilherme Franco Viléla (Departamento de Psicologia,, Maringá- PR, Brasil). Hélio Honda (Departamento de Psicologia,, Maringá-PR, Brasil). contato: guifvilela@hotmail.com
O Fenômeno Psicossomático (FPS) não é o signo do amor 1
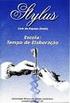 O Fenômeno Psicossomático (FPS) não é o signo do amor 1 Joseane Garcia de S. Moraes 2 Na abertura do seminário 20, mais ainda, cujo título em francês é encore, que faz homofonia com en corps, em corpo,
O Fenômeno Psicossomático (FPS) não é o signo do amor 1 Joseane Garcia de S. Moraes 2 Na abertura do seminário 20, mais ainda, cujo título em francês é encore, que faz homofonia com en corps, em corpo,
Dor (do latim dolore)
 GERALDO CALDEIRA 10/Outubro/2014 Dor (do latim dolore) 1. Impressão desagradável ou penosa, proveniente de lesão, contusão ou estado anômalo do organismo ou de uma parte dele; sofrimento físico. 2. Sofrimento
GERALDO CALDEIRA 10/Outubro/2014 Dor (do latim dolore) 1. Impressão desagradável ou penosa, proveniente de lesão, contusão ou estado anômalo do organismo ou de uma parte dele; sofrimento físico. 2. Sofrimento
2º Semestre de Aluno: Renata de Novaes Rezende. Ciclo IV Quarta-feira (manhã) Título: Uma breve reflexão sobre o filme Divertida Mente
 2º Semestre de 2015 Aluno: Renata de Novaes Rezende Ciclo IV Quarta-feira (manhã) Título: Uma breve reflexão sobre o filme Divertida Mente O filme Divertida Mente, que tem como título original Inside Out,
2º Semestre de 2015 Aluno: Renata de Novaes Rezende Ciclo IV Quarta-feira (manhã) Título: Uma breve reflexão sobre o filme Divertida Mente O filme Divertida Mente, que tem como título original Inside Out,
Freud e a Psicanálise
 Freud e a Psicanálise Doenças mentais eram originadas de certos fatos passados na infância dos indivíduos; Hipnose (para fazer com que seus pacientes narrassem fatos do seu tempo de criança); Hipnose:
Freud e a Psicanálise Doenças mentais eram originadas de certos fatos passados na infância dos indivíduos; Hipnose (para fazer com que seus pacientes narrassem fatos do seu tempo de criança); Hipnose:
PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social A NOÇÃO DE ESCOLHA EM PSICANÁLISE
 A NOÇÃO DE ESCOLHA EM PSICANÁLISE Kelly Cristina Pereira Puertas* (Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Psicologia da UNESP/Assis-SP, Brasil; docente do curso de Psicologia da FAMMA, Maringá PR,
A NOÇÃO DE ESCOLHA EM PSICANÁLISE Kelly Cristina Pereira Puertas* (Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Psicologia da UNESP/Assis-SP, Brasil; docente do curso de Psicologia da FAMMA, Maringá PR,
A Interpretação dos sonhos na ótica freudiana
 A Interpretação dos sonhos na ótica freudiana Antes de Sigmund Freud, os autores que estudavam os sonhos, preocupavam-se em responder principalmente as seguintes perguntas: Por que se sonha? O que provoca
A Interpretação dos sonhos na ótica freudiana Antes de Sigmund Freud, os autores que estudavam os sonhos, preocupavam-se em responder principalmente as seguintes perguntas: Por que se sonha? O que provoca
CEP CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS
 CEP CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS As pulsões e suas repetições. Luiz Augusto Mardegan Ciclo V - 4ª feira manhã São Paulo, maio de 2015. Neste trabalho do ciclo V apresentamos as análises de Freud sobre
CEP CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS As pulsões e suas repetições. Luiz Augusto Mardegan Ciclo V - 4ª feira manhã São Paulo, maio de 2015. Neste trabalho do ciclo V apresentamos as análises de Freud sobre
Psicanálise: as emoções nas organizações
 Psicanálise: as emoções nas organizações Objetivo Apontar a importância das emoções no gerenciamento de pessoas Definir a teoria da psicanálise Descrever os niveis da vida mental Consciente Subconscinete
Psicanálise: as emoções nas organizações Objetivo Apontar a importância das emoções no gerenciamento de pessoas Definir a teoria da psicanálise Descrever os niveis da vida mental Consciente Subconscinete
As Fronteiras da Dor. Maria Manuela Assunção Moreno. Resumo:
 As Fronteiras da Dor Maria Manuela Assunção Moreno Resumo: A partir de um caso clínico atendido no CRAVI (Centro de Referência e Apoio a Vítimas de Crimes Fatais do Estado de São Paulo), o presente trabalho
As Fronteiras da Dor Maria Manuela Assunção Moreno Resumo: A partir de um caso clínico atendido no CRAVI (Centro de Referência e Apoio a Vítimas de Crimes Fatais do Estado de São Paulo), o presente trabalho
Sofrimento e dor no autismo: quem sente?
 Sofrimento e dor no autismo: quem sente? BORGES, Bianca Stoppa Universidade Veiga de Almeida-RJ biasborges@globo.com Resumo Este trabalho pretende discutir a relação do autista com seu corpo, frente à
Sofrimento e dor no autismo: quem sente? BORGES, Bianca Stoppa Universidade Veiga de Almeida-RJ biasborges@globo.com Resumo Este trabalho pretende discutir a relação do autista com seu corpo, frente à
PULSÃO DE MORTE, CORPO E MENTALIZAÇÃO. Eixo: O corpo na teoría Palavras chave : psicossomática, pulsão de morte, depressão essencial, psicanálise
 PULSÃO DE MORTE, CORPO E MENTALIZAÇÃO Patricia Rivoire Menelli Goldfeld Eixo: O corpo na teoría Palavras chave : psicossomática, pulsão de morte, depressão essencial, psicanálise Resumo: A autora revisa
PULSÃO DE MORTE, CORPO E MENTALIZAÇÃO Patricia Rivoire Menelli Goldfeld Eixo: O corpo na teoría Palavras chave : psicossomática, pulsão de morte, depressão essencial, psicanálise Resumo: A autora revisa
Estresse. O estresse tem sido considerado um problema cada vez mais comum, tanto no
 Estresse O estresse tem sido considerado um problema cada vez mais comum, tanto no contexto profissional quanto na vida pessoal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% da população mundial sofre
Estresse O estresse tem sido considerado um problema cada vez mais comum, tanto no contexto profissional quanto na vida pessoal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% da população mundial sofre
Prof. Me. Renato Borges
 Freud: Fases do desenvolvimento Prof. Me. Renato Borges Sigmund Freud Médico Nasceu em 1856 na República Tcheca e viveu em Viena (Áustria). Morreu em Londres em 1839, onde se refugiava do Nazismo. As três
Freud: Fases do desenvolvimento Prof. Me. Renato Borges Sigmund Freud Médico Nasceu em 1856 na República Tcheca e viveu em Viena (Áustria). Morreu em Londres em 1839, onde se refugiava do Nazismo. As três
Principais correntes psicológicas do Século XX. Profª Bianca Werner Psicologia
 Principais correntes psicológicas do Século XX Profª Bianca Werner Sigmund Freud Freud, judeu, nasceu em Viena no ano de 1856, onde formou-se em medicina. Ao terminar o curso, tornou-se aluno de neurologia
Principais correntes psicológicas do Século XX Profª Bianca Werner Sigmund Freud Freud, judeu, nasceu em Viena no ano de 1856, onde formou-se em medicina. Ao terminar o curso, tornou-se aluno de neurologia
MULHERES MASTECTOMIZADAS: UM OLHAR PSICANALÍTICO. Sara Guimarães Nunes 1
 MULHERES MASTECTOMIZADAS: UM OLHAR PSICANALÍTICO Sara Guimarães Nunes 1 1. Aluna Especial do Mestrado em Psicologia 2016.1, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Tipo de Apresentação: Comunicação
MULHERES MASTECTOMIZADAS: UM OLHAR PSICANALÍTICO Sara Guimarães Nunes 1 1. Aluna Especial do Mestrado em Psicologia 2016.1, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Tipo de Apresentação: Comunicação
Sigmund Freud ( )
 Sigmund Freud (1856-1939) Na Moravia, em 06 de maio de 1856, nasceu Sigmund Freud, o fundador da Psicanálise. Morreu em 23 de setembro de 1939, em Londres, onde viveu seus últimos anos, exilado pelos efeitos
Sigmund Freud (1856-1939) Na Moravia, em 06 de maio de 1856, nasceu Sigmund Freud, o fundador da Psicanálise. Morreu em 23 de setembro de 1939, em Londres, onde viveu seus últimos anos, exilado pelos efeitos
ANÁLISE DIDÁTICA. ceevix.com. Prof Me. Irisomar Fernandes Psicanalista Clínico Analista Diadata
 ANÁLISE DIDÁTICA ceevix.com Prof Me. Irisomar Fernandes Psicanalista Clínico Analista Diadata 27 992246450 O QUE É ANÁLISE DIDÁTICA? Todo psicanalista deve passar pelo processo das análise clínicas e didáticas;
ANÁLISE DIDÁTICA ceevix.com Prof Me. Irisomar Fernandes Psicanalista Clínico Analista Diadata 27 992246450 O QUE É ANÁLISE DIDÁTICA? Todo psicanalista deve passar pelo processo das análise clínicas e didáticas;
PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
 O PAPEL DO OUTRO NA CONSTITUIÇÃO DO PSIQUISMO: UM ESTUDO A PARTIR DO CONCEITO DE IDENTIFICAÇÃO EM FREUD Sabryna Valéria de Almeida Santos* (PIBIC-FA, Departamento de Psicologia, Universidade Estadual de
O PAPEL DO OUTRO NA CONSTITUIÇÃO DO PSIQUISMO: UM ESTUDO A PARTIR DO CONCEITO DE IDENTIFICAÇÃO EM FREUD Sabryna Valéria de Almeida Santos* (PIBIC-FA, Departamento de Psicologia, Universidade Estadual de
TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA ANGUSTIA E NARCISISMO PARA PSICANÁLISE. ORIENTADOR(ES): KELE CRISTINA PASQUALINI, PATRICIA SOARES BALTAZAR BODONI
 TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA ANGUSTIA E NARCISISMO PARA PSICANÁLISE. CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: PSICOLOGIA INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA DE BAURU AUTOR(ES):
TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA ANGUSTIA E NARCISISMO PARA PSICANÁLISE. CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: PSICOLOGIA INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA DE BAURU AUTOR(ES):
DISCIPLINA: PSICOLOGIA METODOLOGIA - CIENCIA - PESQUISA ABORDAGEM TEÓRICA
 DISCIPLINA: PSICOLOGIA METODOLOGIA - CIENCIA - PESQUISA ABORDAGEM TEÓRICA DOSCENTE: PROFª MsC. ANA LÚCIA BRAZ RIOS PEREIRA PSICOLOGIA Etimologicamente, a palavra Psicologia significa estudo ou ciência
DISCIPLINA: PSICOLOGIA METODOLOGIA - CIENCIA - PESQUISA ABORDAGEM TEÓRICA DOSCENTE: PROFª MsC. ANA LÚCIA BRAZ RIOS PEREIRA PSICOLOGIA Etimologicamente, a palavra Psicologia significa estudo ou ciência
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL. Profa. Fátima Soares
 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL Profa. Fátima Soares Definições: A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais do ser humano e todos os animais. Psicologia como ciência A psicologia
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL Profa. Fátima Soares Definições: A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais do ser humano e todos os animais. Psicologia como ciência A psicologia
Ansiedade Generalizada. Sintomas e Tratamentos
 Ansiedade Generalizada Sintomas e Tratamentos Sumário 1 Ansiedade e Medo ------------------------------------ 03 2 Transtorno de ansiedade generalizada----------06 3 Sintomas e Diagnóstico-------------------------------08
Ansiedade Generalizada Sintomas e Tratamentos Sumário 1 Ansiedade e Medo ------------------------------------ 03 2 Transtorno de ansiedade generalizada----------06 3 Sintomas e Diagnóstico-------------------------------08
Sumário. Parte I VISÃO GERAL. Parte II COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO. Introdução A medicina da pessoa...31
 Sumário Introdução...25 Parte I VISÃO GERAL 1. A medicina da pessoa...31 Um pouco de história saúde-doença: evolução do conceito...31 Período pré-histórico...31 Período histórico primórdios...33 O antigo
Sumário Introdução...25 Parte I VISÃO GERAL 1. A medicina da pessoa...31 Um pouco de história saúde-doença: evolução do conceito...31 Período pré-histórico...31 Período histórico primórdios...33 O antigo
A ANGÚSTIA E A ADOLESCÊNCIA: UMA PERSPECTIVA PSICANALÍTICA 1
 A ANGÚSTIA E A ADOLESCÊNCIA: UMA PERSPECTIVA PSICANALÍTICA 1 Cherry Fernandes Peterle 2 Hítala Maria Campos Gomes 3 RESUMO: O objetivo deste artigo é traçar um breve histórico sobre como a psicanálise
A ANGÚSTIA E A ADOLESCÊNCIA: UMA PERSPECTIVA PSICANALÍTICA 1 Cherry Fernandes Peterle 2 Hítala Maria Campos Gomes 3 RESUMO: O objetivo deste artigo é traçar um breve histórico sobre como a psicanálise
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 110 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS Considerando-se as duas lógicas de inscrição do corpo na metapsicologia freudiana, a da representação e a do transbordamento, correspondendo, respectivamente, à primeira e segunda
110 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS Considerando-se as duas lógicas de inscrição do corpo na metapsicologia freudiana, a da representação e a do transbordamento, correspondendo, respectivamente, à primeira e segunda
O DISCURSO DA CIÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM O SUPEREU
 O DISCURSO DA CIÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM O SUPEREU Fabiana Mendes Pinheiro de Souza Psicóloga/UNESA Mestranda do Programa de pós-graduação em teoria psicanalítica/ufrj fabmps@gmail.com Resumo: Em 1920,
O DISCURSO DA CIÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM O SUPEREU Fabiana Mendes Pinheiro de Souza Psicóloga/UNESA Mestranda do Programa de pós-graduação em teoria psicanalítica/ufrj fabmps@gmail.com Resumo: Em 1920,
Ciclo I 4 a feira (manhã) Aluno (a): Karine de Toledo Pereira. Título: Trauma: neurose traumática
 3 o Semestre 2015 Ciclo I 4 a feira (manhã) Aluno (a): Karine de Toledo Pereira Título: Trauma: neurose traumática 1 3 o Semestre 2015 Ciclo I quarta-feira (manhã) Aluno (a): Karine de Toledo Pereira Título:
3 o Semestre 2015 Ciclo I 4 a feira (manhã) Aluno (a): Karine de Toledo Pereira Título: Trauma: neurose traumática 1 3 o Semestre 2015 Ciclo I quarta-feira (manhã) Aluno (a): Karine de Toledo Pereira Título:
Evolução genética e o desenvolvimento do psíquismo normal No iníco, o lactente encontra-se em um modo de fusão e de identificação a uma totalidade
 Estrutura Neurótica Evolução genética e o desenvolvimento do psíquismo normal No iníco, o lactente encontra-se em um modo de fusão e de identificação a uma totalidade fusional, em que não existe ainda
Estrutura Neurótica Evolução genética e o desenvolvimento do psíquismo normal No iníco, o lactente encontra-se em um modo de fusão e de identificação a uma totalidade fusional, em que não existe ainda
Contribuições de Paul Federn para a clínica contemporânea. O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir alguns conceitos do psicanalista Paul
 Contribuições de Paul Federn para a clínica contemporânea. O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir alguns conceitos do psicanalista Paul Federn,, que parecem contribuir para uma maior compreensão
Contribuições de Paul Federn para a clínica contemporânea. O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir alguns conceitos do psicanalista Paul Federn,, que parecem contribuir para uma maior compreensão
SEQUENCIA EMOCIONAL. Freud
 SEQUENCIA EMOCIONAL Freud Sequência Emocional - Introdução Dentro da terapia psicanalítica a sequência emocional assume importante papel na análise dos problemas e sintomas trazidos pelo paciente. Ela
SEQUENCIA EMOCIONAL Freud Sequência Emocional - Introdução Dentro da terapia psicanalítica a sequência emocional assume importante papel na análise dos problemas e sintomas trazidos pelo paciente. Ela
PEDAGOGIA. Aspecto Psicológico Brasileiro. Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem Parte 4. Professora: Nathália Bastos
 PEDAGOGIA Aspecto Psicológico Brasileiro Parte 4 Professora: Nathália Bastos FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES Consiste no modo de funcionamento psicológico tipicamente humano. Ex: capacidade de planejamento,
PEDAGOGIA Aspecto Psicológico Brasileiro Parte 4 Professora: Nathália Bastos FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES Consiste no modo de funcionamento psicológico tipicamente humano. Ex: capacidade de planejamento,
Estruturas da Personalidade e Funcionamento do Aparelho Psíquico
 Estruturas da Personalidade e Funcionamento do Aparelho Psíquico Para Freud, a personalidade é centrada no crescimento interno. Dá importância a influência dos medos, dos desejos e das motivações inconscientes
Estruturas da Personalidade e Funcionamento do Aparelho Psíquico Para Freud, a personalidade é centrada no crescimento interno. Dá importância a influência dos medos, dos desejos e das motivações inconscientes
SEXUALIDADE SEM FRONTEIRAS. Flávio Gikovate
 SEXUALIDADE SEM FRONTEIRAS SEXUALIDADE SEM FRONTEIRAS Copyright 2013 by Direitos desta edição reservados por Summus Editorial Editora executiva: Soraia Bini Cury Editora assistente: Salete Del Guerra Capa:
SEXUALIDADE SEM FRONTEIRAS SEXUALIDADE SEM FRONTEIRAS Copyright 2013 by Direitos desta edição reservados por Summus Editorial Editora executiva: Soraia Bini Cury Editora assistente: Salete Del Guerra Capa:
O ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO TRAUMÁTICA DO ACIDENTE DE TRABALHO. Freud (1930/1975), no Mal estar na civilização, faz uma consideração do valor
 O ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO TRAUMÁTICA DO ACIDENTE DE TRABALHO A psicologia e o mundo do trabalho Andréa Januário Rapela Moreira Edilene Freire de Queiroz Freud (1930/1975), no Mal estar na civilização,
O ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO TRAUMÁTICA DO ACIDENTE DE TRABALHO A psicologia e o mundo do trabalho Andréa Januário Rapela Moreira Edilene Freire de Queiroz Freud (1930/1975), no Mal estar na civilização,
O Psicótico: aspectos da personalidade David Rosenfeld Sob a ótica da Teoria das Relações Objetais da Escola Inglesa de Psicanálise. Expandiu o entend
 A CLÍNICA DA PSICOSE Profª Ms Sandra Diamante Dezembro - 2013 1 O Psicótico: aspectos da personalidade David Rosenfeld Sob a ótica da Teoria das Relações Objetais da Escola Inglesa de Psicanálise. Expandiu
A CLÍNICA DA PSICOSE Profª Ms Sandra Diamante Dezembro - 2013 1 O Psicótico: aspectos da personalidade David Rosenfeld Sob a ótica da Teoria das Relações Objetais da Escola Inglesa de Psicanálise. Expandiu
Nota: Este enunciado tem 7 páginas. A cotação de cada pergunta encontra-se no início de cada grupo.
 PROVA PARA AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR DOS MAIORES DE 23 ANOS 2016/2017 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Licenciatura em Psicologia Componente Específica de Psicologia
PROVA PARA AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR DOS MAIORES DE 23 ANOS 2016/2017 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Licenciatura em Psicologia Componente Específica de Psicologia
Considerações de Pierre Marty para o estudo da Psicossomática
 22 3. Considerações de Pierre Marty para o estudo da Psicossomática A noção de trauma permitiu-nos abordar as particularidades do corpo na patologia psicossomática. De fato, dentro do próprio campo da
22 3. Considerações de Pierre Marty para o estudo da Psicossomática A noção de trauma permitiu-nos abordar as particularidades do corpo na patologia psicossomática. De fato, dentro do próprio campo da
A Anorexia em Mulheres e a Melancolia. contribuído para a manifestação da anorexia patologia que incide na população numa
 A Anorexia em Mulheres e a Melancolia Giovana Luiza Marochi A supervalorização da estética, bem como o culto à magreza na atualidade, tem contribuído para a manifestação da anorexia patologia que incide
A Anorexia em Mulheres e a Melancolia Giovana Luiza Marochi A supervalorização da estética, bem como o culto à magreza na atualidade, tem contribuído para a manifestação da anorexia patologia que incide
Apresentação à edição brasileira de A Polifonia do sonho 13. Introdução: Três motivos para reavaliar a teoria freudiana do sonho 19
 SUMÁRIO Apresentação à edição brasileira de A Polifonia do sonho 13 Introdução: Três motivos para reavaliar a teoria freudiana do sonho 19 Primeira Parte OS ESPAÇOS PSÍQUICOS DO SONHO 37 Capítulo 1. Espaços
SUMÁRIO Apresentação à edição brasileira de A Polifonia do sonho 13 Introdução: Três motivos para reavaliar a teoria freudiana do sonho 19 Primeira Parte OS ESPAÇOS PSÍQUICOS DO SONHO 37 Capítulo 1. Espaços
suas intersecções com a questão do corpo, enfatizando as implicações para o trabalho do
 1 Do trauma à trama do corpo: considerações sobre a prática da Psicanálise no hospital * Cristiana Rodrigues Rua ** Marcos Vinícius Brunhari *** Introdução O presente trabalho tem por objetivo abordar
1 Do trauma à trama do corpo: considerações sobre a prática da Psicanálise no hospital * Cristiana Rodrigues Rua ** Marcos Vinícius Brunhari *** Introdução O presente trabalho tem por objetivo abordar
O BRINCAR E A BRINCADEIRA NO ATENDIMENTO INFANTIL
 O BRINCAR E A BRINCADEIRA NO ATENDIMENTO INFANTIL VIEIRA, Rosângela M 1. Resumo O tema em questão surgiu da experiência do atendimento em grupo, com crianças de três a cinco anos, no ambiente escolar.
O BRINCAR E A BRINCADEIRA NO ATENDIMENTO INFANTIL VIEIRA, Rosângela M 1. Resumo O tema em questão surgiu da experiência do atendimento em grupo, com crianças de três a cinco anos, no ambiente escolar.
5 Referências bibliográficas
 82 5 Referências bibliográficas BAKER, L. R. Attitudes in Action. Separata de: LECLERC, A.; QUEIROZ, G.; WRIGLEY, M. B. Proceedings of the Third International Colloquium in Philosophy of Mind. Manuscrito
82 5 Referências bibliográficas BAKER, L. R. Attitudes in Action. Separata de: LECLERC, A.; QUEIROZ, G.; WRIGLEY, M. B. Proceedings of the Third International Colloquium in Philosophy of Mind. Manuscrito
PROJETO EDUCAÇÃO SEM HOMOFOBIA SEXUALIDADE E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO
 PROJETO EDUCAÇÃO SEM HOMOFOBIA SEXUALIDADE E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO Débora Maria Gomes Silveira Universidade Federal de Minas Gerais Maio/ 2010 ESTUDO PSICANALÍTICO DA SEXUALIDADE BREVE HISTÓRICO Na
PROJETO EDUCAÇÃO SEM HOMOFOBIA SEXUALIDADE E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO Débora Maria Gomes Silveira Universidade Federal de Minas Gerais Maio/ 2010 ESTUDO PSICANALÍTICO DA SEXUALIDADE BREVE HISTÓRICO Na
O OBJETO A E SUA CONSTRUÇÃO
 O OBJETO A E SUA CONSTRUÇÃO 2016 Marcell Felipe Psicólogo clínico graduado pelo Centro Universitário Newont Paiva (MG). Pós graduado em Clínica Psicanalítica pela Pontifícia Católica de Minas Gerais (Brasil).
O OBJETO A E SUA CONSTRUÇÃO 2016 Marcell Felipe Psicólogo clínico graduado pelo Centro Universitário Newont Paiva (MG). Pós graduado em Clínica Psicanalítica pela Pontifícia Católica de Minas Gerais (Brasil).
A função da angústia na metapsicologia freudiana
 A função da angústia na metapsicologia freudiana The function of anxiety in Freudian metapsychology Lara Cristina D Avila Lourenço Professora adjunta do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade da Unifesp
A função da angústia na metapsicologia freudiana The function of anxiety in Freudian metapsychology Lara Cristina D Avila Lourenço Professora adjunta do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade da Unifesp
ANALISTAS E ANALISANDOS PRECISAM SE ACEITAR: REFLEXÕES SOBRE AS ENTREVISTAS PRELIMINARES
 ANALISTAS E ANALISANDOS PRECISAM SE ACEITAR: REFLEXÕES SOBRE AS ENTREVISTAS PRELIMINARES 2014 Matheus Henrique de Souza Silva Psicólogo pela Faculdade Pitágoras de Ipatinga-MG. Especializando em Clínica
ANALISTAS E ANALISANDOS PRECISAM SE ACEITAR: REFLEXÕES SOBRE AS ENTREVISTAS PRELIMINARES 2014 Matheus Henrique de Souza Silva Psicólogo pela Faculdade Pitágoras de Ipatinga-MG. Especializando em Clínica
Palavras-chave: Psicanálise, Educação, Inibição Intelectual.
 AS CONTRIBUIÇÕES DE FREUD PARA O DEBATE SOBRE EDUCAÇÃO E INIBIÇÃO INTELECTUAL. Autoras: Maira Sampaio Alencar Lima (Psicanalista e Mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza); Profª. Drª. Maria
AS CONTRIBUIÇÕES DE FREUD PARA O DEBATE SOBRE EDUCAÇÃO E INIBIÇÃO INTELECTUAL. Autoras: Maira Sampaio Alencar Lima (Psicanalista e Mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza); Profª. Drª. Maria
Período de Latência (PL) Salomé Vieira Santos. Psicologia Dinâmica do Desenvolvimento
 Período de Latência (PL) Salomé Vieira Santos Psicologia Dinâmica do Desenvolvimento Março de 2017 Freud PL o período de desenvolvimento psicossexual que surge com a resolução do complexo de Édipo etapa
Período de Latência (PL) Salomé Vieira Santos Psicologia Dinâmica do Desenvolvimento Março de 2017 Freud PL o período de desenvolvimento psicossexual que surge com a resolução do complexo de Édipo etapa
Personalidade(s) e Turismo
 Personalidade(s) e Turismo O que é Personalidade? Ela é inata ou aprendida? Personalidade/Personalidades É uma organização dinâmica de partes interligadas, que vão evoluindo do recém-nascido biológico
Personalidade(s) e Turismo O que é Personalidade? Ela é inata ou aprendida? Personalidade/Personalidades É uma organização dinâmica de partes interligadas, que vão evoluindo do recém-nascido biológico
Carta 69 (1897) in:... volume 1, p Hereditariedade e a etiologia das neuroses (1896) in:... volume 3, p Mecanismo Psíquico do
 104 Bibliografia: BORING, E. G. & HERRNSTEIN, R. J. (orgs.) Textos Básicos de História da Psicologia. São Paulo: Editora Herder, 1971. CAMPOS, Flavia Sollero. Psicanálise e Neurociência: Dos Monólogos
104 Bibliografia: BORING, E. G. & HERRNSTEIN, R. J. (orgs.) Textos Básicos de História da Psicologia. São Paulo: Editora Herder, 1971. CAMPOS, Flavia Sollero. Psicanálise e Neurociência: Dos Monólogos
Psicanálise em Psicóticos
 Psicanálise em Psicóticos XIX Congresso Brasileiro de Psicanálise Recife, 2003 Dr. Decio Tenenbaum Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, Rio 2 End: decio@tenenbaum.com.br Processos Psicanalíticos
Psicanálise em Psicóticos XIX Congresso Brasileiro de Psicanálise Recife, 2003 Dr. Decio Tenenbaum Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, Rio 2 End: decio@tenenbaum.com.br Processos Psicanalíticos
RELAÇÕES AMOROSAS 1. Sabrina Barbosa Sironi
 RELAÇÕES AMOROSAS 1 Sabrina Barbosa Sironi Este trabalho tem como objetivo observar a construção da relação amorosa do bebê com seu primeiro objeto, que é a mãe ou qualquer outra pessoa que exerça a função
RELAÇÕES AMOROSAS 1 Sabrina Barbosa Sironi Este trabalho tem como objetivo observar a construção da relação amorosa do bebê com seu primeiro objeto, que é a mãe ou qualquer outra pessoa que exerça a função
PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social A NOÇÃO DE DAS DING (A COISA) NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE FREUDIANA
 A NOÇÃO DE DAS DING (A COISA) NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE FREUDIANA Fábio Brinholli da Silva* (Universidade Estadual de Maringá, Londrina-PR, Brasil) Palavras-chave: das Ding. Representação de coisa.
A NOÇÃO DE DAS DING (A COISA) NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE FREUDIANA Fábio Brinholli da Silva* (Universidade Estadual de Maringá, Londrina-PR, Brasil) Palavras-chave: das Ding. Representação de coisa.
ABORDAGEM PSICOTERÁPICA ENFERMARIA
 I- Pressupostos básicos: 1- Definição: aplicação de técnicas psicológicas com a finalidade de restabelecer o equilíbrio emocional da pessoa pp. fatores envolvidos no desequilibrio emocional conflitos psicológicos
I- Pressupostos básicos: 1- Definição: aplicação de técnicas psicológicas com a finalidade de restabelecer o equilíbrio emocional da pessoa pp. fatores envolvidos no desequilibrio emocional conflitos psicológicos
6 Referências bibliográficas
 6 Referências bibliográficas BARROS, R. do R. O Sintoma enquanto contemporâneo. In: Latusa, n. 10. Rio de Janeiro: Escola Brasileira de Psicanálise Seção Rio, 2005, p. 17-28. COTTET, S. Estudos clínicos.
6 Referências bibliográficas BARROS, R. do R. O Sintoma enquanto contemporâneo. In: Latusa, n. 10. Rio de Janeiro: Escola Brasileira de Psicanálise Seção Rio, 2005, p. 17-28. COTTET, S. Estudos clínicos.
Latusa digital ano 2 N 13 abril de 2005
 Latusa digital ano 2 N 13 abril de 2005 A clínica do sintoma em Freud e em Lacan Ângela Batista * O sintoma é um conceito que nos remete à clínica, assim como ao nascimento da psicanálise. Freud o investiga
Latusa digital ano 2 N 13 abril de 2005 A clínica do sintoma em Freud e em Lacan Ângela Batista * O sintoma é um conceito que nos remete à clínica, assim como ao nascimento da psicanálise. Freud o investiga
Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais - Almanaque On-line n 20
 Entre a cruz e a espada: culpa e gozo em um caso de neurose obsessiva Rodrigo Almeida Resumo : O texto retoma o tema do masoquismo e as mudanças que Freud introduz ao longo da sua obra, evidenciando sua
Entre a cruz e a espada: culpa e gozo em um caso de neurose obsessiva Rodrigo Almeida Resumo : O texto retoma o tema do masoquismo e as mudanças que Freud introduz ao longo da sua obra, evidenciando sua
Daniel Sampaio (D. S.) Bom dia, João.
 Esfera_Pag1 13/5/08 10:57 Página 11 João Adelino Faria (J. A. F.) Muito bom dia. Questionamo- -nos muitas vezes sobre quando é que se deve falar de sexo com uma criança, qual é a idade limite, como é explicar
Esfera_Pag1 13/5/08 10:57 Página 11 João Adelino Faria (J. A. F.) Muito bom dia. Questionamo- -nos muitas vezes sobre quando é que se deve falar de sexo com uma criança, qual é a idade limite, como é explicar
CLÍNICA, TRANSFERÊNCIA E O DESEJO DO ANALISTA 1 CLINIC, TRANSFERENCE AND DESIRE OF THE ANALYST. Fernanda Correa 2
 CLÍNICA, TRANSFERÊNCIA E O DESEJO DO ANALISTA 1 CLINIC, TRANSFERENCE AND DESIRE OF THE ANALYST Fernanda Correa 2 1 Monografia de Conclusão do Curso de Graduação em Psicologia 2 Aluna do Curso de Graduação
CLÍNICA, TRANSFERÊNCIA E O DESEJO DO ANALISTA 1 CLINIC, TRANSFERENCE AND DESIRE OF THE ANALYST Fernanda Correa 2 1 Monografia de Conclusão do Curso de Graduação em Psicologia 2 Aluna do Curso de Graduação
CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS
 CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS ANTES DE TUDO, O AMOR: CONSIDERAÇÕES SOBRE A TRANSFERÊNCIA EM FREUD E LACAN. Cláudia Sampaio Barral Ciclo V quarta feira/manhã São Paulo 2013 1 A primeira aparição do termo
CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS ANTES DE TUDO, O AMOR: CONSIDERAÇÕES SOBRE A TRANSFERÊNCIA EM FREUD E LACAN. Cláudia Sampaio Barral Ciclo V quarta feira/manhã São Paulo 2013 1 A primeira aparição do termo
UMA LEITURA DA OBRA DE SIGMUND FREUD. PALAVRAS-CHAVE Sigmund Freud. Psicanálise. Obras Completas de Freud.
 12. CONEX Apresentação Oral Resumo Expandido 1 ÁREA TEMÁTICA: ( ) COMUNICAÇÃO ( X) CULTURA ( ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA ( ) EDUCAÇÃO ( ) MEIO AMBIENTE ( ) SAÚDE ( ) TRABALHO ( ) TECNOLOGIA UMA LEITURA
12. CONEX Apresentação Oral Resumo Expandido 1 ÁREA TEMÁTICA: ( ) COMUNICAÇÃO ( X) CULTURA ( ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA ( ) EDUCAÇÃO ( ) MEIO AMBIENTE ( ) SAÚDE ( ) TRABALHO ( ) TECNOLOGIA UMA LEITURA
A contribuição winnicottiana à teoria do complexo de Édipo e suas implicações para a
 A contribuição winnicottiana à teoria do complexo de Édipo e suas implicações para a prática clínica. No interior de sua teoria geral, Winnicott redescreve o complexo de Édipo como uma fase tardia do processo
A contribuição winnicottiana à teoria do complexo de Édipo e suas implicações para a prática clínica. No interior de sua teoria geral, Winnicott redescreve o complexo de Édipo como uma fase tardia do processo
A PULSÃO ESCÓPICA E A ÓPTICA DO PSIQUISMO Cintia Rita de Oliveira Magalhães e Maria Isabel de Andrade Fortes
 A PULSÃO ESCÓPICA E A ÓPTICA DO PSIQUISMO Cintia Rita de Oliveira Magalhães e Maria Isabel de Andrade Fortes O cotidiano das relações humanas demonstra-nos que é possível olhar sem ver e ouvir sem escutar.
A PULSÃO ESCÓPICA E A ÓPTICA DO PSIQUISMO Cintia Rita de Oliveira Magalhães e Maria Isabel de Andrade Fortes O cotidiano das relações humanas demonstra-nos que é possível olhar sem ver e ouvir sem escutar.
Reflexão Pessoal A Memória
 Reflexão Pessoal A Memória Depois de ter feito a reflexão sobre a aprendizagem, vou agora realizar esta que será a última reflexão deste 2º Período, sobre a memória. Como inúmeros outros termos (inteligência,
Reflexão Pessoal A Memória Depois de ter feito a reflexão sobre a aprendizagem, vou agora realizar esta que será a última reflexão deste 2º Período, sobre a memória. Como inúmeros outros termos (inteligência,
