Gengivo-estomatite crónica felina - um desafio clínico. Feline chronic gingivostomatitis - a clinical challenge
|
|
|
- Eliza Amaral Casado
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 ARTIGO DE REVISÃO Gengivo-estomatite crónica felina - um desafio clínico Feline chronic gingivostomatitis - a clinical challenge M. M. R. E. Niza 1 *, L.A. Mestrinho 2, C. L. Vilela 1 1 CIISA - Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Técnica de Lisboa 2 Actividade clínica privada Resumo: A gengivo-estomatite crónica felina (GECF) é uma entidade clínica complexa, frustrante para o médico veterinário e desesperante para o proprietário, devido à sua frequência, à severidade e carácter crónico das lesões com frequentes reagudizações, e sobretudo à refractabilidade aos tratamentos até agora disponíveis. Estão referidos na bibliografia vários protocolos terapêuticos com abordagem médica, cirúrgica ou combinação de ambas. As respostas ao tratamento são muito variáveis e os sucessos terapêuticos revelam-se normalmente incompletos, transitórios e de duração imprevisível, tornando-se essencial estabelecer uma estratégia terapêutica individualizada. No presente trabalho são enumerados os vários agentes etiológicos envolvidos, os sinais clínicos mais relevantes e os meios de diagnóstico mais adequados para a elaboração do diagnóstico definitivo. Por fim são revistos os diversos protocolos terapêuticos. Summary: The Feline Chronic Gingivostomatitis (FCGS) is a complex disease, frustrating for the practitioner and despairing for the animal owner, due to its frequency, severity and chronicity of lesions, with frequent relapses. It is difficult to control with the available therapeutic regimes. Different approaches, medical, surgical or a combination of both, are described in the literature. Responses to treatment are variable and therapeutic success is often limited and of short-term value, being essential to establish the adequate approach strategy to each patient. The present work addresses FCGS ethiology, clinical signs and procedures leading to a diagnosis. Finally, the different treatment regimes are reviewed. Introdução *Correspondência: Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Rua Professor Cid dos Santos, Lisboa. Telef: , Fax: , necas@fmv.utl.pt As afecções inflamatórias da cavidade oral são muito frequentes em medicina felina. Caracterizam-se por sinais clínicos como anorexia, ptialismo e agressividade, que espelham a dor e o desconforto sentidos pelo animal, podendo conduzir a estados de desidratação e subnutrição de consequências graves (Chadieu e Blaizot, 1999). A mucosa oral está permanentemente exposta a antigénios. Fisiologicamente, existe um estreito equilíbrio entre estes antigénios e o sistema imunológico do hospedeiro. O desequilíbrio nestas interacções pode resultar em doença, que surge por uma resposta insuficiente ou, pelo contrário, demasiado exuberante, por parte do hospedeiro (Rochette, 2001). A gengivo-estomatite tem sido referida como a segunda causa mais frequente de patologia oral, logo após a doença periodontal (Diehl e Rosychuk, 1993). Dentro deste grupo, assume particular relevância a gengivo-estomatite linfoplasmocítica (GECF) devido à sua frequência, à severidade das lesões e sobretudo à refractabilidade aos tratamentos até agora disponíveis. Etiopatogenia A GECF caracteriza-se por uma resposta inflamatória local ou difusa, responsável pelo aparecimento de lesões do tipo úlcero-proliferativo na mucosa oral. As lesões correspondem a uma infiltração de linfócitos e plasmócitos, sendo em 30% dos casos o infiltrado predominantemente constituído por plasmócitos (Diehl e Rosychuk, 1993). Apesar de alguns autores não referirem a existência de qualquer predisposição de raça, sexo ou idade (Lyon, 1990), outros sugerem uma predisposição de certas raças como a Siamesa, Abissínia, Persa, Himalaia e Birmanesa. Estas raças apresentam formas mais severas da afecção, o que pode ser indicativo de uma possível tendência genética (Williams e Aller, 1992). A infiltração celular associada a uma hipergamaglobulinémia, com aumento das concentrações séricas de IgG, IgM, IgA e albumina nos gatos com GECF, sugere uma predisposição destes animais para responderem de forma demasiado exuberante a activadores dos linfócitos B policlonais, como bactérias e partículas virais. Em consequência, verifica-se uma resposta imunológica insuficiente para controlar os antigénios virais e bacterianos, mas suficientemente expressiva para produzir uma inflamação crónica local (Harvey, 1991; Diehl e Rosychuk, 1993; Anderson e Pedersen, 1996; Hennet 1997; Jonhston, 1998; Chadieu e Blaizot, 1999; Harley 127
2 Niza, M.M.R.E., et al. RPCV (2004) 99 (551) et al., 2003). Diversos co-factores têm sido responsabilizados na etiologia da GECF, nomeadamente antigénios virais, bacterianos e/ou alimentares, com uma forte componente imunitária. A participação viral na génese desta afecção tem vindo a ser cada vez mais reconhecida. Num estudo efectuado por Jonhston (1998), a totalidade dos gatos afectados eram portadores de calicivírus (CVF). Num outro estudo, este vírus foi identificado em 85% dos gatos com estomatite e quase 100% dos gatos com faucite (Reubel et al., 1992). A forma aguda de GECF foi induzida experimentalmente através da infecção com CVF, não tendo sido possível, contudo, reproduzir a forma crónica desta doença (Knowles et al., 1991; Reubel et al., 1992). Noutro trabalho, foram isolados simultaneamente CVF e herpesvírus felino (HVF) da saliva, em 88% dos gatos afectados (Lommer e Verstraete, 2003). A infecção por HVF já anteriormente tinha sido associada a estomatite (Hargis e Ginn, 1999; Hargis et al., 1999), embora ainda não se tenha estabelecido uma relação directa entre HVF e GECF, provavelmente devido à excreção intermitente do vírus (Harley, 2003). É reconhecida uma estreita relação entre o vírus da imunodeficiência felina (FIV) e a GECF. Nos estudos conduzidos por Tenorio et al. (1991), White et al. (1992), Waters et al. (1993) e Cognet et al. (2001), cerca de 50% dos gatos FIV positivos apresentavam GECF. A remissão das lesões úlcero-proliferativas, na sequência de terapêuticas antivirais, sugere a implicação do FIV na etiopatogenia do processo, especulando-se que este vírus, ao induzir lesões orais, predispõe para o aparecimento de processos secundários (Knowles et al., 1989; Williams e Aller, 1992; Harley, 2003). O papel do vírus da leucemia felina (FeLV) na etiologia da GECF ainda não se encontra bem esclarecido. De acordo com vários estudos, a sua prevalência varia entre 0 e 17% em gatos com GECF (Harley, 2003; White et al., 1992; Hennet, 1997). Sabe-se que este vírus potencia os efeitos lesivos de outros, como CVF e HVF, provavelmente devido ao seu papel imunodepressor (Gaskell e Gruffydd-Jones, 1977; Harvey, 1991). Alguns gatos com GECF encontram-se infectados com o vírus da peritonite infecciosa felina (PIF); no entanto, o significado desta relação não foi ainda esclarecido (Harvey, 1991). A GECF tem sido associada a um aumento da população bacteriana anaeróbia oral, em comparação com a flora normal encontrada em animais saudáveis (Love et al., 1990), tendo sido descritos Bacteroides spp. (B. gingivalis e B. intermedius), Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp., Actinobacillus actinomycetemcomitans e algumas espiroquetas. No entanto, tem sido difícil estabelecer o papel exacto destes agentes bacterianos na patogenia da GECF. Para além de não estar descrita a reprodução experimental desta doença por inoculação bacteriana, muitas destas espécies bacterianas podem ser isoladas a partir de gatos assintomáticos (Harvey et al., 1995a, b). Figura 1 - Gengivite, acompanhada de periodontite e estomatite nas áreas de contacto com os molares e pré-molares. Recentemente, tem vindo a ser reconhecida uma componente imunitária na etiologia da GECF (Harley et al., 2003). Em humanos, comprovou-se que níveis baixos de IgA nas secreções orais predispõem para afecções nesta cavidade (Buckley, 1999). Analogamente, gatos afectados com GECF apresentam uma menor concentração salivar de IgA, quando comparados com os níveis desta imunoglobulina verificados em gatos saudáveis (Harley et al., 2003). Esta situação pode ser devida ao tipo de infiltração celular observada nesta afecção, uma vez que a maioria das células presentes são IgG positivas, sendo apenas uma pequena fracção IgA positiva. Uma outra explicação possível para os níveis baixos de IgA salivares seria a clivagem desta imunoglobulina por enzimas produzidos por bactérias da flora oral, como Porphyromonas gingivalis. Pelo contrário, os níveis séricos de IgA, IgG e IgM encontram-se aumentados, assim como os níveis salivares de IgM e IgG. Estas últimas imunoglobulinas têm uma acção de neutralização dos antigénios bacterianos, contribuindo para o aumento da inflamação local, por activação do complemento (Harley et al., 2003). A intervenção de mediadores, como citoquinas, na regulação deste processo ainda não está completamente esclarecida. Em gatos saudáveis, o perfil de citoquinas da mucosa oral é dominado por IL-2, IL-10, IL-12 Figura 2 - Gengivo-estomatite severa generalizada. 128
3 Niza, M.M.R.E., et al. e IFN-γ, enquanto que, em gatos com GECF, se verifica um aumento da expressão destas citoquinas, associado à expressão de IL-6 e IL-4. Os gatos com GECF tendem assim a apresentar um aumento progressivo e generalizado de expressão de citoquinas, directamente relacionado com o aumento da severidade das lesões (Harley et al., 1999), o que reforça a necessidade de melhor definir o papel concreto da componente imunitária no desenvolvimento desta afecção. A alergia alimentar tem sido ocasionalmente implicada na etiopatogenia da GECF. Em medicina humana, tem sido associada ao consumo de alguns aditivos alimentares ou a deficiências na dieta de certos micronutrientes (Wray et al., 2000). Nos gatos, tem sido atribuído um papel antigénico à proteína da dieta (Rochette, 2001). Sinais clínicos e lesões Os sintomas mais frequentes da GECF incluem inapetência, anorexia, disfagia, halitose, ptialismo, dor, que pode ser intensa, perda de peso e desidratação. Estas manifestações clínicas estão directamente relacionadas com o processo de inflamação difusa ulceroproliferativa da mucosa alveolar, jugal, lingual e/ou arco glosso de palatino. As lesões de GECF acompanham-se de gengivite, periodontite e estomatite em aproximadamente 93% dos animais (Figuras 1 e 2), faucite (inflamação dos arcos glossopalatinos) bilateral em 92% (Figura 3) e ulcerações linguais e palatinas em 10% dos casos. Em 67% dos gatos afectados observa-se a existência de processos dentários como a reabsorção odontoclástica felina (Hennet, 1997). São por vezes observadas lesões úlceroproliferativas severas, a nível do arco glossopalatino e faringe (Figura 4). Alguns autores dividem a GECF em vários estadios: gengivite marginal aguda, caracterizada por uma linha vermelha em redor dos dentes e ocorrendo sobretudo em animais jovens; gengivite severa acompanhada de estomatite nas áreas de contacto com os pré-molares e molares; estomatite severa no arco glosso-palatino e faringe e, por fim, orofaringite que se acompanha frequentemente por lesões de reabsorção odontoclástica felina com consequente queda de dentes (San Roman et al., 1999). Diagnóstico Para o estabelecimento do diagnóstico, é fundamental a realização de uma anamnese detalhada, com informações sobre a idade, tipo de alimentação, modo de vida do animal, evolução do processo e duração dos sintomas. O exame clínico da cavidade oral, na maioria dos animais afectados, só é possível com recurso à tranquilização ou anestesia geral, devido à presença de dor intensa. Seguidamente, devem realizar-se exames complementares de diagnóstico, com o fim de determinar a presença de afecções sistémicas subjacentes RPCV (2004) 99 (551) a este processo. Os exames laboratoriais de rotina devem incluir o proteinograma, pois em quase metade dos gatos afectados ocorre hiperproteinémia devida a hipergamaglobulinémia (Jonhston, 1998). Os exames devem ser complementados com análises serológicas e virológicas dirigidas à pesquisa dos agentes virais que têm sido envolvidos na etiologia desta afecção (Camy, 2003b). A biópsia é o único meio que, per se, permite estabelecer um diagnóstico definitivo. É também importante na eliminação de outras causas de gengivo-estomatite, como tumores, afecções auto-imunes, queimaduras por agentes cáusticos, granuloma eosinofílico ou processos do foro infeccioso (Chadieu e Blaizot, 1999). O exame radiográfico intra-oral é imprescindível para a identificação de lesões de reabsorção odontoclástica que, com frequência, acompanham a GECF (Marretta, 1992). Pode ainda fazer-se a pesquisa de calicivírus em amostras colhidas da região orofaríngea, por zaragatoa (Godfrey, 2000). Deve ser feito o diagnóstico diferencial em relação a doença periodontal severa, imunodepressão associada ao FeLV, granuloma eosinofílico, doença periodontal secundária a hipotiroidismo, diabetes mellitus, insuficiência renal e ainda outras doenças do foro auto-imune como penfigus vulgaris, lupus eritematoso, vasculite por hipersensibilidade, eritema multiforme e necrose epidérmica tóxica (Marreta, 1992; Diehl e Rosychuk, 1993; Crystal, 1998; Gioso, 2003). Tratamento Não existe, até ao momento, nenhum tratamento eficaz para a GECF. É uma doença crónica, com reagudizações frequentes, frustrante para o médico veterinário e desesperante para o proprietário. Estão referidos na bibliografia vários protocolos terapêuticos com abordagem médica, cirúrgica ou combinação de ambas (Camy, 2003a, b). As respostas ao tratamento são muito variáveis e os sucessos terapêuticos revelam-se normalmente incompletos, transitórios e de duração imprevisível. Assim, torna-se essencial estabelecer uma estratégia terapêutica individualizada, equacionando a abordagem mais adequada a cada paciente. A abordagem do paciente com GECF deve ser iniciada pelo tratamento periodontal completo, com extracção dos dentes com sinais de reabsorção odontoclástica ou com outro tipo de lesões, de forma a minimizar o contacto com antigénios bacterianos. A este procedimento deve sempre ser associada antibioterapia, devido ao provável envolvimento bacteriano na etiologia da GECF. Os antibióticos mais eficazes são a clindamicina, a associação de metronidazol com espiramicina, ou de amoxicilina com ácido clavulânico, a doxiciclina ou a enrofloxacina (Harvey, 1995b). Estas medidas terapêuticas estão indicadas nas situações moderadas mas os resultados, embora bons, são frequentemente transitórios (Harvey, 1991). Um importante pilar do sucesso terapêutico é a de- 129
4 Niza, M.M.R.E., et al. RPCV (2004) 99 (551) dicação do proprietário. Os dentes do animal devem ser escovados regularmente, associando a aplicação de géis antibacterianos à base de doxiciclina ou de ascarboato de zinco (Clarke, 2001). Devem ser utilizadas dietas caseiras ou comerciais que minimizem a formação de cálculos dentários e que sejam simultaneamente hipoalergénicas. Na abordagem do paciente com GECF, o proprietário deverá ser informado do carácter crónico desta afecção e com ele devem ser discutidas as diversas medidas terapêuticas, esclarecendo-o acerca da refractibilidade ao tratamento. Tratamento cirúrgico Alguns autores preconizam o tratamento cirúrgico como abordagem inicial, seguido do tratamento médico com fármacos imunossupressores, nos casos em que ocorre recidiva (DeBowes, 1997). A abordagem cirúrgica consiste essencialmente na extracção de todos os dentes molares e pré-molares (Hennet, 1997). Existe o risco de perpetuação do processo inflamatório se ficar retido algum fragmento de raiz, pelo que a extracção completa de todos os dentes deverá ser confirmada por radiografia intra-oral. Apesar de ser um tratamento com alguma inespecificidade, tem demonstrado sucesso em 80% dos casos, por um período de cerca de 2 anos. Contudo, em alguns pacientes, este sucesso é temporário, persistindo a inflamação severa da mucosa oral, mais expressiva nos casos em que existem lesões da mucosa orofaríngea (Mihaljevic, 2003). Alguns autores aconselham a extracção dentária completa quando há recidiva após o primeiro procedimento (Diehl e Rosychuk, 1993; Gioso 2003). É fundamental que o controlo da dor, iniciado na préanestesia, se prolongue após a extracção, por este procedimento se acompanhar de dor intensa. No protocolo pré-anestésico, as autoras utilizam anti-inflamatórios não esteroides como cetoprofeno (2 mg/kg), butorfanol (0,1 mg/kg) ou buprenorfina (0,01 mg/kg). A terapêutica analgésica deve prolongar-se durante 5 a 7 dias, com a administração diária de carprofeno (4 mg/kg), cetoprofeno (1 mg/kg), ácido tolfenâmico (4 mg/kg) ou derivados morfínicos como fentanil (em adesivos de 5 mg). Tratamento médico O tratamento médico é, em trabalhos mais recentes, aconselhado como alternativa e/ou complemento ao tratamento cirúrgico (Mihaljevic, 2003). São vários os fármacos utilizados na terapêutica da GECF. Interferão Os interferões (IFN) são citoquinas importantes na regulação das reacções inflamatória e imunomediadas, tendo já sido identificados vários tipos destas moléculas, com estruturas e receptores específicos. No decorrer de processos virais, são temporariamente segregados por quase todos os tipos de células, assumindo uma função de defesa antiviral inespecífica (Murphy et al., 1999). A utilização terapêutica de citoquinas, nomeadamente interferons, tem sido advogada por vários autores. Interferão alfa-2a recombinante humano A forma recombinante de interferão alfa-2a humano (rhuifn-2a) foi inicialmente utilizada em medicina humana mas tem vindo a ser usado com sucesso em medicina veterinária, no tratamento de infecções virais por FIV, FeLV, CVF, HVF (Fulton e Burge, 1985) e PIF (Weiss et al., 1990). Esta molécula tem-se revelado bastante promissora no tratamento da GECF, não só devido à sua acção anti-viral, como também devido ao seu papel como imunomodelador. A utilização off-label (para além das indicações previstas no Resumo das Características do Medicamento RCM), em dose diária, oral, baixa, tem demonstrado bons resultados (Godfrey, 2000; Rochette, 2001). A administração oral de rhuifnα demonstrou ter efeitos semelhantes aos verificados aquando da administração parentral deste composto estimulando, nos tecidos linfóides e epiteliais da cavidade orofaríngea, a produção de factores solúveis ou a activação de uma população celular específica que entra em circulação para mediar a eliminação de células infectadas por vírus ou de células neoplásicas (Cummins et al., 1999; Eid et al., 1999; Fleischmann e Koren, 1999). Estudos recentes demonstraram que diversos subtipos de IFN-α de origem felina têm potencial para tratar infecções agudas e crónicas em gatos. Embora os ensaios com IFN-α recombinante felino (rfeifnα) ainda se encontrem em fase experimental, os resultados até agora descritos são semelhantes aos obtidos com a utilização de rhuifn-α, com a vantagem de não induzir a produção de anticorpos neutralizantes (Wonderling et al., 2002), que conduzem a situações de ineficácia terapêutica. Já em 1994, Mochizuki et al. defendiam a eficácia do interferão recombinante felino no tratamento da calicivirose em gatos, uma importante componente do GECF. No entanto, ainda não se encontra disponível no mercado a forma recombinante felina de IFN-α. O rhuifn-α é utilizado no tratamento da GECF, na dose de 30 Unidades Internacionais (UI) por dia, via oral. A administração faz-se por períodos de 7 dias intercalados com 7 dias de ausência de medicação (Boothe, 2000; Rochette, 2001). Embora tenha sido referida a possibilidade de administração contínua deste fármaco (Boothe, 2000; Godfrey, 2000), as autoras utilizam o protocolo descontínuo porque a sua administração, sobretudo em doses altas, comporta o risco de produção de anticorpos neutralizantes. O tratamento deve ser realizado durante toda a vida do animal, sendo necessário um acompanhamento e avaliações regulares cada 3 a 6 meses por parte do médico veterinário (Rochette, 2001). 130
5 Niza, M.M.R.E., et al. RPCV (2004) 99 (551) tos FIV e FeLV positivos (Mahl et al., 2001). Contudo, a administração do interferão por via subcutânea no tratamento da GECF não se encontra ainda bem documentada. Lactoferrina Figura 3 - Gengivo-estomatite severa no arco glossopalatino em gato com FIV. Interferão omega recombinante felino O Interferão omega (IFN-ω) é um polipeptídeo que intervem na modulação antigénica da superfície celular, na produção de anticorpos e na regulação da produção de citoquinas anti- e pro-inflamatórias, para além de apresentar actividade anti-tumoral por inibição da angiogénese (Bauvois e Wietzerbein, 2002). A forma recombinante felina de INF-ω (rfeifn-ω) já se encontra comercializada em vários países da Europa. Os estudos sobre a aplicação desta citoquina no tratamento da GECF são recentes. Uchino e colaboradores (1992) administraram rfeifn-ω a gatos infectados experimentalmente com calicivírus, tendo verificado uma melhoria dos sintomas num período de 5 a 10 dias. Observou-se no entanto, um máximo de eficácia quando a terapêutica era iniciada 2 a 3 dias após a infecção viral, o que sugere que o início do tratamento numa fase crónica da infecção poderá ter uma menor eficácia (Saunier, 1998). Mihaljevic (2003) relata os resultados da administração de rfeifn-ω, por via intragengival e sub-cutânea, a gatos com GECF. Este estudo foi realizado em 20 gatos, 8 dos quais FIV positivos, tendo sido obtida cura completa em 35% dos pacientes e melhoria significativa em 65% dos animais afectados, num período de 3 a 6 meses Nos casos mais graves, o procedimento foi repetido passados 2 a 6 meses. Nos animais em estudo, apenas os dentes que apresentavam lesões de reabsorção odontoclástica foram extraídos. O rfeifn-ω ainda não está comercializado em Portugal. Nos países em que se encontra disponível, encontra-se indicado para a terapêutica de parvovirose canina, devido a ter sido demonstrada a diminuição da severidade do quadro clínico (Ishiwata et al., 1998). Existe sob a forma de preparação liofilizada (Virbagen Omegaω, Virbac) com três apresentações: 2,5 milhões de unidades internacionais (MUI), 5 MUI e 10 MUI. A dose recomendada pelo fabricante varia entre 0,5 a 5 MUI/kg por via SC. Estudos efectuados em gatos com rfeifn-ω, administrado por via subcutânea, sugerem que esta via de administração pode ser eficaz, tendo sido observado um aumento do tempo de vida em ga- A lactoferrina é uma glicoproteína de aproximadamente 77kDa, pertencente ao grupo das siderofilinas. Está presente em diversas secreções orgânicas, como o leite, as lágrimas, a saliva e o suco pancreático, sendo armazenada em grânulos específicos dos polimorfonucleares neutrófilos e libertada após activação destes (Caccavo et al., 2002). A lactoferrina tem uma reconhecida acção antibacteriana, devida à sua capacidade de se ligar ao ferro livre presente no organismo, tornando-o indisponível para utilização pelas bactérias (Sato et al., 1996). Possui também actividade imunorreguladora e moduladora da hematopoiese, além de actividade anti-vírica (Swart et al., 1998). Descobertas recentes indicam que a lactoferrina contraria a inflamação, por diminuição dos níveis de IL-1, IL-2, TNF-α e IL-6, citoquinas próinflamatórias relevantes em processos crónicos (Caccavo et al., 2002; Togawa et al., 2002). Induz também a libertação de citoquinas anti-inflamatórias como IL-4 e IL-10 (Togawa et al., 2002), tendo ainda a capacidade de neutralizar os efeitos tóxicos dos lipopolissacáridos das bactérias Gram negativas (Caccavo et al., 2002). Os dados existentes até ao momento sobre a utilização clínica da lactoferrina levam a que alguns autores aconselhem este composto como adjuvante no tratamento do GECF (Addie et al., 2003). Em gatos com GECF, a aplicação tópica de lactoferrina na mucosa oral, durante 14 dias, revelou-se benéfica ao fim de 7 dias de tratamento, tendo sido demonstrado um aumento da actividade fagocítica dos neutrófilos circulantes (Sato et al., 1996). A sua utilização requer contudo algumas precauções devido ao facto de a lactoferrina poder ser saturada aquando da administração concomitante de ferro (Rochette, 2001). A lactoferrina deve ser administrada topicamente uma vez por dia na dose de 40 mg/kg. Não se encontrando estabelecida a duração do tratamento, e sendo a sua administração local bem tolerada, as autoras continuam a terapêutica durante toda a vida do animal. Na sua experiência, só é viável iniciar a administração quando o animal tem menor intensidade de dor, caso contrário não é possível a sua aplicação tópica. Fármacos imunodepressores Corticosteroides A utilização dos corticosteroides na terapêutica de GECF é controversa. Por um lado, diversos vírus podem estar envolvidos na etiologia do processo, pelo que a administração pode favorecer a progressão da 131
6 Niza, M.M.R.E., et al. RPCV (2004) 99 (551) Figura 4 - Gengivo-estomatite ulceroproliferativa exuberante no arco glossopalatino e faringe. infecção. Por outro lado, existe uma forte componente imunomediada na GECF, pelo que a administração destes fármacos diminui a exuberância da resposta do hospedeiro face ao estímulo antigénico. Pelas razões expostas, a utilização de corticosteroides deve ser bem ponderada. Não devem ser considerados medicamentos de primeira linha, devido ao facto de a sua eficácia terapêutica ir diminuindo ao longo do tempo, em tratamentos repetidos (White et al., 1992). Os resultados de um estudo realizado por Harley et al. (1999) sugerem que a administração de corticosteroides não altera o padrão de citoquinas expresso na mucosa oral de animais com GECF, o que pode justificar a deficiente resposta terapêutica. No entanto, outros autores recomendam a administração de prednisolona na dose de 2-4 mg/kg, inicialmente duas vezes por dia até à regressão dos sintomas, seguida da diminuição progressiva da dose (Wiggs e Lobprise, 1997; Jonhston, 1998; Chaudieu e Blaizot, 1999). As autoras recorrem ao uso de corticosteroides por curtos períodos de tempo, 8 a 10 dias, nos casos menos severos de GECF, associado a antibioterapia e a tratamento periodontal adequado. Ciclosporina A ciclosporina é um fármaco imunossupressor que tem sido amplamente usado em gatos submetidos a transplante renal. Tem uma acção reversível sobre os linfócitos T imunocompetentes, sobretudo linfócitos Th, influenciando a produção de determinadas citoquinas, como IL-2 e factor de crescimento dos linfócitos. No entanto, não intervém na eritropoiese nem actua sobre células fagocitárias (Robson, 2003b). Em humanos, a ciclosporina é absorvida através das mucosas e o tratamento tópico com 5mL contendo 100mg/mL desta molécula demonstrou ser eficaz em determinadas doenças imunomediadas da mucosa oral como o penfigus cicatricial (Azana et al., 1993). O maior problema da sua utilização em gatos reside no facto da apresentação comercial disponível no mercado português (Sandimum Neoral, Novartis) ter uma absorção intestinal variável, resultando por vezes numa baixa biodisponibilidade. Por esta razão é necessária uma monitorização permanente do paciente, porque os riscos de toxicidade aumentam com a utilização prolongada e com o aumento dos níveis sanguíneos da ciclosporina. Em alguns países já se encontram disponíveis novas apresentações comerciais que asseguram uma absorção gastrointestinal mais constante (Atopica, Novartis). Os efeitos adversos verificados em gatos ocorrem sobretudo quando a administração diária ultrapassa os 15 mg/kg e incluem o aparecimento de diarreia e outros sintomas gastro-intestinais, alterações linfo e mieloproliferativas, infecções secundárias devidas a imunossupressão e ainda alterações hepática e renal (Robson, 2003a). Em gatos, a dose recomendada varia de 0,5-10 mg/ kg cada 12 horas, via oral (Boothe, 2000; Gregory, 2000). A terapêutica deve ser iniciada com uma dose de 0,5 a 2,5 mg/kg, duas vezes ao dia, de forma a obter níveis séricos de 250 a 500 ng/ml. Os níveis plasmáticos devem ser monitorizados 48 horas após o início da terapêutica e depois a intervalos regulares (Beatty e Barrs, 2003). Outros fármacos As referências à administração de talidomida para tratamento da GECF são muito escassas. A sua utilização baseia-se no facto deste composto ser utilizado em medicina humana em afecções onde predomina uma resposta inflamatória do tipo Th2 como acontece na SIDA ou em determinados tumores. Em gatos, está descrita a sua utilização num caso clínico de GECF associada a calicivírus, na dose de 50mg cada 24 horas, em combinação com lactoferrina tópica e alteração da dieta, com bons resultados após 11 meses de tratamento (Addie et al., 2003). O polaprezinco é um complexo carnosina-zinco que tem sido usado com sucesso no tratamento de estomatites severas em pacientes humanos, nomeadamente estomatites resultantes de quimioterapia, radiações, etc. Em pacientes humanos e modelos animais tem sido demonstrado o seu efeito anti-oxidante e cicatrizante, encontrando-se a sua utilização clínica em fase ainda experimental (Katayama et al., 2000; Masayuki et al., 2002). Os sais de ouro são utilizados em medicina humana 132
7 Niza, M.M.R.E., et al. RPCV (2004) 99 (551) para o tratamento de certos tipos de tumor. Alguns autores defendem a sua aplicação terapêutica em casos de GECF em que a administração de corticosteroides está contra-indicada, por aqueles serem bem tolerados e proporcionarem longos períodos de remissão (Diehl e Rosychuk, 1993). Contudo, estudos posteriores indicam que a eficácia da terapêutica com sais de ouro não é superior à da utilização de corticosteroides, antibióticos e higiene oral (Harley, 2003). A dose recomendada é de 1-2 mg, uma vez por semana durante oito semanas, seguida de administração mensal até remissão dos sintomas (Wiggs e Lobprise, 1997). O levamisol utiliza-se como imunoestimulante, tendo sido usado para normalizar a população e a actividade dos linfócitos. A dose de 25 mg por via oral cada dois dias, durante três tratamentos foi utilizado em alguns casos (Rochette, 2001), não tendo no entanto a sua administração mostrado resultados consistentes (Harley, 2003). As vertentes terapêuticas das citoquinas estão a ser intensamente investigadas com o objectivo de desenvolver novas abordagens de tratamento de afecções virais, neoplásicas e autoimunes. Para além das citoquinas pro-inflamatórias, estes estudos têm incidido sobre IL-18 e IL-12, que induzem a produção de IFNγ, estimulam a proliferação de linfócitos T citotóxicos e de células NK (Ishizaka et al., 2001). No entanto, em medicina veterinária ainda não existem dados sobre a utilização terapêutica destes mediadores. Terapêutica dietética Vários autores referem nas suas publicações a alteração do maneio dietético em simultâneo com os vários protocolos terapêuticos utilizados. O recurso a dietas hipoalergénicas, caseiras ou comerciais (Prescription Diet a/d, Hill s) poderá contribuir para a melhoria do paciente (Theyse et al., 2003). A suplementação da dieta com antioxidantes, como vitaminas A, C e E, e minerais como o zinco, é frequentemente referida como apresentando um efeito benéfico sobre a integridade da mucosa oral e possuindo actividade imunoestimulante (Wiggs e Lobprise, 1997), podendo assim contribuir para uma evolução mais favorável da GECF. Bibliografia Addie, D.D., Radford, A., Yam, P.S. e Taylor, D.J. (2003). Cessation of feline calicivirus shedding coincident with resolution of chronic gingivostomatitis in a cat. Journal of Small Animal Practice, 44 (4), Anderson, J.G.E. e Pedersen, N. (1996). Characterisation of T-lymphocytes subsets in cats with chronic lymphocytic plasmacytic gingivitis stomatitis complex. Livro de Resumos 10 th Annual Veterinary Dental Forum, Houston, Azana, J.M., de Misa, R. F., Boixeda, J. P. e Ledo, A. (1993). Topical cyclosporine for cicatricial pemphigoid. Journal of the American Academy of Dermatology, 28 (1), Bauvois, B. e Wietzerbein, J. (2002). Interferone: biologische aktivitäten und klinische anwendungen. Interferone in der Veterinärmedizin (Virbac), Beatty, J. e Barrs, V. (2003). Acute toxoplasmosis in two cats on cyclosporin therapy. Australian Veterinary Journal, 81(6), 339. Boothe, D. (2000). Small Animal Formulary, 5ª edição, AAHA Press (Lakewood), Buckley, R.H. (1999). Primary immunodeficiency diseases. In: Fundamental Immunology, 4 a edição. Editor: W. E. Paul, Lippincott-Raven (Filadélfia), Caccavo, D., Pellegrino, N.M., Altamura, M., Rigon, A., Amati, L., Amoroso, A. e Jirillo, E. (2002). Antimicrobial and immunoregulatory functions of lactoferrin and its potential therapeutic application. Journal of Endotoxin Research, 8(6), Camy, G. (2003a). A clinical case of chronic feline gingivitesstomatitis. Le Point Veterinaire, Junho, 236 (Número especial). Camy, G. (2003b). Management of a cat with chronic gingivitis stomatitis. Le Point Veterinaire, Junho, 236 (Número especial). Chaudieu, G. e Blaizot, A. (1999). Gingivites et stomatites félines. Pratique Médicale et Chirurgicale de l Animal de Compagnie, 34, Clarke, D.E. (2001). Clinical and microbiological effects of oral zinc ascorbate gel in cats. Journal of Veterinary Dentistry, 18(4), Cognet, R., Mesnard, E., Stambouli, F. e Gauthier, O. (2001). Chronic gingivo-stomatitis and viral infections in a population of 54 cats. Livro de Resumos 10 th EVD Congress, Berlin, Germany. Crystal, M.A. (1998). Gingivitis/stomatitis/faringitis. In: El Paciente Felino: Bases del diagnóstico y tratamiento. Editores: G.D. Norsworthy, M.A. Crystal, S.R. Foochee e L.P. Tilley. Inter-Médica Editorial (Buenos Aires), Cummins, J.M., Beilharz, M.W. e Krakowka, S. (1999). Oral use of interferon. Journal of Interferon and Cytokine Research, 19 (8), DeBowes, L.J. (1997). Evaluation and management of oral disease. In: Consultations in Feline Internal Medicine 3. Editor: J.R. August. W.B. Saunders Company (Filadélfia), Diehl, K. e Rosychuk, R.A.W. (1993). Feline gingivitis-stomatitis-pharyngitis. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 23 (1), Eid, P., Meritet J.F., Maury, C., Lasfar, A., Weill, D. e Tovey, M.G. (1999). Oromucosal interferon therapy: pharmacokinetics and pharmacodynamics. Journal of Interferon and Cytokine Research, 19 (2), Fleischmann, W.R. Jr. e Koren, S. (1999). Systemic effects of orally administered interferons and Interleukin-2. Journal of Interferon and Cytokine Research, 19 (8), Fulton, R.W. e Burge, L.J. (1985). Susceptibility of feline herpesvirus 1 and a feline calicivirus to feline interferon and recombinant human leukocyte interferons. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 28 (5), Gaskell, R.M. e Gruffydd-Jones, T.J. (1977). Intractable feline stomatitis. Veterinary Annual, 17, Gioso, M.A. (2003). Complexo Gengivite-estomatite. In: Odontologia para o clínico de pequenos animais, 5ª Edição. Ieditora (São Paulo), Godfrey, D.R. (2000). Chronic gingivitis/stomatitis/pharyngitis in the cat. Waltham Focus, 10 (4), 2-3. Gregory, C.R. (2000). Immunosuppressive agents. In: Current Veterinary Therapy XIII Small Animal Practice. Editor: J.D. Bonagura. W.B.Saunders Company (Filadélfia), Hargis, A.M. e Ginn, P.E. (1999). Feline herpesvirus 1-associa- 133
8 Niza, M.M.R.E., et al. RPCV (2004) 99 (551) ted facial and nasal dermatitis and stomatitis in domestic cat. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 29 (6), Hargis, A.M., Ginn, P.E., Mansell, J.E.K.L. e Garber, R.L. (1999). Ulcerative facial and nasal dermatitis and stomatitis in cats associated with feline herpesvirus 1. Veterinary Dermatology, 10, Harley, R. (2003). Feline Gingivostomatitis. Livro de Resumos Hill s European Symposium on Oral Care, Amsterdão, Harley, R., Helps, C.R., Harbour, D.A., Gruffydd-Jones, T.J. e Day, M.J. (1999). Cytokine mrna expression in lesions in cats with chronic gingivostomatitis. Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology, 6(4), Harley, R., Gruffydd-Jones, T.J. e Day, M.J. (2003). Salivary and serum immunoglobulin levels in cats with chronic gingivostomatitis. Veterinary Record, 152, Harvey, C.E. (1991). Oral inflammatory diseases in cats. Journal of the American Animal Hospital Association, 27, Harvey, C.E., Thornsberry, C. e Miller, B.R. (1995a). Subgingival bacteria - Comparison of culture results in dogs and cats with gingivitis. Journal of Veterinary Dentistry, 12 (4), Harvey, C.E., Thornsberry, C., Miller, B.R. e Shofer, F.S. (1995b). Antimicrobial susceptibility of subgingival bacterial flora in cats with gingivitis. Journal of Veterinary Dentistry, 12 (4), Hennet, P. (1997). Chronic gingivo-stomatitis in cats: long-term follow-up of 30 cases treated by dental extractions. Journal of Veterinary Dentistry, 14 (1), Ishiwata, K., Minagawa, T. e Kajimoto, T. (1998). Clinical effects of the recombinant feline interferon-ω on experimental parvovirus infection in Beagle dogs. Journal of Veterinary Medical Science, 60 (8), Ishizaka, T., Setoguchi, A., Masuda, K., Ohno, K. e Tsujimoto, H. (2001). Molecular cloning of feline interferon-γ-inducing factor (interleukin-18) and its expression in various tissues. Veterinary Immunology and Immunopathology, 79, Johnston, N. (1998). Acquired feline oral cavity disease. In Practice, 20 (4), Katayama, S., Nishizawa, K. e Hirano, M. (2000). Effect of polaprezinc on healing of acetic acid-induced stomatitis in hamsters. Journal of Pharmacology and Pharmaceutical Sciences, 3 (1), Knowles, J.O., Gaskell, R.M., Gaskell, C.J., Harvey, C.E. e Lutz, H. (1989). Prevalence of feline calicivirus, feline leukaemia virus and antibodies to FIV in cats with chronic stomatitis. Veterinary Record, 124, Knowles, J.O., McArdle, F., Dowson, S., Carter, S.D., Gaskell, C.J. e Gaskell, R.M. (1991). Studies on the role of feline calicivirus in chronic stomatitis in cats. Veterinary Microbiology, 27 (3-4), Lyon, K. F. (1990). An aproach to feline dentistry. Compendium Continuing Education Pract. Vet., 12 (4), Lommer, M.J. e Verstraete, F.J. (2003). Concurrent oral shedding of feline calicivirus and feline herpesvirus 1 in cats with chronic gingivostomatitis. Oral Microbiology and Immunology, 18 (2), Love, D.N., Vekselstein, R. e Collings, S. (1990). The obligate and facultatively anaerobic bacterial flora of the normal feline gingival margin. Veterinary Microbiology, 22, Mahl, P., Maynard, L., De Mari, K. e Lebreux, B. (2001). Survival of symptomatic FeLV ou FeLV or FIV positive cats treated with a recombinant feline omega interferon. Livro de resumos World Small Animal Veterinary Association Congress, Vancouver. Marretta, S.M. (1992). Feline dental problems: diagnosis and treatment. Feline Practice, 20 (5), Masayuki, F., Norohiko, K., Keita, T., Miwa, I., Masayuki, I., Toshihiko, I., Hiromi, F., Chikaaki, M. e Norio, N. (2002). Efficacy and safety of polaprezinc as a preventive drug for radiation-induced stomatitis. Nippon Acta Radiologica, 62, Mochizuki, M., Nakatani, H. e Yoshida, M., (1994). Inhibitory effects of recombinant feline interferon on the replication of feline enteropathogenic viruses in vitro. Veterinary Microbiology, 39, Mihaljevic, S.Y. (2003). [First clinical experiences with omega- Interferon in the treatment of chronic gingivitis-stomatitis-orophyringitis of cats]. Der Praktisch Tierarzt, 84(5), Murphy, F.A., Gibbs, E.P.J., Horzinek, M.C. e Studdert, M.J., (1999). Virus-cell interactions In: Veterinary Virology, 3ª Edição, Academic Press (California), Reubel, G.H., Hoffman, D.E. e Pedersen, N.C. (1992). Acute and chronic faucitis of domestic cats: A feline calicivirus-induced disease. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 22 (6), Robson, D. (2003a). Review of the pharmacokinetics, interactions and adverse reactions of cyclosporine in people, dogs and cats. The Veterinary Record, 152, Robson, D. (2003b). Review of the properties and mechanisms of action of cyclosporine with an emphasis on dermatological therapy in dogs, cats and people. The Veterinary Record, 152, Rochette, J. (2001). Treating the inflammed mouth. Livro de Resumos Congress World Small Animal Veterinary Association, Vancouver, Canada San Roman, F., Cancio, S., Pican, R., Gardoqui, M. e Rodriguez- Franco, F. (1999). Enfermidades inflamatórias da cavidade oral em pequenos animais In: Atlas de Odontologia de Pequenos Animais. Editor: F. San Roman. Manole (São Paulo), Sato, R., Inanami, O., Tanaka, Y., Takase, M. e Naito, Y. (1996). Oral administration of bovine lactoferrin for treatment of intractable stomatitis in feline immunodeficiency virus (FIV)-positive and FIV-negative cats. American Journal of Veterinary Research, 57 (10), Saunier, D. (1998). Interêt des interferons en medecine féline et canine: resultats obtenus avec un interferon omega. Livro de Resumos, Congrès CNVSPA, Nice. Swart, P.J., Kuipers, E.M., Smit, C., Van Der Strate, B.W., Harmsen, M.C. e Meijer, D.K. (1998). Lactoferrin. Antiviral activity of lactoferrin. Advances in Experimental Medicine and Biology, 443, Theyse, L.F.H., Logan, E.I. e Picavet, P. (2003). Partial extraction in cats with gingivitis-stomatitis-pharyngitis-complex Beneficial effects of a recovery food. Livro de Resumos Hill s European Symposium on Oral Care, Amesterdão, Tenorio, A.P., Franti, C.E., Madewell, B.R. e Pedersen, N.C. (1991). Chronic oral infections of cats and their relationship to persistent oral carriage of feline calici-, immunodeficiency, or leukemia viruses. Veterinary Immunology Immunopathology, 29, Togawa, J., Nagase, H., Tanaka, K., Inamori, M., Nakajima, A., Ueno, N., Saito, T. e Sekihara, H. (2002). Oral administration of lactoferrin reduces colitis in rats via modulation of the immune system and correction of cytokine imbalance. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 17 (12), Uchino, T., Kouzuki, S., Tsuruno, M., Yamané, Y., Uno, T., Kumai, H., Kobayashi, K., Kobayashi, K., Sakurai, F., Sasaki, 134
9 Niza, M.M.R.E., et al. RPCV (2004) 99 (551) T., Shimoda, K., Shimoda, T., Kawamuca, H., Tajima, T., Mochizuki, M. e Motoyoshi, S. (1992). Investigations of feline interferon and its therapeutic effects for field use. Journal of Small Animal Clinical Science, 11(6). Waters, L., Hopper, C.D., Gruffydd-Jones, T.J. e Harbour, D.A. (1993). Chronic gingivitis in a colony of cats infected with feline immunodeficiency virus and feline calicivirus. Veterinary Record, 132 (14), Weiss, R.C., Cox, N.R. e Oostrom-Ram, T. (1990). Effect of interferon or Propionibacterium acnes on the course of experimentally induced feline infectious peritonitis in specific-pathogen-free and random-source cats. American Journal of Veterinary Research, 51 (5), White, S.D., Rosychuk, R.A.W., Janik, T.A., Denerolle, P. e Schultheiss, P. (1992). Plasma cell stomatitis-pharyngitis in cats: 40 cases ( ). Journal of American Veterinary Medical Association, 200, Williams, C.A. e Aller, M.S. (1992). Gingivitis/stomatitis in cats. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 22 (6), Wiggs, R.B. e Lobprise, H.B. (1997). Domestic Feline Oral and Dental Disease. In: Veterinary Dentistry: principles and practice. Editores: R.B. Wiggs e H.B. Lobprise. Lippincott-Raven (Filadélfia, Nova York), Wonderling, R., Powell, T., Baldwin, S., Morales, T., Snyder, S., Keiser, K., Hunter, S., Best, E., Mcdermott, M.J. e Milhausen, M. (2002). Cloning expression, purification, and biological activity of five type I interferons. Veterinary Immunology and Immunopathology, 89, Wray, D., Rees, S.R., Gibson, J. e Forsyth, A. (2000). The role of allergy in oral mucosal diseases. Quarterly Journal of Medicine, 93,
10 ARTIGO DE REVISÃO O papel dos ácidos biliares na patologia e terapêutica das doenças hepáticas no cão e no gato The role of bile acids in the pathology and therapy of hepatic diseases in dog and cat Maria João Pires e Aura Colaço Departamento de Patologia e Clínicas Veterinárias, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta dos Prados, Vila Real joaomp@utad.pt Resumo: Os ácidos biliares são compostos potencialmente citotóxicos, derivados dos esteróides, sintetizados pelos hepatócitos e segregados nos canalículos biliares. Durante a colestase os ácidos biliares acumulam-se no fígado e na circulação sistémica, atingindo concentrações tóxicas. Esta acumulação é capaz de causar a necrose, a apoptose e a fibrose do hepatócito, contribuindo para a patogénese das doenças colestáticas e para o desenvolvimento de insuficiência e de cirrose hepática. Os mecanismos implicados na toxicidade dos ácidos biliares, embora não se encontrem ainda completamente esclarecidos, incluem a estimulação da peroxidação lipídica e a indução da disfunção mitocondrial. No entanto, nem todos os ácidos biliares são tóxicos, como por exemplo o ácido ursodesoxicólico (UDCA). Este é um ácido biliar hidrofílico não tóxico que apresenta múltiplas actividades hepatoprotectoras, das quais se destacam as propriedades citoprotectoras, as antiapoptóticas e as imunomodeladoras, e um efeito colerético. Em medicina humana é utilizado predominantemente no tratamento de doenças hepáticas colestáticas. Em medicina veterinária existe pouca informação sobre a utilização do UDCA, no entanto, alguns estudos realizados demonstraram também o benefício do UDCA no tratamento de algumas doenças hepáticas do cão e do gato. Palavras-chave: ácidos biliares; hepatotoxicidade; hepatoprotecção; ácido ursodesoxicólico. Summary: Bile acids are sterol-derived, potentially cytotoxic compounds synthesized and secreted by hepatic epithelial cells into the bile canaliculus. During cholestasis bile acids accumulate in the liver and systemic circulation, reaching toxic concentrations. The accumulation of cytotoxic bile acids is thought to cause hepatocyte necrosis and apoptosis contributing to the pathogenesis of the cholestatic disease process and the development of liver cirrhosis and liver failure. Mechanisms implicated in the toxicity of the bile acids include stimulation of lipid peroxidation and induction of mitochondrial dysfunction. Not all bile acids are cyotoxic. Ursodeoxycholic acid (UDCA) has multiple hepatoprotective activities. UDCA has a choleretic effect, as well as cytoprotective, antiapoptotic and immunomodulatory properties. In human patients it is widely used for treating cholestatic liver diseases. There has been only limited reports on the use of UDCA in veterinary patients with hepatobiliary disease, but it is believed to be useful as adjunctive therapy in cholestasis hepatic disorders. Key-words: bile acid; hepatotoxicity; hepatoprotection; ursodeoxycholic acid. Estrutura e metabolismo dos ácidos biliares Os ácidos biliares, componentes orgânicos mais abundantes da bílis, são aniões orgânicos sintetizados exclusivamente no fígado a partir do colesterol. Uma série de reacções enzimáticas, no interior do hepatócito, converte o colesterol, um lípido insolúvel, em ácidos biliares anfifáticos, ou seja, com duas porções na sua molécula, uma hidrofílica e outra hidrofóbica. Esta característica dos ácidos biliares é fundamental para se compreender as suas funções biológicas, os seus processos de transporte e a sua capacidade citotóxica (Okolicsanyi et al., 1986; Bove, 2000; Souidi et al., 2001). Os principais ácidos biliares sintetizados no fígado dos mamíferos são derivados hidroxilados de um núcleo comum, o ácido 5β-colanoíco (Erlinger, 1985). Os ácidos biliares primários são o ácido cólico (3α, 7α, 12α- trihidroxi- 5β-colanoíco) e o ácido quenodesoxicólico (3α, 7α-dihidroxi- 5β-colanoíco) (Kutchai, 1983; Hornbuckle e Tennant, 1997). No cólon, os ácidos biliares primários podem ser metabolizados pela flora bacteriana em ácidos biliares secundários (Zimmerman, 1979; Bunch, 1998). Uma alteração comum é a 7α-deshidroxilação do ácido quenodesoxicólico e do cólico que resulta na formação de ácido litocólico (3αmonohidroxi- 5β-colanoíco) e desoxicólico (3α, 12αdihidroxi- 5β-colanoíco), respectivamente (Erlinger, 1985; Tennant, 1997; Rothuizen, 1999). Os ácidos biliares terciários, o ursodesoxicólico e o sulfolitocólico, produzem-se no intestino ou no fígado a partir dos secundários (Carey e Cahalane, 1988; Fernández e Pérez, 1998). O grau de hidroxilação é um factor fundamental da hidrofobicidade relativa dos ácidos biliares. De uma forma geral, quanto maior o grau de hidroxilação, menor é a hidrofobicidade dos ácidos biliares e, portanto, menor será a sua toxicidade (Leveille-Webster, 1997). Na maioria dos animais, os ácidos biliares primários 137
11 Pires, M.J. e Colaço, A. RPCV (2004) 99 (551) são conjugados no fígado com a taurina e/ou com a glicina (Tennant, 1997; Meyer e Harvey, 1998). Nos gatos, a conjugação ocorre exclusivamente com a taurina. Os cães fazem a conjugação predominantemente com a taurina, mas são capazes, quando necessário, de a trocar pela glicina (Center, 1996). Apesar dos ácidos biliares segregados serem conjugados, a conjugação não é essencial para a sua secreção biliar (Anwer e Meyer, 1995). A conjugação dos ácidos biliares aumenta a sua solubilidade aquosa, diminuindo a sua absorção passiva no tracto biliar e no intestino delgado (Rothuizen, 1999; Leveille-Webster, 2000). Este facto promove a manutenção de altas concentrações intraluminais de ácidos biliares na árvore biliar e no intestino, o que facilita o seu papel na estimulação do fluxo biliar e na promoção da absorção de gorduras no intestino. Os ácidos biliares podem também ser esterificados com o sulfato e o ácido glucurónico e, embora a sulfatação e a glucuronidação sejam vias minoritárias em animais saudáveis, ganham importância em situações como a colestase. Pelo facto de aumentarem ainda mais a solubilidade dos ácidos biliares, estas modificações promovem a sua excreção biliar e a diminuição da sua reabsorção intestinal (Center, 1996). Circulação enterohepática dos ácidos biliares Os ácidos biliares sofrem uma eficiente circulação enterohepática, que resulta na manutenção de um conjunto estável de ácidos biliares recirculantes (Figura 1). No cão, este conjunto de ácidos biliares oscila entre 1,1 e 1,2g e circula aproximadamente 10 vezes por dia (Hornbuckle e Tennant, 1997). Apenas 5 a 10% dos ácidos biliares circulantes escapam à reabsorção intestinal e são perdidos nas fezes, perda que é compensada pela síntese hepática (0,3-0,7g/dia) (Anwer e Meyer, 1995; Meyer e Harvey, 1998). No jejum, os ácidos biliares são armazenados na vesícula biliar. A ingestão de uma refeição estimula a libertação de colecistoquinina pelas células endócrinas da mucosa do intestino, resultando na contracção da vesícula biliar e na libertação dos ácidos biliares para o duodeno (Hofmann, 1999; Leveille-Webster, 2000). Neste, as moléculas de ácidos biliares anfifáticas associam-se formando micelas que solubilizam os lípidos da dieta, facilitando a absorção intestinal de gorduras. Devido à relativa natureza hidrofílica dos ácidos biliares conjugados, eles sofrem uma reabsorção intestinal passiva mínima, que ocorre especialmente no jejuno (Zimmerman, 1979; Leveille-Webster, 1997). A sua reabsorção é predominantemente mediada por transportadores, os mais importantes dos quais estão presentes nos enterócitos do íleo distal, que consistem num transportador apical dos ácidos biliares dependente do sódio (ABST) e num transportador basolateral (Bahar e Stolz, 1999; Kramer et al., 1999; Meier e Stieger, 2002). A reabsorção passiva a partir do cólon envolve apenas os ácidos biliares não conjugados que se formaram pela desconjugação bacteriana dos ácidos biliares conjugados (Zimmerman, 1979; Hofmann, 1999). Cerca de 95% dos ácidos biliares excretados são reabsorvidos no tracto intestinal (Rothuizen, 1999). Vesícula Biliar AB Duodeno FÍGADO Secreção Canalicular AB Jejuno Captação Hepática Transporte Passivo Veia Porta Transporte Activo Íleo AB Excreção Fecal Figura 1 Circulação enterohepática dos ácidos biliares. AB = ácidos biliares. Após a sua reabsorção para a circulação portal, eles são transportados até ao fígado e eficientemente extraídos do sangue dos sinusóides (75 a 90%) pelos hepatócitos da zona periportal (Meyer e Harvey, 1998). Na membrana sinusoidal do hepatócito, são activamente transportados para o citoplasma por dois transportadores de membrana, um transportador dependente do sódio, o cotranportador Na+/taurocolato (NTCP no Homem; Ntcp no rato), e um transportador independente do sódio pertencente a uma família de transportadores denominada de polipéptidos transportadores de aniões orgânicos (OATP no Homem, Oatp1 no rato) (Figura 2) (Kullak-Ublick et al., 1994; Hagenbuch e Meier, 1996; Kullak-Ublick e Meier, 2000; Elferink e Groen, 2002). Os ácidos biliares movem-se através do citoplasma até à membrana canalicular ou apical do hepatócito, ligados a proteínas ou via vesículas intracitoplasmáticas, sendo depois novamente excretados na bílis (Suchy et al., 1983; Nathanson e Boyer, 1991; Esteller, 1996). A secreção canalicular de ácidos biliares é mediada por dois sistemas de transporte dependentes do ATP. Um para os ácidos biliares monovalentes, um homologo das glicoproteínas-p, originalmente referido como sister of P-glicoprotein (SPGP) e actualmente denominado de bile salt export pump ou Bsep no rato e BSEP nos humanos (Meijer et al., 1999; Kullak- Ublick et al., 2000; Meier e Stieger, 2002). O outro para os ácidos biliares divalentes, o mrp2 no rato e o MRP2 no Homem, também denominado de transportador canalicular multiespecífico de aniões orgânicos (cmoat) (Figura 2) (Gartung e Matern, 1998; Trauner et al., 1999; Kamisako et al., 1999). 138
12 Pires, M.J. e Colaço, A. RPCV (2004) 99 (551) Na + Ntcp Oatps Membrana sinusoidal K + mrp2 AB Na + AB AB HEPATÓCITO Bsep Figura 2 Principais sistemas de transporte envolvidos na captação sinusoidal e na secreção canalicular dos ácidos biliares. AB = ácidos biliares; Bsep = transportador canalicular de ácidos biliares; mrp 2 = transportador canalicular de aniões orgânicos; Ntcp = cotransportador Na + /taurocolato; Oatps = polipéptidos transportadores de aniões orgânicos. A biossíntese de ácidos biliares está sujeita a uma retroacção negativa, na qual o retorno dos ácidos biliares ao fígado suprime a actividade do colesterol 7α-hidroxilase e da hidroxi-metil-glutaril-coenzima A reductase. Assim, os factores que influenciam a actividade destas enzimas regulam a biossíntese de ácidos biliares (Burwen et al., 1992; Bahar e Stolz, 1999). O tipo de ácidos biliares presentes na bílis varia entre as diferentes espécies animais. Nos humanos, os ácidos biliares mais abundantes são o ácido cólico (35%) e quenodesoxicólico (35%), com menor quantidade de ácido desoxicólico (24%) e traços de litocólico e ursodesoxicólico (Fernández e Pérez, 1998). No gato, segundo Leveille-Webster (1997) os ácidos biliares predominantes são o ácido cólico (90%) e desoxicólico (7,8%) com pequenas quantidades de ácido quenodesoxicólico (2,6%). No cão, o ácido biliar mais abundante é o ácido cólico (Meyer e Harvey, 1998). Hepatotoxicidade dos ácidos biliares A citotoxicidade dos ácidos biliares é fortemente afectada pela sua estrutura: quanto maior é a hidrofobicidade, maior é a citotoxicidade. A hidrofobicidade e, portanto, a hepatoxicidade dos ácidos biliares diminuem na seguinte ordem: litocólico > desoxicólico > quenodesoxicólico > cólico. A conjugação diminui a hepatoxicidade, sendo os conjugados de taurina menos hepatotóxicos do que os conjugados de glicina (Queneau e Montet, 1994; Anwer e Meyer, 1995). As moléculas de ácidos biliares com um grau de hidrofobicidade semelhante podem mostrar diferentes propriedades citotoxicas e citoprotectoras. De facto, um estudo recente realizado por Carubbi et al. (2002) sugere que as propriedades hidrofílicas e/ou a concentração micelar crítica dos ácidos biliares, embora sejam factores determinantes, não são os únicos responsáveis pelos efeitos biológicos dos diferentes ácidos biliares nos hepatócitos. Como a retenção hepática e sérica de ácidos biliares acompanha a maioria das alterações hepatobiliares, foi proposto que os ácidos biliares desempenhariam um papel importante na progressão de doenças hepáticas crónicas. Em doentes humanos com colestase, a acumulação de ácidos biliares no fígado e nos tecidos AB Membrana canalicular periféricos pode atingir concentrações tóxicas. Este aumento de ácidos biliares no fígado promove a apoptose, a necrose, a fibrose e, finalmente, a cirrose biliar (Angulo, 2002). Os mecanismos exactos responsáveis pela acção tóxica dos ácidos biliares não estão ainda completamente esclarecidos. No entanto, vários estudos experimentais demonstraram a hepatotoxicidade de alguns ácidos biliares (Schmucker et al., 1990; Heuman et al., 1991). Alguns dos mecanismos postulados incluem a alteração da homeostasia intracelular do cálcio, a peroxidação lipídica, a disfunção mitocondrial, a desgranulação dos mastócitos, a interferência com a organização do citoesqueleto, a necrose e a apoptose (Anwer e Meyer, 1995; Jaeschke et al., 2002). Apesar de desempenharem um papel fundamental na formação e no fluxo de bílis, os ácidos biliares podem produzir colestase. Alguns estudos realizados colocam a possibilidade de os ácidos biliares poderem produzir colestase aguda, em parte, pela alteração da homeostasia intracelular de cálcio. Anwer et al. (1988) demonstraram pela primeira vez, que os ácidos biliares aumentavam os níveis intracelulares de cálcio e que este aumento precedia a lesão celular. Estes resultados confirmaram que os efeitos hepatotóxicos dos ácidos biliares estão, pelo menos em parte, relacionados com a sua capacidade para aumentar os níveis intracelulares de cálcio. Contudo, outros factores devem estar implicados, porque o ácido ursodesoxicólico também aumenta as concentrações intracelulares de cálcio, mas não produz colestase. Os ácidos biliares são detergentes activos que podem lesar directamente os hepatócitos. A baixas concentrações, os ácidos biliares alteram a composição das membranas biológicas (Leveille-Webster, 1997). Segundo Krahenbuhl et al. (1994) as mitocôndrias dos hepatócitos parecem representar um alvo importante para a acção tóxica dos ácidos biliares. Os mesmos autores demonstraram que os ácidos biliares hidrofóbicos alteram a função do complexo enzimático da cadeia de transporte de electrões em mitocôndrias isoladas do fígado de rato, e portanto, a toxicidade mitocondrial destes ácidos biliares pode ser relevante no desenvolvimento de insuficiência hepática na colestase. Sokol et al. (1993) demonstraram que existe uma associação entre a toxicidade dos ácidos biliares hidrofóbicos e a formação de radicais livres em hepatócitos isolados de rato. Logo, os antioxidantes podem reduzir a lesão hepática provocada por níveis baixos de ácidos biliares, através da prevenção da formação de radicais livres de oxigénio (Yerushalmi et al., 2001). Os ácidos biliares também são pró-inflamatórios. Eles aumentam a libertação de radicais livres de oxigénio dos neutrófilos e podem provocar a desgranulação dos mastócitos. Como são capazes de inibir a polimerização da actina, os ácidos biliares provocam alterações no citoesqueleto dos hepatócitos, contribuindo para a disfunção hepática. A alteração dos microfilamentos pericanaliculares, com consequente dilatação do es- 139
13 Pires, M.J. e Colaço, A. RPCV (2004) 99 (551) paço canalicular biliar entre hepatócitos adjacentes, conduz ao desenvolvimento de colestase (Leveille-Webster, 1997). A necrose e a apoptose intervêm na morte celular induzida pelos ácidos biliares. Benz et al. (1998) demonstraram que na colestase grave, as lesões produzidas pelos ácidos biliares se deviam principalmente à necrose, enquanto que, numa colestase moderadamente grave, a apoptose representava o mecanismo predominante de toxicidade dos ácidos biliares. Outro estudo, realizado por Rodrigues et al. (1998) demonstrou que os ácidos biliares hidrofóbicos in vivo provocam directamente a apoptose no tecido hepático. Os hepatócitos isolados de rato sofrem apoptose quando são incubados com ácidos biliares tóxicos a concentrações micromolares baixas, que são tipicamente observadas durante a colestase. Assim, o tipo de lesão hepática durante a colestase pode variar, dependendo da concentração de ácidos biliares tóxicos acumulados no hepatócito, ou seja, a apoptose pode ser o primeiro tipo de morte celular com concentrações baixas, enquanto que a necrose ocorre principalmente com concentrações altas (Rodrigues e Steer, 2000). Estudos recentes, realizados por Fiorucci et al. (2001) e Gumpricht et al. (2002) têm apontado para um possível papel protector do óxido nítrico contra a apoptose produzida pelos ácidos biliares. Parece, assim, que os ácidos biliares podem afectar uma grande variedade de processos celulares, e que alguns desses efeitos podem levar ao desenvolvimento de patologias secundárias no decurso de doenças hepáticas. Hepatoprotecção dos ácidos biliares Contudo, nem todos os ácidos biliares são tóxicos e existem diferenças entre espécies. Por exemplo, o ácido ursodesoxicólico (UDCA), um ácido dihidroxilado, não é tóxico quando é administrado a humanos, a ratos, a cães (Center, 1993) e a gatos (Nicholson et al., 1996). O mecanismo de acção do UDCA tem sido objecto de investigação intensa, contudo é um tema ainda controverso. No entanto, a sua compreensão é essencial para a utilização racional deste ácido biliar nas doenças hepatobiliares. Alguns mecanismos de acção (Figura 3), através dos quais o UDCA pode exercer os seus efeitos terapêuticos, têm sido mencionados por vários autores (Reichen, 1993; Queneau e Montet, 1994; Beuers et al., 1998; Trauner e Graziadei, 1999; Lazaridis et al., 2001; Kumar e Tandor, 2001; Angulo, 2002). O mecanismo de acção do UDCA pode variar com a fisiopatologia da doença hepática subjacente (Angulo, 2002). Substituição dos ácidos biliares hidrofóbicos O UDCA é um ácido biliar não hepatotóxico e relativamente hidrofílico. A sua administração oral em humanos resulta num enriquecimento da bílis com conjugados de UDCA. Substituindo os ácidos biliares hepatotóxicos e hidrofóbicos por ácidos biliares hidrofílicos, a acção prejudicial dos primeiros deverá ser diminuida. O UDCA pode também actuar directamente no lúmen intestinal, competindo pelo transporte no íleo de ácidos biliares secundários tóxicos. Deste modo, os ácidos biliares retidos nos hepatócitos são menos lesivos (Hofmann, 1999; Kumar e Tandon, 2001; Angulo, 2002). Figura 3 Mecanismos de acção do UDCA. Substituição dos Ácidos Biliares Hidrofóbicos Actividade Imunomodeladora Efeito citoprotector MECANISMOS DE ACÇÃO Efeito Citoprotector Efeito Colerético O UDCA parece ser capaz de regular o transporte canalicular, diminuindo a quantidade de ácidos biliares no hepatócito. Também pode competir com os transportadores intracelulares que promovem a captação dos ácidos biliares retidos para o interior dos organitos (Hofmann, 1999; Kumar e Tandon, 2001). Este ácido biliar reduz a subsequente necrose ou apoptose, como tem sido demonstrado por vários autores: in vitro, o UDCA diminui a acção tóxica dos ácidos biliares em culturas de hepatócitos primários humanos (Galle et al., 1990); em ratos infundidos com ácidos biliares hidrofóbicos, a infusão simultânea de UDCA protege-os contra o desenvolvimento de colestase e necrose hepática (Heuman et al., 1991). O UDCA, também protege, parcialmente, as membranas das mitocôndrias isoladas de hepatócitos de rato contra a lesão induzida por ácidos biliares hidrofóbicos (Leveille-Webster, 1997). Rodrigues et al. (1998) verificaram que o UDCA parece inibir a apoptose, prevenindo directamente as alterações na membrana mitocondrial. Efeito colerético O UDCA não conjugado promove um fluxo biliar rico em bicarbonato. Esta hipercolerese é semelhante ao resultado de um shunt colehepático. Este ácido biliar pode também aumentar a secreção biliar de ácidos biliares endógenos e de outros compostos potencialmente tóxicos, retidos durante a colestase como o cobre, os leucotrienos, o colesterol e a bilirrubina (Scharschmidt e Lake, 1989; Leveille-Webster, 1997; Lazaridis et al., 2001). 140
14 Pires, M.J. e Colaço, A. RPCV (2004) 99 (551) Actividade imunomodeladora O UDCA parece ter propriedades imunomoduladoras; reduz a expressão hepatocelular e biliar do complexo maior de histocompatibilidade (classe I e classe II) através da redução da influência estimulatória dos ácidos bilires hidrofóbicos (Trauner e Graziadei, 1999; Kumar e Tandor, 2001); diminui a expressão de antigénios humanos leucocitários (HLA) nas células hepatobiliares em desordens colestáticas, reduzindo as lesões citotóxicas mediadas pelas células T, que pode ser o principal mecanismo envolvido na progressão de doenças hepáticas crónicas (Leveille-Webster, 1997; Kumar e Tandon, 2001). Além disso, o UDCA inibe a produção anormal de imunoglobulinas e de citocinas a partir das células mononucleares do sangue periférico. Clinicamente, o tratamento com este ácido biliar diminui os níveis séricos de imunoglobulinas M, de anticorpos antimitocondriais e de anticorpos contra a desidrogenase piruvato (Trauner e Graziadei, 1999; Angulo, 2002). Em doentes humanos com cirrose biliar primária, o UDCA também reduz o número, a desgranulação e a infiltração de eosinófilos nos espaços porta (Lazaridis et al., 2001; Kumar e Tandor, 2001). Fiorucci et al. (2001) recentemente demonstraram que o NCX-1000, um tipo de óxido nitríco derivado do UDCA, tem um efeito protector contra a lesão hepática mediada pelas células T auxiliares. Como o UDCA não previne a fibrose e parece ter alguns efeitos imunomodeladores, o seu efeito terapêutico na cirrose biliar primária pode ser melhorado pela combinação terapêutica com agentes imunossupressores, tais como a prednisona, a ciclosporina e a azatioprina (Anwer e Meyer, 1995; Hofmann, 1999) ou com agentes fibróticos, como a colchicina (Poupon et al., 1996). Aplicação terapêutica dos ácidos biliares O UDCA é utilizado há já algumas décadas em medicina humana. Durante muitos anos os Japoneses apreciaram os poderes curativos da bílis dos ursos Negros Chineses. O principal ácido biliar destes ursos é o ursodesoxicólico (UDCA) que é formado pela 7-β-epimerização do ácido quenodesoxicólico pelas bactérias intestinais. Está também presente em pequenas quantidades na bílis de muitos mamíferos (Beuers et al., 1998). O UDCA tem sido sintetizado para comercialização, principalmente no Japão, como agente hepatoprotector desde Na década de 70, descobriu-se que o UDCA era capaz de dissolver os cálculos biliares e subsequentes testes clínicos levaram à sua comercialização com este objectivo. Nos anos 80 começou a ser administrado em doentes com cirrose biliar primária, provocando uma notável melhoria dos testes de função hepática e prolongando o tempo entre o diagnóstico e a transplantação hepática (Hofmann, 1999). Desde então, numerosos trabalhos têm documentado o benefício da utilização do UDCA no tratamento de uma variedade de doenças hepatobiliares crónicas em humanos, particularmente da cirrose biliar primária (Lindblad et al., 1998; Angulo et al., 1999a; Angulo et al., 1999b; Invernizzi et al., 1999; Milkiewicz et al., 1999; Nousia-Arvanitakis et al., 2001). Existe pouca informação sobre o uso do UDCA em animais com doença hepatobiliar. Meyer et al. (1997) administraram UDCA na dose de 15 mg/kg uma vez ao dia, num cão com hepatite crónica e colestase grave. Estes autores observaram um aumento da concentração sérica de UDCA e uma diminuição da concentração sérica de ácidos biliares hidrofóbicos endógenos, uma melhoria clínica e uma redução da actividade sérica das enzimas hepáticas, dos níveis séricos de albumina e de bilirrubina. Estes resultados são semelhantes aos observados em doentes humanos com hepatite crónica. Assim, o UDCA pode ter um papel importante na manutenção de hepatites crónicas activas tanto em cães com em gatos. No entanto, a sua administração está contra-indicada quando existe suspeita de obstrução biliar (Johnson, 2000). A segurança do UDCA foi investigada em gatos. Day et al. (1994) não observaram reacções adversas quando o UDCA foi administrado a cinco gatos saudáveis, na dose de 10 mg/kg/dia durante três meses. Num outro trabalho realizado por Nicholson et al. (1996), com quatro gatos saudáveis, a administração diária de UDCA na dose de 15 mg/kg, durante oito semanas, não foi associada com o aparecimento de reacções adversas, alterações nos testes de função hepática ou alterações nos resultados da biópsia hepática. Conclusão A maior parte da informação disponível sobre a toxicidade e interesse terapêutico dos ácidos biliares é baseada em estudos realizados com pessoas, e com animais em condições de laboratório. As vantagens da utilização do UDCA no tratamento de doenças hepatobiliares permanecem ainda mal esclarecidas. Alguns autores referem que quando utilizam este ácido biliar, tanto em cães como em gatos com doenças hepáticas colestáticas crónicas, têm a impressão clínica de que o seu efeito é benéfico, no entanto, realçam a necessidade de realizar mais estudos para investigar este assunto, e comprovar, o seu potencial terapêutico. A dose utilizada em cães e gatos, com doenças hepáticas crónicas, varia entre 10 e 15 mg/kg por dia, e devido às suas fortes propriedades coleréticas, nunca deve ser administrado quando se suspeita de uma possível obstrução dos ductos biliares extrahepáticos. 141
15 Pires, M.J. e Colaço, A. RPCV (2004) 99 (551) Bibliografia Angulo, P., Batts, K., Therneau, T., Jorgensen, R., Dickson, E., Lindor, K. (1999a). Long-Term Ursodeoxycholic Acid Delays Histological Progression in Primary Biliary Cirrhosis. Hepatology, 29 (3), Angulo, P., Dickson, E., Therneau, T., Jorgensen, R., Smith, C., Desotel, C., Lange, S., Anderson, M., Mahoney, D., Lindor, K. (1999b). Comparison of three doses of ursodeoxycholic acid in the treatment of primary biliary cirrhosis: a randomized trial. Journal of Hepatology, 30, Angulo, P. (2002). Use of Ursodeoxycholic Acid in Patients with Liver Disease. Current Gastroenterology Reports, 4, Anwer, M., Engelking, L., Nolan, K., Sullivan, D., Zimniak, P., Lester, R. (1988). Hepatotoxic Bile Acids Increase Cytosolic Ca ++ Activity of Isolated Rat Hepatocytes. Hepatology, 8 (4), Anwer, M. e Meyer, J. (1995). Bile Acids in the Diagnosis, Pathology, and Therapy of Hepatobiliary Diseases. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 25 (2), Bahar, R.J. e Stolz, A. (1999). Bile acid transport. Gastroenterology clinics of North America, 28 (1), Benz, C., Angermuller, S., Tox, U., Kloters-Plachky, P., Riedel, H-D., Sauer, P., Stremmel, W., Stiehl, A. (1998). Effect of tauroursodeoxycholic acid on bile-acid-induced apoptosis and cytolysis in rat hepatocytes. Journal of Hepatology, 28, Beuers, U., Boyer, J., Paumgartner. (1998). Ursodeoxycholic Acid in Cholestasis: Potencial Mechanisms of Action and Therapeutic Applications. Hepatology, 28 (6), Bove, K.E. (2000). Liver Disease Caused by Disorders of Bile Acids Synthesis. In: Pediatric Liver: Helping Adults by Treating Children, 4 (4), Bunch, S. (1998). Hepatobiliary and Exocrine Pancreatic Disorders. Diagnostic Tests for Hepatobiliary System. In: Small Animal Internal Medicine. Editores: R. Nelson e G. Couto. Mosby, Inc. (Philadelphia), Burwen, S., Schmucker, D., Jones, A. (1992). Subcellular and Molecular Mechanisms of Bile Secretion. International Review of Citology, 135, Carey, M., Cahalane, M. (1988). Enterohepatic Circulation. In: The Liver: Biology and Pathobiology. Editores: I. Aries, W. Jakoby, H. Popper, D. Schachter, D. Shafritz. Raven. Press, Ltd. (New York), Carubbi, F., Guicciardi, M.E., Concari, M., Loria, P., Bertolotti, M., Carulli, N. (2002). Comparative cytotoxic and cytoprotective effects of taurohyodeoxycholic acid (THDCA) and tauroursodeoxycholic (TUDCA) HepG2 cell line. Biochimica et Biophysica Acta, 1580, Center, S.A. (1993). Serum Bile Acids in Companion Animal Medicine. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 23 (3), Center, S.A. (1996). Pathophysiology of Liver Disease: Normal and Abnormal Function. In: Small Animal Gastroenterology. Editores: W.G. Guilford, S.A. Center, D.R Strombeck, D.A. Williams, D.J. Meyer. W. B. Saunders (Philadelphia), Day, D.G., Meyer, D.J., Johnson, S.E., Weisbrode S.E., Thudium, D.T., Rhodes, D.C. (1994). Evaluation of total serum bile acids concentration and bile acid profiles in healthy cats after oral administration of ursodeoxycholic acid. Am. J. Vet. Res., 55 (10), (sumário). Elferink, R.O., Groen, A.K. (2002). Genetic defects in hepatobiliary transport. Biochimica et Biophysica Acta, Vol.1586, Erlinger, S. (1985). Metabolismo de los Acidos Biliares. In: Fisiologia Humana. Editores: P. Meyer. Salvat Editores, S. A. (Barcelona), Esteller, A. (1996). Formação y Secreção de bilis. In: Tratado de Hepatologia. Editores: J. Gutiérrez, A. Belmont, M. Sáenz. Schering-Plough, S.A. (Barcelona), Fernández, R., Pérez, A. (1998). Fisiopatologia de la Secreción Hepática. In: Fundamentos de Fisiopatología. Editores: A. Pérez, M. Sánchez. McGraw-Hill, Interamericana (Madrid), Fiorucci, S., Mencarelli, A., Palazzetti, B., Soldato, P., Morelli, A., Ignarro, L. (2001). An NO derivative of ursodeoxycholic acid protects against Fas-mediated liver injury by inhibiting caspase activity. PNAS, 98 (5), Galle, P., Theilemann, L., Raedsch, R., Otto, G., Stiehl, A. (1990). Ursodeoxycholate Reduces Hepatotoxicity of Bile Salts in Primary Human Hepatocytes. Hepatology, 12 (3), Gartung, C. e Matern, S. (1998). Molecular Regulation of Sinusoidal Liver Bile Acid Transporters during Cholestasis. Yale Journal of Biology and Medicine, 70, Gumpricht, E., Dahl, R., Yerushalmi, B., Devereaux, M.W., Sokol, R.J. (2002). Nitric oxide ameliorates hydrophobic bile acid-induced apoptosis in isolated rat hepatocytes by non-mitochondrial pathways, J. Biol. Chem., 277 (28), Hagenbuch, B., Meier, P. (1996). Sinusoidal (Basolateral) Bile Salt Uptake Systems of Hepatocytes. Seminars in Liver Disease, 16 (2), Heuman, D., Mills, A., McCall, J., Hylemon, P., Pandak, W., Vlahcevic, Z. (1991). Conjugates of Ursodeoxycholate Protect against Cholestasis and Hepatocellular Necrosis Caused by more Hydrophobic Bile Salts. In Vivo Studies in the Rat. Gastroenterology, 100 (1), Hofmann, A. (1999). The Continuing Importance of Bile Acids in Liver and Intestinal Disease. Arch. Intern. Med, Vol.159 (22), Hornbuckle, W., Tennant, B. (1997). Gastrointestinal Function. In: Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 5ª edição. Editores: J. Kaneko, J. Harvey, M. Bruss. Academic Press, Invernizzi, P., Setchell, K., Crosignani, A., Battezzati, P., Larghi, A., O Connell, N., Podda, M. (1999). Differences in the Metabolism and Disposition of Ursodeoxycholic Acid and of its Taurine-Conjugated Species in Patients With Primary Biliary Cirrhosis. Hepatology, 29, Jaeschke, H., Gores, G.J., Cederbaum, A.I., Hinson, J.A. (2002). Mechanisms of hepatotoxicity. Toxicological Sciences, 65, Johnson, S. (2000). Chronic Hepatic Disorders. In: Texbook of Veterinary Internal Medicine. 5ª edição. Editores: S. Ettinger, E. Feldman. W. B. Saunders Company (Philadelphia), Kamisako, T., Gabazza, E., Ishihara, T., Adachi, Y. (1999). Molecular aspects of organic compound transport across the plasma membrana of hepatocytes. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 14, KrahenbuhL, S., Talos, C., Fischer, S., Reichen, J. (1994). Toxicity of Bile Acids on the Electron Transport Chain of Isolated Rat Liver Mitochondria. Hepatology, 19 (2), Kramer, W., Stengelin, S., Baringhaus, K-H., Enhsen, A., Heuer, H., Becker, W., Corsiero, D., Girbig, F., Noll, R., Weyland, C. (1999). Substrate specificity of the ileal and the hepatic Na + /bile acid cotransporters of the rabbit I. Transport studies with membrane vesicles and cell lines expressing the cloned transporters. The Journal of Lipid Research, 40 (9), Kullak-Ublick, G., Hagenbuch, B., Steiger, B., Wolkoff, A., Meier, P. (1994). Functional Characterization of the Baso- 142
16 Pires, M.J. e Colaço, A. RPCV (2004) 99 (551) lateral Rat Liver Organic Anion Transporting Polypeptide. Hepatology, 20 (2), Kullak-Ublick, G., Meier, P. (2000). Mechanisms of Cholestasis. Pathophysiology of Liver Disease, 4 (2), Kullak-Ublick, G., Beuers, U., Paumgartner, G. (2000). Hepatobiliary Transport. Journal of Hepatolog,. 32 (suppl. 1), Kumar, D., Tandon, R.K. (2001). Use of ursodeoxycholic acid in liver diseases. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 16, Kutchai, H. (1983). The Gastrointestinal System. In: Physiology. Editores: R. Berne, Levy, MCV. Mosby Company (Toronto), Lazaridis, K.N., Gores, G.J., Lindor, K.D. (2001). Ursodeoxycholic acid mechanisms of action and clinical use in hepatobiliary disorders. Journal of Hepatology, 35, Leveille-Webster, C. (1997). Bile Acids - What s New? Seminars in Veterinary Medicine and Surgery, 12 (1), 2-9. Leveille-Webster, C. (2000). Laboratory Diagnosis of Hepatobiliary Disease. In: Texbook of Veterinary Internal Medicine, 5ª edição. Editores: Ettinger, S., Feldman, E. W. B. Saunders Company, Philadelphia: Lindblad, A., Glaumann, H., Strandvik, B. (1998). A Two-Year Prospective Study of the Effect of Ursodeoxycholic Acid on Urinary Bile Acid Excretion and Liver Morphology in Cystic Fibrosis-Associated Liver Disease. Hepatology, 27 (1), Meier, P.J. e Stieger, B. (2002). Bile Salt Transporters. Annu. Rev. Physiol, 64, Meijer, D., Smit, J., Hooiveld, G., Montfoort, J., Jansen, P., Muller, M. (1999). The Molecular Basis for Hepatobiliary Transport of Organic Cations and Organic Anions. In: Membrane Transporters as Drugs Targets. Editores: G. Amidon, W. Sadée. Kluwer Academic /Plenum Publishers (New York), Meyer, D., Thompson, M., Senior, D. (1997). Use of Ursodeoxycholic Acids in a Dog With Chronic Hepatitis: Effects on Serum Hepatic Tests and Endogenous Bile Acid Composition. Journal of Veterinary Internal Medicine, 11 (3), Meyer, D., Harvey, J. (1998). Evaluation of Hepatobiliary System and Skeletal Muscle and Lipid Disorders. In: Veterinary Laboratory Medicine. 3ªedição. Editores: D. Meyer e J. Harvey. W. B. Saunders Company (Philadelphia), Milkiewicz, P., Mills, C.O., Roma, M.G., Ahmed-Choudrury, J., Elias, E., Coleman, R. (1999). Tauroursodeoxycholate and S-Adenosyl-L-Methionine Exert an Additive Ameliorating Effect on Taurolithocholate-Induced Cholestasis: A Study in Isolated Rat Hepatocyte Couplets. Hepatology, 29 (2), Nathanson, M., Boyer, J. (1991). Mechanisms and Regulation of Biliar Secrecion. Hepatology, 14 (3), Nicholson, B.T., Center, S.A., Randolph, J.F., Rowland, P.J., Thompson, M.B., Yeager, A.E., Erb, H.N., Corbett, J., Watrous, D. (1996). Effects of oral ursodeoxycholic acid in healthy cats on clinicopathological parameters, serum bile acids and light microscopic and ultrastructural features of the liver. Res. Vte. Sci, 61 (3), Nousia-Arvanitakis, S., Fotoulaki, M., Economou, H., Xefteri, M., Galli-Tsinopoulou, A. (2001). Long-term Prospective Study of the Effect of Ursodeoxycholic Acid on Cystic Fibrosis-related Liver Disease. J. Clin Gastroenterol, 32 (4), Okolicsanyi, L., Lirussi, F., Strazzabosco, M., Jemmolo, R.M., Orlando, R., Nassuato, G., Muraca, M., Crepaldi, G. (1986). The Effect of Drugs on Bile Flow and Composion. An Overview. Drugs, 31, Poupon, R., Huet, P., Poupon, R., Bonnand, A-M., Van Nhieu, J., Zafrani, E. (1996). A Randomized trial comparing colchicine and Ursodeoxycholic Acid Combination to Ursodeoxycholic Acid in Primary Biliary Cirrhosis. Hepatology, Vol.24, Queneau, P., Montet, J. (1994). Hepatoprotection by hydrophilic bile salts. Journal of Hepatology, 21, Reichen, J. (1993). Pharmacologic Treatment of Cholestasis. Seminars in Liver Disease, 13 (3), Rodrigues, C.M.P., Fan, G., Ma, X., Kren, B. T., Steer, C. (1998). A Novel Role for Ursodeoxycholic Acid Inhibiting Apoptosis by Modulating Mitochondrial Membrane Perturbation. J. Clin. Invest, 101, Rodrigues, C., Steer, C. (2000). Mitochondrial membrane pertubations in cholestase. Journal of Hepatology, 32, Rothuizen, J. (1999). Diseases of the Liver and Biliary Tract. In: Textbook of Small Animal Medicine. Editores: J. Dunn. W. B. Saunders Company (Philadelphia), Scharschmidt, B., Lake, J. (1989). Hepatocellular Bile Acid Transport and Ursodeoxycholic Acid Hypercholeresis. Digestive Diseases and Sciences, 34 (12), 5S-15S. Schmucker, D., Ohta, M., Kanai, S., Sato, Y., Kitan, K. (1990). Hepatic Injury Induced by Bile Salts: Correlation between Biochemical and Morphological Events, Hepatology. 12 (5), Sokol, R., Devereaux, M., Khashmi, K., O brien, K. (1993). Evidence for Involvement of Oxygen Free Radicals in Bile Acid Toxicity to Isolated Rat Hepatocytes, Hepatology. 17 (5), Souidi, M., Parquet, M., Dubrac, S., Lutton, C. (2001). Les nouvelles voies de la biosynthèse des acides biliaires. Hepatology, 25, Suchy, F., Balistreri, W., Miller. J., Garfield, S. (1983). Intracellular bile acid transport in rat liver as visualized by electron microscope autoradiography using a bile acid analogue. Am. J. Physiol, 245, G681-G689. Tennant, B. (1997). Hepatic Function. In: Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 5ª edição. Editores: J.Kaneko, J. Harvey, M. Bruss. Academic Press, Trauner, M., Graziadei, I.W. (1999). Review Article: mechanisms of action and therapeutic applications of ursodeoxycholic acid in chronic liver disease. Aliment Pharmacol Ther, 13, Trauner, M., Meier, P., Boyer, J. (1999). Molecular Regulation of Hepatocellular Transport Systems in Cholestasis. Journal of Hepatology, 31, Yerushalmi, B., Dahl, R., Devereaux, M.W., Gumpricht, E., Sokol, R. J. (2001). Bile Acid-induced Rat Hepatocyte Apoptosis Is Inhibited by Antioxidants and Blockers of the Mitochondrial Permeability Transition. Hepatology, 33 (3), Zimmerman, H. (1979). Evaluation of the Function and Integrity of the Liver. In: Clinical Diagnosis and Management by laboratory methods. 16ª edição. Editores: D. Nelson e J. Washington. W. B. Saunders Company (Philadelphia),
17 RPCV (2004) 99 (551) Vascularização arterial do hipocampo em Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) Arterial vascularization of the hippocampus in Hydrochoerus hydrochaeris (capybara) Sueli Hoff Reckziegel*, Felipe Luís Schneider, Maria Isabel Albano Edelweiss, Tânia Lindemann, Paulete Oliveira Vargas Culau Departamento de Ciências Morfológicas, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Avenida Bento Gonçalves, 9090, Porto Alegre, CEP , RS, Brasil. Resumo: Este trabalho objetivou angariar conhecimentos sobre a vascularização arterial da região hipocampal na capivara, descrevendo os vasos que fazem o aporte sangüíneo para o hipocampo, através da repleção vascular e dissecção anatômica. Utilizaram-se 68 hemisférios cerebrais de Hydrochoerus hydrochaeris, machos e fêmeas, injetados com Látex 603 ou Látex Frasca, pigmentado com vermelho ou azul, fixados em solução de formol a 20%. A vascularização arterial do hipocampo da capivara foi assegurada por ramos originados a partir da artéria cerebral caudal e da artéria coróidea rostral. Da face dorsal da artéria cerebral caudal foram emitidos pequenos ramos que penetraram no sulco hipocampal. Rostro-medialmente também foram emitidos uma série de pequenos ramos e a artéria coróidea caudal. A artéria coróidea rostral teve origem ao nível do ramo terminal da artéria basilar, logo após a emergência da artéria cerebral caudal, anastomosando-se com a artéria coróidea caudal. Ao longo do seu percurso tanto a artéria coróidea caudal como a artéria coróidea rostral lançaram ramos hipocampais que se anastomosaram entre si, bem como com os ramos emitidos pela artéria cerebral caudal, formando verdadeiras redes. Palavras chave: roedores, vascularização, hipocampo Summary: This study aimed at obtaining some knowledge on the arterial vascularization of the hippocampal region on capybara, describing the branches that supply blood to the hippocampus, using vascular repletion and anatomic dissection. A total of 68 brain hemispheres of female and male Hydrochoerus hydrochaeris were injected with Latex 603 or Latex Frasca, stained in red and blue, fixed in 20% formaldehyde solution. The arterial vascularization of the hippocampus of the capybara was supplied by branches deriving from the caudal cerebral artery and the rostral choroidal artery. From the dorsal surface of the caudal cerebral artery arose several small branches, which penetrated the hippocampus groove, and rostromedially these artery also gave off a series of small branches as well as the caudal choroidal artery. The rostral choroidal artery derived from the basilar terminal trunk, immediately after the emergence of the caudal cerebral artery, and formed an anastomosis with the caudal choroidal artery. During their course the hippocampal branches emitted by both caudal and rostral choroidal arteries were also anastomosed with the branches given off by the caudal cerebral artery, forming a true network of vessels. Key words: rodents, vascularization, hippocampus * Correspondência: Telefone: , fax , e- mail anavet@orion.ufrgs.br Introdução A capivara é o maior mamífero roedor, de origem sul-americana. É um herbívoro, semi-aquático, da família Hydrochaeridae, parecido com o porco. O nome genérico Hydrochoerus significa porco de água e a designação vulgar capivara, de origem tupi-guarani, quer dizer comedor de capim. É um animal compacto, baixo, de pescoço grosso e curto, cabeça volumosa e sem cauda. Embora haja um crescente interesse na utilização da capivara em criadouros para fins comerciais, do ponto de vista da anatomia desta espécie encontramos escassos estudos. A irrigação encefálica constitui-se assunto de grande importância, uma vez que seu estudo encontra-se intimamente associado ao desenvolvimento do próprio sistema nervoso central. Existem alguns estudos sobre a vascularização hipocampal em espécies domésticas como gambá, cobaio, coelho, gato, cão, realizados por Nilges (1944) e em gato, coelho e ovelha por Goetzen e Sztamska (1992). Já Gillilan (1976), Nanda (1981), Lindemann e Campos (2002) e Freisenhausen (1965) realizaram estudos sobre os vasos encefálicos, em diferentes espécies, sem abordarem especificamente a vascularização hipocampal. Em relação à vascularização hipocampal da capivara não foram encontrados registros. Este estudo desenvolveu-se a partir de pesquisa realizada anteriormente por Reckziegel et al. (2001) sobre a base do encéfalo da capivara, onde encontramos que a vascularização do encéfalo da capivara está na dependência única do sistema vértebro-basilar. As artérias vertebrais unem-se para formar a artéria basilar, dividindo-se em seus ramos terminais logo após o limite rostral da ponte. Os ramos colaterais dos ramos terminais da artéria basilar formam as artérias cerebelar rostral, cerebral caudal, coroidéia rostral, oftálmica interna e cerebral média. A artéria cerebral rostral é a continuação natural, em direção a linha mediana, do ramo terminal da artéria basilar. 145
18 Reckziegel, S. H. et al. RPCV (2004) 99 (551) Figura 2 - Desenho esquemático em vista medial direita do cérebro de Hydrochoerus hydrochaeris mostrando a distribuição da artéria cerebral caudal e da artéria coróidea rostral. a ramo terminal da artéria basilar, b artéria cerebral média, c artéria cerebral caudal, d artéria coróidea rostral, e artéria coróidea caudal, f ramos corticais da artéria cerebral caudal, g ramos terminais da artéria cerebral caudal, Ge joelho do corpo caloso, phg giro parahipocampal, Sp esplênio do corpo caloso, Th tálamo. Figura 1 - Vista medial direita do hemisfério cerebral de Hydrochoerus hydrochaeris mostrando a distribuição da artéria cerebral caudal e da artéria coróidea rostral. a ramo terminal da artéria basilar, b artéria cerebral caudal, c artéria coróidea rostral, d artéria coróidea caudal, e ramos terminais da artéria cerebral caudal, f ramos corticais da artéria cerebral caudal, phg giro parahipocampal, Sp esplênio do corpo caloso, Th tálamo. No presente trabalho pretende-se angariar conhecimentos sobre a vascularização arterial da região hipocampal em Hydrochoerus hydrochaeris, descrevendo através da repleção vascular e dissecção anatômica os ramos que fazem o aporte sangüíneo para o hipocampo. Material e métodos O trabalho foi desenvolvido no setor de Anatomia da Faculdade de Veterinária da UFRGS e no Laboratório de Neuroanatomia do Departamento de Ciências Morfológicas do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Foram utilizados 68 hemisférios cerebrais de Hydrochoerus hydrochaeris, jovens e adultos, provenientes do Frigorífico Líder localizado no município de Viamão e do Frigorífico Bassanense de Nova Bassano, ambos localizados no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Os animais foram abatidos no frigorífico com eletrochoque e logo após foi realizada a sangria dos mesmos. A cabeça foi separada, ainda envolta pelo couro, por corte realizado na região cervical cranial, tentando-se preservar a primeira vértebra cervical. Após a coleta as peças foram levadas para o laboratório de anatomia veterinária onde se efetuou, então, a canulação das artérias carótidas comuns. Foram injetados 20 ml de solução anticoagulante ACD AFU (Alex Istar Indústria farmacêutica Ltda) sendo seguido da lavagem do sistema vascular com solução fisiológica e posterior preenchimento com látex 603 (Cola 603 Bertoncini Ltda, São Paulo, SP, BR) corado com pigmento específico (Suvinil corante BASF S.A. São Bernardo do Campo, SP, BR). As peças permaneceram aproximadamente uma hora sob água corrente para o resfriamento e solidificação do material injetado, após o que se retirou completamente a pele e foi aberta uma janela óssea na abóbada craniana. Posteriormente as peças foram imersas em formol a 20% durante um período mínimo de 7 dias. Após este período procedeu-se à retirada do encéfalo da caixa craniana ainda envolto pela duramáter, retirando-a em seguida. Foi feita a dissecção da região de interesse com o isolamento dos tálamos e tronco encefálico. Devido ao exíguo calibre dos vasos hipocampais foi necessário o emprego de uma lupa de dissecção e de um microscópio cirúrgico, para observação e esquematização das artérias. Com o objetivo de mapear territórios, algumas peças foram formolizadas, logo após a injeção da solução anticoagulante e a lavagem do sistema com solução fisiológica, permanecendo em formol a 20% por um período de aproximadamente 7 dias. Após este período houve a retirada do encéfalo da caixa craniana; foi feita a canulação da artéria basilar, sendo a cânula introduzida até ultrapassar a emergência da artéria cerebral caudal, foi realizada uma ligadura na artéria oftálmica, procedendo-se, logo após, a injeção do território vascular com látex Frasca (Frasca s latex injection medium Polysciences, Inc.) corado. Foi realizada a ligadura dos ramos terminais da artéria basilar neste ponto, sendo a cânula retirada, lavada e novamente introduzida sendo feito, então, o preenchimento do restante do sistema arterial usando-se para cada momento corantes diferentes. As peças foram novamente imersas em formol por 7 dias, procedendo-se, então, à dissecção das artérias de interesse. 146
19 Reckziegel, S. H. et al. RPCV (2004) 99 (551) Para a devida documentação dos resultados foram confeccionados desenhos esquemáticos e fotografias de todas as peças. Os termos empregados para nominar os vasos estão de acordo com a Nomina Anatômica Veterinária (1994), sendo que algumas denominações foram feitas pelos autores. Resultados A vascularização arterial do hipocampo da capivara foi suprida por ramos originados da artéria cerebral caudal e pela artéria coróidea rostral (Figuras 1, 2, 3 e 4). Da face dorsal da artéria cerebral caudal, enquanto correu em relação profunda ao giro para-hipocampal, foram emitidos uma série de pequenos ramos, que penetraram imediatamente no sulco hipocampal e rostromedialmente também uma série de pequenos ramos que se apresentaram, em sua maioria, bifurcados na sua porção terminal e se distribuíram superficialmente ao longo da formação hipocampal. A artéria coróidea caudal surgiu da artéria cerebral caudal rostro-medialmente sobre o giro para-hipocampal. Apresentou-se única em 85,3% (Figuras 1 e 2) dos hemisférios, dupla em 13,2% (Figura 4) e esteve ausente em 1,5% (Figura 3); quando presente anastomosouse com a artéria coróidea rostral (Figuras 1, 2 e 4). A artéria coróidea rostral originou-se do ramo terminal da artéria basilar logo após a emergência da artéria cerebral caudal (Figuras 1, 2, 3 e 4). Ela percorreu a borda rostral do giro para-hipocampal, anastomosando-se em seu trajeto com a artéria coróidea caudal, formando o plexo coroideu do terceiro ventrículo e ventrículo lateral. A artéria coróidea rostral apresentou-se mais calibrosa nos casos em que a artéria coróidea caudal apresentou calibre muito reduzido ou esteve ausente (Figura 3). Ao longo de seu curso, tanto a artéria coróidea caudal como a artéria coróidea rostral lançaram pequenos ramos, que se distribuíram sobre o giro para-hipocampal. Anastomoses entre estes ramos são freqüentes, bem como com os ramos emitidos pela artéria cerebral caudal, formando verdadeiras redes ao longo do giro. Na capivara não foram observadas arcadas anastomóticas entre os vasos que fazem o aporte sangüíneo para a formação hipocampal. Discussão Como não foram encontradas citações sobre as fontes de suprimento da vascularização arterial da região hipocampal da capivara, utilizou-se como referência para discussão trabalhos de alguns autores que fizeram este estudo em outras espécies domésticas e também empregamos relatos da literatura clássica, em especial os de Nanda (1981). O hipocampo da capivara foi suprido por ramos originados da artéria cerebral caudal e da artéria coróidea rostral. Para Nilges (1944), na cobaia, a formação hipocampal é suprida por ramos da artéria cerebral caudal e em apenas um caso houve anastomose destes ramos com a artéria coróidea rostral. No entanto, no coelho, gato e cão encontramos o hipocampo suprido por ramos originados da artéria cerebral caudal e da artéria coróidea rostral, tal como na capivara. Segundo Freisenhausen (1965) em seu trabalho sobre o arranjo dos vasos e densidade dos capilares no cérebro do coelho a formação hipocampal é abastecida pela artéria cerebral caudal e pela artéria coróidea rostral. Para Figura 3 - Vista medial direita do hemisfério cerebral de Hydrochoerus hydrochaeris mostrando a ausência da artéria coróidea caudal. a ramo terminal da artéria basilar, b artéria cerebral caudal, c artéria coróidea rostral, d ramos terminais da artéria cerebral caudal, e ramos corticais da artéria cerebral caudal, Ge joelho do corpo caloso, phg giro parahipocampal, Sp esplênio do corpo caloso, Th tálamo. Figura 4 - Vista medial direita do hemisfério cerebral de Hydrochoerus hydrochaeris mostrando a artéria coróidea caudal dupla. a ramo terminal da artéria basilar, b artéria cerebral caudal, c artéria coróidea rostral, d artéria coróidea caudal, e -ramos terminais da artéria cerebral caudal, f ramos corticais da artéria cerebral caudal, g artéria do corpo caloso, Ge joelho do corpo caloso, phg giro parahipocampal, Sp esplênio do corpo caloso, Th tálamo. 147
20 Reckziegel, S. H. et al. RPCV (2004) 99 (551) Gillilan (1976) as artérias que suprem o hipocampo do cão originaram-se da artéria cerebral caudal. Segundo Nanda (1981) no cão, ruminantes e eqüinos a vascularização arterial do hipocampo foi suprida pelas artérias cerebral caudal e coróidea rostral. Para Goetzen e Sztamska (1992) no gato e ovelha a vascularização arterial do hipocampo foi feita por ramos das artérias cerebral caudal e coróidea rostral, enquanto que no coelho somente cita os ramos da artéria cerebral caudal, sem mencionar a artéria coróidea rostral. Assim como para Lindemann e Campos (2002), no estudo da distribuição da artéria cerebral caudal no gambá, a região hipocampal recebeu aporte a partir do ramo terminal da artéria cerebral caudal. Dorsalmente, ao longo do giro para-hipocampal, foram emitidos pequenos ramos da artéria cerebral caudal que penetraram imediatamente no sulco hipocampal, rostro-medialmente uma série de pequenos ramos e a artéria coróidea caudal que se anastomosou com a artéria coróidea rostral. A artéria coróidea rostral originou-se do ramo terminal da artéria basilar, percorrendo a borda rostral do giro para-hipocampal emitindo durante todo o seu trajeto, assim como a artéria coróidea caudal, ramos que se distribuem sobre o giro para-hipocampal. Estes achados estão de acordo com Nanda (1981) para o cão, ruminantes e eqüinos. Nilges (1944) observou na cobaia, coelho, gato e cão comportamento semelhante ao encontrado na capivara, no entanto cita que na cobaia, coelho e gato a anastomose da artéria coróidea rostral ocorre com ramos terminais da artéria cerebral caudal. Apenas no cão menciona o aparecimento da artéria coróidea caudal anastomosando-se com a artéria coróidea rostral, porém não menciona ramos destes dois vasos contribuindo para a vascularização hipocampal. Estes resultados discrepantes talvez se devam ao fato do autor haver utilizado um número de amostras muito reduzido para obtenção da abrangência real dos padrões comportamentais. Para Goetzen e Sztamska (1992), no gato, as artérias hipocampais originaram-se do ramo tálamocoroidal da artéria cerebral caudal e freqüentemente anastomosaram-se umas com as outras. Também citou a emergência de uma artéria hipocampal, proveniente da artéria coróidea rostral, dirigindo-se para a parte inferior do hipocampo. Na ovelha as artérias hipocampais emergiam do segmento proximal dos ramos corticais principais da artéria cerebral caudal e dos segmentos proximais da artéria coróidea rostral. Ainda segundo estes autores, na ovelha, estes vasos corriam como troncos retos no sulco hipocampal e dividiam-se em vários troncos simples ou agrupados em pedículos que penetraram no hipocampo pelo sulco hipocampal, já no coelho elas emergiram em ângulo reto diretamente da artéria cerebral caudal ao longo do sulco hipocampal. Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que a vascularização arterial da região hipocampal na capivara é suprida por ramos originados da artéria cerebral caudal e da artéria coróidea rostral, existindo uma grande similaridade com as fontes de suprimento da vascularização arterial hipocampal do cão, gato, ovelha, coelho, ruminantes e eqüinos, onde as artérias hipocampais também são oriundas das artérias cerebral caudal e coróidea rostral, muito embora as últimas tenham origens bastante diversas nas espécies comparadas. Bibliografia Freisenhausen, H.D. (1965). Gefässanordnung und kapillardichte im Gehirn des Kaninchens. Acta anat. 62, 4, Gillilan, L.A. (1976). Extra- and Intra-cranial Blood Supply to brains of Dog and Cat. American Journal of Anatomy, 146, Goetzen, B e Sztamska, E. (1992). Comparative anatomy of the arterial vascularization of the hippocampus in man and in experimental animals (cat, rabbit and sheep). Neuropat. Pol, 30(2), Nanda, B.S. Suprimento sangüíneo para o cérebro. (1981). In: Sisson/Grosman s Anatomia dos animais domésticos. vol. 1. 5ª edição. Interamericana (Rio de Janeiro), Nanda, B.S. Suprimento sangüíneo para o cérebro. (1981). In: Sisson/Grosman s Anatomia dos animais domésticos. vol. 1. 5ª edição. Interamericana (Rio de Janeiro), Nanda, B.S. Suprimento sangüíneo para o cérebro. (1981). In: Sisson/Grosman s Anatomia dos animais domésticos. vol. 2. 5ª edição. Interamericana (Rio de Janeiro), International Commitee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature. Nomina Anatômica Veterinaria. 4ª. edição. New York, Lindemann, T. e Campos, R. (2002) Anatomy of the caudal cerebral artery on the surface of opossum brain (Didelphis albiventris). Braz. J. morphol. Sci., 19, (2), Nilges, R.G. (1944). The arteries of the mammalian cornu Ammonis. J. Comp. Neurol. 80, Reckziegel, S.H., Lindemann, T. e Campos, R. (2001). A systematic study of the brain base arteries in capybara (Hydrochoerus hydrochaeris). Braz. J. morphol. Sci., 18, (2),
21 RPCV (2004) 99 (551) Características das fibras musculares em animais da raça Barrosã Muscle fibre typing of Barrosã cattle breed L. Cristina Roseiro 1 *, Paulo Costa 1, Virgílio Alves 2, Carlos Santos 1 1 Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, DTIA, Estrada do Paço do Lumiar, Lisboa 2 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta dos Prados - Apartado 202, 5001 Vila Real Resumo: Foi efectuada a caracterização de músculos de vitelos da raça Barrosã de ambos os sexos, no que concerne à composição e dimensão dos diferentes tipos de fibras, incluindo o Psoas major (Pm), o Longissimus dorsi ao nível da 4ª vértebra lombar (Ld1) e 13ª vértebra torácica (Ld2), o Semimembranosus (Sm), o Semitendinosus (St), o Biceps femoris (Bf), o Gluteus superficial (Gs), o Gluteus medium (Gm), o Supraspinatus (Ss) e o Infraspinatus (Is). A maioria dos músculos apresentou predominância de fibras tipo IIb, sendo esta característica mais evidente nos músculos da perna (> 50%). No músculo Gs, em ambos os sexos e nos músculos Pm e Ss nas fêmeas, as fibras tipo I foram, contudo, as mais frequentes. O valor médio das contagens das fibras tipo I é geralmente mais elevado nas fêmeas do que nos machos, sendo esta diferença significativa (p<0,05) para o Gm, Gs, Ld2, Pm, Ss e Is. Relativamente às fibras do tipo IIa e IIb verificou-se a tendência contrária. O perfil metabólico muscular das fêmeas caracterizouse por um potencial oxidativo significativamente superior ao dos machos nos músculos Sm, St, Ld1 e Is. As fibras de perfil glicolitico (tipo IIb) apresentaram a maior secção transversal média. Apesar das fêmeas apresentarem fibras do tipo IIb com uma área média superior às dos machos (3005,71 µm 2 vs 2510,46 µm 2 ), esta tendência só se revelou significativa (p<0,05) para o músculo Ld1 (4477,7 µm 2 vs 3493,2 µm 2 ). Summary: The effects of sex condition on muscle fibre type composition and fibre size were examined on 9 differently located muscles from Barrosã calves, including the Psoas major (Pm), Longissimus dorsi at the 4 th lumbar vertebra (Ld1) and at 13 th dorsal vertebra (Ld2), Semimembranosus (Sm), Semitendinosus (St), Biceps femoris (Bf), Gluteus superficial (Gs), Gluteus medium (Gm), Supraspinatus (Ss) and Infraspinatus (Is). On most muscles the fibre type IIb prevailed, notably on those from the hindquarter (>50%). Differently on muscles Gs, for both sexes and on Pm and Ss in females, the fibre type I showed higher counts. Fibre type I mean numbers were generally higher in females than in males, this difference being significant (p<0.05) on muscles Gm, Gs, Ld2, Pm, Ss and Is. In relation to fibre types IIa and IIb the overall trend diverged. The muscle of females showed a significantly greater (p<0.05) oxidative potential on muscles Sm, St, Ld1 e Is. The fibres with glycolytic metabolic characteristics (IIb) showed the highest transversal section area. Despite females presented muscle fibre type IIb with greater mean transversal section area than males ( µm 2 vs µm 2 ), the differences appeared significant only for Ld1 muscle ( µm 2 vs µm 2 ). * Correspondência: telefone: , Fax: , cristina.roseiro@mail2.ineti.pt Introdução A avaliação da qualidade da carne envolve a análise de diferentes atributos, cujo impacte na aceitabilidade varia com a perspectiva da apreciação. Apesar deste facto, é ponto aceite que a cor e o nível de gordura intramuscular são particularmente importantes no acto da compra e que a tenrura, a suculência e o flavor influenciam decisivamente a repetição da aquisição. Se em relação à gordura intramuscular foram encontradas correlações negativas com a percentagem de fibras glicolíticas (Hawkins, et al., 1985; Seideman et al., 1986), aumentando a representatividade de ambos os parâmetros com a idade do animal, já a possível relação entre a composição em fibras e a palatabilidade da carne não foi ainda estabelecida. Contudo, foi verificada uma relação positiva entre a composição muscular em fibras e o teor e a natureza dos fosfolípidos constituintes (Leseigneur-Meynier e Gandemer, 1991; Alasnier et al., 1996). Neste âmbito os músculos oxidativos, com predominância de fibras tipo I, denotaram um teor mais elevado naqueles componentes estruturais, que por sua vez detêm um papel determinante no flavor e suculência da carne (Meynier e Gandemer, 1994; Valin et al., 1982; Maltin et al., 1998). De acordo com Dransfield et al. (1981), 80% dos fenómenos que determinam a tenrura da carne ocorrem, nos bovinos, até cerca de 10 dias após o abate. Assumido o papel preponderante das proteases intrínsecas na regulação deste processo (Koohmaraie, 1996) e que a relação calpastatina/calpainas é inferior nos músculos glicolíticos de contracção rápida relativamente aos oxidativos de contracção lenta (Ouali e Talmant, 1990), é expectável que os primeiros necessitem de um prazo de maturação mais curto, para que sejam atingidos os níveis de aceitabilidade desejáveis. A par dos múltiplos aspectos intrínsecos da qualidade, o potencial evidenciado pelos animais para o desenvolvimento de massa muscular assume particular importância em qualquer sistema produtivo. Neste particular, surgem como aspectos relevantes, não só o número de fibras existente em determinado volume muscular como também a respectiva dimensão média. 149
22 Roseiro, L. C. et al. RPCV (2004) 99 (551) Ainda livres de qualquer pressão significativa no que respeita ao melhoramento genético, as características bioquímicas das massas musculares das nossas raças autóctones poderão ser significativamente diferentes das outras raças bovinas domésticas sujeitas a exploração intensiva. Com o objectivo de proporcionar informação sobre aspectos intrinsecos da composição muscular que possibilite uma melhor gestão do enorme potencial comercial da carne das nossas raças autóctones, este estudo iniciou a caracterização de um número alargado de músculos de vitelas Barrosãs de ambos os sexos, no que respeita ao respectivo número e dimensão dos diferentes tipos de fibras. com 1 cm 2 de área, desenhado em diferentes locais da mesma imagem impressa para minimizar possíveis variações da espessura do papel. Para o cálculo da dimensão muscular equivalente a 1 cm na imagem impressa utilizaram-se réguas micrométricas com a mesma ampliação dos campos microscópicos (Figura 1). Para as condições deste trabalho, a uma área de 1 cm 2 na impressão ampliada correspondeu uma área efectiva muscular de 4 258,84 µm 2. Material e métodos População animal e amostragem No presente estudo foram utilizadas 4 vitelas Barrosãs, 2 machos e 2 fêmeas, com idades médias ao abate de 7,8 e 8,2 meses, respectivamente. Aproximadamente 1 h post-mortem, por razões relacionadas com a facilidade de acesso e menor desvalorização das carcaças, foram recolhidas amostras da porção superficial de músculos com diferente localização anatómica, incluindo o Psoas major (Pm), o Longissimus dorsi a nível da 4ª vértebra lombar (Ld1) e 13ª vértebra torácica (Ld2), o Semimembranosus (Sm), o Semitendinosus (St), o Biceps femoris (Bf), o Gluteus superficial (Gs), o Gluteus medium (Gm), o Supraspinatus (Ss) e o Infraspinatus (Is). Preparadas as amostras em termos de orientação das fibras, procedeu-se de imediato à sua congelação por imersão em isopentano arrefecido por azoto líquido, sendo posteriormente mantidas a -80 C até a realização das análises. Análise histoquímica Após a execução de cortes seriados perpendiculares ao sentido longitudinal das fibras (10 µm) em crióstato a -24 C, procedeu-se à coloração para a ATPase miofibrilhar, após pré-incubação a ph 4,6 de acordo com a técnica descrita por Brooke e Kaiser (1970). Relativamente à definição das características metabólicas das fibras utilizou-se o protocolo descrito por Sheehan e Hrapchack (1987) para a succino-desidrogenase (SDH). Depois de ampliadas (x100), as secções foram fotografadas com o objectivo de facilitar a contagem das fibras, baseando-se a diferenciação entre os tipos de fibras I, IIa e IIb na intensidade da coloração obtida. A frequência de cada tipo de fibra em cada músculo avaliado foi calculada para um total de cerca de 800 células, repartidas por 2 campos microscópicos diferentes equivalendo cada um a uma área de 0,916 mm 2. Para a determinação da área dos diferentes tipos de fibra utilizou-se a técnica de corte e pesagem das respectivas secções transversais. Para o efeito relacionouse esta medição com o peso obtido para um quadrado Figura 1 - Colorações enzimáticas para ATPase (ph 4,6) e succinodesidrogenase (SDH). Tratamento estatístico A influência do sexo e tipo de músculo nos resultados foi determinada através de análise de variância (ANO- VA) segundo um modelo factorial. A diferença entre as médias foi avaliada através do teste LSD (Least Significant Difference Test) para 95% de probabilidade. Resultados e discussão Composição A composição em fibras tipo I, IIa e IIb dos diferentes músculos analisados encontra-se representada na Figura 2, de acordo com o sexo do animal. A maioria 150
23 Roseiro, L. C. et al. RPCV (2004) 99 (551) Figura 2 - Frequência dos diferentes tipos de fibras (ATPase ph 4,6) nos músculos de animais da raça Barrosã de ambos os sexos.. Tipo I: oxidativas lentas; Tipo IIa: oxidativas/glicolíticas rápidas; Tipo IIb: glicolíticas rápidas. dos músculos apresentou uma clara predominância de fibras tipo IIb, sendo esta característica mais evidente nos músculos da perna (>50%) do que nos das outras regiões anatómicas. Constituem excepção a esta tendência, o músculo Gs, em ambos os sexos e os músculos Pm e Ss apenas nas fêmeas, onde o tipo de fibra mais frequente passa a ser a do tipo I. Nas fêmeas, o valor médio das contagens das fibras tipo I é geralmente superior ao encontrado nos machos, sendo esta diferença significativa (p<0,05) para o Gm, Gs, Ld2, Pm, Ss e Is (Tabela 1). Relativamente às fibras do tipo IIa e IIb verificou-se a tendência contrária. Nos machos, a maior proporção de fibras tipo IIb foi verificada nos músculos St (70,0%), enquanto que a menor contagem se registou no Gs (36,6%). Para as fêmeas, a frequência média mais elevada deste tipo de fibra foi determinada no Sm (69,8%), confirmando-se o Gs (21,3%) como músculo com perfil contráctil mais rápido. Apesar da escassez de dados objectivamente comparáveis, devido a diferenças importantes na idade ao abate dos animais utilizados nos diferentes estudos, o perfil médio deste tipo de fibras na raça Barrosã, comparativamente a outras raças bovinas, denota uma frequência ligeiramente superior de fibras do tipo IIb e tipo I. Efectivamente, em machos inteiros Limousine com idêntica idade ao abate (6 meses), Jurie et al. (1995) verificaram para o músculo St uma incidência de fibras tipo I, tipo IIa e tipo IIb de 9%, 29% e 61%, respectivamente. Esta tendência confirmou-se para animais Saler/Limousine, machos, de 10 meses de idade ao abate (8,9% Tipo I; 32,9% Tipo IIa; 58,1% Tipo IIb) (Jurie et al., 1999) e para animais de raça Norueguesa (Totland et al., 1988). Nos bovinos, tem sido constatado um aumento do metabolismo glicolítico muscular até ao ano de vida, devido à transformação das fibras tipo IIa em IIb (Seideman et al., 1986; Solomon et al., 1986; Klosowski et al., 1992; Brandstetter et al., 1998). Esta taxa de conversão abranda depois substancialmente, constituindo este facto um sinal de maturidade (Jurie et al., 1999). À luz desta constatação, os resultados da composição em fibras obtidos para a raça Barrosã poderão refletir a precocidade a diferentes níveis, evidenciada por estes animais, de que se destaca a superior deposição de gordura intra e intermuscular, responsável em parte pela sua incontestada qualidade organoléptica (Roseiro et al., 2002). Entre os diferentes músculos estudados, a relação entre as fibras I/IIb revela uma assinalável variação, alcançando valores entre 0,16 (Sm) e 1,33 (Gs) nos machos e 0,16 (Sm) e 2,78 (Gs) nas fêmeas. Nestas o equílibrio é mais notório sendo este facto da máxima relevância para a definição da cor da carne e para a respectiva estabilidade comercial (Lefaucheur, 2001). Se por um lado a predominância das fibras tipo I, mais Tabela 1 - Frequência dos diferentes tipos de fibras (ATPase ph 4,6) nos músculos de animais da raça Barrosã de ambos os sexos. Tipo I: oxidativas lentas; Tipo IIa: oxidativas/glicolíticas rápidas; Tipo IIb: glicolíticas rápidas. Músculo Tipo I Tipo IIa Tipo IIb Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea Sm 9,59 g 10,97 e x 30,59 bc y 19,20 de x 59,82 b y 69,83 a St 14,56 f 11,18 e 18,96 e 21,77 cd 69,99 a 67,06 a Bf 20,03 e 23,65 d x 23,52 d y 16,97 e 56,46 b 54,38 c Gm x 15,19 f y 22,78 d x 28,34 c y 16,33 e x 56,47 b y 60,89 b Gs x 48,83 a y 59,35 a x 14,59 f y 19,32 de x 36,59 f y 21,34 g Ld1 23,72 de 25,04 d 27,34 c 27,54 ab 49,44 c 47,43 d Ld2 x 20,44 e y 25,34 d x 35,35 a y 29,99 a 47,71 cd 44,68 d Pm x 35,15 b y 40,70 b 19,73 e 19,96 de x 45,13 de y 39,38 e Ss x 27,40 cd y 42,99 b x 33,16 ab y 23,88 bc x 39,44 f y 33,13 f Is x 29,50 c y 34,86 c 27,20 cd 25,70 b x 43,30 e y 39,44 e x, y - Na mesma linha e para cada tipo de fibra, médias com letras diferentes são significativamente diferentes. a, b,.g - Na mesma coluna, médias com letras diferentes são significativamente diferentes. 151
24 Roseiro, L. C. et al. RPCV (2004) 99 (551) ricas em pigmento, dá origem a uma carne mais vermelha, por outro, o facto de denotarem um metabolismo oxidativo conduz igualmente a uma menor estabilidade deste parâmetro durante a armazenagem (Renerre, 1984). Nas fêmeas, as amostras do músculo Ld recolhidas ao nível da 4ª lombar (Ld1) ou da 13ª vértebra torácica (Ld2) não revelaram diferenças significativas na composição de fibras. Pelo contrário, nos machos registouse uma incidência significativamente superior de fibras tipo IIa e diminuição da frequência média das fibras tipo I (-3,3%) e tipo IIb (-1,7%) (p>0,05) nas amostras recolhidas ao nível da 13ª vértebra torácica. O sentido desta variação aparentemente reforça o potencial oxidativo muscular desta região anatómica, comparativamente às amostras recolhidas ao nível da 4ª vértebra lombar (Tabela 2). Esta aparente contradição, tendo em linha de conta a diminuição ocorrida no número de fibras do tipo I poderá dever-se ao facto do potencial oxidativo de um músculo não depender exclusivamente do teor em fibras tipo I (Zerouala e Stickland, 1991; Ruusunen e Puolanne, 1997), podendo as fibras do tipo IIa apresentar também um perfil oxidativo marcado. A influência do sexo do animal na definição do perfil metabólico muscular não revelou uma tendência bem vincada (Tabela 2). Com efeito, as fêmeas denotaram um potencial oxidativo significativamente superior ao dos machos nos músculos Sm, St, Ld1 e Is, invertendo-se a tendência no Bf, Gs, Pm e Ss. Os resultados evidenciam um maior equilíbrio metabólico muscular nas fêmeas, com menor gama de variação entre os músculos. Tabela 2 - Variação da frequência dos diferentes tipos de fibras (SDH) nos músculos de animais da raça Barrosã de ambos os sexos. Músculo Oxidativas Glicolíticas Macho Fêmea Macho Fêmea Sm x 43,58 e y 47,54 d x 56,42 ab y 52,76 b St x 31,95 f y 36,06 e x 68,06 a y 63,95 a Bf x 52,53 c y 46,11 d x 47,47 e y 53,90 b Gm 46,18 de 47,49 d 53,82 bd 52,52 b Gs x 74,87 a y 67,72 a x 25,14 g y 32,28 e Ld1 x 43,81 e y 51,15 c x 56,19 b y 48,86 c Ld2 47,98 d 46,80 d 52,02 cd 53,20 b Pm x 56,19 b y 50,34 c x 43,81 f y 49,67 c Ss x 57,19 b y 52,67 bc x 42,81 f y 47,33 cd Is x 49,62 d y 54,08 b x 50,38 d y 45,93 d x, y - Na mesma linha e para cada tipo de fibras, médias com letras diferentes são significativamente diferentes. a, b,.g - Na mesma coluna, médias com letras diferentes são significativamente diferentes. Seideman e Crouse (1986) evidenciaram diferentes perfis metabólicos musculares em função do sexo do animal, com o sentido da modificação a depender fortemente da raça e idade. Se na raça Angus os machos inteiros com 10 meses de idade apresentaram maior número de fibras oxidativas do que os castrados, a tendência relevou-se contrária para os da raça Simmental. Número e dimensão das fibras O diferente potencial de desenvolvimento muscular observado entre espécies e raças tem sido atribuído a diferenças no número e secção das respectivas fibras, sendo evidentes os efeitos que nestas características operam os programas de selecção direccionados para uma maior taxa de crescimento e muscularidade (Rehfeldt et al., 1999). O número de fibras observado para uma área do campo microscópico de 0,916 mm 2 dos diferentes músculos de animais da raça Barrosã de ambos os sexos está registado na Tabela 3. Nos machos as contagens variaram entre um valor máximo de 417 unidades para o Sm e um mínimo de 323 no Ld1. Nas fêmeas o nível de variação foi ligeiramente superior, verificando-se o maior número de fibras no músculo Pm (455 fibras/campo) e o mínimo igualmente no músculo Ld1 (262 fibras/campo). A influência do sexo nesta característica dependeu do músculo avaliado, revelando-se os valores médios das contagens para os machos superiores em 18,9% no Ld1, 13,4% no Ss e 12,8% no St, mas divergindo o sentido desta tendência para o Pm (-23,3%) e Bf (-6,9%). Os resultados desta avaliação perspectivam uma muito ligeira superioridade dos machos, em termos de potencial de crescimento e desenvolvimento de massa muscular. Para a generalidade dos músculos analisados e independentemente do sexo do animal, as fibras tipo IIb apresentaram uma secção transversal média superior, ocupando as do tipo IIa uma posição intermédia (Tabela 4). Excepcionalmente, no músculo Ss nos machos e no músculo Is nas fêmeas, as fibras com maior secção transversal foram as do tipo IIa e as do tipo I, respectivamente. Esta última característica revela-se de todo surpreendente, podendo estar na sua origem o facto do número de animais analisado ser ainda restrito e do corte no crióstato não ter sido realizado totalmente no sentido transversal das fibras. Para estes dois músculos, a área transversal dos diferentes tipos de fibras apresentou valores praticamente idênticos. Apesar das fêmeas apresentarem fibras do tipo IIb com uma área média superior às dos machos (3005,71 µm 2 vs 2510,46 µm 2 ), esta tendência só se revelou significativa (p<0,05) para o músculo Ld1 (4477,7 µm 2 vs 3493,2 µm 2 ), invertendo-se este sentido no Pm (2644,2 µm 2 vs 2933,7 µm 2 ). Pelo contrário, a área das fibras tipo I apresenta um registo médio mais elevado nos machos (2029,12 µm 2 vs 1914,64 µm 2 ), confirmandose esta tendência, de forma significativa, nos músculos Gs, Ld1, Ld2 e Pm. No que concerne às fibras do tipo IIa, a área média superior observada nas fêmeas (2288,0 µm 2 vs 2104,1 µm 2 ) é confirmada (p<0,05) nos músculos Sm, Gm e Gs. O músculo Ld foi o que apresentou fibras com maio- 152
25 Roseiro, L. C. et al. RPCV (2004) 99 (551) Tabela 3 - Influência do sexo do animal no número de fibras existentes numa área de 0,9156 mm 2 dos diferentes músculos avaliados. Músculo Sm St Bf Gm Gs Ld1 Ld2 Pm Ss Is Macho Fêmea Tabela 4 - Area (µm 2 ) dos diferentes tipos de fibras nos músculos de animais da raça Barrosã de ambos os sexos. Tipo I: oxidativas lentas; Tipo IIa: oxidativas/glicolíticas rápidas; Tipo IIb: glicolíticas rápidas. Músculo Tipo I Tipo IIa Tipo IIb Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea Sm 1372,2 d 1620,2 cd X 1300,8 e y 1837,0 cd 2383,1 cd 2648,4 cd St 1593,7 d 1456,3 de 1800,0 cd 1654,4 d 2645,3 bcd 2565,1 cd Bf 1379,0 d 1165,4 e 1600,0 de 1827,0 cd 2266,9 d 2592,4 cd Gm 1618,9 d 1699,7 cd X 2086,0 bc y 2562,0 ab 2643,3 bcd 3152,8 bc Gs X 2363,3 bc y 1808,6 c X 1925,0 cd y 2541,3 ab 2530,1 bcd 2876,3 cd Ld1 X 2685,8 a y 2341,8 b 2838,1 a 2883,7 a X 3493,2 a y 4477,7 a Ld2 X 2565,3 ab y 1873,2 c 2662,2 a 2453,8 b 3447,6 a 3722,3 b Pm X 2093,3 c y 1753,0 cd 2273,5 bc 2198,2 bc X 2933,7 abc y 2644,2 cd Ss X 2248,9 c y 2743,3 a 2442,5 ab 2598,1 ab 2276,0 d 2869,3 cd Is X 2370,8 bc y 2684,9 a 2113,0 bc 2324,9 b 3126,1 ab 2508,6 d x, y - Na mesma linha e para cada tipo de fibras, médias com letras diferentes são significativamente diferentes. a, b,.g - Na mesma coluna, médias com letras diferentes são significativamente diferentes. res dimensões médias, com realce para as fibras tipo IIb (4477,7 µm 2 ) e IIa (2883,7 µm 2 ) nas fêmeas e as do tipo I (2685,8 µm 2 ) nos machos. Estes resultados confirmam as caracterizações efectuadas noutras raças bovinas com maior muscularidade e precocidade no crescimento corporal (Solomon e West, 1985; Vestergaard et al., 2000). Em termos de dimensão média, as fibras dos animais da raça Barrosã atingem valores médios superiores aos encontrados para vitelos da raça Frisia (Vestergaard et al., 2000) e apenas ligeiramente inferiores aos verificados na raça Angus e Charolesa (músculo Ld) (Solomon et al., 1986). Para uma densidade de fibras equivalente, a respectiva dimensão média poderá determinar a diferença entre machos e fêmeas, no que respeita ao perfil de desenvolvimento da massa muscular. Neste particular, a vantagem das fêmeas apresentarem as fibras tipo IIb e IIa com uma área média ligeiramente superior à dos machos, é atenuada por uma menor frequência deste tipo de fibras na composição da maioria dos músculos analisados. Se a avaliação deste potencial for efectuada músculo a músculo, a análise destes indicadores indicia que os machos apresentam um desenvolvimento muscular potencialmente superior ao das fêmeas, com excepção para os músculos Sm, Gm e Ss. Esta condição dos machos é particularmente notada para os músculos St e Pm. Agradecimentos Os autores expressam o seu agradecimento à Cooperativa Agrícola de Boticas - CAPOLIB pela disponibilização das amostras utilizadas neste estudo e à equipa do Laboratório de Neuropatologia do Hospital de Santa Maria pela formação e apoio na execução das técnicas histoquímicas. Bibliografia Alasnier, C., Rémignon, H., Gandemer, G. (1996). Lipid characteristics associated with oxidative and glycolytic fibres in rabbit muscles. Meat Science, 43, Brandstetter, A.M., Picard, B. e Geay, Y. (1998). Muscle fibre characteristics in four muscles of growing bulls - I. Postnatal differentiation. Livest Production Science, 53, Brooke, M.H. e Kaiser, K. (1970). Muscle fibre types: how many and what kind? Arch. Neurology, 23, Dransfield, E., Jones, R.C.D. e MacFie, H.J.H. (1981). Tenderising in M. longissimus dorsi of beef, veal, rabbit, lamb and porc. Meat Science, 5, Hawkins, R.R., Moody, W.G., Kemp, J.D. (1985). Influence of genetic type, slaughter weight and sex on ovine muscle fiber and fat-cell development. Journal of Animal Science, 61, Jurie, C., Robelin, J., Picard, B., Renand, G. e Geay, Y. (1995). Postnatal changes in the biological characteristics of Semitendinosus muscle in male Limousin cattle. Meat Science, 41, Jurie, C., Picard, B. e Geay, Y. (1999). Changes in the metabolic and contractile characteristics in male cattle between 10 and 16 months of age. Histochemical Journal, 31, Klosowski, B., Bidwell-Porebska, K., Klosowska, D. e Piotrowski, J. (1992). Microstructure of skeletal muscles of growing calves fed silage-based vs hay-based diets. II. Fibre type distribution. Reprodution Nutrition Developments, 32, Koohmaraie, M. (1996). Biochemical factors regulating the toughening and tenderization process of meat. Meat Science, 43, S193-S201. Lefaucheur, L. (2001). Myofiber typing and pig meat production. Slov Vet Res 38, Leseigneur-Meynier, A. e Gandemer, G. (1991). Lipid composi- 153
26 Roseiro, L. C. et al. RPCV (2004) 99 (551) tion of pork muscle in relation to the metabolic type of fibres. Meat Science, 29, Maltin, C.A., Warkup, C.C., Matthews, K.R., Grant, C.M., Porter, A.D. e Delday, M.I. (1998). Pig muscle fiber characteristics as a source of variation in eating quality. Meat Science, 47, Meynier, A. e Gandemer, G. (1994). La flaveur des viandes cuites: relations avec l oxydation des phospholipides. Viandes et Produits Carnés, 15, Ouali, A. e Talmant, A. (1990). Calpains and calpastatin distribution in bovine, porcine and ovine skeletal muscles. Meat Science, 28, Rehfeldt, C., Stickland, N.C., Fiedler, I., Wegner, J. (1999). Environmental and genetic factors as sources of variation in skeletal muscle fibre number. Basic Applied Myol., 9, Renerre, M. (1984). Variabilité entre muscles et entre animaux de la stabilité de la couleur des viandes bovines. Science des Aliments, 4, Roseiro L.C., Costa, P., Santos, C. (2002). Cholesterol and fat contents of barrosã meat as influenced by sex and muscle site. Proceedings of 48 th International Congress of Meat Science and Technology, Vol.II, , Rome, Agosto. Ruusunen, M. e Puolanne, E. (1997). Comparison histochemical properties of different pig breeds. Meat Science, 45, Seideman, S.C. e Crouse, J.D. (1986). The effects of sex condition, genotype and diet on bovine muscle fiber characteristics. Meat Science, 17, Seideman, S.C., Crouse, J.D. e Cross, H.R. (1986). The effect of sex condition and growth implants on bovine muscle fibre characteristics. Meat Science, 17, Sheehan, D.C. e Hrapchack, B.B. (1987). Theory and practice of histotechnology, 2 nd edition, Battelle Memorial Institute. Solomon, M.B. e West, R.L. (1985). Profile of fiber types in muscles from wild pigs native to the United States. Meat Science, 13, Solomon, M.B., West, R.L. e Hentges, J.F. (1986). Growth and muscle development characteristics of purebred Angus and Brahman bulls. Growth, 50, Totland, G.K., Kryvi, H. e Slinde, E. (1988). Composition of muscle fibre types and connective tissue in bovine M. semitendinosus and its relation to tenderness. Meat Science, 23, Valin, C. Touraille, C., Vigneron, P., Ashmore, C.R. (1982). Prediction of lamb meat quality traits based on muscle biopsy fibre typing. Meat Science, 6, Vestergaard, M., Therkildsen, M., Henckel, P., Jensen, L.R., Andersen, H.R., Sejrsen, K. (2000). Influence of feeding intensity, grazing and finishing feeding on meat and eating quality of young bulls and the relationship between muscle fibre characteristics, fibre fragmentation and meat tenderness. Meat Science, 54, Zerouala, A.C. e Stickland, N.C. (1991). Cattle at risk for darkcutting beef have a higher proportion of oxidative muscle fibres. Meat Science, 29,
27 RPCV (2004) 99 (551) Perfil metabólico de ovelhas Border Leicester x Texel durante a gestação e a lactação Metabolic profile of Border Leicester x Texel ewes during pregnancy and lactation Luiz Alberto Oliveira Ribeiro 1 *, Rodrigo Costa Mattos 1, Félix Hilario Diaz Gonzalez 2, Vera Beatriz Wald 1, Marcelo Abreu da Silva 3 e Verônica Lima La Rosa 4 1 Departamento de Medicina Animal - UFRGS, Av. Bento Gonçalves 9090, P. Alegre, , Brasil 2 Departamento de Patologia Clínica Animal - UFRGS. 3 Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometereologia - UFRGS. 4 Laboratório de Análises Clínicas Veterinárias - UFRGS. Resumo: A condição corporal (CC) e os valores plasmáticos de Ca, Mg, P, proteína total, globulina, albumina, beta-hidroxibutirato (BHB), glucose, colesterol e ureia de ovelhas Border Leicester x Texel, criadas em regime extensivo no Rio Grande do Sul (RS), Brasil, foram controlados durante a gestação e a lactação. A CC das ovelhas sofreu uma redução de 3,3 no inicio da gestação, para 2,1 no final (p<0,05), atingindo 1,2 por volta dos 30 dias da lactação. Durante o período de observação os valores plasmáticos, mínimo e máximo de Ca (1,85 e 2,01 mmol/l) e P (1,0 e 1,7 mmol/l), mantiveram-se abaixo dos valores de referência para ovinos. Os valores da proteína total, globulina, albumina e ureia mantiveram-se dentro dos valores de referência para a espécie, embora apresentassem uma redução com o avanço da gestação e da lactação. Níveis críticos de glucose de 1,82 e 2,63 mmol/l foram detectados no final da gestação e início da lactação, respectivamente, e coincidiram com os valores mais altos de BHB de 0,35 e 0,49 mmol/l nos mesmos períodos, respectivamente. Os níveis de Mg, colesterol e ureia mantiveram-se dentro dos valores de referência para ovinos. Os autores concluem que ovelhas criadas em regime extensivo no RS podem apresentar deficiências minerais (Ca e P) e energéticas que podem levar a uma limitação na expressão genética de seu potencial reprodutivo. Summary: Body condition (BC) and plasma profile of Ca, Mg, P, total protein, globulin, albumin, beta-hydroxy-butirate (BHB), glucose, cholesterol and urea of Border Leicester x Texel ewes, were studied during gestation and lactation periods. The ewes were grazed on Pampas extensive farming condition in the southernmost region of Brazil. BC dropped from 3.3 at the beginning of gestation to 2.1 (p<0.05) at lambing time and to 1.2 on day 30 of lactation. The lowest and highest plasma levels of Ca (1.85 and 2.01 mmol/l) and P (1.0 and 1.7 mmol/l) observed, were below the reference range for sheep. The levels of total protein, globulin, albumin and urea were around reference range but all those metabolites showed a drop with the progress of gestation and beginning of lactation. Critical levels of glucose (1.82 and 2.63 mmol/l) were detected at lambing and beginning of lactation, simultaneously with the highest levels of BHB of 0.35 and 0.49 mmol/l respectively. No changes were found on Mg, cholesterol and urea plasma levels. It is concluded that ewes grazed on the Pampas extensive farming condition may face mineral (Ca and P) and energy deficiency that might reduce their genetic reproductive potential. * Correspondência: bertorib@orion.ufrgs.br Introdução Em sistemas de produção ovina, as necessidades alimentares aumentam durante a gestação, especialmente durante as últimas seis semanas, quando há um maior crescimento fetal. Ao mesmo tempo, a ovelha necessita de nutrientes para o desenvolvimento do úbere e para sua própria manutenção. No Rio Grande do Sul (RS), Sul do Brasil, assim como na maioria das regiões onde ovelhas são criadas em pastoreio extensivo, os períodos de gestação e de lactação coincidem com uma diminuição da quantidade e da qualidade dos recursos forrageiros. Ribeiro (2002) mostrou que, durante a gestação e a lactação, há um declínio da condição corporal (CC) de ovelhas gestantes, chegando a valores críticos por volta do parto e no período de amamentação. Nos últimos anos, a atenção dada às necessidades nutricionais das ovelhas durante o período de gestação e lactação gerou um enorme volume de informações. Russel (1991) observou que, embora estejam disponíveis informações sobre as necessidades das ovelhas referentes à energia metabolizável, proteína degradável no rúmen, macro e micro elementos e vitaminas, o uso na prática dessas informações tem sido lento. Observou ainda que o uso do peso corporal, a adequação da oferta forrageira ou mesmo a avaliação da CC têm limitações, uma vez que a verificação de um ganho inadequado de peso ou uma excessiva perda de CC, podem ocasionar perdas irreparáveis em termos de produção. Assim, esse autor sugere que a medida da concentração sanguínea de determinados metabolitos é o método mais expedito de controlo das necessidades nutricionais das ovelhas. O uso de perfis metabólicos, como indicadores do estado nutricional e de saúde de rebanhos bovinos leiteiros, foi proposto, inicialmente, por Payne et al. (1970), na Inglaterra. Posteriormente, Foot et al. (1984) e Russel (1991) sugeriram que o método mais expedito para 155
28 Ribeiro, L. A. et al. RPCV (2004) 99 (551) se conhecer as necessidades nutricionais da ovelha, durante a gestação e a lactação, seria pelo doseamento de metabolitos sanguíneos, tais como os ácidos gordos livres e os corpos cetónicos, em especial o beta-hidroxibutirato (BHB). No nosso meio, embora a perda de peso e mesmo de CC das ovelhas durante a gestação e lactação tenham sido descritas, o uso de técnicas mais apuradas para determinar quais dos nutrientes são adequados nas situações mais críticas, tem sido pouco estudado. No Chile, Del Valle et al. (1983) e Tadich et al. (1994) descreveram níveis sanguíneos de ureia, BHB, glucose, hematócrito e hemoglobina em ovelhas durante a gestação e verificaram haver uma correlação entre a flutuação desses parâmetros metabólicos e a redução da CC. O objectivo do presente trabalho foi obter informações sobre as variações dos parâmetros sanguíneos de ovelhas criadas em regime extensivo no RS, durante a gestação e a lactação, tentando identificar alterações críticas que possam influenciar a saúde e a actividade produtiva desses animais. Materiais e métodos O trabalho foi realizado num rebanho de 100 ovelhas Border Leicester x Texel de uma propriedade situada no município de Pantano Grande, na região da Depressão Central do RS, Sul do Brasil. As ovelhas foram pastoreadas em pastagens naturais, tendo sido colocadas no último mês de gestação e durante a lactação, num parque de seis hectares de aveia (Avena sativa) e azevém (Lolium peranum). O estro das ovelhas foi sincronizado utilizando-se pessários intravaginais contendo 60 mg de medroxiprogesterona por um período de 14 dias. Após a retirada dos pessários, as ovelhas foram expostas a seis carneiros durante 60 dias. A CC de todas as ovelhas do ensaio foi avaliada no início e no fim do período de cobrição. O método usado para a avaliação da CC foi o proposto por Russel et al. (1969). O diagnóstico de gestação, por ultra-sonografia, foi realizado 30 dias após a retirada dos carneiros, utilizando-se um aparelho da marca VetScan 2, equipado com um transdutor setorial de 3,5 MHz. Após o diagnóstico de gestação, o grupo experimental ficou constituído por 64 ovelhas prenhes. A CC de todas as ovelhas do ensaio foi avaliada durante a gestação (início, meio e fim) e durante a lactação (início e meio). Nos mesmos períodos, foram colhidas amostras de sangue, por punção da veia jugular, usando tubos Vacutainer com heparina (Becton-Dickinson, Rutherford, NJ, USA), de no mínimo 5 ovelhas de cada grupo (vazias, gestantes), tomadas ao acaso. No transporte para o laboratório, as amostras de sangue foram mantidas em refrigeração e posteriormente foram centrifugadas (2500 rpm durante 15 min), sendo retirado o plasma e armazenado em tubos eppendorf de 1 ml. As amostras assim embaladas foram congeladas a -20C para posterior análise. Os parâmetros metabólicos analisados e os métodos utilizados foram os seguintes: albumina pelo método do verde de bromocresol (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil); proteínas totais pelo método do biureto (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil); globulina por subtracção da albumina das proteínas totais; colesterol total pelo método da colesterol oxidase (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil); glucose pelo método da glucose oxidase (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil); ureia pelo método da urease (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil); BHB Tabela 1 - Médias e desvios padrão da condição corporal (CC) e dos parâmetros metabólicos doseados no plasma de ovelhas Border Leicester x Texel, no início da gestação (G) e de ovelhas vazias (V) Grupo n CC (1 a 5) Ca (mmol /L) Mg (mmol /L) P (mmol/ L) Proteína (g/l) Globulina (g/l) Albumina (g/l) BHB (mmol /L) Glucose (mmol/ L) Colesterol (mmol /L) Ureia (mmol/ L) G 12 3,30a ±0,71 1,91 ±0,25 0,91 ±0,13 1,46 ±0,35 76,58 ±19,00 49,25 ±17,26 30,91 ±6,15 0,3 ±0,08 2,99 ±0,27 1,8 ±0,27 7,61 ±1,8 V 06 2,40b ±0,65 1,91 ±0,35 0,8 ±0,01 1,69 ±0,13 80,16 ±6,08 48,83 ±6,55 31,33 ±11,48 0,35 ±0,23 3,26 ±0,37 1,63 ±0,48 7,08 ±1,7 Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p <0,05). Tabela 2 - Médias e desvios padrão da condição corporal (CC) e dos parâmetros metabólicos doseados no plasma de ovelhas Border Leicester x Texel, nos períodos médio e final da gestação Período gestação (dias) Meio (112 ± 8) Fim (145 ± 2) 156 n CC (1 a 5) 18 2,71 a ±0, ,11 b ±0,60 Ca (mmol /L) 1,99 ±0,11 1,88 ±0,12 Mg (mmol/ L) 0,95 ±0,1 0,95 ±0,1 P (mmol/ L) 1,6 ±0,37 1,7 ±0,53 Proteína (g/l) Globulina (g/l) 91,83 60,44 ±10,52 a ±11,24 80,22 b ±10,12 55,77 ±10,76 Albumina (g/l) 31,05 a ±4,10 24,44 b ±1,66 BHB (mmol/ L) 0,39 ±0,13 0,35 ±0,24 Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre dias de gestação ( p < 0,05 ). Glucose (mmol /L) 2,99 a ±0,43 1,82 b ±0,36 Colesterol (mmol /L) 1,86 a ±0,32 1,7 b ±0,35 Ureia (mmol/ L) 5,87 ±2,29 5,59 ±1,17
29 Ribeiro, L. A. et al. RPCV (2004) 99 (551) por método cinético enzimático (Randox Laboratories, UK); Ca pelo método púrpura de ftaleína (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil); P inorgânico pelo método de molibdato de amónia (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil) e Mg pelo método de magon sulfonada (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil). A análise estatística dos dados foi realizada com o programa Minitab para Windows. Foram calculadas as médias e os desvios padrão e feita a análise de variância, para determinar diferenças entre grupos de animais e períodos de colheitas. Resultados A Tabela 1 mostra os valores médios e os desvios padrão da CC, bem como dos dez parâmetros metabólicos doseados nas amostras colhidas nas ovelhas gestantes (G) e vazias (V) no início da gestação. A análise dos dados mostrou não haver diferenças estatisticamente significativas em todos os parâmetros sanguíneos examinados entre os dois grupos de ovelhas. A CC média das ovelhas do grupo G foi maior (p <0,05) que a do grupo V. A Tabela 2 mostra os valores médios dos parâmetros sanguíneos e da CC das ovelhas no períodos médio e final da gestação. Verifica-se que houve uma redução da CC das ovelhas com o avanço da gestação (p<0,05). Também se observou, com o avanço da gestação, uma diminuição nos valores plasmáticos da proteína total, albumina, glucose e colesterol, não tendo os demais parâmetros revelado alterações significativas. A diminuição estimada para a proteína total foi de 0,556 g/l por cada dia de gestação. Entre os parâmetros relacionados com o metabolismo energético, observou-se um decréscimo do nível plasmático de glucose, estimado em 0,036 mmol/l por cada dia de gestação. Os valores dos parâmetros metabólicos das ovelhas durante a lactação são referidos na Tabela 3. Embora algumas flutuações tenham sido observadas, a análise estatística dos dados mostrou não haver diferenças significativas. Discussão Os valores plasmáticos de Ca, encontrados no presente estudo, foram sempre inferiores aos valores de referência estabelecidos por Kaneko et al. (1997) (2,87 a 3,2 mmol/l). Nota-se que os valores mais baixos desse mineral de 1,89 e 1,85 mmol/l foram, respectivamente, observados no final da gestação e no início da lactação. Nesses períodos, ocorre a maior necessidade de Ca para o crescimento fetal e a síntese de leite. Posteriormente, durante a lactação, o nível plasmático de Ca recupera-se (Tabela 3), o que demonstra um processo de adaptação na manutenção da calcémia. Por outro lado, como a manutenção da calcémia é rigorosamente controlada por hormonas, PTH e calcitonina e pela vitamina D, pode ser sugerido que os valores baixos encontrados para os níveis de Ca no plasma de ovelhas criadas no RS estão relacionados com um efeito geográfico o que inclui o factor alimentar. Os níveis plasmáticos de P foram também inferiores aos valores de referência para ovinos descritos por Kaneko et al. (1997) (1,61 a 2,35 mmol/l). Os baixos níveis de P sugerem uma deficiência desse mineral, a qual, aparentemente, foi mais acentuada com o avanço da lactação, quando foram observados os valores mais críticos de 1,34 mmol/l, no início e de 1,0 mmol/l no fim da lactação, conforme mostram os dados da Tabela 3. Em ovelhas Merino, na Austrália, Hearly e Falk (1974) observaram que a concentração de P no plasma decresceu de 1,61 mmol/l, três semanas antes do parto, para 1,26 mmol/l na parição, embora as razões desse decréscimo não tenham sido esclarecidas. Os valores de P encontrados em ovinos na Austrália são mais próximos dos observados no presente estudo, estando esse facto talvez relacionado com o sistema de produção extensivo praticado no RS que é semelhante ao modelo australiano. O Mg manteve-se dentro dos níveis de referência (Kaneko et al., 1997) (0,9 a 1,15 mmol/l) para ovinos. De modo diferente do Ca, as concentrações plasmáticas de Mg e P são influenciadas pelo balanço entre a sua ingestão e a sua eliminação (Payne et al., 1970). Os dados aqui apresentados indicam que, durante a gestação e a lactação, o balanço de Mg foi adequado, uma vez que o nível plasmático desse elemento manteve-se praticamente constante. Já os valores de P sugerem um balanço quase sempre negativo, salvo no fim da gestação, devendo ser considerado o efeito da ingestão de pastagem verde nesse período. A deficiência de P durante a gestação/lactação poderia levar a um baixo desempenho reprodutivo ou ainda a um deficiente crescimento do borrego, conforme referido por Sykes e Russel (2000). Cavalheiro e Trindade (1992), estudando níveis de minerais em pastagens do RS, citam que na primavera, os níveis de P nas pasta- Tabela 3 - Médias e desvios padrão da condição corporal (CC) e dos parâmetros metabólicos doseados no plasma de ovelhas Border Leicester x Texel, no início e no meio da lactação Período (dias em lactação) Início (15 ± 5) Meio (29 ± 5) n CC (1 a 5) 17 1,25 ±0, ,20 ±0,31 Ca (mmol/ L) 1,85 ±0,15 2,01 ±0,1 Mg (mmol/ L) 0,97 ±0,16 0,91 ±0,05 P (mmol/ L) 1,34 ±0,59 1,00 ±0,08 Proteína (g/l) 72,8 ±9,82 72,15 ±5,67 Globulina (g/l) 44,86 ±9,99 43,16 ±6,20 Albumina (g/l) 28,23 ±3,68 29,00 ±1,00 BHB (mmol/ L) 0,49 ±0,22 0,30 ±0,04 Glucose (mmol/ L) 2,63 ±052 3,32 ±0,13 Colesterol (mmol/ L) 1,81 ±0,21 2,24 ±0,13 Ureia (mmol /L) 5,20 ±1,8 5,76 ±1,73 157
30 Ribeiro, L. A. et al. RPCV (2004) 99 (551) gens, onde foi conduzido o presente experimento, situam-se entre 0,08 e 0,1% da matéria seca. Esses valores estão abaixo das necessidades para ovelhas em reprodução e lactação, que seriam de 0,16 a 0,2%, sugeridas pelo NRC (1985). Os baixos valores de P observados no presente ensaio apontam para a necessidade de suplementação desse elemento no período reprodutivo. Os parâmetros relacionados com o metabolismo proteico (proteína total, globulina e albumina) mantiveram-se dentro dos valores de referência para ovinos (60-79 g/l, g/l e g/l, respectivamente) (Hearly e Falk, 1974; Kaneko et al., 1997). Entretanto, todos esses metabolitos apresentaram uma redução com o avanço da gestação e da lactação. Em particular, a proteína total e a albumina mostraram uma queda nos níveis plasmáticos nos períodos médio e final da gestação, períodos em que a albumina caiu de 31,05 para 24,44 g/l (p<0,05). Aparentemente, o acesso das ovelhas à pastagem, no final da gestação, não foi suficiente para equilibrar as necessidades proteicas dos animais diante de uma maior necessidade fisiológica imposta pelo crescimento fetal e pelo desenvolvimento do úbere, que ocorrem nesse período. Mellor (1983) cita que, em ovelhas submetidas a nutrição deficiente durante os dias 40 e 50 da gestação, ocorreria uma redução média de 45% do crescimento fetal. Na verdade, conforme mostram os dados da Tabela 2, a CC média das ovelhas decresceu de 2,71 para 2,11 entre o meio e o fim da gestação, sugerindo que reservas corporais foram usadas para satisfazer uma maior necessidade requerida para o crescimento fetal. Um maior catabolismo proteico, devido a menor ingresso de azoto proteico, deveria estar associado com um aumento de ureia no mesmo período, conforme sugerido por Sykes (1978). Mas, conforme mostram os dados da Tabela 2, esse metabolito decresceu com o avanço da gestação e durante a lactação, o que estaria relacionado com o déficit proteico alimentar (Contreras, 2000). Por outro lado, observa-se que os valores de albumina recuperaram durante a lactação, concomitantemente com os valores de ureia, o que indica que a grande necessidade proteica aconteceu no período final da gestação. O nível plasmático de glucose manteve-se dentro dos valores de referência no início e no meio da gestação (2,8-4,48 mmol/l) (Kaneko et al., 1997) mostrando, entretanto, uma diminuição significativa (p<0,05) no final da gestação, quando caiu para 1,82 mmol/l, abaixo dos valores normais para ovinos. Russel (1991) cita que 80% do crescimento fetal em ovinos ocorre nas últimas seis semanas de gestação, levando a um aumento na necessidade de nutrientes, principalmente energia. Para a sua manutenção, uma ovelha vazia necessita de cerca de 100 g/dia de glucose. No final da gestação, cada feto necessita de 30 a 40 g/dia de glucose. Assim, esse período de privação alimentar, ou mesmo stress provocado pelo transporte ou pela mudança de manejo, pode levar a um balanço energético negativo grave, com aparecimento de casos clínicos de cetose. A diminuição da CC do grupo experimental, durante a gestação e a lactação, expressa o gradual desequilíbrio nutricional que ovelhas criadas em sistema extensivo no RS experimentam, onde a CC média de 3,30 das ovelhas gestantes caiu para 2,11 no final da gestação e chegando a 1,20 no meio da lactação. A baixa CC observada neste ensaio explica, de certa forma, os valores de BHB encontrados, que estão situados abaixo do valor de 0,94 mmol/l descrito por Foot et al. (1984) para ovelhas com CC média de 3,4 no final da gestação. Tadick et al. (1994), encontraram em ovelhas gestantes, criadas em sistema extensivo no Chile, valores médios de BHB de 0,66 e 0,71 mmol/l no final da gestação e início da lactação, respectivamente. Os baixos valores de BHB, comparados com as referências citadas, sugerem o baixo teor de ingestão calórica nos grupos de ovelhas aqui estudados. Contudo, um leve aumento no início da lactação (0,49 mmol/l) indica um estímulo lipolítico mais acentuado nesse período, provavelmente pela demanda de glucose para a síntese de leite. O nível plasmático de BHB é um bom parâmetro para estimar o nível nutricional de ovelhas no período gestacional. Russel et al. (1977) sugerem que, na ovelha, concentrações plasmáticas de BHB entre 0,73 e 1,14 mmol/l, nas últimas seis semanas de gestação, não levam a uma redução do peso dos borregos ao nascer a ponto de comprometer sua sobrevivência ou mesmo o seu desenvolvimento. Esses valores, entretanto, foram estimados para ovelhas com CC no final da gestação superiores às observadas no RS. Novos ensaios deverão ser conduzidos para determinar valores normais de BHB no plasma de ovelhas criadas no RS e, se possível, estabelecer o nível máximo que esse metabolito poderá atingir, sem causar prejuízos ao crescimento fetal. O fornecimento energético, proteico e mineral proporcionado pelas pastagens naturais parece não satisfazer plenamente as necessidades fisiológicas gestacionais das ovelhas. Novos trabalhos deverão ser conduzidos, no sentido de verificar o efeito sobre a eficiência reprodutiva do nosso rebanho ovino, causado pelos desequilíbrios metabólicos aqui apontados e conferir se a correcção dessas deficiências nutricionais leva a melhores resultados reprodutivos. Agradecimentos Os autores agradecem a Cabanha Andarilho, na pessoa de seu proprietário Dr. Glênio Prudente, por proporcionar a realização do trabalho com o rebanho ovino da propriedade. Bibliografia Cavalheiro, A.C.L., Trindade, D.S. (1992). Os minerais para bovinos e ovinos criados em pastejo. Sagra - DC Luzzatto (Porto Alegre, Brasil),
31 Ribeiro, L. A. et al. RPCV (2004) 99 (551) Contreras, P. (2000). Indicadores do metabolismo protéico utilizados nos perfís metabólicos de rebanhos. In: Perfil metabólico em ruminantes: seu uso em nutrição e doenças nutricionais. Editores: González, F.H.D., Barcellos, J.O., Ospina, H.: Universidade Federal do Rio Grande do Sul ( Porto Alegre, Brasil), Del Valle, J., Wittwer, F., Hervé, M. (1983). Estudio de los perfiles metabolicos durante los periodos de gestacion y lactancia en ovinos Romney. Archivos de Medicina Veterinaria, 15, Foot, J.S., Cummins, L.J., Spiker, S.A., Flinn, P.C. (1984). Concentration of beta-hydroxybutyrate in plasma of ewe in late pregnancy and early lactation, and survival and growth of lambs. In : Reproduction in sheep. Editores Lindsay, D.R. & Pearce, D.T. Australian Academy of Science ( Camberra ), Hearly, P.J., Falk, R.H. (1974).Values of some biochemical constituents in the serum of clinically normal sheep. Australian Veterinary Journal, 50, Kaneko, J.S., Harvey, J.W., Bruss, M.L. (1997). Chemical biochemistry of domestic animals, 5 ª edição. Academic Press (San Diego, USA), Mellor, D.J. (1983). Nutritional and placental determinants of foetal growth rate in sheep and consequences for the newborn lamb. British Veterinary Journal, 139, NRC- NATIONAL RESEARCH COUNCIL.(1985). Nutrient requiriment of sheep. 6 ª edição. National Academy of Science (Washington,USA), 99p. Payne, J.M., Sally, M., Manston, R., Faulks, M. (1970).The use of metabolic profile test in dairy herds. Veterinary Record, 87, Ribeiro, L.A.O. (2002). Perdas reprodutivas em ovinos no Rio Grande do Sul determinadas pelas condições nutricionais e de manejo no encarneiramento e na gestação. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias) - Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil 106f. Russel, A.J.F., Doney, J.M., Gunn, R.G. (1969). Subjective assessment of body fat in sheep. Journal Agricultural Science, 72, Russel, A.J.F. (1991). Nutrition of the pregnant ewe. In : Sheep and goat practice. Editor E. Boden. Baillière Tindall (London), Russel, A.J.F., Maxwell, T.J., Sibbald A.R., Mc Donald, D. (1977). Relatioships between energy intake, nutritional state and lamb birth weight in Grayface ewes. Journal Agricultural Science, 89, Synkes, A.R. (1978). The relations between serum albumin concentration and body protein loss in pregnant sheep. Journal Agricultural Science, 91, Synkes A.R., Russel, A.J.F. (2000).Deficiency of mineral macroelements. In: Diseases of sheep, 3 ª edição. Editores: W.B. Martin, I.D. Aitken. Blackwell Science (Oxford, UK), Tadich, N., Wittwer, F., Gallo, C. (1994). Efecto de un programa de salud en ovinos sobre la condición corporal y los valores sanguíneos de beta-hidroxibutirato, hematocrito y urea. Archivos de Medicina Veterinária, 26,
32 RPCV (2004) 99 (551) Efeito da temperatura ambiente nas exigências de proteína bruta para galinhas reprodutoras pesadas na fase de produção Effect of environmental temperature on crude protein requirements of broiler breeders hens Carlos Bôa-Viagem Rabello 1*, Nilva Kazue Sakomura 2, Flávio Alves Longo 2 1 Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, Pernambuco, Brasil, Cep Departamento de Zootecnia, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP, Via de Acesso Prof. Paulo D. Castellane, s/n, Jaboticabal, São Paulo, Brasil, Cep Resumo: O trabalho objetivou estimar as exigências de proteína bruta para manutenção (PBm) para aves reprodutoras pesadas submetidas a diferentes temperaturas. Foram utilizadas 192 aves reprodutoras pesadas, Hubbard HI-Y, alojadas em gaiolas de acordo com um delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, sendo quatro repetições de quatro aves/gaiola em três câmaras climatizadas com temperaturas controladas de 13, 21 e 30 0 C. Os tratamentos consistiram de quatro níveis de alimentação: ad libitum e 70, 50 e 30% do ad libitum. Durante o período experimental quantificou-se a ingestão de nitrogênio corporal. Foi utilizada técnica de abate comparativo para determinar o nitrogênio retido. As exigências em nitrogênio de manutenção (Nm) e a eficiência de utilização do mesmo (k) foram determinadas a partir da relação entre o nitrogênio consumido e retido. Os valores de Nm foram multiplicados por 6,25 para estimar as exigências de PBm. As exigências de PBm estimadas foram: 2525, 3419 e 4269 mgpb/kg 0,75 /dia e as eficiências, 42, 40 e 38% nas temperaturas de 13, 21 e 30 0 C, respectivamente. Verificou-se aumento linear de 102,42 mgpb/ ave/dia para cada elevação de 1 0 C na temperatura ambiental, conforme a equação determinada: PBm = 1219, ,42 x T, sendo T a temperatura ambiente. Palavras chaves: aves reprodutoras pesadas, exigência de proteína bruta, temperatura ambiente. Summary: The objective of this study was to determine the crude protein for maintenance (CPm) for broiler breeder hens. One hundred and ninety two birds were housed in climatic chambers at 13, 21 and 30 0 C. The birds were distributed in four treatments with four replications of four birds each. The treatments were: ad libitum intake and 70, 50 and 30% of the ad libitum intake. During the experimental period the ingestion of nitrogen was quantified. Comparative slaughter technique was used to determine the retained nitrogen. Maintenance nitrogen requirements (Nm) and efficiency of nitrogen utilization (k) were determined by the relationship of intaked and retained nitrogen. Nm was multiplied by 6.25 to estimate the demands of CPm. The CPm were: 2525, 3419 e 4269 mgcp/kg 0,75 /day and efficiency were: 42, 40 e 38%, for temperature of 13, 21 and 30 0 C, respectively. Verified increasing of the mgpb/bird/day for each elevation of 1 0 C in the environmental temperature, according to the certain equation: PBm = x T, where T is the environmental temperature. *Correspondência: telefone: /1551/1576, cbviagem@ufrpe.br Key words: broiler breeder hens, environmental temperature, protein requirement Introdução Segundo Scott et al. (1982) a proteína forma as partes estruturais do tecido mole do corpo animal como os músculos, o tecido conjuntivo, o colágeno, a pele, as cerdas, os pêlos e as unhas, nas aves as penas, e outras porções como o bico. Além disso, a proteína é parte essencial na composição dos ovos e de fundamental importância para a produção de pintainhos, sendo que uma parte considerável da proteína ingerida pelas aves é utilizada para manutenção. Trabalho realizado por Rabello et al. (2002a) determinou que a maior parte da proteína ingerida (66%) foi destinada à produção de ovos, sendo 29% destinada para a manutenção e 5% para o ganho de peso. Leeson e Summers (2000) sugerem que reprodutoras pesadas às 32 semanas de idade devem consumir um total de 21g de PB/dia, sendo 1g para o crescimento (4,76%), 10 g para produção de ovos (47,62%) e 10g para manutenção (47,62%) e para aves às 55 semanas de idade um total de 19 g de PB/dia, sendo 8 g para produção de ovos (42,10%) e 11g para manutenção (57,80%). Diversos fatores influenciam as exigências de proteínas: os intrínsecos, como o genótipo, a idade e o peso da ave, e os extrínsecos como a nutrição, o nível de produção, as condições de manejo e alojamento e a alimentação durante a cria e recria (Santomá, 1991). Por outro lado, alguns pesquisadores têm encontrado diferenças nas exigências de proteína bruta ao estudarem aves em diferentes condições de temperatura ambiental, sendo estas explicadas pelas alterações no metabolismo hormonal dos animais (Himms-Hagen, 1967; Moberg, 1976; De Andrade, 1977; Geraert et al., 1994). Para determinação da exigência de proteína, Santo- 161
33 Rabello, C. B. et al. RPCV (2004) 99 (551) má (1991) salienta que o melhor critério do ponto de vista fisiológico é a medida da taxa de deposição protéica, através da técnica do abate comparativo (composição da carcaça) ou pela técnica do balanço do nitrogênio. O abate comparativo leva em consideração que a composição corporal de um grupo de aves pode ser estimada pela composição da carcaça de uma amostra de aves, sendo abatida no início e no final do período experimental, permitindo desta forma quantificar a retenção de um determinado nutriente em um período de tempo estabelecido (Wolynetz e Sibbald, 1987). A técnica do balanço de nitrogênio relaciona o balanço de nitrogênio em função do nitrogênio ingerido, permitindo determinar no intercepto do eixo da ordenada (nitrogênio retido) as perdas endógenas do animal quando este recebe uma dieta livre de nitrogênio. A exigência de nitrogênio para manutenção é determinada no intercepto do eixo da abscissa (nitrogênio ingerido), quando a retenção do nitrogênio é zero e a inclinação da reta representa a eficiência de utilização da proteína pelo animal (Boorman, 1981). O método fatorial constitui a base para a elaboração de equações de predição, as quais são de grande importância para o Brasil, tendo em vista que a amplitude climática é variável e os galpões para criação das aves são abertos, pois as equações de predição levam em consideração parâmetros inerentes à ave e ao ambiente facilitando a elaboração de programas alimentares mais adequados (Rostagno et al., 1996). Assim, esta pesquisa teve como objetivo determinar as exigências de proteína bruta para manutenção de galinhas reprodutoras pesadas na fase de produção, submetidas a diferentes temperaturas ambientais. Material e métodos O trabalho foi desenvolvido no Setor de Avicultura do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Campus de Jaboticabal, Jaboticabal, São Paulo, Brasil. A cidade de Jaboticabal está localizada no interior do Estado de São Paulo na latitude S, longitude W e altitude de 595 m. Os ensaios foram conduzidos em galpões climatizados com temperaturas controladas de 13, 21 e 30 0 C, utilizando 192 aves da linhagem Hubbard HI-Y, sendo alocadas 64 aves a cada temperatura. As aves foram alojadas em gaiolas (100 x 45 x 40 cm) onde permaneceram durante um período de 6 semanas (29 a 35 semanas de idade) sendo 1 semana de adaptação e 5 semanas de coleta de dados. Cada gaiola representou uma parcela experimental, sendo composta por 4 aves. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 4 níveis de alimentação e 4 repetições, sendo 4 aves por repetição. Os tratamentos consistiram em diferentes níveis de ingestão de alimento: consumo ad libitum e 70, 50 e 30% em relação ao consumo do ad libitum. O fornecimento de alimento para os tratamentos com restrição alimentar foi realizado diariamente em função do consumo do dia anterior do tratamento ad libitum, permitindo o controle da quantidade do alimento ingerido no período experimental. A dieta experimental foi formulada para atender às necessidades nutricionais das aves, segundo as recomendações do manual da linhagem (Tabela 1). As aves receberam um programa de luz de 17 horas diárias com luz artificial, considerando que o galpão era climatizado, não se permitindo que as aves recebessem luz natural. As exigências e eficiências de utilização da proteína para manutenção foram determinadas pela técnica do abate comparativo. Durante o experimento quantificouse ingestão e retenção do nitrogênio ingerido. Foram sacrificadas quatro aves/temperatura no início e todas as aves das parcelas no final do período experimental. Inicialmente, as aves foram submetidas a um jejum de 24 horas e mortas por deslocamento cervical sendo em seguida pesadas, coletada uma amostra de penas em várias partes do corpo, depenadas e congeladas; uma amostra de seis ovos por parcela experimental foi também coletada no inicio e final do período experimental e os ovos foram homogeneizados e congelados. Para a análise de composição corporal, as carcaças foram serradas, moídas, amostradas e secas em estufa a 55 0 C por 72 horas, sendo novamente moídas em moinho de bola. As amostras de penas coletadas de diferentes partes do corpo da ave foram cortadas e os ovos homogeneizados em liqüidificador por 2 minutos e secos da mesma forma e, em seguida, moídos. Para a análise de nitrogênio foi utilizado o método micro Kjedahl conforme descrito pela AOAC (1990). A variável ingestão de nitrogênio e nitrogênio retido (g/kg 0,75 /dia) quantificado foram relacionadas através de equações de regressão para obtenção das exigências diárias de nitrogênio para manutenção e as eficiências de utilização do nitrogênio para manutenção (k) em cada temperatura estudada. Para determinar o efeito da temperatura sobre as exigências de PBm, fez-se a regressão dos valores de PBm determinados em cada temperatura em função da temperatura ambiente. A análise estatística foi realizada através de análise de regressão por meio do procedimento PROC REG do programa computacional SAS for Windows v (1996). Resultados Na Tabela 2 e 3, estão apresentados os dados de peso inicial e final no abate, variação no ganho de peso, consumo de ração e produção de ovo (massa de ovos e postura) das aves durante o experimento. Verifica-se que as aves submetidas à restrição, a partir do segundo nível de alimentação, começaram a perder peso corporal quando submetidas a 30 0 C. Isto é explicado pelo fato de que os níveis de restrição foram baseados na in- 162
34 Rabello, C. B. et al. RPCV (2004) 99 (551) Tabela 1 - Composição alimentar e nutricional das rações utilizadas para matrizes durante a fase experimental Ingredientes Composição alimentar (%) Nutrientes Níveis nutricionais Milho 68,670 Proteína bruta, % 15,500 Farelo de soja 20,991 Energia metabolizável, kcal/kg 2825 Fosfato bicálcico 1,840 Metionina, % 0,446 Calcário calcítico 7,558 Metionina+cistina, % 0,715 Sal comum 0,350 Lisina, % 0,760 DL-Metionina 99 0,191 Cálcio, % 3,390 Suplemento vitamínico (1) 0,300 Fósforo disponível, % 0,410 Suplemento mineral (1) 0,100 1 Os suplementos vitamínico e mineral foram formulados para atender as exigências nutricionais das matrizes e foram fornecidos pela Granja Rezende. Tabela 2 - Médias de peso do abate inicial e final com o desvio padrão da média e a variação de peso das aves durante o período experimental Níveis de restrição IR 1 (%) Peso Abate Inicial (g) Peso Abate final (g) Variação no peso (g) Temperatura 30 0 C T1 ad libitum 100, , ,13 260,63 T2 70% 72, , ,25-131,25 T3 50% 51, , ,75-380,75 T4 30% 32, , ,13-572,38 Temperatura 22 0 C T1 ad libitum 100, , ,63 759,13 T2 70% 77, , ,38 83,88 T3 50% 56, , ,50-191,00 T4 30% 39, , ,00-519,50 Temperatura 13 0 C T1 ad libitum 100, , ,38 881,38 T2 70% 83, , ,00 190,63 T3 50% 60, , ,38-232,63 T4 30% 40, , ,63-534,38 1 Índice relativo em relação a ingestão de ração corrigido semanalmente de acordo com o comportamento no desempenho das aves gestão diária do tratamento testemunha, e assim as aves submetidas a temperaturas constantes de 30 0 C, tiveram dificuldade de perder calor, diminuindo drasticamente o consumo de ração, conforme apresentado na Tabela 3. Quanto às demais aves submetidas a temperaturas mais baixas, só apresentaram perda de peso corporal a partir do terceiro nível de alimentação. Como consequência da baixa ingestão de ração as aves começaram a diminuir a produção de ovos a partir do terceiro nível de restrição alimentar. Portanto, no nível de alimentação 1 (ad libitum) as aves ingeriam ração acima das exigências de manutenção, no nível de alimentação 2 as aves supriram suas exigências nutricionais e a partir do nível de restrição 3 e 4 as aves diminuíram a sua postura. Na Tabela 4 estão apresentados os valores de nitrogênio ingerido e nitrogênio retido total (carcaça e ovos) durante o período experimental. Observa-se que as menores retenções de nitrogênio foram observadas nas aves submetidas à temperatura de 30 0 C, devido as menores ingestões das rações, observando inclusive retenção de nitrogênio negativa no último nível de restrição. No entanto, vale salientar que as aves perderam peso corporal, porém em maior proporção na sua reserva energética. A partir dos resultados da Tabela 4, foram realizadas análises de regressão obtendo-se as equações de predição apresentadas na Tabela 5, com suas respectivas estimativas nas exigências de nitrogênio e proteína bruta para manutenção e suas eficiências de utilização nas diferentes temperaturas. Observa-se variação nos valores das exigências de proteína bruta para manutenção quando as aves foram alojadas em diferentes temperaturas, 2528,48, 3418,75 e 4268,75 mg/ kg 0,75 /dia de PB, submetidas a 13, 21 e 30 0 C, respectivamente, evidenciando exigências superiores para as aves mantidas em temperaturas mais elevadas, conforme apresentado na Figura 1, demonstrando um efeito linear da temperatura (P<0,05) sobre as exigências de PBm, segundo a equação: PBm = 1219, ,42 x T, constatando que para cada 1 0 C de aumento na temperatura ambiente as exigências de proteína bruta aumentam em torno de 102,42 mg/kg 0,75 /dia de PB. Este efeito da temperatura sobre as exigências de proteína bruta pode ser explicado em parte pela menor eficiência de utilização do nitrogênio para manutenção. Por outro lado, verifica-se que os coeficientes (a) das equações que se referem à retenção de nitrogênio, diminuiram com o aumento da temperatura, evidenciando a regulação metabólica na síntese e deposição protéica corporal pelas aves com o intuito de diminuir a produção de calor, a fim de controlar inclusive o estresse calórico. 163
35 Rabello, C. B. et al. RPCV (2004) 99 (551) Tabela 3 - Médias do consumo de ração e produção de massa de ovos (g/ave/dia) Níveis de restrição IR 1 (%) Consumo de Ração (g/ave/ dia) Postura (%) Peso médio do ovo (g) Temperatura 30 0 C T1 ad libitum 100,0 135,63 57,03 57,77 32,85 T2 70% 72,2 106,33 62,70 58,86 36,88 T3 50% 51,4 76,02 47,27 58,39 27,41 T4 30% 32,2 49,73 33,01 55,39 18,34 Temperatura 22 0 C T1 ad libitum 100,0 188,33 57,62 63,53 36,56 T2 70% 77,7 131,46 63,12 60,70 38,78 T3 50% 56,5 92,48 40,82 60,25 24,63 T4 30% 39,1 59,91 30,08 57,62 17,20 Temperatura 13 0 C T1 ad libitum 100,0 219,15 68,94 65,46 45,85 T2 70% 83,0 144,50 70,04 62,84 43,98 T3 50% 60,6 96,65 41,35 61,37 25,78 T4 30% 40,7 58,20 23,90 60,41 14,50 1 Índice relativo em relação a ingestão de ração corrigido semanalmente de acordo com o comportamento no desempenho das aves Tabela 4 - Médias do consumo de nitrogênio e nitrogênio retido na carcaça durante o período experimental Níveis de restrição Temperatura 30 0 C IR 2 (%) Ingestão de Nitrogênio (g/kg 0,75 /dia) T1 ad libitum 100,0 1,31 0,23 T2 70% 72,2 1,07 0,15 T3 50% 51,4 0,79 0,08 T4 30% 32,2 0,53-0,08 Níveis de restrição Temperatura 21 0 C IR 2 (%) Ingestão de Nitrogênio (g/kg 0,75 /dia) T1 ad libitum 100,0 1,71 0,45 T2 70% 77,7 1,28 0,35 T3 50% 56,5 0,93 0,11 T4 30% 39,1 0,62 0,04 Níveis de restrição Temperatura 13 0 C IR 2 (%) Ingestão de Nitrogênio (g/kg 0,75 /dia) Nitrogênio corporal retido 1 (g/kg 0,75 /dia) Nitrogênio corporal retido 1 (g/kg 0,75 /dia) Nitrogênio corporal retido 1 (g/kg 0,75 /dia) T1 ad libitum 100,0 1,93 0,60 T2 70% 83,0 1,36 0,47 T3 50% 60,6 0,95 0,22 T4 30% 40,7 0,59 0,06 1 Valores de composição total corporal (corpo+penas+ovos) 2 Índice relativo em relação a ingestão de ração corrigido semanalmente de acordo com o comportamento no desempenho das aves Ovo produzido (g/ ave/dia) Discussão As maiores exigências com o aumento da temperatura ambiente são justificadas pelas mudanças no equilíbrio hormonal das aves, principalmente quando submetidas ao estresse calórico, o que foi comprovado em experimentos realizados por Cheng et al. (1997) com frangos de corte que observaram diminuição na eficiência de deposição de proteína na carcaça com a elevação da temperatura. As exigências de Nm para aves reprodutoras pesadas são bastante escassas na literatura. Valores inferiores aos encontrados neste trabalho com reprodutoras pesadas, em torno de 547 mgn/kg 0,75 /dia, utilizando a técnica do abate comparativo são diferentes das quantidades recomendadas por Scott et al. (1982) para poedeiras leves em produção de 201 e 224 mgn/kg 0,75 /dia, para o período de 21 a 42 semanas e 42 ao descarte, respectivamente e, encontrados por Basaglia (1999) de 307 mgn/kg 0,75 /dia pela técnica do balanço de nitrogênio e 439 mgn/kg 0,75 /dia pela técnica do abate comparativo utilizando poedeiras comerciais. Rabello et al. (2002b) utilizando a metodologia do balanço de nitrogênio com aves reprodutoras pesadas da mesma linhagem comercial determinaram exigência inferior de nitrogênio, 365 mg/kg 0,75 /dia, devido ao superior valor na eficiência de utilização do nitrogênio determinada por esta técnica, pois o valor do coeficiente (a) da equação foi similar (0,2216) ao determinado neste trabalho, conforme a equação: BN=0, ,6079 NI, onde BN é o balan- 164
36 Rabello, C. B. et al. RPCV (2004) 99 (551) Tabela 5 - Equações de regressão da retenção de nitrogênio (NR) em função da ingestão de nitrogênio (NI) nas temperaturas de 13, 21 e 30 0 C, seus coeficientes de determinação, as exigências de nitrogênio para manutenção e suas eficiências de utilização Temperatura ( 0 C) Equações R 2 Nm (mg/kg 0,75 /dia) PBm 1 (mg/kg 0,75 /dia) 13 NR=-0,1683+0,4167NI 0, NR=-0,2214+0,4046NI 0, NR=-0,2596+0,3799NI 0, Médias Estimadas a partir da multiplicação do fator 6,25 pela exigências de Nm Eficiências (%) Bibliografia Figura 1 - Efeito da temperatura sobre as exigências de PBm de aves reprodutoras pesadas ço de nitrogênio e o NI o nitrogênio ingerido; observa-se ainda que a eficiência determinada foi superior, 0,6079 (61%), mesmo considerando que a temperatura ambiente tenha sido similar (21,5 0 C) quando comparado a câmara termoneutra. Resultados de eficiência de 40% foram inferiores aos encontrados por Basaglia (1999) que utilizando a técnica do balanço de nitrogênio encontrou valor de 58,95% para poedeiras leves e Scott et al. (1982) que consideram o valor de 55% como eficiência de utilização do nitrogênio da dieta para ser depositado no corpo para aves em produção, o mesmo foi encontrado por Silva (1999) para aves reprodutoras pesadas em crescimento. Scott et al. (1982) e Basaglia (1996) ainda relatam eficiências de 67 e 67,21% para frangos de corte e poedeiras leves em crescimento, respectivamente. Eficiência menor e mais próxima à deste trabalho é citada por Macleod (1990) trabalhando com frangos de corte, em torno de 46% para deposição de nitrogênio. As diferenças nas exigências de nitrogênio entre os trabalhos, além de outros fatores, estão basicamente relacionadas com as metodologias utilizadas e categoria animal em estudo. De acordo com os resultados encontrados neste trabalho, sugere-se que o fator temperatura ambiente seja levado em consideração no momento do ajuste da quantidade de proteína bruta na dieta das aves reprodutoras pesadas, levando em consideração a diversidade climática no Brasil e em outros países do mundo. Agradecimentos Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo apoio financeiro e a Granja Rezende pela doação das aves. Association of Agricultural Chemists (1990). Official methods of Analysis, 16 a edição. Washington, 1094 p. Basaglia, R. (1999). Equações de predição das exigências das exigências de energia e proteína para poedeiras leves. Tese de Doutorado em Zootecnia, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal. Cheng, T.K., Hamre, M.L., Coon, G.N. (1997). Responses of broiler to dietary protein levels and amino acid supplement to low protein diets at various environmental temperatures. Journal Applied Poultry Research, 6, De Andrade, A.N., Rogler, J.C., Featherston, W.R., Alliston, C.W. (1977). Interrelation between diet and elevated temperatures (cyclical and constant) on egg production and shell quality. Poultry Science, 56, Geraert, P.A., Padilha, J.C.F., Ain Bartz, H., Guillaumin, S. (1994). Heat-induced changes in energy metabolism in broilers. In: Proc. 13 th Symposium of Energy Metabolism of Farm Animals, EAAP Mojacar, Spain. No. 76, Himms-Hagen, J. (1967). Sympathetic Regulation Of Metabolism. Pharmac. 19, Leeson, S., Summers, J.D. (2000). Broilers Breeder Production. Guelph: University Books. Macleod, M.G. (1990). Energy and nitrogen intake, expenditure and retention at 20 0 in growing fowl given diets with a wide range of energy and protein contents. British Journal Nutrition, 64, Moberg, G.P. (1976). Effects of environment and management stress of reproduction in dairy cows. Journal Dairy Science, 50, Rabello, C.B.V., Sakomura, N.K., Longo, F.A., Junqueira, O.M., Pacheco, C.R. (2002a). Avaliação de uma equação de predição das exigências protéicas para aves reprodutoras pesadas na fase de produção. Revista Brasileira de Zootecnia, 31, Rabello, C.B.V., Sakomura, N.K., Longo, F.A., Resende, K.T., Couto, H.P. (2002b). Equação de predição da exigência de proteína bruta para aves reprodutoras pesadas na fase de produção. Revista Brasileira de Zootecnia, 31, Santomá, G. (1991). Necessidades protéicas de las gallinas ponedoras. In: Nutricion y alimentación de gallinas ponedoras. Editores: De Blas, C. y Mateos, G.G. Mundi-Prensa, Madrid, Scott, M.L., Nesheim, M.C., Young, R.J. (1982) Nutrition of the chicken. 3 a edição. Editores: Scott, M.L. (Ithaca). Silva, R. (1999). Equações de predição das exigências das exigências de energia e proteína para matrizes pesadas em crescimento. Tese de Doutorado em Zootecnia, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal. 165
37 RPCV (2004) 99 (551) Diagnóstico citológico do tumor venéreo transmissível na região de Botucatu, Brasil (estudo descritivo: ) Cytological diagnostic of transmissible venereal tumor in the Botucatu region, Brazil (descriptive study: ) Anne S. Amaral 1, Luiz Fernando J. Gaspar 1, Sandra B. Silva 2, Noeme S. Rocha 3 1 Médico Veterinário, M.Sc., doutorando em Medicina Veterinária, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista (FMVZ-UNESP), Botucatu, Brasil. 2 Médica Veterinária, mestranda em Medicina Veterinária, FMVZ-UNESP. 3 Professora livre-docente doutora, Departamento de Clínica, FMVZ-UNESP. Resumo: O exame citológico é um método rápido, confiável e de baixo custo para o diagnóstico da maioria das enfermidades neoplásicas nos animais. O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia contagiosa restrita à população canina. Seu diagnóstico pode ser feito por biopsia e/ou exame citológico. Este trabalho objetivou reunir casos desta neoplasia na região de Botucatu, Brasil, nos quais o exame citológico foi utilizado para o diagnóstico e classificação morfológica em tipo linfocitóide, plasmocitóide ou misto. O diagnóstico citológico de TVT foi o segundo mais frequente (17,1%) entre os exames citológicos realizados em neoplasias caninas. A maioria dos casos ocorreu na genitália externa (72% dos casos) e, em menor freqüência, foram observadas formas cutâneas, nasais e em linfonodos. A ocorrência foi em machos de 53,1% e em fêmeas de 46,9% e a idade de maior frequência foi quatro anos. O tipo celular predominante foi o plasmocitóide. Palavras chave: exame citológico, tumor venéreo transmissível, cães. Summary: The cytological examination is a fast, simple and inexpensive method to diagnose neoplastic diseases in veterinary medicine. The transmissible venereal tumor (TVT) is a contagious neoplasm restricted to the canine population. Its diagnostic may be done through histologic and cytologic examinations. The goal of this paper is to group TVT cases from Botucatu region, Brazil, in which cytologic examination was used for diagnosis and classification in lymphocyte-like, plasma cell-like and lympho-plasmacytoid forms. TVT was the second most frequent diagnosis in the neoplastic cytologic examinations in dogs (17,1%). The majority of cases (72%) affected the external genitalia and, in a lower frequency, occurred in cutaneous, nasal passages and regional or distant lymph nodes. Males represented 53,1% of cases and females 46,9%. The age of highest frequency was four years-old. The predominant cell type was plasm cell-like. Key words: cytologic examination, transmissible venereal tumor, dogs. Introdução O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia contagiosa que acomete cães, sem predileção por Correspondência: anne.am@uol.com.br raça ou sexo. Por ser incerto quanto à origem, modo de transmissão e regressão espontânea, o TVT tem despertado inúmeras investigações científicas. O tumor pode comprometer a genitália externa bem como outras regiões corpóreas do animal (Pérez et al., 1994; Cowel e Tyler, 1999; Varaschin et al., 2001). Com origem histológica não definida, as várias nomenclaturas utilizadas para designar o TVT basearamse sempre na morfologia celular ou no comportamento biológico. Em vista disso, ao longo do tempo, foi denominado de linfoma venéreo, plasmacitoma venéreo, histiocitoma infeccioso, condiloma canino, sarcoma transmissível e tumor de Sticker (Nielsen e Kennedy, 1990; Kirchoff e Nohr, 1994). Cães sexualmente activos são mais comumente afectados (Nielsen e Kennedy, 1990), embora, eventualmente, filhotes possam ser acometidos pelo contato com a mãe portadora (dados não publicados). A neoplasia pode apresentar-se de forma única ou múltipla, localizando-se, preferencialmente, na mucosa da genitália externa, das narinas, da boca e dos olhos ou na pele. Quando a neoplasia desenvolve-se nestas estruturas, limita-se a elas, excepto em casos pouco frequentes em que pode invadir tecidos adjacentes e alcançar a corrente linfática e/ou sanguínea, e ir povoar órgãos distantes do sítio primário, como mama, pulmão, baço, encéfalo e outros (Nielsen e Kennedy, 1990; Kirchoff e Nohr, 1994; Ferreira et al., 2000). Nos sítios primários, quando instalado, apresenta-se macroscopicamente como uma estrutura semelhante à couve-flor, pedunculado, nodular, papilar ou multilobado. À palpação, o TVT é um tumor de consistência firme, mas friável e hemorrágico, e a superfície quase sempre exibe ulcerações (Nielsen e Kennedy, 1990; Batamuzi e Bittegeko, 1991; Chang e Yang, 1996). As células características deste tumor são redondas ou ovais, com diâmetro entre 14 e 30 µm e bordos citoplasmáticos bem delimitados. O núcleo, também redondo ou oval, é frequentemente excêntrico, de tama- 167
38 Amaral, A. S. et al. RPCV (2004) 99 (551) nho variável, com cromatina grosseiramente granular e com um ou dois nucléolos proeminentes. A relação núcleo : citoplasma é relativamente alta (Wellman, 1990; Boscos et al., 1999). O citoplasma é discretamente basofílico e com múltiplos vacúolos, pequenos e claros, que geralmente acompanham o bordo celular. Anisocitose e anisocariose são observadas, bem como eventual basofilia citoplasmática, hipercromasia nuclear e macrocariose (Erünal-Maral et al., 2000). A presença de figuras mitóticas e células inflamatórias é outra característica desta neoplasia (Wellman, 1990; Boscos et al., 1999; Erünal-Maral et al., 2000; Varaschin et al., 2001). Entretanto, mudanças na morfologia celular do TVT têm sido cada vez mais observadas, como a ausência dos vacúolos citoplasmáticos e a presença de células maiores e ovóides em relação à descrição clássica da neoplasia. Muitas vezes, o aspecto das células pode variar entre o tumor primário e a metástase ou ser atípico, em casos de tumores com maior tempo de evolução (Boscos et al.; 1999, Ferreira et al., 2000). Varaschin et al. (2001) registraram a observação de células com citoplasma espumoso e aumentado de volume em casos de TVTs maligno. O exame citológico é um exame complementar, simples, rápido, pouco doloroso, minimamente invasivo e de baixo custo para o diagnóstico de lesões neoplásicas no homem e nos animais (Cardoso, 1983; Daleck et al., 1987; Larkin, 1994; Ansari e Derias, 1997; Rocha, 1998a,b). A técnica foi modificada da metodologia padrão de citologia esfoliativa, desenvolvida por Papanicolaou na metade do século XIX. Portanto, não é um procedimento novo e, nos últimos anos, tem sido amplamente utilizada em todo o mundo, especialmente em medicina humana, com significativa melhoria na preparação e interpretação do material. Apesar disso, o exame citológico é pouco utilizado em medicina veterinária, principalmente no Brasil (Larkin, 1994; Ansari e Derias, 1997; Rocha, 1998a,b; Boscos et al., 1999). A maioria das informações disponíveis sobre TVT são de literatura estrangeira, baseadas em dados de Figura 2 Tumor venéreo transmissível tipo plasmocitóide. Observar citoplasma amplo, contorno ovóide e núcleo excêntrico. Giemsa, 400x. Figura 3 Tumor venéreo transmissível tipo linfocitóide. Observar contorno celular arredondado, núcleo centralizado e menor relação núcleo : citoplasma. Giemsa, 640x. biopsia e/ou necropsia de animais de raça definida, situação esta distante da realidade brasileira. O presente trabalho objectivou reunir casos com diagnóstico citológico de tumor venéreo transmissível, atendidos no Hospital Veterinário da Universidade estadual Paulista, campus de Botucatu, no período de 1994 a 2003, para estabelecer a validade deste método como ferramenta de diagnóstico e tipificação morfológica dessa neoplasia. Material e métodos Figura 1 Material necessário para a realização ambulatorial da citologia aspirativa por agulha fina: citoaspirador de Valeri, seringa descartável de 10 ml e agulhas descartáveis. Para a elaboração deste trabalho foram seleccionados, dos 5798 exames citológicos de cães, registrados no Serviço de Patologia do Hospital Veterinário da Faculdade de Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista (HV-FMVZ-UNESP), campus de Botucatu, Brasil, todos os 576 casos com diagnóstico de TVT, desde a implantação do serviço de Citologia Aspirativa, em 1994, até Foram obtidas informações referentes ao sexo, raça e idade dos pacientes, localização dos tumores e tipificação citológica da neoplasia. Esses animais foram atendidos pelo Serviço de Cirurgia de Pequenos Animais do HV-FMVZ-UNESP 168
39 Amaral, A. S. et al. RPCV (2004) 99 (551) Tabela 1 Casos de tumor venéreo transmissível diagnosticados no Hospital Veterinário (FMVZ-UNESP) entre 1994 e 2003, de acordo com a localização. Ano Genit Cutân Nasal Linfon Oral Ocular Mamár Esplén Perian Peritl Hepát Pulmr Testic Muscul Total % 65,5 10,4 7,7 4,5 3,5 2,3 2,3 1,1 1,2 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 e eram provenientes da região centro oeste do Estado de São Paulo, que abrange Botucatu, São Manuel, Avaré, Bauru, Piracicaba, Tietê, Sorocaba, entre outras. Quando a colheita de material era realizada por punção aspirativa, utilizava-se agulhas de calibre 24G ou 26G (para lesões com até 1 cm de diâmetro) ou agulhas 22G (para lesões maiores), seringa descartável de 10 ml e citoaspirador de Valeri (Figura 1). Em animais com massas internas, predominantemente intra-abdominais, realizava-se o procedimento guiado por ultrasom e com agulhas longas o suficiente para alcançar o tumor. Material de tumores nasais eram amostrados de acordo com o sinal clínico apresentado: casos com distorção da face e possibilidade de visualização da massa eram colhidos por punção aspirativa; já casos em que o sinal presente era secreção nasal, utilizava-se a escova ginecológica por via intranasal para obtenção de células. A execução da punção passou pelas seguintes etapas: a agulha, acoplada à seringa, era inserida na lesão previamente limpa com anti-séptico tópico; realizava-se pressão negativa e, sem retirar a agulha de dentro da massa, reposicionava-se o conjunto com movimentos de vaivém, descrevendo um leque e amostrando uma área significativa do tumor. Após, a pressão negativa era desfeita e a agulha retirada de dentro da massa. A seguir, a agulha era desconectada da seringa, a qual era cheia com ar e reconectada à agulha. O conteúdo da agulha era empurrado com o ar da seringa para três lâminas histológicas com extremidade fosca e, com o auxílio de uma lâmina extensora, distendido por meio de compressão suave. Os esfregaços eram então secos ao ar ambiente e fixados em metanol para coloração de Giemsa. Utilizou-se microscópio óptico para a leitura dos exames citológicos. Para tal, foram seguidos os critérios: observação em aumento de 100X para avaliação de celularidade, distribuição e qualidade da coloração; 200X para características de esfoliação e avaliação dos tipos celulares e, por último, aumento de 400X para a análise morfológica individual das células, tais quais as características citoplasmáticas, cromatina nuclear e nucléolos (Perman et al., 1979; Carvalho, 1993; Cowell e Tyler, 1999). A presença de figuras de mitose, por favorecerem a ideia de tumor altamente invasivo, e de infiltrado inflamatório também foram avaliadas. Após a leitura microscópica, os diagnósticos das lesões foram agrupados em três categorias: o TVT de aspecto plasmocitóide, quando ao menos 70% das células neoplásicas apresentavam-se ovóides, com menor relação núcleo : citoplasma e núcleo excêntrico (Figura 2); TVT de aspecto linfocitóide, quando no mínimo 70% das células tumorais assemelhavam-se a linfócitos, ou seja, células arredondadas, com maior relação núcleo : citoplasma e núcleo redondo e central (Figura 3). Quando ambos os tipos celulares estavam presentes em percentual inferior a 70%, classificou-se como TVT de aspecto linfoplasmocitóide ou misto. Estes critérios são uma modificação feita pelo Serviço de Patologia Veterinária da FMVZ-UNESP, tanto de material citológico quanto de histológico, a partir da nomenclatura usual da neoplasia, a qual classifica o TVT entre as neoplasias de células redondas (Duncan e Prasse, 1979; Cowell e Tyler, 1999). Resultados No período de 1994 a 2003 foram realizados no HV- FMVZ-UNESP 5798 exames citológicos na espécie canina. Destes, 3369 tiveram diagnóstico de neoplasia, sendo 576 (17,1%) tumor venéreo transmissível. A incidência do TVT em comparação com as demais neoplasias diagnosticadas citologicamente oscilou entre 11,8 e 24,1%, de acordo com o ano de amostragem 169
40 Amaral, A. S. et al. RPCV (2004) 99 (551) (Figura 4). Do total de pacientes com diagnóstico de TVT, 306 (53,1%) eram machos e 270 (46,9%), fêmeas. A idade no diagnóstico esteve entre 8 meses e 15 anos, sendo 4 anos a idade de maior frequência (Figura 5). Observou-se um aumento da frequência em animais de dez anos de idade, não estatisticamente significativo quando comparado ao total da população de cães submetidos ao exame citológico. A localização mais frequente da neoplasia foi a genitália, seguida pela pele, cavidade nasal, cavidade oral e linfonodos superficiais (Tabela 1). Nos casos extragenitais, o TVT foi diagnosticado no fígado, baço, pulmão e peritónio. O tipo morfocelular predominante foi o plasmocitóide (74%), especialmente nos tumores de localização extragenital (Figura 6). A presença de figuras de mitose foi observada em todos os grupos de tumores, geralmente entre uma e três por campo de maior aumento (400x). O infiltrado inflamatório predominante foi o neutrofílico, principalmente nos casos genitais e nasais, provavelmente associado às ulcerações de superfície e invasão bacteriana, tendo sido observado também infiltrado de plasmócitos, linfócitos e macrófagos em grande número de casos. Discussão O tumor venéreo transmissível foi a segunda neoplasia mais incidente em cães em nosso levantamento, menor somente que a neoplasia mamária, o que está de acordo com o descrito na literatura (Nielsen e Kennedy, 1990; Morales e González, 1995). Dados na literatura apontam que o TVT não tem predilecção por raça ou sexo (Nielsen e Kennedy, 1990; Cowell e Tyler, 1999). Em nosso trabalho, a prevalência foi ligeiramente maior nos machos (53,1%) do que nas fêmeas (46,9%). Estudos retrospectivos realizados no Brasil (Sobral et al., 1998) e no México (Morales e González, 1995) sobre a incidência de TVT evidenciaram maior ocorrência da neoplasia nas fêmeas que nos machos. Estes achados conflitantes não caracterizam uma clara predisposição sexual. A média de idade encontrada foi a mesma citada por Morales e González (1995) e a distribuição por faixa etária foi semelhante à reportada por Sobral et al. (1998). Como o TVT é uma afecção venérea, os novos casos são esperados numa faixa etária limitada à actividade sexual intensa, ou seja, entre três a cinco anos de idade, com uma ocorrência mínima em cães com menos de um ano e diminuindo de incidência após os seis ou sete anos. Nesse sentido, chama a atenção a ocorrência do aumento da frequência em animais de dez anos de idade, ainda que não seja estatisticamente significativo, quando comparado ao total da população de cães submetidos ao exame citológico. Um estudo epidemiológico mais abrangente é necessário para esclarecer esse achado. O tumor venéreo transmissível canino possui tropismo pela genitália de machos e fêmeas, bem como Figura 4 Percentual de diagnósticos de tumor venéreo transmissível em relação aos exames citológicos em cães, no período (HV- FMVZ-UNESP). Figura 5 Distribuição etária dos casos de tumor venéreo transmissível canino, por sexo, diagnosticados entre 1994 e 2003 (HV-FMVZ- UNESP). 74% 13% Plasmocitóide Linfocitóide Misto 13% Figura 6 Tipificação morfológica dos casos de tumor venéreo transmissível diagnosticados no Hospital Veterinário da Universidade Estadual Paulista, campus Botucatu ( ). pele e seios nasais (Nielsen e Kennedy, 1990; Chang et al., 1998), o que foi observado em nossos achados. O tropismo extragenital é atribuído ao TVT quando localizado em qualquer região do corpo do animal, sem que a genitália esteja envolvida (Nielsen e Kennedy, 1990). Neste caso, não nos foi possível qualquer inferência, visto que, na maioria dos casos de localização extragenital, a genitália também estava comprometida e/ou havia história de TVT anterior. Assim, o facto foi atribuído ao processo de invasão e metástase. A utilização da biopsia para a confirmação do diagnóstico do TVT é altamente confiável, mas trata-se de um método invasivo e caro (Perman et al., 1979; Nielsen e Kennedy, 1990; Kennedy e Miller, 1993; Pérez et al., 1994). Na medida do possível, tem-se procurado reduzir o custo e os riscos na conduta diagnóstica e terapêutica dos animais, sem, contudo, interferir na qualidade. Neste aspecto, o exame citológico como re- 170
41 Amaral, A. S. et al. RPCV (2004) 99 (551) curso diagnóstico é simples, rápido, seguro, eficaz e de baixo custo. A utilização da citologia guiada por ultrasom reduz os riscos nas punções de órgãos internos. A punção pode ser usada como forma de colheita de células em locais inacessíveis à esfoliação, sem ser invasiva como a biopsia (Pérez et al., 1994; Klijanienko et al., 1998). Neoplasias podem ser identificadas por aspirados citológicos, inclusive o TVT canino (Daleck et al., 1987; Morales e González, 1995; Cowell e Tyler, 1999). Em nenhum dos casos estudados houve qualquer dificuldade em diagnosticar o TVT pela citologia. A localização genital do tumor por si só já sugeria uma hipótese diagnóstica, confirmada em todos os casos. Por outro lado, quando a neoplasia encontrava-se em sítios extragenitais, principalmente aquelas em que havia necessidade do uso de imagens para o diagnóstico, dificilmente o TVT era incluído entre os diagnósticos diferenciais; mesmo nestes casos o exame citológico mostrou-se eficiente e conclusivo. O aspecto morfológico predominante das células de TVT foi o plasmocitóide. A experiência do Serviço de Patologia do HV-FMVZ-UNESP com tal critério tem demonstrado que a ocorrência do aspecto plasmocitóide é elevada no TVT, especialmente naqueles de localização extragenital, independentemente do sexo. Além disso, quando associado à ausência de infiltrado inflamatório linfocitário, tem sugerido resistência farmacológica ao protocolo convencional de tratamento (dados ainda não publicados). Portanto, parece que estes critérios poderão fornecer, num futuro próximo, mudanças no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento, controlo e prognóstico de cães com TVT. Indubitavelmente, o exame citológico colhido de maneira correcta e interpretado por profissionais treinados com os critérios elaborados pela citologia, orientará o clínico para que um diagnóstico correcto seja elaborado e, ao mesmo tempo, irá alertá-lo no sentido de examinar seu paciente mais detalhadamente. Agradecimentos Agradecemos ao professor Aristeu Vieira da Silva pela análise estatística. Bibliografia Ansari, N.A., Derias, N.W. (1997). Fine needle aspiration cytology. Journal of Clinical Pathology, 50, Batamuzi, E.K., Bittegeko, S.B.P. (1991). Anal and perianal transmissible venereal tumour in a bitch. Veterinary Record, 129, 556. Boscos, C.M., Tontis, D.K., Samartzi, F.C. (1999). Cutaneous involvement of TVT in dogs: a report of two cases. Canine Practice, 24(4), Cardoso, P.L. (1983). Fine needle aspiration cytology in veterinary medicine. Acta Cytologca, 27, Carvalho, G. (1993). Citologia oncológica. Livraria Ateneu (São Paulo). 290 p. Chang, S., Yang, C., Chang, S.C., Yang, H.U. (1998). A clinical study of primary extragenital transmissible venereal tumors in dogs. Science, 24(4), Chang, S.C., Yang, C.H. (1996). Cytology of transmissible venereal tumours of dogs. Taiwan Journal of Veterinary Medical Animal Husbandry, 66(4), Cowell, R.L., Tyler, R.D. (1999). Diagnostic cytology and hematology of the dogs and cats. American Veterinary Publications (Goleta, California), 206 p. Daleck, C.L.M., Daleck, C.R., Pinheiro, L.E.L., Bechara, G.H., Ferreira, H.I. (1987). Avaliação de diferentes métodos diagnósticos do tumor venéreo transmissível (TVT) em cães. Ars Veterinaria, 3(2), Duncan, J.R., Prasse, K.W. (1979). Cytology of canine cutaneous round cell tumors : mast cell tumor, histiocytoma, lymphosarcoma and transmissible venereal tumor. Veterinary Pathology, 16, Erünal-Maral, N., Findik, M., Aslan, S. (2000). Use of exfoliative cytology for diagnosis of transmissible venereal tumour and controlling the recovery period in the bitch. Deutsche Tierarztliesh Wochenschrift, 107(5), Ferreira, A.J.A., Jaggy, A., Varejão, A.P., Ferreira, M.L.P., Correia, J.M.J., Mulas, J.M., Almeida, O., Oliveira, P., Prada, J. (2000). Brain and ocular metastases from a transmissible venereal tumour in a dog. Journal of Small Animal Practice, 41, Kennedy, P.C., Miller, R.B. (1993). The female genital system. In: Pathology of domestic animals. 4 a ed. Editores: JUBB, K.V.F., KENNEDY, P.C., PALMER, N. Academic Press (San Diego), p Kirchoff, N., Nohr, B. (1994). Spinal metastasis of a canine transmissible venereal tumor. Kleintierpraxis, 39(11), Klijanienko, J., Coté, J.-F., Thibault, F., Zafrani, B., Meunier, M., Clough, K., Asselain, B., Vielh, P. (1998). Ultrasoundguided fine-needle aspiration cytology of nonpalpable breast lesions. Cancer, 84(1), Larkin, H.A. (1994). Veterinary cytology fine needle aspiration of masses or swellings on animals. Irish Veterinary Journal, 47, Morales, S.E., González, C.G. (1995). The prevalence of transmissible venereal tumor in dogs in Mexico City between 1985 and Veterinaria Mexico, 26(3), Nielsen, S.W., Kennedy, P.C. (1990). Tumors of the genital systems. In: Tumors in domestic animals. 3 a edição Editor: Moulton, J.E. University of California Press (Berkeley, Los Angeles, London), p Perez, J., Bautista, M.J., Carrasco, L., Gomez-Villamandos, J.C., Mozos, E. (1994). Primary extragenital occurrence of transmissible venereal tumors: three cases report. Canine Practice, 19(1), Perman, V., Alsaker, R.D., Riis, R.C. (1979). Cytology of the dog and cat, American Animal Hospital Association (South Bend). 159 p. Rocha, N.S. (1998a). Citologia aspirativa por agulha fina em medicina veterinária: I. Cães e Gatos, 75, Rocha, N.S. (1998b). Citologia aspirativa por agulha fina em medicina veterinária: II. Cães e Gatos, 79, Sobral, R.A., Costa, M.T., Camacho, A.A. (1998). Occurrence of canine transmissible venereal tumor in dogs from the Jaboticabal region, Brazil. Ars Veterinaria, 14(1), Varaschin, M.S., Wouters, F., Bernins, V.M.O., Soares, T.M.P., Tokura, V.N., Dias, M.P.L.L. (2001). Tumor venéreo transmissível canino na região de Alfenas, Minas Gerais: formas de apresentação clínico-patológicas. Clínica Veterinária, ano 6(32), Wellman, M.L. (1990). The cytologic diagnosis of neoplasia. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 20,
42 RPCV (2004) 99 (551) A imuno-expressão das citoqueratinas como marcadores diagnósticos e prognósticos nas neoplasias mamárias caninas Cytokeratin immunoexpression as diagnostic and prognostic markers in canine mammary neoplasias Debora Aparecida Pires de Campos Zuccari 1*, Marcilia Viana Pavam 2, José Antônio Cordeiro 3, Aureo Evangelista Santana 1 1 FCAV - UNESP, Campus de Jaboticabal, Rodovia Carlos Tonanni, s/nº - Jaboticabal (SP), Brasil 2 UNIRP - São José do Rio Preto (SP), Brasil 3 FAMERP - São José do Rio Preto (SP), Brasil Resumo: O estudo dos tumores mamários da cadela é um excelente modelo para a investigação clínico-patológica, diagnóstica e prognóstica das neoplasias mamárias da espécie humana. O objetivo deste estudo foi investigar a expressão imuno-histoquímica das citoqueratinas 5, 14 e 18 na caracterização da histogênese e do grau de malignidade de tumores mamários em cadelas em citologias por impressão, caracterizando um auxílio diagnóstico e um prognóstico mais precoce dos tumores mamários. Dessa forma foi testada a capacidade dos referidos anticorpos monoclonais em discriminar as camadas epiteliais luminal e basal, e caracterizar o prognóstico destes animais. Os resultados presentemente alcançados são de muito valor na rotina oncológica, além de determinantes para um diagnóstico precoce, pré-cirúrgico, das neoplasias mamárias em cadelas. Das citoqueratinas estudadas, a citoqueratina 18 apresentou resultados estatísticos significativos como marcador diagnóstico, uma vez que a sua expressão está relacionada com o diagnóstico de carcinoma. Outrossim, pode ser considerado marcador de mau prognóstico se considerarmos os carcinomas, os tumores de caráter mais maligno. A utilização deste anticorpo pode contribuir para um prognóstico tumoral mais criterioso, permitindo ir além da utilização de uma classificação tumoral complexa e pouco conclusiva como única resposta na busca de uma melhor e maior sobrevida ao paciente portador de câncer mamário. Abstract: The investigation of the mammary tumors in the bitch has showed to be an excellent model for the diagnostic, clinic pathologic, and prognostic search of mammary neoplasias in human beings. The goal of this research was the investigation of immunocytochemical capability of monoclonal antibodies (citokeratins 14 and 18) to characterize the histogenesis and the malignant degree of mammary tumors in the bitch. We also, tested the capability of these monoclonal antibodies to discriminate between luminal and basal epithelial tissue, and to determine malignant through type I citokeratin expression. These results have a great value for oncology practice and, besides, are determinant for an early presurgical diagnosis of canine mammary neoplasias. The use of those antibodies as a panel of markers may contribute for a more accurate tumoral prognosis, allowing us to go farther than the use of a non definitive and complex tumoral classification as the sole answer in the search of a better and longer life for the patient suffering mammary neoplasia. * Correspondência: debora.zuccari@terra.com.br. Endereço actual: UNIRP - Centro Universitário de Rio Preto São José do Rio Preto (SP), Brasil Introdução As neoplasias mamárias são os tumores mais comuns na cadela, sendo responsáveis por aproximadamente 52% de todas as neoplasias nesta espécie (MacEwen, 1990; Sørenmo, 1998). Também, a fêmea canina, é a que apresenta maior incidência de neoplasias mamárias dentre todos os mamíferos e, quando comparada à mulher, apresenta três vezes mais tumores (Brodey et al., 1983). Os tumores mamários dos canídeos são modelos apropriados, e válidos, ao estudo da biologia do câncer (Schneider et al., 1970; Mottolese et al., 1994), assim como para testes de agentes terapêuticos, já que animais de companhia têm tumores que do ponto de vista histopatológico e de comportamento biológico são similares aos descritos na espécie humana (MacEwen, 1990; Peleteiro, 1994). O estudo da patogenia e histogênese destas neoplasias, envolvendo marcadores de receptores hormonais e de filamentos intermediários, é o que tem alcançado maior progresso nos últimos anos (Peleteiro, 1994). O valor diagnóstico do exame citológico de tumores, tanto de lesões internos como externos, tem sido bem estabelecido na prática médica humana (Griffiths et al., 1984). Na maioria das vezes, o material colhido pode ser conseguido de forma rápida, fácil e barata, com pouco ou nenhum risco para o paciente. Freqüentemente o material pode ser preparado, corado e interpretado com o cliente ainda no ambulatório. A interpretação dos achados citoscópicos é sempre de valor no estabelecimento do diagnóstico, identificação do processo (neoplasia ou hiperplasia reactiva), definição da terapia, ajuizamento do prognóstico e na determinação dos procedimentos diagnósticos subseqüentes (Cowell et al., 1999). Assim, o estudo citopatológico do tumor tem um grande valor como apoio diagnóstico, pois, feito rapi- 173
43 Zuccari, D. A. et al. RPCV (2004) 99 (551) % 16% 10% 6% 3% 10% 10% TCM TCB Carcinoma túbulo-alveolar Carcinoma alveolar Carcinoma lobular Carcinoma ductal Carcinoma esquirroso Figura 1 - Diagnóstico histopatológico de neoplasias mamárias em cadelas atendidas junto ao HV-FCAV/ Unesp, no período de janeiro a dezembro de Jaboticabal (SP), TCB Tumor Complexo Benigno; TCM Tumor Complexo Maligno. damente e no próprio consultório, possibilita ao clínico a adoção de condutas terapêuticas mais precoces, seguras e, na maioria das vezes, individualizadas (Wallgren et al., 1976; Wilson e Ehrmann, 1978). Para a lesão maligna, a aspiração do nódulo mamário e o diagnóstico citopatológico permitem ao clínico descobrir a doença precocemente e estabelecer um plano de terapia mais seguro e urgente, até mesmo a definição de um tratamento mais radical como uma mastectomia (Eisenberg et al., 1986). A detecção de filamentos intermediários, que compõem o citoesqueleto das células epiteliais, é uma das maneiras mais importantes de caracterizar a histogênese tumoral e de classificar tumores de origem desconhecida. Os filamentos intermediários constituem uma família de proteínas relacionadas. Esta família inclui as citoqueratinas, a vimentina, a desmina e o neurofilamento revelando uma distribuição tecidual restrita (Arai et al., 1994). As queratinas estão presentes na maior parte das células epiteliais sendo, assim, marcadores muito sensíveis à detecção de células malignas de origem epitelial. Na anátomo-fisiologia da glândula mamária da cadela, pode-se observar que os alvéolos da glândula mamária são compostos por epitélios basal e luminal. O epitélio basal forma uma camada descontínua entre a membrana basal e o epitélio luminal, o qual forra o lume dos ductos e alvéolos (Griffiths et al., 1984). Essa disposição topográfica é de extrema importância no estudo dos tumores mamários havendo uma relação direta da distribuição dos componentes celulares com o prognóstico da lesão. As células epiteliais luminais expressam as queratinas 7, 8, 18 e 19 e as células epiteliais basais expressam queratinas 5 e 14 (Warburton et al., 1989). Arai et al. (1994) observaram que a expressão de filamentos intermediários nas células epiteliais mamárias pode ser mantida ou modificada quando essas células sofrem transformação neoplásica. Tais células passariam a ter a capacidade de síntese de uma determinada citoqueratina de peso molecular 57 kilodalton, conhecida como citoqueratina tipo I (anticorpo monoclonal 24) e considerada como o marcador molecular da transformação maligna das células epiteliais mamárias. Assim, o presente trabalho foi planejado e executado com o objectivo de contribuir para o aprimoramento da técnica de imunomarcagem aplicada à citologia por impressão dos tumores mamários em cadelas e, ao mesmo tempo, definir a histogênese tumoral e a possível transformação maligna das células, auxiliando no estabelecimento de melhor conduta clínica, bem como no auxílio diagnóstico e do prognóstico precoce da neoplasia mamária em cadelas. A B Materiais e métodos C Figura 2 Fotomicrografia de preparações imunocitoquímicas demonstrando a marcação das citoqueratinas nas citologias dos carcinomas complexos malignos em cadelas. A. Citoqueratina 5 (60X); B. Células fusiformes marcadas por Citoqueratina 5 (60X); C. Citoqueratina 18 (40X); D. Citoqueratina 14 (40X). Jaboticabal (SP), D No presente protocolo experimental foram utilizadas trinta e uma cadelas, portadoras de neoplasias mamárias, atendidas no Hospital Veterinário Governador Laudo Natel, da FCAV/UNESP - Câmpus de Jaboticabal, no período de Janeiro a Dezembro de As preparações citoscópicas foram submetidas a acção de anticorpos dirigidos contra três diferentes marcadores para a avaliação e classificação das neoplasias mamárias: a citoqueratina 18 (The Binding Site, PH504) como marcador de células epiteliais luminais, a citoqueratina 14 (The Binding Site PH503) como marcador de células epiteliais basais (mioepiteliais) e a citoqueratina tipo I (The Binding Site CK50) como marcador de transformação maligna da célula epitelial. Imediatamente após a exérese cirúrgica do tumor, 174
44 Zuccari, D. A. et al. RPCV (2004) 99 (551) A C Figura 3 Fotomicrografia de preparações imuno-histoquímicas demonstrando a marcação das citoqueratinas na histopatologia dos carcinomas complexos malignos em cadelas. A e B. Citoqueratina 14 (40X) Marcação da dupla camada epitelial; C. Citoqueratina 18 (40X) Marcação de células estromais e luminais D. Citoqueratina 5 (40X) Marcação das células mioepiteliais. Jaboticabal (SP), B D foram feitas as impressões para os procedimentos imunocitoquímicos e foram colhidos fragmentos do tumor para a realização da técnica histológica. Os fragmentos de tecido colhidos durante a exérese da massa tumoral foram fixados em formol a 10%, desidratados, diafanizados e embebidos em parafina e os blocos, submetidos a cortes de 5 µm de espessura, montados entre lâmina e lamela e corados pela Hematoxilina e Eosina (HE) para diagnóstico histopatológico. O procedimento para imunomarcação das preparações citoscópicas e também dos cortes de tecido iniciou-se com a Recuperação Antigênica. Foi preparada uma solução de ácido cítrico (ph = 6,0) e esta foi aquecida por cinco minutos em microondas (700 w). As preparações citoscópicas foram mergulhadas nesta solução por 25 minutos, em panela a vapor (80 o C). Após as lâminas retornarem a temperatura ambiente, foi realizado o Bloqueio da Peroxidase Endógena, para o que as preparações citoscópicas foram lavadas três vezes em água destilada e, em seguida, colocadas em solução de Metanol com Peróxido de Hidrogênio a 3%, durante 20 a 30 minutos. Em seguida, as preparações foram incubadas em câmara húmida por duas horas (temperatura ambiente) ou durante a noite à 4 o C, com o anticorpo primário, sendo que as diluições dos anticorpos foram feitas em soro fetal bovino (BSA), seguindo a especificação de cada anticorpo. Após a incubação, as preparações foram submetidas a três lavagens sucessivas de PBS de cinco minutos Tabela 1 - Diagnóstico, perfil imunocitoquímico e prognóstico de tumores mamários de cadelas (Diagnóstico: TCB Tumor Complexo Benigno; TCM Tumor Complexo Maligno. Marcadores: X. Inconclusivo, -. Negativo, +. FOCAL, ++. ATÉ 25%, %, MAIS DE 50%). Jaboticabal, Diagnóstico CK14 CK18 CK5 Prognóstico 1 TCB X + ++ BOM 2 CARCINOMA ALVEOLAR RUIM 3 TCM X +++ X BOM 4 TCB X X +++ RUIM 5 TCM - - X BOM 6 TCB BOM 7 TCM BOM 8 TCM RUIM 9 TCM RUIM 10 TCM BOM 11 TCM BOM 12 TCM BOM 13 CARCINOMA TUBULAR BOM 14 CARCINOMA ALVEOLAR RUIM 15 TCM BOM 16 TCM X RUIM 17 TCM BOM 18 TCM BOM 19 TCM X BOM 20 CARCINOMA ALVEOLAR ++++ X ++++ BOM 21 TCB BOM 22 CARCINOMA ESQUIRROSO BOM 23 TCM BOM 24 TCB + X + BOM 25 CARCINOMA TÚBULO- ALVEOLAR RUIM 26 CARCINOMA DUCTAL RUIM 27 CARCINOMA TÚBULO-ALVEOLAR X X X BOM 28 CARCINOMA DUCTAL BOM 29 CARCINOMA LOBULAR RUIM 30 CARCINOMA LOBULAR RUIM 31 CARCINOMA LOBULAR RUIM 175
45 Zuccari, D. A. et al. RPCV (2004) 99 (551) % 16% 58% Bom Prognóstico Mau Prognóstico Óbito por outra causa Figura 4 - Evolução clinica das cadelas portadoras de tumores mamários atendidas junto ao HV câmpus de Jaboticabal de janeiro a dezembro de Jaboticabal, nº de casos TCB TCM Carcinoma Mau Prognóstico Tipo Tumoral Bom Prognóstico Figura 5 - Diagnóstico em relação à evolução clinica de cadelas portadoras de tumores mamários atendidas no HV- câmpus de Jaboticabal no período de janeiro a dezembro de Jaboticabal, cada e em seguida foi utilizado o Kit LSAB Peroxidase (Dako, Dinamarca). Primeiramente, as preparações citoscópicas foram incubadas em câmara húmida por 15 minutos (temperatura ambiente), com a solução A (biotina anti-mouse e anti-goat) e após três lavagens sucessivas de PBS de cinco minutos cada, foram incubadas em câmara húmida por 15 minutos, também a temperatura ambiente, com a Solução B (Estreptavidina-Peroxidase) e logo em seguida foram submetidas a três lavagens sucessivas de PBS, de cinco minutos cada. Em seguida, as lâminas foram mergulhadas em solução de cromogênio DAB (diaminobenzidina - Dako, Dinamarca) por aproximadamente oito minutos ou até a visualização macroscópica da cor marrom-dourada, foram lavadas em água corrente durante cinco minutos e em seguida lavadas em água destilada. Para o contraste nuclear, foi utilizado hematoxilina de Mayer com hidróxido de amônia a 0,1%, durante um a dois minutos e em seguida as lâminas foram montadas com meio de Entellan (Merck). Em todos os testes imunocitoquímicos a bateria de lâminas possuía sempre um controlo positivo e negativo para o anticorpo testado. Como controlo negativo o anticorpo primário foi substituído por PBS. Para o controlo positivo utilizou-se um carcinoma mamário com expressão positiva conhecida para os marcadores utilizados. Os animais, independentemente dos procedimentos pós-cirúrgicos recomendados, foram acompanhados até dezoito meses após a cirurgia para avaliação da ocorrência de recidiva e/ou metástase da neoplasia mamária. Para descrever a intensidade e a percentagem de células marcadas utilizou-se do sistema de cruzes (- Negativo; + focal (expressão em 10% das células); ++ até 25%; %; ++++ mais de 50%). Os resultados obtidos no presente estudo foram analisados dentro do contexto do diagnóstico tumoral e do prognóstico do paciente. O método de predição escolhido foi o da Regressão Logística Nominal, quando considerado só o diagnóstico, e aquele da Regressão Logística Binária, quando considerados o diagnóstico e o prognóstico. O prognóstico foi avaliado com base nas características macroscópicas do tumor (dimensões, localização, presença de áreas de ulceração e necrose), tempo de evolução, recidiva, presença de metástase (Classificação TNM) (Gilbertson et al., 1983) e ainda em relação à resposta pós-operatória e óbito. No caso dos animais que vieram a óbito, em decorrência de outras causas, foram considerados apenas os aspectos pré-operatórios do tumor e do paciente. Resultados Como observado na Figura 1, os tumores complexos malignos ocorreram com maior freqüência e totalizaram 45% dos casos. Os tumores complexos benignos representaram apenas 16% e foram a representação das neoplasias benignas neste grupo. Os carcinomas alveolares, túbulo-alveolares e lobulares foram diagnosticados em 10% dos casos, cada um. Os carcinomas ductais foram diagnosticados em dois casos (6%) e os carcinomas esquirrosos em apenas um (3%). As citoqueratinas demonstraram excelente expressão nas preparações imunocitoquímicas (Figura 2) e também nas imunohistoquímicas. Nas preparações de imunocitoquímica observou-se a marcação tanto dos grupos celulares como nas células fusiformes soltas no esfregaço. Em concordância com a literatura consultada, a marcação das citoqueratinas caracterizou-se como citoplasmática. Nos cortes de tecido (Figura 3), observou-se a marcação da citoqueratina 14 nas camadas epiteliais luminal e basal. Já a citoqueratina 18 marcou as células epiteliais luminais e também as células estromais dos tumores. Ainda nos cortes, houve grande expressão da citoqueratina 5 apenas nas células mioepiteliais. Conforme observado na Tabela 1, a marcação foi simbolizada com cruzes e os esfregaços inconclusivos aparecem como X. Cinco cadelas vieram a óbito em decorrência de outras causas como ICC descompensada, complicações anestésicas pós-cirúrgicas, atropelamento, causas estas sem qualquer ligação com a neoplasia mamária. Nestes casos o prognóstico foi avaliado em relação às características macroscópicas da lesão, presença de metástase 176
46 Zuccari, D. A. et al. RPCV (2004) 99 (551) e/ou recidiva (Classificação TNM) para confrontação com o diagnóstico tumoral (Figura 4). As características macroscópicas das lesões de maior importância foram o tamanho tumoral e a presença de ulcerações, além do crescimento rápido destes tumores. O principal sítio de metástases foi, sem dúvida, pulmonar e as recidivas ocorreram em 30% dos casos. Quando confrontados o diagnóstico tumoral com o mau prognóstico observamos que nos tumores complexos benignos, apenas em um caso (20%) houve discordância do diagnóstico com relação à evolução do caso. No caso dos tumores complexos malignos, dentre 14 cadelas apenas 3 (21,5%) confirmaram um mau prognóstico. Mas no caso dos carcinomas, de 12 casos, sete (58%) confirmaram o pior prognóstico (Figura 5). Quanto aos resultados estatísticos, inicialmente, foram avaliados, por meio de regressão logística nominal, os anticorpos em relação ao diagnóstico, considerando-se como evento referencial o carcinoma, o mais maligno dos tumores. Das citoqueratinas estudadas, obtivemos uma associação positiva significativa para a citoqueratina 18 (valor p=0,027) quando comparado o carcinoma com os tumores complexos malignos. Isso significa que a citoqueratina 18 pode ser utilizada como um marcador para carcinomas em cadelas. Essa citoqueratina não tem valor preditivo significante quando da confrontação do carcinoma com um diagnóstico benigno. A citoqueratina 14 não demonstrou relação significativa com o diagnóstico tumoral, tal como a citoqueratina 5 que, por apresentar forte correlação com as outras duas, mesmo quando avaliada sozinha, não é um bom marcador nem a nível diagnóstico, nem tampouco prognóstico. Sendo assim, este marcador não pode ser considerado um marcador de expressão nas neoplasias malignas mamárias. O diagnóstico não foi significativo para a formação de prognóstico. Discussão A citologia por impressão é sem dúvida uma técnica fácil, barata, simples e não necessita de instrumental sofisticado para sua confecção (Cowell, 1999). Sob as presentes condições, nas preparações citológicas por impressão de lesões neoplásicas, retiradas durante exérese da massa tumoral ou por ocasião do exame post mortem do paciente, o sangue e os fluídos tissulares foram primeiramente removidos da superfície da lesão da qual a impressão foi feita, enxugando-a com material absorvente. De acordo com a literatura consultada (Cowell, 1999), o excesso de sangue e de fluídos pode inibir a aderência das células do tecido à lâmina. No presente trabalho, as preparações da citologia por impressão se mostraram ricas, mesmo na presença de células sangüíneas que em nada atrapalharam a qualidade das preparações. A citologia complementada com a técnica de imunocitoquímica demonstrou ser eficiente para o estudo dos marcadores diagnósticos e prognósticos. Considerando o resultado inconclusivo uma possibilidade no procedimento citológico, uma vez que impressões repetidas podem resultar em uma ou outra impressão negativa, isto leva a técnica a ser considerada uma técnica de baixa sensibilidade. Neste trabalho, para cada animal foram confeccionadas 10 lâminas e a impressão repetida do mesmo fragmento tumoral na lâmina resultou, algumas vezes, em esfregaços negativos. Tal fato invalidou estatisticamente a análise dos componentes principais e justifica a ocorrência de resultados inconclusivos em um ou mais marcadores estudados, por terem sido processados seqüencialmente. A padronização da técnica de imunocitoquímica para tumores mamários caninos foi necessária já que os anticorpos comerciais foram desenvolvidos contra antígenos humanos limitando seu uso em patologia veterinária. Foram testados os reagentes de três laboratórios e em apenas um deles (The Binding Site) obteve-se expressão positiva para os anticorpos estudados. O estudo da expressão das citoqueratinas no tecido demonstrou que houve forte correlação entre as citoqueratinas estudadas. Isso significa que a expressão foi muito semelhante para as três citoqueratinas em cada caso estudado. O fato de o estudo ter sido feito em preparações citoscópicas, em que as células epiteliais perdem seu arranjo, apresentando-se em grupos ou mesmo soltas no esfregaço, dificultou a determinação da histogênese epitelial, o que não ocorreu nos cortes de tecido, quando as citoqueratinas demonstraram sua marcação específica. Outrossim, a citoqueratina 18 que deveria marcar epitélio luminal demonstrou essa intensa marcação definindo o diagnóstico de carcinoma. Como esperado, quando há forte densidade de marcação com a citoqueratina 18 o provável diagnóstico é aquele de um carcinoma. Já a citoqueratina 5 que deveria marcar a transformação maligna do tumor demonstrou, nos cortes de tecido, expressão positiva apenas nas células mioepiteliais ou epiteliais luminais. O anticorpo contra a citoqueratina tipo I foi descrito e desenvolvido por Arai et al. (1994) e a forma comercial encontrada é muito similar em peso molecular ao marcador de células mioepiteliais, justificando sua marcação neste tipo celular. Os resultados deste trabalho demonstram ainda que a utilização como um painel de marcadores, desses anticorpos que mostraram resultados estatisticamente significativos, pode contribuir para um prognóstico tumoral mais criterioso, deixando-se de lado a classificação tumoral complexa e inconclusiva, como única resposta na busca de uma melhor e maior sobrevida ao paciente com câncer. Além disso, o pequeno número de pesquisas em medicina veterinária, buscando novos marcadores prognósticos e preditivos para a neoplasia mamária mostra um imenso campo de pesquisa a ser desenvolvido. Os resultados obtidos neste trabalho, nas condições 177
47 Zuccari, D. A. et al. RPCV (2004) 99 (551) metodológicas empregadas, permitem-nos concluir que a imunocitoquímica demonstrou sua importância como auxílio diagnóstico e prognóstico precoce dos tumores mamários em cadelas. Das citoqueratinas estudadas a citoqueratina 18 demonstrou ser um marcador diagnóstico para carcinomas mamários em cadelas e conseqüentemente um marcador para um prognóstico ruim. Agradecimentos Este trabalho foi financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP (Processo nº 98/ ). Bibliografia Arai, K., Kaneko, S., Naoi, M., Suzuki, K., Maruo, K., Uehara, K. (1994). Expression of stratified squamous epitheliatype cytoqueratin by canine mammary epithelial cells during tumorigenesis: type I (acidic) 57 kilodalton cytokeratin could be a molecular marker for malignant transformation of mammary epithelial cells. Journal of Veterinary Medicine Science, 56, Brodey, R.S., Goldschmidt, M.H., Roszel, J.R. (1983). Canine mammary gland neoplasms. Journal American Animal Hospital Association, 19, Cowell, R.L., Tyler, R.D., Meiokoth, J.H. (1999). Diagnostic Cytology and Hematology of the Dog and Cat. 2ª edição, Editor: Mosby (St. Louis), Eisenberg, A.J., Hajdu, S.I., Wilhelmus, J. Melamed, M.R., Kinne D. (1986) Preoperative Aspiration Cytology of Breast Tumors. Acta Cytologica, 30, Gilbertson, S.R., Kurzman, I.D., Zachrau, R.E., Hurvitz, A.I., Black, M.M. (1983). Canine Mammary Epithelial Neoplasms: Biologic implications of morphologic characteristics assessed in 232 dogs. Veterinary Pathology, 20, Griffiths, B.V., Lumsden, J.H., Valli, V.E.O. (1984). Fine Needle Aspiration Cytology and Histologic Correlation in Canine Tumors. Veterinary Clinical Pathology, 13, MacEwen, E.G. (1990). Spontaneous tumors in dogs and cats: Models for the study of cancer biology and treatment. Cancer and Metastases Review, 9, Mottollese, M., Morelli, L, Agrimi, U., Benevolo, M., Sciarretta, F., Antonucci, G., Natali, G.N. (1994). Spontaneous Canine Mammary Tumors A model for monoclonal antibody diagnosis and treatment of human breast cancer. Laboratory Investigation, 71, 182. Peleteiro, M.C. (1994). Tumores mamários na cadela e na gata. Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, 89, Schneider, R. (1970). Comparison of age, sex and incidence rates in human and canine breast cancer. Cancer, 26, Sørenmo, K. (1998). An update on Canine Mammary Gland Tumors. In: ACVIM Forum, San Diego, Proccedings 16 th, Wallgren, A., Silfverswärd, C., Zajicek, J. (1976). Evaluation of Needle Aspirates And Tissue Sections As Prognostic Factors In Mammary Carcinoma. Acta Cytologica, 20, Warburton, M. J., Hugues, C. M., Ferns, S. A., Rudland, P.S. (1989). Localization of vimentin in myoepithelial cells of the rat mammary gland. Histochemical Journal, 21, Wilson, S.L., Ehrmann, R.L. (1978). The Cytologic Diagnosis Of Breast Aspirations. Acta Cytologica, 22,
48 SUPLEMENTO Cartas ao editor Prof. Doutor José Manuel Pereira da Silva - Um Professor que gostava dos seus alunos Ao recordar o Senhor Professor José Manuel Pereira de Silva, o Perêrê como era carinhosamente conhecido entre os alunos da Universidade de Lourenço Marques, ou o Zéco para familiares e amigos de longa data, sinto-me impelido a dizer que era um professor que gostava genuinamente dos estudantes e estes, sentindo esse sentimento, bem como o gosto e o saber sólido do que ensinava, retribuíam-lhe generosamente de igual modo. Para muitos dos seus estudantes fê-los descobrir o interesse pela Genética e Melhoramento Animal e pela investigação. Transmitia com o seu olhar directo e o ar calmo uma confiança de quem era amigo e de quem poderíamos contar consigo sempre. No meu caso, e no de muitos alunos da Universidade de Lourenço Marques, isso foi uma verdade indesmentível. Na sua casa em Lourenço Marques, ali na Avenida Massano de Amorim, não muito longe da sede da Associação Académica, as portas estavam sempre abertas para muitos dos estudantes de vários cursos que aí se reuniam à tarde para estudar. Recebia-os como amigos, quase com um agradecimento por terem vindo. Gostava da vida e sobretudo gostava da sua terra natal: Moçambique. Confidenciou-me certa vez que, quando regressado a Moçambique com o PhD em Genética obtido na Universidade de Edimburgo, a maneira como o Prof. Veiga Simão, à altura Reitor dos Estudos Gerais Universitários de Moçambique, o convenceu a aceitar o convite para ingressar na carreira universitária, foi dizer-lhe: - «Quem deve estar interessado numa Universidade em Moçambique é o Doutor, não sou eu. Afinal esta será a Universidade que irá formar os quadros técnicos necessários para desenvolver a terra onde o Doutor nasceu». Não foi preciso dizer nada mais para dar o seu assentimento. Na Faculdade de Veterinária da Universidade de Lourenço Marques, mesmo em frente aos laboratórios do Instituto de Investigação Veterinária, lá para a Avenida de Moçambique, um pouco além das Faculdades de Engenharia, de Agronomia e Silvicultura e de Biologia, separada destas por campos de cajueiros que na época própria deliciavam com as peras de cajú, (doces e aromáticas se bem maduras ou adstringentes se ainda fora do tempo) os alunos que como eu íamos ter aulas à Veterinária, ficava o seu Laboratório de Genética onde desenvolvia investigação usando a drosophila como modelo. «A Genética e o Melhoramento Animal devem imenso a esta mosquinha» dizia-nos nas suas aulas. Numa altura em que as práticas de Genética noutras Faculdades eram apenas preenchidas com a resolução de enunciados de problemas, quão aliciante e que inveja nos fazia a nós, alunos de outros cursos, saber que os colegas de Veterinária comprovavam com cruzamentos que realizavam em drosophila as leis de Mendel, construíam mapas cromossómicos de recombinação, determinavam, experimentalmente, o ganho genético fruto da intensidade da selecção no número de cerdas da drosophila e que, pelo teste de Muller-5, detectavam mutações induzidas. Os seus estudos sobre limites da resposta à selecção, que desenvolvia em drosophila, eram tornados, pelas suas explicações claras, evidentes para nós, e as relações entre heritabilidade e resposta à selecção, conceitos ligados e familiares, que eram extrapolados para a selecção animal e vegetal. Foi Professor Catedrático de Genética, de Melhoramento Animal e de Zootecnia Especial nos Cursos de Medicina Veterinária e de Agronomia e Silvicultura da Universidade de Lourenço Marques e também esteve ligado a disciplina de Anatomia. Era reconhecido por todos como um excelente e competente Professor sempre disponível para os alunos. Quando iniciei em Portugal em 1976 aulas práticas de Genética no que é hoje a Universidade de Trás-os- Montes e Alto Douro, estas tinham, obviamente, de seguir as que eram dadas pelo Prof. Doutor Pereira da Silva, bem como o uso do livro de exercícios de Genética de Stansfield, da Colecção Schaum, que também usava nas suas aulas. A Genética é para mim, e para muitos dos que tiveram o privilégio de o ter como professor (embora eu só o tivesse tido como docente em Zootecnia Especial, disciplina na qual incluía conhecimentos de Genética e de Melhoramento Animal), um campo científico fulcral e excitante que é integrado no sistema da produção animal e na produção agrícola. Contou-me o Prof. Pereira da Silva, que um dia, regressado do seu Doutoramento em Genética do Reino Unido, foi apresentar-se ao Secretário de Agricultura de Moçambique o qual logo de início lhe disse: «O Doutor desculpe-me, mas isso de Genética e genes nunca me convenceu!». Com a delicadeza, mais a clareza, que lhe eram peculiares respondeu-lhe: «Sr. Secretário desculpe-me também o que lhe vou dizer. Eu ainda compreenderia que um colega meu, veterinário, fizesse essa afirmação. Afinal no fenótipo dum animal temos tido tantos ganhos devido a uma melhoria da alimentação, do estado sanitário, etc. que eles podem talvez questionar-se qual é a parte devida a esses factores e qual é a resultante do ganho genético. Mas vindo de um agrónomo, como é o Sr. Secretário, que tem no reino vegetal, como exemplo flagrante do que é a aplicação da Genética, o êxito conseguido no milho híbrido com o ganho devido à heterosis, custa-me a aceitar essa afirmação». 29
49 SUPLEMENTO RPCV (2004) SUPL. 127: No final do meu Curso de Agronomia, quis trabalhar em Efeitos Mutagénicos das Aflotoxinas sendo a segunda parte do trabalho sobre Indução de mutações em Drosophila melanogaster, realizada sob a orientação do Prof. Pereira da Silva. Sei que alguns dos meus professores de Agronomia torceram o nariz pelo facto de ir estagiar fora da Faculdade, ainda para mais na Veterinária. Mas a vontade de trabalhar em Genética no Laboratório do Prof. Pereira da Silva era grande e este disponibilizou-se de imediato. Pouco a pouco, tomou conta de mim a convicção que agrónomos, biólogos, veterinários, médicos, etc., somos todos biólogos aplicados a espécies diferentes, apenas com formações mais ou menos orientadas profissionalmente, é verdade, mas basicamente biológicos. Por isso, os conflitos entre classes profissionais sempre me passaram ao lado, olhando-os como questões ridículas de menoridade intelectual científica de quem as desfralda. O valor do cientista e de profissional está em si próprio, na qualidade da sua investigação e do trabalho e no seu conhecimento. Esta foi também outra lição que o Prof. Pereira da Silva me deixou. Foi o Professor Pereira da Silva que me propôs, pela primeira vez, oficialmente para assistente da Universidade de Lourenço Marques. Eram tempos políticos difíceis em Ser-se dirigente académico, como eu, com actividade bastante intensa na representação dos estudantes em estruturas pedagógicas, na Direcção da Associação Académica, no Teatro dos Estudantes Universitários de Moçambique, na Rádio Universidade, no Cine Clube Universitário, era caminho directo para uma lista de activistas académicos rotulados de assaz perigosos. O Prof. Pereira da Silva sabia disso, e mesmo assim avançou a proposta para a minha admissão. A sua proposta oficial nunca teve seguimento. Mas, talvez, em resposta, veio a sugestão para pôr termo à minha contratação como técnico auxiliar de laboratório em que estava já como aluno estagiário. Graças ao parecer dado pelo Prof. Pereira da Silva pude continuar a trabalhar no seu laboratório até ingressar no Serviço Militar. Entretanto, a um mês de ser integrado na tropa foi com a sua esposa, meu padrinho de casamento, como o foram aliás de mais de uma meia dúzia dos seus estudantes. A todos disponibilizaram a sua casinha na Namaacha, junto à fronteira da Suazilândia, entre pinhais que a altitude do local já permitia. Foi no período em que estive na tropa, que o Prof. Pereira da Silva foi convidado para Vice-Reitor da Universidade de Lourenço Marques. O convite surgiu sem dúvida pelo seu muito mérito, mas certamente também pela sua grande aceitação e popularidade entre os estudantes. Era a tentativa de compensação da grande reacção negativa entre os estudantes à nomeação do novo Reitor, após a saída do Reitor Prof. Vitor Crespo, e a evidente passagem do poder de decisão sobre as Universidades no Ultramar do Ministro da Educação, Prof. Veiga Simão, para o Ministro do Ultramar. Poucos anos depois da Independência de Moçambique o Prof. Pereira da Silva veio para Portugal com a sua família. A par da família (e sobretudo da Bébé, como era e é chamada pelos amigos a sua esposa com quem namorou 7 anos desde o Liceu), Moçambique era um dos seus amores. E foi também uma Saudade sempre presente depois da sua vinda para Portugal. Para trás ficaram as ilusões de que nunca abandonaria aquelas paisagens e gentes que tanto amava. Trouxe consigo as memórias das savanas, das impalas, das acácias vermelhas, das praias, do calor húmido e do cacimbo. Ficou a presença férrea de uma Saudade sempre presente. «Desde que saiu de Moçambique, o meu pai não vivia, sobrevivia», dizia-me a Magda, uma das suas duas filhas. Dos tempos conturbados pós independência falou-me das reuniões políticas na sua Faculdade de Veterinária, em que alguns colegas e ex-alunos mais radicais preconizavam para Moçambique a morte da bovinicultura («o boi esse animal colonialista») e a implementação da impala e do cudo, a par de outros tipos de ataques. Não me falava desses intervenientes com rancor ou ódio, mas quase com compreensão e com tolerância, desculpando-os. Todos os antigos alunos da ULM o saudavam com sinceridade e emoção, já em Portugal, nas reuniões anuais dos antigos alunos e funcionários da Associação Académica e da Universidade de Lourenço Marques. Passou pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa mas, após algum tempo, não quis lá ficar. Foi Presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária (INIA). Encarou o desafio com muita alegria e dedicação inexcedíveis e propôs uma nova lei orgânica do INIA. Nessa altura, como Presidente da Direcção da Sociedade Portuguesa de Genética, pedi-lhe uma audiência da qual resultou a inscrição do INIA como sócio benemérito da Sociedade Portuguesa de Genética. Com a mudança do partido político no Governo, o Prof. Pereira da Silva saiu da Presidência do INIA. Atravessou nessa altura um momento de grande frustração pessoal. Confessou-me que se sentia posto na prateleira, não aproveitado, e atribuía tal situação ao facto de se ter assumido publicamente como apoiante de Mário Soares. Triste país este, digo eu, em que continua a existir essa possibilidade de cargos de direcção serem substituídos não pela competência técnica, científica e de gestão, mas por eventuais opções partidárias... Dos longos meses em que o deixaram em casa sem nenhumas funções ou actividade, veio-lhe o gosto pela feitura de tapetes de Arroiolos para ocupar tempo. E que gosto, e bom gosto, revelou nesses trabalhos que embelezaram o seu apartamento em Nova Oeiras. Voltei a encontrar o Prof. Pereira da Silva já na Estação Zootécnica Nacional dirigida pelo seu amigo de longa data o Prof. Vaz Portugal e contando aí com alguns colegas e ex-alunos como o Tito Fernandes, o Rui Leitão, o Artur, a Milocas, o Cheps, a Isabel Fazendeiro, etc.. Foi, nesse período, responsável pelo módulo de Genética dos Mestrados em Produção Animal aí 30
50 SUPLEMENTO RPCV (2004) SUPL. 127: leccionados. Convidou-me para dar aulas de Genética Qualitativa, Citogenética e Introdução à Genética Molecular, o que fiz com imensa alegria pela possibilidade de poder de novo contactar com o Prof. Pereira da Silva e corresponder ao que me solicitava. Devo confessar que preparar e actualizar as cercas de 36 horas de aulas leccionadas em menos de duas semanas, foi um desafio que me foi muito proveitoso para a minha própria formação como docente recém doutorado. Também nesse aspecto estou muito reconhecido pelo que lhe devo e pelas conversas que tivemos com os mestrandos no final dessas aulas, a que assistia. Responsável na Estação Zootécnica Nacional pelo sector de pequenos ruminantes não perdeu a sua paixão pela Genética e pelo Melhoramento Animal. Porém, esbarrava com a realidade portuguesa. «Henrique», dizia-me, «estar a tentar fazer melhoramento genético nestas condições com tão pequeno número de animais é como tentar tirar a água do mar com um balde furado. Isto tinha de ser um plano nacional em que todos os animais estivessem inventariados e com registos zootécnicos de confiança. Mas, o criador português não adere a isto. Trabalhar assim, com apenas algumas centenas de cabeças, é uma perda de tempo». Teve a sua homenagem na EZN quando se reformou, cheia de manifestações de reconhecimento do seu mérito como Professor e Investigador pelos muitos colegas e antigos alunos. Aí tive o prazer, a emoção e a honra de estar presente e de lhe manifestar a muita admiração, apreço e amizade. O Prof. Vaz Portugal, pegando numa afirmação minha disse: «É isto mesmo que o Zéco é: um Mestre para os seus ex-alunos». E era-o na verdade. Já reformado, desenvolveu actividade como colaborador no Jardim Zoológico de Lisboa. Durante mais de 15 anos foi Professor regularmente convidado para aulas pontuais nas disciplinas de Genética dos Cursos de Medicina Veterinária, Engenharia Zootécnica, Biologia/Geologia e Engenharia do Ambiente e dos Recursos Naturais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Integrou também muitos júris de provas académicas realizadas nesta Universidade e, até aos seus últimos dias, dava colaboração desinteressadamente às linhas de investigação do Departamento de Genética e Biotecnologia sobre relações filogenéticas entre espécies animais e estudos de citogenética animal em espécies selvagens. Ao vê-lo a dar aulas, sentia como que uma cadeia de gerações em que eu era o elo intermédio. Era importante para mim aperceber-me que sobre novos aspectos da genética de que não tínhamos nunca discutido antes, havia uma grande coincidência de opinião. Eram momentos intensos e, também escassos esses, sobretudo nos últimos anos em que minha actividade como Vice-Reitor me limitava, por vezes, o tempo que gostaria de ter disponível para estar com o Professor Pereira da Silva quando vinha à UTAD. No último ano não veio. Telefonou-me dizendo que não estava em condições para vir. Combinámos a próxima visita para o ano seguinte, que já não veio a realizar-se. - «Quantos anos tinha o Prof. Pereira da Silva?» perguntaram-me, comentando a divulgação do seu falecimento por à Universidade. - «Não sei», respondi. Não sei mesmo. Para mim terá sempre a idade com que o conheci quando foi meu professor em Lourenço Marques. Uns trinta e tal ou talvez quarenta anos. Os mestres, os amigos verdadeiros, não têm idade. Julgo eu. Ficam com a idade que têm na nossa memória e deixam atrás de si uma terrível saudade. O vasto número dos seus ex-alunos e amigos não podem deixar de recordar com saudade e uma opressiva tristeza o Professor que gostava de ser genuinamente amigo dos estudantes, e que lhes transmitia o gosto pela Genética e pela investigação. A título pessoal, perdi um amigo, um conselheiro de inúmeras ocasiões da minha vida, que foi meu orientador do estágio final de curso e padrinho de casamento, e de quem aspirei poder um dia também seguir o seu exemplo como Docente Universitário. Professor Doutor Henrique Guedes-Pinto Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 31
51 SUPLEMENTO RPCV (2004) SUPL. 127: Os parques zoológicos e a conservação das espécies selvagens * J.M. Pereira da Silva Assessor do Conselho de Administração do Zoo de Lisboa A natureza e a vida selvagem estão a ser destruídas a um ritmo cada vez mais acelerado. A causa principal do problema é o rápido crescimento da população humana. No século que agora terminou a população humana aumentou três vezes e a economia mundial aumentou vinte e nove vezes. Quatro quintos deste crescimento económico teve lugar desde Os impérios coloniais desapareceram na segunda metade do século. Em muitas, previamente menos desenvolvidas regiões tropicais, verificou-se a ocorrência de modificações políticas e da expansão económica dando lugar a profundas alterações dos habitats naturais. Florestas e fauna selvagem desapareceram ou foram altamente reduzidas (Robinson, 1995). Paralelamente, com a aceleração galopante da economia dos países mais desenvolvidos tem-se verificado os conhecidos fenómenos do buraco do ozono na atmosfera das zonas polares, o aquecimento global, o incontrolável aumento da poluição atmosférica. Os oceanos, os rios e os lagos estão a ser poluídos. O aumento explosivo da população humana tem condicionado a restante vida do planeta. Muitos animais e plantas têm passado à situação de ameaçados de extinção, e isto tem ocorrido a um ritmo dramático. Para as próximas décadas a perspectiva é pior. Aliás, os especialistas em conservação são unânimes no seu pessimismo. Por exemplo John Robinson, vicepresidente da Wildlife Conservation Society e que no terreno estudou por mais de duas décadas a degradação da floresta húmida tropical do Congo afirmou que muitas das florestas estão agora a ser esvaziadas de vida selvagem e reforça a afirmação dizendo: a floresta está vazia e sinistramente silenciosa. A última crise global da conservação é o resultado do abate de mamíferos, aves, répteis indiscriminadamente, para consumo humano, o chamado comércio de bushmeat. Vastas áreas de florestas virgens foram invadidas por estradas abertas por madeireiros e grandes áreas foram deixadas ao abandono por gigantescas empresas multinacionais de corte de madeira. Por estas estradas os caçadores têm agora acesso a áreas anteriormente inacessíveis, caçam (com cabos de aço) e matam a tiro desde roedores até elefantes e transportam a carne para * Publicação póstuma o mercado. O processo começou há 20 anos na Ásia, dando origem a um novo conceito conservacionista: o síndroma da floresta vazia. As estimativas mais optimistas falam em 20 anos até que se processe a extinção dos grandes macacos antropóides (gorilas, chimpanzés, bonobos) e dos próprios elefantes, na floresta húmida equatorial africana (Pearson, 2000). O mesmo processo está a ter lugar na floresta indonésia e malaia pelo que o orangotango está igualmente ameaçado, como ameaçado está o tigre da Sumatra. Os mais pessimistas falam em extinção da fauna da floresta equatorial africana dentro de 10 anos como por exemplo Sir David Attenborough afirmou num relatório apresentado na Câmara dos Comuns, no comité de peritos no Westminster Central Hall, em 28 de Setembro de 2000, onde foram discutidos os dados actuais apresentados por especialistas de Primatologia (Pearson, 2000). Em 12/09/2000, o New York Times publicava um artigo intitulado: Um Macaco do Ocidente Africano, um Colobo Vermelho, foi declarado extinto (Revkin, 2000). O artigo refere o trabalho de cinco autores, liderados por John F. Oates, um antropologista do Hunter College de Manhatan, e conclui: «A extinção do Colobo Vermelho, pode ser a primeira e obvia manifestação dum espasmo de extinção que bem cedo afectará outros grandes animais nesta região a não ser que de imediato se apliquem medidas de protecção mais rigorosas». A extinção deste primata é a primeira documentada desde os anos 1700, e o mesmo autor, afirma que estimativas recentes sugerem que 10% das 608 espécies ou subespécies de primatas que se encontram distribuídas por três continentes estão severamente ameaçadas. E se esta é a situação que se vive em termos de vida animal o que se passará no mundo vegetal? Se em termos relativos a situação pode não ser tão angustiante em termos absolutos é decerto ainda mais dramática. Se pensarmos que em termos de vida animal os mamíferos, as aves e os répteis representam somente 10% do total e que os restantes 90% são representados por insectos e outros invertebrados (Maruska, 1995) e se tivermos presente que a vida tal como a conhecemos é uma rede muito complexa e interdependente como afirma Durrel (1990): «O mundo é tão delicado e complicado como uma teia de aranha. Se tocares num fio lanças arrepios em todos os outros fios. Mas não esta- 32
52 SUPLEMENTO RPCV (2004) SUPL. 127: mos a tocar na teia, estamos a abrir-lhe buracos Pensamos na teia como uma rede de segurança. Os frágeis filamentos de sobrevivência. Ajudem-nos a tratar dela, a repará-la, e mantê-la intacta. - Antes que outra música acabe». Estamos a destruir os ecossistemas. E, se para além disto pensarmos em termos de interdependência e neste contexto tivermos presente o facto que nas Ilhas Maurícias se verificou que árvores Tambalacoque (Syderoryln grandiflorum ou a Syderoxyln sessileflorum) têm todas para cima de 300 anos e que a extinção do Dodo está datado de 1681, é inescapável pensar-se em uma qualquer forma de mutualismo existente entre o Dodo e a árvore Tambalacoque. Assim Temple (1977), sugeriu que a Tambalacoque sendo uma árvore muito especializada, requer um qualquer mecanismo abrasivo do endocarpo das sementes para facilitar a germinação e que a data da extinção dos Dodos permitia pensar que talvez o aparelho digestivo da referida ave, nomeadamente a moela, fosse o local onde se verificava a preparação da semente para possibilitar que a germinação tivesse lugar. Ensaiou-se a passagem das referidas sementes pelo tudo digestivo do peru, Meleagris gallopao. De dez sementes, que em regime de alimentação forçada, atravessaram o tubo digestivo do peru, 3 germinaram, e porque assim sucedeu e existem 3 árvores com idades de cerca de 30 anos, o facto justificou que se tivesse dado origem a uma qualquer forma de folclore científico, que parece não definitivamente provado. Até porque (Iverson, 1987), propôs outra hipótese, que não a da passagem pelo tubo digestivo do pavão, mas sim a de uma tartaruga gigante, já extinta para justificar a falta de germinação da Tambalacoque. Mas seja o Dodo ou a tartaruga o que fica provado é a existência de uma qualquer forma de mutualismo e assim da interdependência entre espécies. Um facto é não ser possível destruir extensas zonas de um ecossistema sem provocar em efeito de dominó (Maruska, 1995), e outro facto é que somente entre 1979 e 1989, o ritmo da degradação da floresta húmida aumentou 90% (Robinson, 1995). E com esta perspectiva realista, e mesmo descontado o pessimismo que resulta de se conhecer muito bem a situação fica-se reduzido a fundamentar a esperança na experiência acumulada de muitos Jardins Zoológicos e na sua capacidade de evolução para se converterem em Parques Zoológicos. Na verdade os Jardins Zoológicos nos seus inícios não eram mais que menageries, integrados em Jardins, muito bem cuidados, e tiveram, por necessidade de adequação ao desempenho de novas funções, a capacidade de se tornarem em centros de educação e sensibilização, nomeadamente da juventude e de difusão de ideias conservacionistas, ao mesmo tempo que intensificavam tentativas de reprodução dos seus animais e a investigação. Numa primeira fase em que as instalações eram pequenas e assépticas forradas a azulejo para facilitar as lavagens e consequentes desinfecções gradualmente passou-se para o enriquecimento das referidas instalações mediante a colocação de mobiliário, troncos, caixas, tapumes de madeira para acrescentar alguma privacidade aos animais quer em relação ao público quer entre eles. Mais recentemente agudizou-se a preocupação de bem-estar animal e sucessivamente foram retiradas as grades, criaram-se fossos, valas de água, delimitando ilhas, etc.. A última tendência foi a criação de instalações de imersão, em que o público visitante penetra no interior da mesma que está dotada de todo o tipo de defesas para evitar indesejáveis surpresas. Neste tipo de instalação tem havido a preocupação de imitar o habitat natural dos animais, nelas alojados. A partir de meados da década de setenta, nos Estados Unidos, e posteriormente, nos anos oitenta pela Europa, os Jardins Zoológicos capacitaram-se da necessidade urgente de congregarem esforços no sentido da fazerem o melhor aproveitamento das suas limitadas áreas. Para esse efeito, e tendo em vista terem a possibilidade de poderem contar com populações com dimensão suficiente para sem perigo de aumento de consanguinidade manterem níveis de heterozigotia compatíveis com a manutenção da diversidade genética, resolveram centralizar, mediante o controlo dum coordenador, todo o processo de reprodução de espécies em perigo de extinção. Nasceram assim os programas SSP (Species Survival Plans) nos Estados Unidos e os EEP (European Endangered Species Program) na Europa. De facto estes programas têm tido êxito e disso são prova a recuperação do Orix da Árabia, dos Addax, Mico Leão Dourado, o Falcão Peregrino, Veado do Padre David, etc., que até têm sido re-introduzidos nos seus antigos territórios com resultados variáveis (em alguns locais foram de novo abatidos como caça). Uma realidade é o nível de proficiência tecnológica que os Zoos atingiram, pelo que é permitido pensar que a reprodução de qualquer espécie já não é problema. O Zoo de Lisboa em 1997 (18/10/97), conseguiu pela primeira vez no mundo, por via intra-uterina, a inseminação artificial de uma fêmea de Tigre da Sibéria. Presume-se pois que os Zoos poderão enfrentar qualquer problema de reprodução ex-situ. É legítimo interrogarmo-nos se tal tarefa, dada a sua magnitude, é economicamente viável. Há centenas de animais em vias ou em perigo de extinção e os encargos financeiros envolvidos serão incomensuráveis. Segundo Conway (1995), o trabalho de propagação pelos Zoos pode provavelmente ajudar a sobrevivência de 15% ou mais de todos os vertebrados terrestres que presumivelmente se extinguirão no próximo século (XXI) - talvez 40% das espécies maiores - e isto eminentemente vale a pena. Ainda segundo o mesmo autor o próximo maior passo dos Zoos e Aquários é direccionarem os seus programas directamente para a sobrevivência das suas colecções nos seus habitas nativos, quer estes sejam locais ou ultramarinos. Este passo destinguirá o Parque Zoológico de amanhã dos Zoos de ontem. É um gran- 33
53 SUPLEMENTO RPCV (2004) SUPL. 127: de passo mas a passada é escorregadia. Mas mesmo o futuro dos Parques será problemático. Qual será a razão porque há mais Tigres da Sibéria nos Jardins Zoológicos do que na própria natureza? A área de distribuição dos Tigres era inicialmente muito vasta. Do mar Cáspio estendendo-se pelo sub- Continente indiano, Indo-China, Ilhas da Indonésia (Sumatra, Java e Bali), Rússia e China e ainda até ao extremo Leste da Sibéria. Das oito subespécies que se considerava existirem, possivelmente raças geográficas, existem quatro populações todas elas ameaçadas de extinção, Bengala, Sumatra, Indochina e Sibéria ou Amur, já que é irrelevante mencionar uma população chinesa que em Março de 1994 era dada como constituída por 30 a 80 animais. Ora esta área de distribuição é coincidente com a área mais populosa do Mundo. E o território de um único Tigre Indiano, necessita de contar com uma manada de 700 Axis, para que o Tigre possa ter a alimentação anual assegurada. Relativamente à Índia e a par da explosão demográfica que se verificou (os Indianos já excedem de habitantes), assistiu-se a uma chacina implacável no século XIX e princípios do século XX (pelos Marajás e aristocracia Inglesa), continua a verificar-se a caça furtiva de Tigres, para fazer face às solicitações da medicina tradicional chinesa que condiciona que muitas partes da anatomia dos Tigres, órgãos, ossos, etc. acabem nos escaparates de farmácias de Taiwan e de muitas cidades da China. Na verdade o problema que em termos de conservação neste momento se coloca, passa pela conservação de ecossistemas e não das espécies isoladas. E a conservação de ecossistemas implica a criação de reservas muito bem dimensionadas para garantia de algum sucesso, o que nem sempre tem sucedido. Uma afirmação de Conway (1998) é suficientemente elucidativa: «Além disso, as reservas da natureza como correntemente geridas, alteram-se com o passar de tempo, tornando-se menos adequadas, para muitos dos ocupantes originais. Em 1987, um estudo sobre sete dos maiores parques da zona ocidental da América do Norte, demonstrou que populações de vinte e sete espécies de mamíferos se tinham extinto em um ou mais destas sacrosantas reservas». Isto pode ser consequência não do Parque mas sim da destruição de zonas limítrofes ou até de áreas afastadas para onde muitas espécies sazonalmente imigram e que no entretanto perderam o habitat natural. Finalmente o famoso Kruger National Park, da República Sul-Africana, não está isento de problemas, apesar de ter uma área quase idêntica a pequenos países Europeus. Na parte sul a tuberculose está presente em muitas manadas de búfalos e possivelmente de outros herbívoros. O contágio parece ter ocorrido pelo contacto directo ou indirecto com animais domésticos (bovinos), através da bebida de água de rios que atravessam o parque de um lado ao outro, entrando mesmo em Moçambique. Dos búfalos passou para os grandes predadores, nomeadamente o Leão, e neste momento já se verifica um déficit de predadores e consequentemente crescimento das populações de herbívoros o que se reflecte na degradação do coberto vegetal. Na parte norte não se verifica a existência de tuberculose mas no entretanto há uma sobrecarga da população de elefantes que, por ausência do seu único predador, o Homem, tem proliferado. Internacionalmente foi proibido o comércio do marfim e consequentemente o abate dos elefantes. Pode imaginar-se o efeito na vegetação. Em anos de poucas chuvas ou mesmo de seca nem os embondeiros (Andansonia digitata) escapam à devastação. Parece que neste momento os governos de Moçambique e o da República Sul Africana estudam a possibilidade de alargar o Parque de Kruger para o território de Moçambique com a inclusão da área Moçambicana delimitada pela margem direita do Limpopo e a esquerda do Rio dos Elefantes que aliás era, antes da criação de vedações (à prova de elefantes), uma área de migração sazonal. Para terminar, talvez condicionado pelo meu natural pessimismo, quis alertá-los para a enorme dificuldade que se põe a qualquer conservacionista até porque a terra está a ficar pequena para tanta biomassa. Bibliografia Conway, William (1995). From Zoos to Conservation Parks. Keepers of the Kingdom. The New American Zoo. Ed Michael Nichols and Jon Charles Coe. Pub Thomasson Grant & Howell. Durrel, Gerard M. (1990). Wild Animals in Captivity. Principles and Tehniques. Editors Devra G. Kleiman et al. The University of Chicago Press Iverson, John B. (1987). Tortoises, Not Dodos, and The Tambalocoque Tree. Journal of Herpetology, 21 (9), Linden, Eugene (1994). Tigers on the Brink. Time Magazine, March 98, 13, Maruska, Eduard J. (1995). The Intricate Web. Keepers of the Kingdom. The New American Zoo. Ed Michael Nichols and Jon Charles Coe. Pub Thomasson Grant & Howell. Pearson, David (2000). Bushmeat boom threatns apes with extinction. tim/2000/09/27/timfgnfgn01005.html Revkin, Andrew C. (2000). West African Monkey, a Red Colobus, Is Declared Extinct. Science/12Prim.html Robinson, Michael H. (1995). The Shaphe of Things to Come. Keepers of the Kingdom. The New American Zoo. Ed Michael Nichols and Jon Charles Coe. Pub Thomasson Grant & Howell. Satchell, Michael (2000). Hunting to Extinction. Science& Ideas. U.S. News & World Report Archive. October 9,
54 SUPLEMENTO RPCV (2004) SUPL. 127: Notas sobre publicações A Pecuária no Centro de Moçambique Fernando de Pinho Morgado Editor Fernando de Pinho Morgado publicou recentemente o segundo de três volumes da obra A Pecuária no Centro de Moçambique, este dedicado às províncias do centro, Zambézia, Tete, Manica e Sofala. Trata-se de um volume com quatrocentas e setenta páginas, só possível escrito por quem teve uma vida dedicada à promoção da actividade pecuária em Moçambique. O livro está estruturado segundo uma matriz onde os eixos dominantes são as quatro províncias do centro de Moçambique, intersectada por eixos introdutórios relativos à caracterização da história das províncias, da sua geografia e geologia, orografia, divisão administrativa e estrutura dos serviços veterinários e zootécnicos do segundo quartel do século vinte em diante. O autor procura fazer uma síntese dos aspectos mais relevantes de todas essas áreas para a compreensão do desenvolvimento zootécnico, aptidões pecuárias das regiões (quase sempre por espécie) e dos factores limitantes para a criação de gado. Não deixa de analisar a evolução dos armentios pecuários e das respectivas produções em quadros detalhados sempre que possível até aos anos mais recentes. É um livro dificilmente classificável nas categorias a que nos habituámos: não se trata de um livro de memórias, não são narrativas de viagem, não é um manual de zootecnia tropical ou de sanidade animal nem, tampouco, um livro de história ou sociologia. O facto, no entanto, é que é um livro com todos estes ingredientes, escrito por quem teve uma vida cheia, por terras de Moçambique. É uma obra com interesse para um público muito diversificado, para um leque de leitores com interesses muito diferentes. Desde logo para quem nunca tenha estado em Moçambique e queira sentir o pulsar da terra e das paisagens, das gentes e dos costumes, conhecer as aptidões zootécnicas, os problemas e os factores limitativos da expansão da actividade ou da ocupação de novas terras. Também para quem procure conhecer a história da ocupação do território (parte na era colonial), as estratégias adoptadas pelos serviços veterinários da época, com o relato dos sucessos e insucessos feito da forma conhecedora de quem participou nesses processos, temperada com o distanciamento analítico do técnico e do investigador. Os estudiosos da história e aqueles que procuram entender o modo como a actividade humana se repercute no ambiente e em territórios inexplorados, ou não tocados de forma significativa pelo homem, poderão encontrar também nesta obra uma compilação de elementos e informações com valor inestimável. Pode ser também um livro para leitores como eu, que tendo lá nascido, em terras moçambicanas, e não mais voltado desde 1974, desenterrou das arcas da memória nomes, locais, acontecimentos há muito esquecidos e que, até por esse motivo, pode avaliar com experiência de quem viveu os mesmos acontecimentos, o conhecimento profundo e vivido que o autor tem da terra. Uma abundante escolha de material fotográfico vem associar as ideias chave de muitas entradas do livro, por vezes recordar pessoas, eventos, paisagens. A fraca qualidade de muitas das reproduções de imagens de modo algum o empobrece. Antes pelo contrário, aplica-se aqui o velho provérbio de que uma imagem vale por mil palavras. Esta obra de Fernando Morgado tem um inestimável valor documental. É o testemunho de um homem profundamente conhecedor da sua arte e do país, atento ao evoluir da história, lúcido nas análises que faz, preocupado com o futuro e, por isso mesmo, capaz de acometer uma tarefa como a que assumiu, de escrever um trabalho onde a preocupação dominante me parece ser a de plasmar numa síntese (de mais de mil páginas, embora), informações e experiências que considera importantes ou relevantes para as gerações futuras. É um trabalho de um investigador e técnico que soube contextualizar a dimensão social, económica, pedagógica e histórica da sua actividade. As referências abundantes, de fontes variadíssimas, que fundamentam e documentam as suas afirmações estendem-se por várias centenas de anos, sem prejuízo de encontrarmos referências bibliográficas muito recentes, já deste século. Isto denota a alma de historiador, o espírito científico e o rigor técnico pelos quais o autor pauta a sua actividade e mostra a preocupação permanente de acompanhar a evolução dos conhecimentos científicos e dos estudos de viabilidade de certas produções animais em regiões de Moçambique. A profusão de nomes e referências vem recordar-nos o que tantas vezes esquecemos: que a história é feita por homens. João Niza Ribeiro Reuniões científicas e cursos, agenda 9th Annual Conference of the Eurpean Society for Domestic Animal Reproduction: A decorrer de 1 a 3 de Setembro de 2005 na Faculdade de Veterinária da Universidade de Múrcia. Serão apresentadas comunicações orais e em painel sobre diferentes aspectos da reprodução em animais domésticos. Os resumos das comunicações serão avaliados pelo comité científico e as comunicações apresentadas serão publicadas no 35
COMPLEXO GENGIVITE ESTOMATITE FELINA: REVISÃO SISTEMÁTICA DOS TRATAMENTOS
 COMPLEXO GENGIVITE ESTOMATITE FELINA: REVISÃO SISTEMÁTICA DOS TRATAMENTOS SONTAG, Suelen Chaiane 1 ; RUBIO, Kariny Aparecida Jardim 2 1 Médica Veterinária - Mestranda Programa de Pós Graduação em Produção
COMPLEXO GENGIVITE ESTOMATITE FELINA: REVISÃO SISTEMÁTICA DOS TRATAMENTOS SONTAG, Suelen Chaiane 1 ; RUBIO, Kariny Aparecida Jardim 2 1 Médica Veterinária - Mestranda Programa de Pós Graduação em Produção
ABORDAGEM SOBRE COMPLEXO GENGIVITE-ESTOMATITE-FARINGITE EM GATO: RELATO DE CASO
 ABORDAGEM SOBRE COMPLEXO GENGIVITE-ESTOMATITE-FARINGITE EM GATO: RELATO DE CASO 13 FERREIRA, Guadalupe Sampaio 1 VASCONCELLOS, Amanda Leal de 1 MASSON, Guido Carlos Iselda Hermans 2 GALVÃO, André Luiz
ABORDAGEM SOBRE COMPLEXO GENGIVITE-ESTOMATITE-FARINGITE EM GATO: RELATO DE CASO 13 FERREIRA, Guadalupe Sampaio 1 VASCONCELLOS, Amanda Leal de 1 MASSON, Guido Carlos Iselda Hermans 2 GALVÃO, André Luiz
Gengivo-estomatite crónica felina - um desafio clínico. Feline chronic gingivostomatitis - a clinical challenge
 ARTIGO DE REVISÃO Gengivo-estomatite crónica felina - um desafio clínico Feline chronic gingivostomatitis - a clinical challenge M. M. R. E. Niza 1 *, L.A. Mestrinho 2, C. L. Vilela 1 1 CIISA - Faculdade
ARTIGO DE REVISÃO Gengivo-estomatite crónica felina - um desafio clínico Feline chronic gingivostomatitis - a clinical challenge M. M. R. E. Niza 1 *, L.A. Mestrinho 2, C. L. Vilela 1 1 CIISA - Faculdade
COMPLEXO GENGIVITE-ESTOMATITE-FARINGITE FELINO: A DOENÇA E O DIAGNÓSTICO
 Revista Lusófona de Ciência e Medicina Veterinária 8: (2016) 18-27 COMPLEXO GENGIVITE-ESTOMATITE-FARINGITE FELINO: A DOENÇA E O DIAGNÓSTICO FELINE CHRONIC GINGIVITIS STOMATITIS: THE DISEASE AND THE DIAGNOSIS
Revista Lusófona de Ciência e Medicina Veterinária 8: (2016) 18-27 COMPLEXO GENGIVITE-ESTOMATITE-FARINGITE FELINO: A DOENÇA E O DIAGNÓSTICO FELINE CHRONIC GINGIVITIS STOMATITIS: THE DISEASE AND THE DIAGNOSIS
Doença de Crohn. Grupo: Bruno Melo Eduarda Melo Jéssica Roberta Juliana Jordão Luan França Luiz Bonner Pedro Henrique
 Doença de Crohn Grupo: Bruno Melo Eduarda Melo Jéssica Roberta Juliana Jordão Luan França Luiz Bonner Pedro Henrique A doença de Crohn (DC) é considerada doença inflamatória intestinal (DII) sem etiopatogenia
Doença de Crohn Grupo: Bruno Melo Eduarda Melo Jéssica Roberta Juliana Jordão Luan França Luiz Bonner Pedro Henrique A doença de Crohn (DC) é considerada doença inflamatória intestinal (DII) sem etiopatogenia
Universidade Federal Fluminense Resposta do hospedeiro às infecções virais
 Universidade Federal Fluminense Resposta do hospedeiro às infecções virais Disciplina de Virologia Departamento de Microbiologia e Parasitologia (MIP) Mecanismos de resposta inespecífica Barreiras anatômicas
Universidade Federal Fluminense Resposta do hospedeiro às infecções virais Disciplina de Virologia Departamento de Microbiologia e Parasitologia (MIP) Mecanismos de resposta inespecífica Barreiras anatômicas
4ª Ficha de Trabalho para Avaliação Biologia (12º ano)
 4ª Ficha de Trabalho para Avaliação Biologia (12º ano) Ano Lectivo: 2008/2009 Nome: Nº Turma: CT Curso: CH-CT Data: 06/03/2009 Docente: Catarina Reis NOTA: Todas as Respostas são obrigatoriamente dadas
4ª Ficha de Trabalho para Avaliação Biologia (12º ano) Ano Lectivo: 2008/2009 Nome: Nº Turma: CT Curso: CH-CT Data: 06/03/2009 Docente: Catarina Reis NOTA: Todas as Respostas são obrigatoriamente dadas
Imunidade Humoral. Células efectoras: Linfócitos B. (Imunoglobulinas)
 Imunidade Humoral Células efectoras: Linfócitos B (Imunoglobulinas) Determinantes antigénicos Também conhecidos como epítopos, são porções do antigénio que reúnem aspectos físicos e químicos que favorecem
Imunidade Humoral Células efectoras: Linfócitos B (Imunoglobulinas) Determinantes antigénicos Também conhecidos como epítopos, são porções do antigénio que reúnem aspectos físicos e químicos que favorecem
Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida
 Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida Ficha de trabalho de Biologia - 12º Ano Sistema Imunitário Nome: N º: Turma: Data: Professor: Encarregado(a) de Educação: 1. Para cada uma das seguintes questões,
Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida Ficha de trabalho de Biologia - 12º Ano Sistema Imunitário Nome: N º: Turma: Data: Professor: Encarregado(a) de Educação: 1. Para cada uma das seguintes questões,
Gengivite-estomatite linfoplasmocitária felina: relato de caso
 Allemand V. C.; Radighieri R.; Bearl C. A. Gengivite-estomatite linfoplasmocitária felina: relato de caso / Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP / Journal of Continuing
Allemand V. C.; Radighieri R.; Bearl C. A. Gengivite-estomatite linfoplasmocitária felina: relato de caso / Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP / Journal of Continuing
Turma Fisioterapia - 2º Termo. Profa. Dra. Milena Araújo Tonon Corrêa
 Turma Fisioterapia - 2º Termo Profa. Dra. Milena Araújo Tonon Corrêa Administração Absorção Fármaco na circulação sistêmica A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção de um fármaco envolvem
Turma Fisioterapia - 2º Termo Profa. Dra. Milena Araújo Tonon Corrêa Administração Absorção Fármaco na circulação sistêmica A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção de um fármaco envolvem
TÍTULO: EFEITO DA TERAPIA PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICA SOBRE O CONTROLE GLICÊMICO EM INDIVÍDUOS COM DIABETES TIPO2 E PERIODONTITE CRÔNICA: ENSAIO CLÍNICO
 16 TÍTULO: EFEITO DA TERAPIA PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICA SOBRE O CONTROLE GLICÊMICO EM INDIVÍDUOS COM DIABETES TIPO2 E PERIODONTITE CRÔNICA: ENSAIO CLÍNICO CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
16 TÍTULO: EFEITO DA TERAPIA PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICA SOBRE O CONTROLE GLICÊMICO EM INDIVÍDUOS COM DIABETES TIPO2 E PERIODONTITE CRÔNICA: ENSAIO CLÍNICO CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HEPATITE AUTO- IMUNE
 Hospital do Servidor Público Municipal DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HEPATITE AUTO- IMUNE ERIKA BORGES FORTES São Paulo 2011 ERIKA BORGES FORTES DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HEPATITE AUTO- IMUNE Trabalho
Hospital do Servidor Público Municipal DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HEPATITE AUTO- IMUNE ERIKA BORGES FORTES São Paulo 2011 ERIKA BORGES FORTES DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HEPATITE AUTO- IMUNE Trabalho
APROVADO EM 06-05-2004 INFARMED
 RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO APROVADO EM 1 DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO Q10 Forte, 30mg, cápsula 2 COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Uma cápsula de Q10 Forte contém 30mg de ubidecarenona
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO APROVADO EM 1 DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO Q10 Forte, 30mg, cápsula 2 COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Uma cápsula de Q10 Forte contém 30mg de ubidecarenona
HISTOPATOLOGIA DA HEPATITES VIRAIS B e C. Luiz Antônio Rodrigues de Freitas Fundação Oswaldo Cruz (CPqGM Bahia) Faculdade de Medicina da UFBA
 HISTOPATOLOGIA DA HEPATITES VIRAIS B e C Luiz Antônio Rodrigues de Freitas Fundação Oswaldo Cruz (CPqGM Bahia) Faculdade de Medicina da UFBA HEPATITES CRÔNICAS RACIONAL PARA INDICAÇÃO DE BIÓPSIA HEPÁTICA
HISTOPATOLOGIA DA HEPATITES VIRAIS B e C Luiz Antônio Rodrigues de Freitas Fundação Oswaldo Cruz (CPqGM Bahia) Faculdade de Medicina da UFBA HEPATITES CRÔNICAS RACIONAL PARA INDICAÇÃO DE BIÓPSIA HEPÁTICA
PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DE INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS FELINO PROF. DR. DIANE ADDIE, 2016
 Protocolo para tratamento de PIF húmida Glucocorticoides Dexametasona Prednisolona em doses decrescentes (dose anti-inflamatória) Dose 1mg/kg intratorácico/ intraperitoneal SID durante até 7 dias (suspender
Protocolo para tratamento de PIF húmida Glucocorticoides Dexametasona Prednisolona em doses decrescentes (dose anti-inflamatória) Dose 1mg/kg intratorácico/ intraperitoneal SID durante até 7 dias (suspender
Retrovírus Felinos. Fernando Finoketti
 Retrovírus Felinos Fernando Finoketti Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Maio de 2014 Retrovírus - Características Capsídeo icosaédrico. Possuem envelope. Genoma composto de duas moléculas idênticas
Retrovírus Felinos Fernando Finoketti Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Maio de 2014 Retrovírus - Características Capsídeo icosaédrico. Possuem envelope. Genoma composto de duas moléculas idênticas
EFEITOS GERAIS DA INFLAMAÇÃO
 EFEITOS GERAIS DA INFLAMAÇÃO Inflamação: reação local, multimediada e esteriotipada, mas tende a envolver o organismo como um todo. Mensageiros químicos liberados do foco de lesão: Moléculas de células
EFEITOS GERAIS DA INFLAMAÇÃO Inflamação: reação local, multimediada e esteriotipada, mas tende a envolver o organismo como um todo. Mensageiros químicos liberados do foco de lesão: Moléculas de células
Tem a finalidade de tornar a droga que foi. mais solúveis para que assim possam ser. facilmente eliminadas pelos rins. BIOTRANSFORMAÇÃO DE DROGAS
 1 Tem a finalidade de tornar a droga que foi absorvida e distribuída em substâncias mais solúveis para que assim possam ser BIOTRANSFORMAÇÃO DE DROGAS facilmente eliminadas pelos rins. Se não houvesse
1 Tem a finalidade de tornar a droga que foi absorvida e distribuída em substâncias mais solúveis para que assim possam ser BIOTRANSFORMAÇÃO DE DROGAS facilmente eliminadas pelos rins. Se não houvesse
APROVADO EM INFARMED
 RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 1. NOME DO MEDICAMENTO Fucidine H 20 mg/g + 10 mg/g Creme 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ácido fusídico 20 mg/g e Acetato de hidrocortisona 10 mg/g.
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 1. NOME DO MEDICAMENTO Fucidine H 20 mg/g + 10 mg/g Creme 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ácido fusídico 20 mg/g e Acetato de hidrocortisona 10 mg/g.
Ativação de linfócitos B mecanismos efetores da resposta Humoral Estrutura e função de imunoglobulinas
 Ativação de linfócitos B mecanismos efetores da resposta Humoral Estrutura e função de imunoglobulinas Estrutura de uma molécula de anticorpo Imunoglobulinas. São glicoproteínas heterodiméricas e bifuncionais
Ativação de linfócitos B mecanismos efetores da resposta Humoral Estrutura e função de imunoglobulinas Estrutura de uma molécula de anticorpo Imunoglobulinas. São glicoproteínas heterodiméricas e bifuncionais
Hidroclorotiazida. Diurético - tiazídico.
 Hidroclorotiazida Diurético - tiazídico Índice 1. Definição 2. Indicação 3. Posologia 4. Contraindicação 5. Interação medicamentosa 1. Definição A Hidroclorotiazida age diretamente sobre os rins atuando
Hidroclorotiazida Diurético - tiazídico Índice 1. Definição 2. Indicação 3. Posologia 4. Contraindicação 5. Interação medicamentosa 1. Definição A Hidroclorotiazida age diretamente sobre os rins atuando
Moléculas Reconhecidas pelo Sistema Imune:- PAMPS e Antígenos (Ag)
 Moléculas Reconhecidas pelo Sistema Imune:- PAMPS e Antígenos (Ag) PROPRIEDADES BÁSICAS DO SISTEMA IMUNE FUNÇÃO PRIMORDIAL DO SI: Manter o Equilíbrio da Composição Macromolecular Normal de Organismos Vertebrados,
Moléculas Reconhecidas pelo Sistema Imune:- PAMPS e Antígenos (Ag) PROPRIEDADES BÁSICAS DO SISTEMA IMUNE FUNÇÃO PRIMORDIAL DO SI: Manter o Equilíbrio da Composição Macromolecular Normal de Organismos Vertebrados,
Turma Fisioterapia - 2º Termo. Profa. Dra. Milena Araújo Tonon Corrêa
 Turma Fisioterapia - 2º Termo Profa. Dra. Milena Araújo Tonon Corrêa Administração Absorção Fármaco na circulação sistêmica Distribuído Biotransformado Excretado Farmacocinética : O que o organismo faz
Turma Fisioterapia - 2º Termo Profa. Dra. Milena Araújo Tonon Corrêa Administração Absorção Fármaco na circulação sistêmica Distribuído Biotransformado Excretado Farmacocinética : O que o organismo faz
ANEMIA DA DOENÇA CRÔNICA
 ANEMIA DA DOENÇA CRÔNICA Sandra Regina Loggetto Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia Hemo 2006 Recife-PE Definição ADC ou anemia da inflamação crônica Adquirida Doenças inflamatórias como
ANEMIA DA DOENÇA CRÔNICA Sandra Regina Loggetto Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia Hemo 2006 Recife-PE Definição ADC ou anemia da inflamação crônica Adquirida Doenças inflamatórias como
LITERATURA CURCUMIN C3 COMPLEX ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE
 CURCUMIN C3 COMPLEX ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE Fator de Correção: Não se aplica Fator de Equivalência: Não se aplica Parte utilizada: Raíz Uso: Interno A osteoartrite (OA), artrose ou osteoartrose,
CURCUMIN C3 COMPLEX ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE Fator de Correção: Não se aplica Fator de Equivalência: Não se aplica Parte utilizada: Raíz Uso: Interno A osteoartrite (OA), artrose ou osteoartrose,
Ciências Naturais 9.º ano Fonte: Planeta Terra Santillana.
 Sistema digestivo Ciências Naturais 9.º ano Fonte: Planeta Terra Santillana http://isidrodafonseca.wordpress.com Porque nos alimentamos? Todos os seres vivos necessitam de obter matéria e energia permitem
Sistema digestivo Ciências Naturais 9.º ano Fonte: Planeta Terra Santillana http://isidrodafonseca.wordpress.com Porque nos alimentamos? Todos os seres vivos necessitam de obter matéria e energia permitem
AVALIAÇÃO LABORATORIAL DO FIGADO Silvia Regina Ricci Lucas
 AVALIAÇÃO LABORATORIAL DO FIGADO Silvia Regina Ricci Lucas Funções do Fígado FMVZ-USP Regulação metabólica Reserva de carboidratos Regulação do metabolismo lipídico Produção de proteínas plasmáticas Detoxificação
AVALIAÇÃO LABORATORIAL DO FIGADO Silvia Regina Ricci Lucas Funções do Fígado FMVZ-USP Regulação metabólica Reserva de carboidratos Regulação do metabolismo lipídico Produção de proteínas plasmáticas Detoxificação
Ácidos biliares: metabolismo e aplicações diagnósticas 1
 Ácidos biliares: metabolismo e aplicações diagnósticas 1 Introdução Os ácidos biliares são produzidos exclusivamente no fígado a partir do colesterol, o qual também é o precursor dos hormônios esteróides
Ácidos biliares: metabolismo e aplicações diagnósticas 1 Introdução Os ácidos biliares são produzidos exclusivamente no fígado a partir do colesterol, o qual também é o precursor dos hormônios esteróides
CLASSIFICAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PERIODONTAIS
 INAPÓS - Faculdade de Odontologia e Pós Graduação DISCIPLINA DE PERIODONTIA CLASSIFICAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PERIODONTAIS Parte II Prof.Dr. Lucinei Roberto de Oliveira http://lucinei.wikispaces.com
INAPÓS - Faculdade de Odontologia e Pós Graduação DISCIPLINA DE PERIODONTIA CLASSIFICAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PERIODONTAIS Parte II Prof.Dr. Lucinei Roberto de Oliveira http://lucinei.wikispaces.com
TOXICOLOGIA -TOXICOCINÉTICA. Profa. Verônica Rodrigues
 TOXICOLOGIA -TOXICOCINÉTICA Profa. Verônica Rodrigues FARMACÊUTICA INDUSTRIAL - UFRJ MESTRE EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - UFRJ EX-DOCENTE - UNIPLI EX-PERITA LEGISTA - TOXICOLOGISTA - PCERJ PESQUISADORA EM
TOXICOLOGIA -TOXICOCINÉTICA Profa. Verônica Rodrigues FARMACÊUTICA INDUSTRIAL - UFRJ MESTRE EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - UFRJ EX-DOCENTE - UNIPLI EX-PERITA LEGISTA - TOXICOLOGISTA - PCERJ PESQUISADORA EM
HEPATOPATIAS TÓXICAS. DISCIPLINA SAÚDE E TRABALHO 2006/1 Profa. Carmen Fróes Asmus
 HEPATOPATIAS TÓXICAS DISCIPLINA SAÚDE E TRABALHO 2006/1 Profa. Carmen Fróes Asmus TOXICIDADE HEPÁTICA Hepatotoxinas naturais produtos de plantas e minerais Produtos da indústria química ou farmacêutica
HEPATOPATIAS TÓXICAS DISCIPLINA SAÚDE E TRABALHO 2006/1 Profa. Carmen Fróes Asmus TOXICIDADE HEPÁTICA Hepatotoxinas naturais produtos de plantas e minerais Produtos da indústria química ou farmacêutica
APLV - O que é a Alergia à Proteína do Leite de Vaca: características, sinais e sintomas. Dra. Juliana Praça Valente Gastropediatra
 APLV - O que é a Alergia à Proteína do Leite de Vaca: características, sinais e sintomas Dra. Juliana Praça Valente Gastropediatra Reações Adversas a Alimentos Imunomediadas: Alergia alimentar IgE mediada
APLV - O que é a Alergia à Proteína do Leite de Vaca: características, sinais e sintomas Dra. Juliana Praça Valente Gastropediatra Reações Adversas a Alimentos Imunomediadas: Alergia alimentar IgE mediada
Metabolismo e produção de calor
 Fisiologia 5 Metabolismo e produção de calor Iniciando a conversa Apenas comer não é suficiente: o alimento precisa ser transformado (metabolizado) para ser aproveitado por nosso organismo. Açúcares (carboidratos),
Fisiologia 5 Metabolismo e produção de calor Iniciando a conversa Apenas comer não é suficiente: o alimento precisa ser transformado (metabolizado) para ser aproveitado por nosso organismo. Açúcares (carboidratos),
Eres Pó, 9.1mg/g Pó Hidrossolúvel Oral.
 1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO Eres Pó, 9.1mg/g Pó Hidrossolúvel Oral. 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada g contém: Substância Activa: Bromexina (Cloridrato) 9.1 mg Para lista completa de
1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO Eres Pó, 9.1mg/g Pó Hidrossolúvel Oral. 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada g contém: Substância Activa: Bromexina (Cloridrato) 9.1 mg Para lista completa de
Vinícius Reis Batista Acadêmico do 4 período de Medicina Orientador: Wanderson Tassi
 Vinícius Reis Batista Acadêmico do 4 período de Medicina Orientador: Wanderson Tassi O fígado É o maior órgão interno do corpo humano; 2,5 a 4,5% da massa corporal total do corpo com um peso médio de
Vinícius Reis Batista Acadêmico do 4 período de Medicina Orientador: Wanderson Tassi O fígado É o maior órgão interno do corpo humano; 2,5 a 4,5% da massa corporal total do corpo com um peso médio de
Biomassa de Banana Verde Polpa - BBVP
 Biomassa de Banana Verde Polpa - BBVP INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 100g (1/2 copo) Quantidade por porção g %VD(*) Valor Energético (kcal) 91 4,55 Carboidratos 21,4 7,13 Proteínas 2,1 2,80 Gorduras
Biomassa de Banana Verde Polpa - BBVP INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 100g (1/2 copo) Quantidade por porção g %VD(*) Valor Energético (kcal) 91 4,55 Carboidratos 21,4 7,13 Proteínas 2,1 2,80 Gorduras
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS BARREIRO
 ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS BARREIRO DISCIPLINA DE BIOLOGIA 4º Teste de Avaliação (V1) 12ºano Turma A e B TEMA: Imunidade e controlo de doenças 90 minutos 5 de Março de 2010 Nome: Nº Classificação:,
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS BARREIRO DISCIPLINA DE BIOLOGIA 4º Teste de Avaliação (V1) 12ºano Turma A e B TEMA: Imunidade e controlo de doenças 90 minutos 5 de Março de 2010 Nome: Nº Classificação:,
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS. voltar índice próximo CIÊNCIAS. Unidade º ANO» UNIDADE 1» CAPÍTULO 3
 HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS CIÊNCIAS Unidade 41 www.sejaetico.com.br 8º ANO ALIMENTAÇÃO E DIGESTÃO NO SER HUMANO Índice ÍNDICE Por que nos alimentamos? www.sejaetico.com.br 3 Por que nos alimentamos? Os
HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS CIÊNCIAS Unidade 41 www.sejaetico.com.br 8º ANO ALIMENTAÇÃO E DIGESTÃO NO SER HUMANO Índice ÍNDICE Por que nos alimentamos? www.sejaetico.com.br 3 Por que nos alimentamos? Os
Biologia. Transplantes e Doenças Autoimunes. Professor Enrico Blota.
 Biologia Transplantes e Doenças Autoimunes Professor Enrico Blota www.acasadoconcurseiro.com.br Biologia HEREDITARIEDADE E DIVERSIDADE DA VIDA- TRANSPLANTES, IMUNIDADE E DOENÇAS AUTOIMUNES Os transplantes
Biologia Transplantes e Doenças Autoimunes Professor Enrico Blota www.acasadoconcurseiro.com.br Biologia HEREDITARIEDADE E DIVERSIDADE DA VIDA- TRANSPLANTES, IMUNIDADE E DOENÇAS AUTOIMUNES Os transplantes
Imunologia. Introdução ao Sistema Imune. Lairton Souza Borja. Módulo Imunopatológico I (MED B21)
 Imunologia Introdução ao Sistema Imune Módulo Imunopatológico I (MED B21) Lairton Souza Borja Objetivos 1. O que é o sistema imune (SI) 2. Revisão dos componentes do SI 3. Resposta imune inata 4. Inflamação
Imunologia Introdução ao Sistema Imune Módulo Imunopatológico I (MED B21) Lairton Souza Borja Objetivos 1. O que é o sistema imune (SI) 2. Revisão dos componentes do SI 3. Resposta imune inata 4. Inflamação
Sumário. Anatomia funcional do trato gastrintestinal e dos órgãos que drenam nele 1
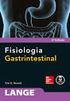 Sumário SEÇÃO I Capítulo 1 A resposta integrada a uma refeição Anatomia funcional do trato gastrintestinal e dos órgãos que drenam nele 1 Objetivos / 1 Visão geral do sistema gastrintestinal e de suas
Sumário SEÇÃO I Capítulo 1 A resposta integrada a uma refeição Anatomia funcional do trato gastrintestinal e dos órgãos que drenam nele 1 Objetivos / 1 Visão geral do sistema gastrintestinal e de suas
ANTIBIÓTICOS EM ODONTOPEDIATRIA NÃO PROFILÁTICOS E PROFILÁTICOS
 ANTIBIÓTICOS EM ODONTOPEDIATRIA NÃO PROFILÁTICOS E PROFILÁTICOS QUANDO RECEITAR ANTIBIÓTICOS? Fístulas não usar abscessos não drenáveis comprometimento sistêmico causado pela disseminação de infecção de
ANTIBIÓTICOS EM ODONTOPEDIATRIA NÃO PROFILÁTICOS E PROFILÁTICOS QUANDO RECEITAR ANTIBIÓTICOS? Fístulas não usar abscessos não drenáveis comprometimento sistêmico causado pela disseminação de infecção de
Antígenos e Imunoglobulinas
 Curso: farmácia Componente curricular: Imunologia Antígenos e Imunoglobulinas DEYSIANE OLIVEIRA BRANDÃO Antígenos (Ag) São estruturas solúveis ou particuladas reconhecidas pelo organismo como estranha
Curso: farmácia Componente curricular: Imunologia Antígenos e Imunoglobulinas DEYSIANE OLIVEIRA BRANDÃO Antígenos (Ag) São estruturas solúveis ou particuladas reconhecidas pelo organismo como estranha
Defesa não Especifica. Realizado por: Ricardo Neves
 Defesa não Especifica Realizado por: Ricardo Neves Como se defende o nosso corpo das doenças? Vacinas? Como são feitas? Como funcionam? http://www.theimmunology.com/animations/vaccine.htm Constituição
Defesa não Especifica Realizado por: Ricardo Neves Como se defende o nosso corpo das doenças? Vacinas? Como são feitas? Como funcionam? http://www.theimmunology.com/animations/vaccine.htm Constituição
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS HEPATITES VIRAIS. Adriéli Wendlant
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS HEPATITES VIRAIS Adriéli Wendlant Hepatites virais Grave problema de saúde pública No Brasil, as hepatites virais
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS HEPATITES VIRAIS Adriéli Wendlant Hepatites virais Grave problema de saúde pública No Brasil, as hepatites virais
[CUIDADOS COM OS ANIMAIS IDOSOS]
![[CUIDADOS COM OS ANIMAIS IDOSOS] [CUIDADOS COM OS ANIMAIS IDOSOS]](/thumbs/55/37208058.jpg) [CUIDADOS COM OS ANIMAIS IDOSOS] Geriatria é o ramo da Medicina que foca o estudo, a prevenção e o tratamento de doenças e da incapacidade em idosos. Seus objetivos maiores são: manutenção da saúde, impedir
[CUIDADOS COM OS ANIMAIS IDOSOS] Geriatria é o ramo da Medicina que foca o estudo, a prevenção e o tratamento de doenças e da incapacidade em idosos. Seus objetivos maiores são: manutenção da saúde, impedir
O SISTEMA IMUNITÁRIO
 O SISTEMA IMUNITÁRIO Orgãos do Sistema Immunitário Nódulos linfáticos Timo Baço Medula Óssea ORIGEM DOS DIFERENTES COMPONENTES CELULARES Medula Óssea Linfócitos T Osso Células NK Células progenitoras linfoides
O SISTEMA IMUNITÁRIO Orgãos do Sistema Immunitário Nódulos linfáticos Timo Baço Medula Óssea ORIGEM DOS DIFERENTES COMPONENTES CELULARES Medula Óssea Linfócitos T Osso Células NK Células progenitoras linfoides
Prática 00. Total 02 Pré-requisitos 2 CBI257. N o. de Créditos 02. Período 3º. Aprovado pelo Colegiado de curso DATA: Presidente do Colegiado
 1 Disciplina IMUNOLOGIA PROGRAMA DE DISCIPLINA Departamento DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Carga Horária Semanal Pré-requisitos Teórica 02 Prática 00 Total 02 Pré-requisitos Unidade ICEB Código CBI126
1 Disciplina IMUNOLOGIA PROGRAMA DE DISCIPLINA Departamento DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Carga Horária Semanal Pré-requisitos Teórica 02 Prática 00 Total 02 Pré-requisitos Unidade ICEB Código CBI126
É utilizado no tratamento dos sintomas da osteoartrose, isto é, dor e limitação da função.
 FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR Glucosamina Labesfal 1500 mg pó para solução oral Sulfato de glucosamina Leia atentamente este folheto antes de utilizar o medicamento. - Conserve este
FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR Glucosamina Labesfal 1500 mg pó para solução oral Sulfato de glucosamina Leia atentamente este folheto antes de utilizar o medicamento. - Conserve este
Inflamação aguda e crônica. Profa Alessandra Barone
 e crônica Profa Alessandra Barone Inflamação Inflamação Resposta do sistema imune frente a infecções e lesões teciduais através do recrutamento de leucócitos e proteínas plasmáticas com o objetivo de neutralização,
e crônica Profa Alessandra Barone Inflamação Inflamação Resposta do sistema imune frente a infecções e lesões teciduais através do recrutamento de leucócitos e proteínas plasmáticas com o objetivo de neutralização,
Classificando as crises epilépticas para a programação terapêutica Farmacocinética dos fármacos antiepilépticos... 35
 Índice Parte 1 - Bases para a terapêutica com fármacos antiepilépticos Classificando as crises epilépticas para a programação terapêutica... 19 Classificação das Crises Epilépticas (1981)... 20 Classificação
Índice Parte 1 - Bases para a terapêutica com fármacos antiepilépticos Classificando as crises epilépticas para a programação terapêutica... 19 Classificação das Crises Epilépticas (1981)... 20 Classificação
COMPLEXO PRINCIPAL DE HISTOCOMPATIBILIDADE - MHC. Profa Valeska Portela Lima
 COMPLEXO PRINCIPAL DE HISTOCOMPATIBILIDADE - MHC Profa Valeska Portela Lima Introdução Todas as espécies possuem um conjunto de genes denominado MHC, cujos produtos são de importância para o reconhecimento
COMPLEXO PRINCIPAL DE HISTOCOMPATIBILIDADE - MHC Profa Valeska Portela Lima Introdução Todas as espécies possuem um conjunto de genes denominado MHC, cujos produtos são de importância para o reconhecimento
parte 1 estratégia básica e introdução à patologia... 27
 Sumário parte 1 estratégia básica e introdução à patologia... 27 1 Terapêutica: estratégia geral... 29 terminologia de doenças... 29 História do caso... 34 Disposição do fármaco... 39 Seleção do fármaco...
Sumário parte 1 estratégia básica e introdução à patologia... 27 1 Terapêutica: estratégia geral... 29 terminologia de doenças... 29 História do caso... 34 Disposição do fármaco... 39 Seleção do fármaco...
DOS TECIDOS BUCAIS. Periodontopatias. Pulpopatias. Periapicopatias TIPOS: -INCIPIENTE -CRÔNICA -HIPERPLÁSICA. Causada pelo biofilme bacteriano
 LESÕES INFLAMATÓRIAS DOS TECIDOS BUCAIS PERIODONTOPATIAS PERIODONTOPATIAS DOENÇAS DO PERIODONTO Periodontopatias Pulpopatias Periapicopatias Inflamação limitada aos tecidos moles que circundam os dentes(tec.peridentais).
LESÕES INFLAMATÓRIAS DOS TECIDOS BUCAIS PERIODONTOPATIAS PERIODONTOPATIAS DOENÇAS DO PERIODONTO Periodontopatias Pulpopatias Periapicopatias Inflamação limitada aos tecidos moles que circundam os dentes(tec.peridentais).
Imunidade adaptativa (adquirida / específica):
 Prof. Thais Almeida Imunidade inata (natural / nativa): defesa de primeira linha impede infecção do hospedeiro podendo eliminar o patógeno Imunidade adaptativa (adquirida / específica): após contato inicial
Prof. Thais Almeida Imunidade inata (natural / nativa): defesa de primeira linha impede infecção do hospedeiro podendo eliminar o patógeno Imunidade adaptativa (adquirida / específica): após contato inicial
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO. Cada mililitro de solução cutânea contém 1 mg de Desonida (Acetonido de Prednacinolona).
 RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 1. NOME DO MEDICAMENTO Zotinar Capilar 1mg/ml Solução cutânea 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada mililitro de solução cutânea contém 1 mg de Desonida
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 1. NOME DO MEDICAMENTO Zotinar Capilar 1mg/ml Solução cutânea 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada mililitro de solução cutânea contém 1 mg de Desonida
O PAPEL DO ÁCIDO ESSENCIAL GRAXO ÔMEGA-3 NA IMUNOMODULAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL.
 CONEXÃO FAMETRO: ÉTICA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE XII SEMANA ACADÊMICA ISSN: 2357-8645 O PAPEL DO ÁCIDO ESSENCIAL GRAXO ÔMEGA-3 NA IMUNOMODULAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL. Aline Bezerra Moura, Luana Bezerra
CONEXÃO FAMETRO: ÉTICA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE XII SEMANA ACADÊMICA ISSN: 2357-8645 O PAPEL DO ÁCIDO ESSENCIAL GRAXO ÔMEGA-3 NA IMUNOMODULAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL. Aline Bezerra Moura, Luana Bezerra
Heterologous antibodies to evaluate the kinetics of the humoral immune response in dogs experimentally infected with Toxoplasma gondii RH strain
 67 4.2 Estudo II Heterologous antibodies to evaluate the kinetics of the humoral immune response in dogs experimentally infected with Toxoplasma gondii RH strain Enquanto anticorpos anti-t. gondii são
67 4.2 Estudo II Heterologous antibodies to evaluate the kinetics of the humoral immune response in dogs experimentally infected with Toxoplasma gondii RH strain Enquanto anticorpos anti-t. gondii são
Interpretação de Exames Laboratoriais para Doença Renal
 Interpretação de Exames Laboratoriais Aplicados à Nutrição Clínica Interpretação de Exames Laboratoriais para Doença Renal Prof. Marina Prigol Investigação da função renal Funções do rim: Regulação do
Interpretação de Exames Laboratoriais Aplicados à Nutrição Clínica Interpretação de Exames Laboratoriais para Doença Renal Prof. Marina Prigol Investigação da função renal Funções do rim: Regulação do
Doenças gengivais induzidas por placa
 Doenças gengivais induzidas por placa Classificação (AAP 1999) Doenças Gengivais Induzidas por placa Não induzidas por placa MODIFICADA Associada só a placa Fatores sistêmicos Medicação Má nutrição Classificação
Doenças gengivais induzidas por placa Classificação (AAP 1999) Doenças Gengivais Induzidas por placa Não induzidas por placa MODIFICADA Associada só a placa Fatores sistêmicos Medicação Má nutrição Classificação
Manejo clínico da ascite
 Manejo clínico da ascite Prof. Henrique Sérgio Moraes Coelho XX Workshop Internacional de Hepatites Virais Recife Pernambuco 2011 ASCITE PARACENTESE DIAGNÓSTICA INDICAÇÕES: ascite sem etiologia definida
Manejo clínico da ascite Prof. Henrique Sérgio Moraes Coelho XX Workshop Internacional de Hepatites Virais Recife Pernambuco 2011 ASCITE PARACENTESE DIAGNÓSTICA INDICAÇÕES: ascite sem etiologia definida
06/11/2009 TIMO. Seleção e educação de linfócitos ÓRGÃOS LINFÓIDES E CÉLULAS DO SISTEMA IMUNE ÓRGÃOS LINFÓIDES. Primários: Medula óssea e timo
 ÓRGÃOS LINFÓIDES Primários: Medula óssea e timo ÓRGÃOS LINFÓIDES E CÉLULAS DO SISTEMA IMUNE Secundários: Linfonodos Baço Tecidos linfóides associado a mucosa Prof. Renato Nisihara Ossos chatos Esterno,,
ÓRGÃOS LINFÓIDES Primários: Medula óssea e timo ÓRGÃOS LINFÓIDES E CÉLULAS DO SISTEMA IMUNE Secundários: Linfonodos Baço Tecidos linfóides associado a mucosa Prof. Renato Nisihara Ossos chatos Esterno,,
Farmacologia dos Antiinflamatórios Esteroidais (GLICOCORTICÓIDES)
 Farmacologia dos Antiinflamatórios Esteroidais (GLICOCORTICÓIDES) Profª Drª Flávia Cristina Goulart Universidade Estadual Paulista CAMPUS DE MARÍLIA Faculdade de Filosofia e Ciências UNESP Mecanismo de
Farmacologia dos Antiinflamatórios Esteroidais (GLICOCORTICÓIDES) Profª Drª Flávia Cristina Goulart Universidade Estadual Paulista CAMPUS DE MARÍLIA Faculdade de Filosofia e Ciências UNESP Mecanismo de
12 PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ALERGISTA. Com relação à corticoterapia sistêmica na dermatite atópica grave, assinale a resposta CORRETA:
 12 PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ALERGISTA QUESTÃO 21 Com relação à corticoterapia sistêmica na dermatite atópica grave, assinale a resposta CORRETA: a) não há estudos sistematizados que avaliem a
12 PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ALERGISTA QUESTÃO 21 Com relação à corticoterapia sistêmica na dermatite atópica grave, assinale a resposta CORRETA: a) não há estudos sistematizados que avaliem a
Abordagem laboratorial da resposta inflamatória Parte I I. Prof. Adjunto Paulo César C atuba
 Abordagem laboratorial da resposta inflamatória Parte I I Prof. Adjunto Paulo César C Ciarlini LCV UNESP Araçatuba atuba Ciarlini@fmva.unesp.br OUTRAS ALTERAÇÕES DO LEUCOGRAMA LINFÓCITO Causas de Linfocitose
Abordagem laboratorial da resposta inflamatória Parte I I Prof. Adjunto Paulo César C Ciarlini LCV UNESP Araçatuba atuba Ciarlini@fmva.unesp.br OUTRAS ALTERAÇÕES DO LEUCOGRAMA LINFÓCITO Causas de Linfocitose
Diabetes e Outros Distúrbios na Homeostasia dos Hidratos de Carbono
 Diabetes e Outros Distúrbios na Homeostasia dos Hidratos de Carbono Carlos Alberto Pereira Vaz Técnico Superior de Laboratório carlosvaz@laboratoriopioledo.pt A glicose é a principal fonte de energia do
Diabetes e Outros Distúrbios na Homeostasia dos Hidratos de Carbono Carlos Alberto Pereira Vaz Técnico Superior de Laboratório carlosvaz@laboratoriopioledo.pt A glicose é a principal fonte de energia do
Resposta imune inata (natural ou nativa)
 Universidade Federal do Pampa Campus Itaqui Curso de Nutrição Imunologia Resposta imune inata (natural ou nativa) Profa. Dra. Silvana Boeira Acreditou-se por muitos anos que a imunidade inata fosse inespecífica
Universidade Federal do Pampa Campus Itaqui Curso de Nutrição Imunologia Resposta imune inata (natural ou nativa) Profa. Dra. Silvana Boeira Acreditou-se por muitos anos que a imunidade inata fosse inespecífica
Turma Nutrição - 4º Termo. Profa. Dra. Milena Araújo Tonon Corrêa
 Turma Nutrição - 4º Termo Profa. Dra. Milena Araújo Tonon Corrêa Administração Absorção Fármaco na circulação sistêmica Distribuído Biotransformado Excretado Farmacocinética : O que o organismo faz sobre
Turma Nutrição - 4º Termo Profa. Dra. Milena Araújo Tonon Corrêa Administração Absorção Fármaco na circulação sistêmica Distribuído Biotransformado Excretado Farmacocinética : O que o organismo faz sobre
ESPECÍFICO DE ENFERMAGEM PROF. CARLOS ALBERTO
 ESPECÍFICO DE ENFERMAGEM PROF. CARLOS ALBERTO CONCURSO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ESPECÍFICO DE ENFERMAGEM TEMA 11 PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE VACINAS O que faz uma vacina? Estimula
ESPECÍFICO DE ENFERMAGEM PROF. CARLOS ALBERTO CONCURSO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ESPECÍFICO DE ENFERMAGEM TEMA 11 PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE VACINAS O que faz uma vacina? Estimula
CIÊNCIAS NATURAIS 9º Ano de Escolaridade SISTEMA DIGESTIVO ALIMENTOS E NUTRIENTES MORFOLOGIA E FISIOLOGIA
 CIÊNCIAS NATURAIS 9º Ano de Escolaridade SISTEMA DIGESTIVO ALIMENTOS E NUTRIENTES MORFOLOGIA E FISIOLOGIA Ano Lectivo 2009/2010 FUNÇÕES DOS NUTRIENTES Nutrientes Energéticos Plásticos Reguladores Funções
CIÊNCIAS NATURAIS 9º Ano de Escolaridade SISTEMA DIGESTIVO ALIMENTOS E NUTRIENTES MORFOLOGIA E FISIOLOGIA Ano Lectivo 2009/2010 FUNÇÕES DOS NUTRIENTES Nutrientes Energéticos Plásticos Reguladores Funções
Boca -Faringe - Esôfago - Estômago - Intestino Delgado - Intestino Grosso Reto - Ânus. Glândulas Anexas: Glândulas Salivares Fígado Pâncrea
 Sistema Digestório Boca -Faringe - Esôfago - Estômago - Intestino Delgado - Intestino Grosso Reto - Ânus Glândulas Anexas: Glândulas Salivares Fígado Pâncrea A maioria dos mamíferos mastiga o alimento
Sistema Digestório Boca -Faringe - Esôfago - Estômago - Intestino Delgado - Intestino Grosso Reto - Ânus Glândulas Anexas: Glândulas Salivares Fígado Pâncrea A maioria dos mamíferos mastiga o alimento
Farmacologia. Farmacologia. Estuda os aspectos bioquímicos e fisiológicos dos. efeitos dos fármacos. É dividida em duas áreas principais:
 Farmacologia Farmacologia Estuda os aspectos bioquímicos e fisiológicos dos efeitos dos fármacos Prof. Carlos Cezar I. S. Ovalle É dividida em duas áreas principais: Farmacocinética Farmacodinâmica 1 Farmacocinética
Farmacologia Farmacologia Estuda os aspectos bioquímicos e fisiológicos dos efeitos dos fármacos Prof. Carlos Cezar I. S. Ovalle É dividida em duas áreas principais: Farmacocinética Farmacodinâmica 1 Farmacocinética
Aula: Histologia II. Sangue e linfa. Funções de hemácias, plaquetas e leucócitos.
 Sangue e linfa. Funções de hemácias, plaquetas e leucócitos. PROFESSORA: Brenda Braga DATA: 10/04/2014 7. Tecidos Conjuntivos de Transporte 7.1. Sangue Centrifugação 55 % Plasma 45 % Elementos figurados
Sangue e linfa. Funções de hemácias, plaquetas e leucócitos. PROFESSORA: Brenda Braga DATA: 10/04/2014 7. Tecidos Conjuntivos de Transporte 7.1. Sangue Centrifugação 55 % Plasma 45 % Elementos figurados
O sistema imune é composto por células e substâncias solúveis.
 Definição: estudo do sistema imune (SI) e dos mecanismos que os seres humanos e outros animais usam para defender seus corpos da invasão de microorganimos Eficiente no combate a microorganismos invasores.
Definição: estudo do sistema imune (SI) e dos mecanismos que os seres humanos e outros animais usam para defender seus corpos da invasão de microorganimos Eficiente no combate a microorganismos invasores.
A Diabetes É uma doença metabólica Caracteriza-se por um aumento dos níveis de açúcar no sangue hiperglicemia. Vários factores contribuem para o apare
 Diabetes Mellitus Tipo I Licenciatura em Bioquímica 1º ano 2005/2006 Duarte Nuno Amorim dos Santos A Diabetes É uma doença metabólica Caracteriza-se por um aumento dos níveis de açúcar no sangue hiperglicemia.
Diabetes Mellitus Tipo I Licenciatura em Bioquímica 1º ano 2005/2006 Duarte Nuno Amorim dos Santos A Diabetes É uma doença metabólica Caracteriza-se por um aumento dos níveis de açúcar no sangue hiperglicemia.
- Tecidos e órgãos linfoides - Inflamação aguda
 - Tecidos e órgãos linfoides - Inflamação aguda ÓRGÃOS LINFÓIDES ÓRGÃOS LINFÓIDES PRIMÁRIOS: - Medula óssea - Timo ÓRGÃOS LINFÓIDES SECUNDÁRIOS: - Linfonodos - Placas de Peyer - Tonsilas - Baço ÓRGÃO LINFÓIDE
- Tecidos e órgãos linfoides - Inflamação aguda ÓRGÃOS LINFÓIDES ÓRGÃOS LINFÓIDES PRIMÁRIOS: - Medula óssea - Timo ÓRGÃOS LINFÓIDES SECUNDÁRIOS: - Linfonodos - Placas de Peyer - Tonsilas - Baço ÓRGÃO LINFÓIDE
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
 RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 1. DENOMINAÇÂO DO MEDICAMENTO Procto-Glyvenol 50 mg/g + 20 mg/g Creme rectal 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada grama de Procto-Glyvenol creme rectal
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 1. DENOMINAÇÂO DO MEDICAMENTO Procto-Glyvenol 50 mg/g + 20 mg/g Creme rectal 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada grama de Procto-Glyvenol creme rectal
Tópicos de Imunologia Celular e Molecular (Parte 2)
 IMUNOLOGIA BÁSICA Tópicos de Imunologia Celular e Molecular (Parte 2) Prof. M. Sc. Paulo Galdino Os três outros tipos de hipersensibilidade ( II, III e IV) têm em comum uma reação exagerada do sistema
IMUNOLOGIA BÁSICA Tópicos de Imunologia Celular e Molecular (Parte 2) Prof. M. Sc. Paulo Galdino Os três outros tipos de hipersensibilidade ( II, III e IV) têm em comum uma reação exagerada do sistema
EXAMES LABORATORIAIS PROF. DR. CARLOS CEZAR I. S. OVALLE
 EXAMES LABORATORIAIS PROF. DR. CARLOS CEZAR I. S. OVALLE EXAMES LABORATORIAIS Coerências das solicitações; Associar a fisiopatologia; Correlacionar os diversos tipos de exames; A clínica é a observação
EXAMES LABORATORIAIS PROF. DR. CARLOS CEZAR I. S. OVALLE EXAMES LABORATORIAIS Coerências das solicitações; Associar a fisiopatologia; Correlacionar os diversos tipos de exames; A clínica é a observação
Universidade Federal da Bahia Faculdade de Medicina Departamento de Anatomia Patológica e Medicina Legal Disciplina de Imunologia MED 194
 Universidade Federal da Bahia Faculdade de Medicina Departamento de Anatomia Patológica e Medicina Legal Disciplina de Imunologia MED 194 Imunologia das Viroses Monitor: Daniel Valente 1.Introdução...
Universidade Federal da Bahia Faculdade de Medicina Departamento de Anatomia Patológica e Medicina Legal Disciplina de Imunologia MED 194 Imunologia das Viroses Monitor: Daniel Valente 1.Introdução...
Interação Antígeno Anticorpo. Profª Heide Baida
 Interação Antígeno Anticorpo Profª Heide Baida Introdução T CD4+ memória MØ Resposta imune Ag Linfócito T CD4+ T CD4+ efetor * * * * * * * * * citocinas * * Linfócito B anticorpos B memória B Efetor (plasmócito)
Interação Antígeno Anticorpo Profª Heide Baida Introdução T CD4+ memória MØ Resposta imune Ag Linfócito T CD4+ T CD4+ efetor * * * * * * * * * citocinas * * Linfócito B anticorpos B memória B Efetor (plasmócito)
Tilosina Tartato. Antimicrobiano.
 Tilosina Tartato Antimicrobiano Índice 1. Prevalência 2. Indicação 3. Definição 4. Porfirina 5. Absorção e excreção 6. Contraindicação 7. Tratamento 8. Formas farmacêuticas 9. Referências bibliográficas
Tilosina Tartato Antimicrobiano Índice 1. Prevalência 2. Indicação 3. Definição 4. Porfirina 5. Absorção e excreção 6. Contraindicação 7. Tratamento 8. Formas farmacêuticas 9. Referências bibliográficas
Nº 191 CAMAS HÚMIDAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO
 Nº 191 CAMAS HÚMIDAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO O sistema digestivo é um sistema complexo, que numa análise mais superficial não é mais do que uma interface entre a ave e o meio exterior. Como
Nº 191 CAMAS HÚMIDAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO O sistema digestivo é um sistema complexo, que numa análise mais superficial não é mais do que uma interface entre a ave e o meio exterior. Como
PAPILOMATOSE BUCAL CANINA
 PAPILOMATOSE BUCAL CANINA SANTOS, Denise Almeida Nogueira dos SILVA, Danilo da BENEDETTE, Marcelo Francischinelli ROCHA, Fábio Peron Coelho da COSTA, Eduardo Augusto De`Alessandro Acadêmicos da Faculdade
PAPILOMATOSE BUCAL CANINA SANTOS, Denise Almeida Nogueira dos SILVA, Danilo da BENEDETTE, Marcelo Francischinelli ROCHA, Fábio Peron Coelho da COSTA, Eduardo Augusto De`Alessandro Acadêmicos da Faculdade
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO. Cada saqueta de contém as seguintes substâncias activas:
 RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 1. NOME DO MEDICAMENTO Molaxole pó para solução oral 2. COMPOSICÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada saqueta de contém as seguintes substâncias activas: Macrogol
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 1. NOME DO MEDICAMENTO Molaxole pó para solução oral 2. COMPOSICÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada saqueta de contém as seguintes substâncias activas: Macrogol
ODONTOLOGIA PREVENTIVA. Saúde Bucal. Periodontite. Sua saúde começa pela boca!
 ODONTOLOGIA PREVENTIVA Saúde Bucal Periodontite. Sua saúde começa pela boca! O que é doença periodontal ou periodontite? ESMALTE DENTINA GENGIVAS POLPA PERIODONTITE OSSO ALVEOLAR CEMENTO NERVOS E VASOS
ODONTOLOGIA PREVENTIVA Saúde Bucal Periodontite. Sua saúde começa pela boca! O que é doença periodontal ou periodontite? ESMALTE DENTINA GENGIVAS POLPA PERIODONTITE OSSO ALVEOLAR CEMENTO NERVOS E VASOS
ANEXO I RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO
 ANEXO I RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO Página 1 de 14 1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO Dexacortin 2 mg/ml solução injetável para bovinos, suínos, cães e gatos. 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E
ANEXO I RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO Página 1 de 14 1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO Dexacortin 2 mg/ml solução injetável para bovinos, suínos, cães e gatos. 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E
ROTINA DE AVALIAÇAO DE IMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS NO PSI HRAS. Dr.FABRICIO PRADO MONTEIRO
 ROTINA DE AVALIAÇAO DE IMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS NO PSI HRAS Dr.FABRICIO PRADO MONTEIRO INTRODUÇAO: O sistema imunológico é dividido didaticamente em inespecífico, representado pelos sistemas de fagócitos
ROTINA DE AVALIAÇAO DE IMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS NO PSI HRAS Dr.FABRICIO PRADO MONTEIRO INTRODUÇAO: O sistema imunológico é dividido didaticamente em inespecífico, representado pelos sistemas de fagócitos
Hipersensibilidades e Alergias e doenças autoimunes
 Hipersensibilidades e Alergias e doenças autoimunes Reações de hipersensibilidade são mediadas por mecanismos imunológicos que lesam os tecidos. Tipos de doenças mediadas por anticorpos Dano causado por
Hipersensibilidades e Alergias e doenças autoimunes Reações de hipersensibilidade são mediadas por mecanismos imunológicos que lesam os tecidos. Tipos de doenças mediadas por anticorpos Dano causado por
Osteoporose secundária. Raquel G. Martins Serviço de Endocrinologia, IPO de Coimbra
 Osteoporose secundária Raquel G. Martins Serviço de Endocrinologia, IPO de Coimbra Definição Osteoporose causada por um distúrbio subjacente (doenças, fármacos ) Epidemiologia Provavelmente subdiagnosticada.
Osteoporose secundária Raquel G. Martins Serviço de Endocrinologia, IPO de Coimbra Definição Osteoporose causada por um distúrbio subjacente (doenças, fármacos ) Epidemiologia Provavelmente subdiagnosticada.
Cada grama de pomada contém 50 mg de dexpantenol. Excipientes, ver 6.1
 1.DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO Bepanthene, Pomada,50 mg/g 2.COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada grama de pomada contém 50 mg de dexpantenol. Excipientes, ver 6.1 3. FORMA FARMACÊUTICA Pomada 4. INFORMAÇÕES
1.DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO Bepanthene, Pomada,50 mg/g 2.COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada grama de pomada contém 50 mg de dexpantenol. Excipientes, ver 6.1 3. FORMA FARMACÊUTICA Pomada 4. INFORMAÇÕES
Imunoterapia - tumores. Material de apoio: Anderson (2009)
 Imunoterapia - tumores Material de apoio: Anderson (2009) Auto-antigénios / antigénios autólogos (self antigens) Antigénios / Antigénios heterólogos (non-self antigens) Tratamento com anticorpos (monoclonais)
Imunoterapia - tumores Material de apoio: Anderson (2009) Auto-antigénios / antigénios autólogos (self antigens) Antigénios / Antigénios heterólogos (non-self antigens) Tratamento com anticorpos (monoclonais)
Patogêneses virais II. Profa Dra Mônica Santos de Freitas
 Patogêneses virais II Profa Dra Mônica Santos de Freitas 09.11.2011 1 Determinante da patogênese Interação com o tecido alvo; Acesso ao tecido alvo; Presença de receptores; Estabilidade das partículas
Patogêneses virais II Profa Dra Mônica Santos de Freitas 09.11.2011 1 Determinante da patogênese Interação com o tecido alvo; Acesso ao tecido alvo; Presença de receptores; Estabilidade das partículas
Carteira de VETPRADO. Hospital Veterinário 24h.
 Carteira de Carteira de VETPRADO Hospital Veterinário 24h www.vetprado.com.br Esquema de VacinaçãoGatos V5 Panleucopenia - Rinotraqueíte - Calicivirose Clamidiose - Leucemia Felina 90Dias 111Dias Raiva
Carteira de Carteira de VETPRADO Hospital Veterinário 24h www.vetprado.com.br Esquema de VacinaçãoGatos V5 Panleucopenia - Rinotraqueíte - Calicivirose Clamidiose - Leucemia Felina 90Dias 111Dias Raiva
CITOCINAS. Aarestrup, F.M.
 CITOCINAS Propriedades gerais Proteínas de baixo peso molecular Comunicação Cel-Cel Mensageiros do sistema imune Receptores de membrana Signal transduction Célula Alvo Expressão de genes Gene Citocina
CITOCINAS Propriedades gerais Proteínas de baixo peso molecular Comunicação Cel-Cel Mensageiros do sistema imune Receptores de membrana Signal transduction Célula Alvo Expressão de genes Gene Citocina
Perfil Hepático FÍGADO. Indicações. Alguns termos importantes
 FÍGADO Perfil Hepático glândula do corpo quadrante superior direito do abdômen Funções do FígadoF Receber os nutrientes absorvidos no intestino transformar a estrutura química de medicamentos e outras
FÍGADO Perfil Hepático glândula do corpo quadrante superior direito do abdômen Funções do FígadoF Receber os nutrientes absorvidos no intestino transformar a estrutura química de medicamentos e outras
Resposta imune inata e adaptativa. Profa. Alessandra Barone
 Resposta imune inata e adaptativa Profa. Alessandra Barone Resposta imune Resposta imunológica Reação a componentes de microrganismos, macromoléculas como proteínas, polissacarídeos e substâncias químicas
Resposta imune inata e adaptativa Profa. Alessandra Barone Resposta imune Resposta imunológica Reação a componentes de microrganismos, macromoléculas como proteínas, polissacarídeos e substâncias químicas
