ADAPTAÇÕES DIGESTIVAS PÓS-ECLOSÃO
|
|
|
- Vasco Barata Madeira
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 ADAPTAÇÕES DIGESTIVAS PÓS-ECLOSÃO Marcos Macari Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Unesp-Campus de Jaboticabal macari@fcav.unesp.br Introdução As técnicas de manejo, para melhoria do desempenho, estão na dependência do entendimento do funcionamento dos sistemas orgânicos, pois através da manutenção da homestase, o custo energético de mantença pode ser reduzido, e como conseqüência, aumentar a produtividade do frango. É difícil priorizar um sistema orgânico, pois os mesmos trabalham de forma harmônica e integrada, no sentido de promover o crescimento da ave. Grande parte dos sistemas têm seu desenvolvimento determinado na vida embrionária, em especial, no que se refere ao processo de hiperplasia (aumento do número de células); outros apresentam apenas processos hipertróficos na vida pós-natal. Assim, o aumento do número ou tamanho de células nos tecidos são os fatores determinantes do crescimento na vida pós-eclosão do frango. Dentre os tecidos que apresentam desenvolvimento pós-eclosão encontra-se o trato digestivo, pois os mecanismos indutores do desenvolvimento da mucosa no trato gastrointestinal (TGI) estão na dependência de fatores intrínsecos e extrínsecos. A mucosa intestinal tem crescimento contínuo, sendo afetada tanto pelos nutrientes da dieta (características físicas e químicas), como pelos níveis de hormônios circulantes (insulina, tiroxina, triiodotironina, IGF-I, CCK, entre outros). Os fatores reguladores endógenos que atuam no desenvolvimento da mucosa intestinal são especialmente os hormônios e peptídeos, os quais atuam de forma parácrina (de célula para célula) ou autócrina (na própria célula). Os hormônios gastrointestinais foram descobertos devido as suas ações sobre a atividade motriz e secretora, sendo que na década de 60, com a purificação dos hormônios, seguido do isolamento de um grande número de peptídeos chegou-se à conclusão que o TGI é um órgão endócrino muito complexo. Johnson et al. (1969) foram os primeiros pesquisadores a sugerir que os hormônios tinham função de regular o desenvolvimento celular no TGI, sendo que o pâncreas exócrino também mostrou-se dependente deste mecanismo. Atualmente, a ciência tem mostrado que o desenvolvimento de funções secretoras e absortivas no TGI estão na dependência da interação entre nutrientes e expressão de genes. Assim, todo mecanismo de secreção de enzimas (que são proteínas), transportadores de membrana, estão na dependência de estímulos que ativam a transcrição de genes, os quais pelo processo de tradução sintetizam as proteínas que terão funções relevantes na digestão e absorção de nutrientes. Por outro lado, a maturação do enterócito também está na dependência da síntese de proteínas estruturais, as quais são codificadas pelo genoma das células intestinais. 96
2 Estas informações são altamente relevantes, pois através do entendimento da regulação do crescimento, e funcionamento da mucosa intestinal que as técnicas de manejo serão adotadas, tanto para crescimento, manutenção e reparo da mucosa, frente a diferentes dietas, ou lesões induzidas por agentes mecânicos ou patógenos. Organização estrutural do trato gastrointestinal A organização morfo-funcional do trato digestivo do frango tem recebido pouca atenção dos pesquisadores, talvez devido ao fato de que o frango seja abatido precocemente. No entanto, considerando que o acelerado crescimento do frango e as necessidades de digerir e absorver nutrientes, bem como a manutenção de estado sanitário para estes fins, melhor atenção deve ser dada a este sistema funcional da ave. O trato digestório sofre um processo de maturação na fase pós-eclosão, à semelhança do que ocorre com os sistemas termorregulador e imunológico. Sendo o pinto submetido à dieta sólida na fase pós-eclosão, há necessidade de um bom entendimento dos processos de desenvolvimento morfo-funcional durante as duas primeiras semanas de vida da ave período este que representa nada menos do que 30% do tempo de vida do frango. Assim, Nitsan et al (1991) mostraram que o crescimento alométrico do pâncreas e intestino delgado era 04 vezes maior do que o da carcaça total da ave, durante os 23 primeiros dias de idade. Já, o crescimento alométrico do fígado era ao redor de 02 vezes. Os mesmos autores mostraram que a atividade de enzimas digestivas, no pâncreas como conteúdo intestinal, aumentavam com a idade do frango, com níveis máximos ao redor de 10 dias de idade. O intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) tem função primordial nos processo de digestão, e principalmente na absorção de nutrientes. Grande parte da função digestiva é devida a ação das enzimas (proteínas) pancreáticas: tripsina, quimiotripsina, amilase, lipase. Neste sentido, nos primeiros dias de vida do frango, a atividade pancreática parece ser determinante em digerir substratos no lúmen intestinal. Recentemente, Noy & Skalan (1998) relataram existir pequeno desenvolvimento alométrico do pâncreas nos 12 primeiros dias de idade dos pintos, quando comparado com o desenvolvimento dos segmentos intestinais (duodeno, jejuno e íleo), os quais atingiram pico de crescimento entre 6 a 8 dias de idade. Os processos de absorção são totalmente dependentes dos mecanismos que ocorrem na mucosa intestinal. É sabido que os carboidratos são aborvidos sob a forma de monômeros, glicose, cujo processo é sódio dependente e ocorre através de transportadores de membrana. Já, os lipideos absorvidos sob a forma de ácidos graxos livres, também depende da atividade de transportadores de membrana. O mesmo ocorre com relação aos aminoácidos. Assim, a integridade das células que compõem a mucosa intestinal é de fundamental importância para a absorção dos nutrientes. A mucosa intestinal é constituída por células denominadas de enterócitos, as quais desenvolvem a capacidade de transportar monômeros para o interior da célula e daí para a corrente sangüinea, através da membrana basolateral. A maturação dos enterócitos ocorre durante o processo de migração - da cripta para a ponta do vilo, e é dependente de estímulos para a sua diferenciação. 97
3 O número e tamanho dos vilos depende do número de células que o compõem. Assim, quando maior o número de células, maior o tamanho do vilo, e pôr consequência, maior a área de absorção de nutrientes. Dessa forma, a absorção somente se efetivará quando houver integridade funcional das células dos vilos, tanto na membrana luminal quanto na membrana basolateral. Outro fator muito relevante para a absorção dos nutrientes na membrana luminal é a quantidade de microvilos existentes nos enterócitos. O número de microvilos atua como uma amplificador de área para a absorção dos nutrientes. Yamauchi & Isshiki (1991) mostraram que a densidade de vilos/área era reduzida com o aumento da idade dos frangos; contudo, este resultado somente evidencia que com o aumento da idade do frango ocorre aumento do tamanho do vilo (Tabela 1). Os dados de Ferrer et al (1991) mostram o fator de amplificação de área devido a presença dos microvilos (Tabela 2). Tabela 1 Número de vilos/segmento no intestino delgado de frangos (valores aproximados). Cada resultado representa valores obtidos em 830 micrometros quadrados. (Dados de Yamauchi & Isshiki, 1991). Idade (dias) Duodeno Jejuno Íleo Tabela 2 Fator de amplificação de área de diferentes segmentos do intestino delgado e ceco, em função da densidade de microvilos nos enterócitos (Ferrer et al. 1991). Localização Ceco Jejuno Proximal Médio Distal Ponta do vilo Meio do vilo Cripta Sell (1996) compilaram de diferentes autores, o perfil de desenvolvimento de diferentes segmentos no TGI dos frangos (Tabela 3). O pico de desenvolvimento do intestino delgado mostrou ser entre 5 a 7 dias pós-eclosão. Este achado, fortalece a premissa de que a adequada alimentação na primeira semana de idade do pinto tem papel relevante no desempenho do frango. 98
4 Tabela 3 Peso relativo dos segmentos do TGI de frangos (Sell, 1996). Segmento TGI % do Peso corporal Pico pós-eclosão Referências Na eclosão No pico cresc Dias Proventrículo 0,5-0,9 1,4-1,7 3 a 5 1,2,3 Moela 3,1-4,0 5,8-6,1 3 a 4 1,2,3 Int. delgado 1,2-2,6 6,2-6,6 5 a 7 2,3,4 Pâncreas 0,1-0,2 0,5-0,8 8 a 9 2,3,4 Fígado 2,5-2,8 3,8-4,8 6 a 8 2,3,4 Referências: 1. Murakami et al, 1991; 2. Dror et al., 1977; 3. Nitsan et al., 1991; 4. Nir et al., Glicocalix (Fimbria) Existe ainda um prolongamento polissacarídeo do enterócito que penetra no lúmen intestinal constituindo no chamado glicocalix ou fimbria. Esta estrutura tem funções importantes, sendo uma delas a manutenção da camada aguosa próxima à mucosa intestinal, em ph neutro, que permite a ação de enzimas de membrana. Outra função do glicocalix está associada à presença de receptores que são capazes de ligar-se à bactérias patogênicas e não patogênicas(que expressam fimbria ou glicocalix), e neste sentido manter a sanidade da mucosa intestinal. Porquê manter a mucosa intestinal íntegra? A resposta a esta questão parece-nos óbvia. Contudo, a maioria dos técnicos não dão a devida relevância no sentido de manter a integridade deste tecido, pois consideram que mecanismos de digestão e absorção de nutrientes são inerentes aos mecanismos fisiológicos do TGI do frango. Assim, ainda não estão devidamente conscientizados que o monitoramento de lotes não pode se restringir a peso e conversão alimentar em função da idade das aves. Do ponto de vista da produção de frango, a manutenção da sanidade do lote, em especial, às doenças ou agentes que atual no TGI é fundamental, pois esta é a via de entrada dos nutrientes para o melhor desenvolvimento da ave. Considerando que a ração representa entre 70 a 80% do custo de produção, a integridade dos mecanismos fisiológicos de digestão e absorção dos nutrientes, isto é, a integridade das células epiteliais da mucosa, assegura o bom desempenho e produção. Outro fator relevante neste processo relaciona-se ao tempo de "turnover" celular, isto é, o tempo necessário para que uma célula originada no processo mitótico entre cripta-vilo, demora para migrar para a ponta do vilo e descamar para o lúmen intestinal. É sabido que este tempo oscila entre 90 a 96 horas, ou seja, aproximadamente 4 dias. Este período de tempo parece curto; contudo, considerando o tempo de criação do frango representa nada menos do que 10% do tempo de vida da ave. Assim, se considerarmos uma perda de 10% em nosso sistema de produção devido a distúrbios 99
5 da mucosa intestinal, em um lote de 20 mil aves, teríamos uma quebra de nada menos do que 5 toneladas de peso/lote. Agentes tróficos sobre a mucosa intestinal Agente trófico é aquele que estimula o desenvolvimento da mucosa intestinal, ou seja, estimula o processo mitótico na região cripta-vilo, e como consequência aumenta o número de células e tamanho do vilo. Dessa forma, um agente trófico determina um aumento na quantidade de DNA, pois aumenta o número de células. Hormônios e peptídeos têm ação trófica na mucosa intestinal, e o mesmo ocorre com os nutrientes presentes no lúmen intestinal. Entre os mais clássicos peptídeos que atuam no desenvolvimento da mucosa intestinal encontram-se o TGF-α e TGF-β, sendo o primeiro um estimulante da proliferação celular, e o segundo um potente inibidor da proliferação. Vários agentes parecem ter ação trófica sobre a mucosa intestinal, dentre eles encontram-se: aminas biogênicas, amino ácidos (como glutamina), MOS (mananoligossacarides) e FOS (frutoligossacarideos), prebióticos, probióticos. Muitos destes agentes são indutores de mecanismos de transcrição gênica pela ativação de enzimas importantes no processo mitótico na região cripta-vilo. Por exemplo, a indução da enzima ODC (ornitina-descarboxilase) que é uma enzima importante no processo de proliferação celular parece ocorrer quando da presença de glutamina. Outros têm ação indireta, ou seja, favorecem os mecanismos de proliferação por permitir maior sanidade na mucosa intestinal através de processos denominados de exclusão competitiva. Muco O muco é uma glicoproteína insolúvel em água, secretada pelas células caliciformes. Quando a mucosa sofre processo de agressão ocorre aumento do número de células caliciformes na vilosidade intestinal. A espessura da camada de muco é variável de espécie para espécie, mas tem sido relatado espessura entre 160 a 650 micrometros. Sua função protetora está relacionada, basicamente, contra a ação mecânica, pois devido a grande aderência à superfície, o muco nunca é totalmente removido, mesmo durante a ação de forças mecânicas vigorosas que ocorrem durante a digestão. Por outro lado, a viscosidade é extremamente importante para impedir fraturas na camada de muco, e propiciar o desencadeamento de processos lesivos na mucosa. Tem sido aceito que o muco protege o epitélio quando da passagem de alimento, e tem poder lubrificante sobre alimentos sólidos. A camada de muco, tem papel importante, também, na proteção contra infecções, pois funciona como barreira protetora que impede o contato de microorganismos com as células epiteliais. O muco do intestino delgado, ceco e colon/reto contém uma rica população de bactérias e protozoários, as quais ligam-se às glicoproteínas e não sofrem aderência à mucosa. Os componentes da mucina, funcionam como falsos receptores para os microorganismos, fazendo com que os mesmos sejam envoltos pela camada de muco e não expressando sua capacidade patogênica. 100
6 É importante salientar que as células caliciformes, produtoras de muco, aumentam suas descargas e depletam-se de secreção durante um processo infeccioso no intestino delgado. Esta atividade aumentada parece ser devido a ação de enterotoxinas que estimulam a atividade secretória das células caliciformes. Este mecanismo parece estar associado à tentativa das células epiteliais em proteger a mucosa dos agentes patogênicos. Situações em que a camada de muco é reduzida, como jejum, alterações de dieta ou uso de antibióticos, podem ocasionar redução da camada protetora de muco e, propiciar a ação de bactérias e protozoários patogênicos que causam lesões nas células, destruindo a mucosa. Microflora intestinal O número e composição dos microorganismos da microflora intestinal das aves varia consideravelmente ao longo do TGI. No inglúvio existe a predominância de lactobacilos, que produzindo ácido lático e acético reduzem o ph, impedindo o crescimento de bactérias. O ph no proventrículo e moela é extremamente baixo, e poucas bactérias são capazes de tolerar este ambiente. No duodeno, o ph é neutro e os microorganismos colonizam este segmento do intestino delgado, bem como o jejuno e íleo. O ceco é reconhecido como o segmento de maior colonização de microorganismos, sendo que grande número de bactérias Gram positivas e negativas estão presentes neste local. As bactérias no TGI podem encontrar-se, tanto associadas intimamente com o epitélio, ou livres na luz intestinal. As bactérias livres devem multiplicar-se rapidamente para compensar a eliminação pelo peristaltismo intestinal ou ainda agregar-se às demais bactérias que encontram-se aderidas na mucosa intestinal. Esta variada composição da microflora intestinal pode ser tanto benéfica quanto maléfica para o hospedeiro, dependendo da natureza e da quantidade de microorganismos. Os efeitos maléficos seriam: diarréia, infecções, distúrbios hepáticos, carcinogênese, putrefação intestinal, redução da digestão e absorção de nutrientes. Já, os benefícios estariam vinculados à inibição do crescimento de bactérias patogênicas, estímulos ao sistema imune, síntese de vitaminas, redução da produção de gases e melhor digestão e absorção dos nutrientes. A concepção de que o desenvolvimento de microflora poderia levar a prejuízos em lotes de frangos, seja pela concorrência pelo alimento ou devido a lesões provocadas diretamente na mucosa intestinal pelas bactérias patogênicas, levou a utilização de aditivos - os antibióticos, os quais foram erroneamente denominados de promotores de crescimento. Entretanto, com a preocupação de que estes aditivos possam induzir resistência a patógenos importantes para os seres humanos, muitos países estão proibindo, ou em fase de proibição, da utilização dos mesmos em ração para frangos. Assim, algumas alternativas têm sido buscadas para promover o equilíbrio na microbiota intestinal dos frangos, a fim de obter um bom desempenho produtivo, sem riscos para a saúde humana. Trabalhos têm mostrado que é possível estabelecer um sistema de proteção da mucosa intestinal, com proteção contra microorganismos patogênicos, e como conseqüência manutenção a homeostase do 101
7 TGI dos frangos. Os mecanismos pode-se reduzir ou excluir o crescimento de patógenos são classificados em quatro categorias: a) criação de um ambiente hostil a outras bactérias; b) eliminação da viabilidade de sítios receptores de outras bactérias; c) produção de secreções que têm ação antimicrobiana; d) competição por nutrientes na luz do intestino. Como as bactérias aderem à mucosa intestinal As bactérias têm capacidade de aderir tenazmente à superfícies mais estranhas, desde o esmalte dos dentes, pulmões, intestino e até a uma rocha submersa em um rio. Este processo de aderência é feito através de polissacarídeos - moléculas de açúcares ramificados, que se estendem da parede externa da bactéria formando uma estrutura - glicocalix ou fimbria, que envolve a célula ou mesmo uma colônia de bactérias. A aderência das bactérias mediadas pelo glicocalix é que determina a localização das mesmas nos diferentes ambientes, e é o maior determinante do início do processo de progressão das doenças bacterianas. É interessante salientar que a demonstração da presença do glicocalix - polissacarideos, nas bactérias somente foi feita em 1969 pelos pesquisadores Ivan L. Roth, na Universidade da Geórgia - USA e Ian W. Sutherland, da Universidade de Edinburgh - Escócia. Desde esta época, estudo têm mostrado a importância dos polissacarídes (glicocalix) na aderência das bactérias aos diferentes sistemas orgânicos e inorgânicos. É interessante salientar, ainda, que a natureza química do glicocalix pode sofrer alterações, em função da composição de açúcares que compõem os polissacarídeos. Pesquisadores mostraram, também, que os microorganismos quando em meio de cultura não produzem o glicocalix, aparentemente utilizando as reservas para multiplicação, e não aderência, a qual não é necessária nestas circunstâncias. Considerando que os enterócitos no intestino delgado também apresentam seu glicocalix, a colonização por bactérias nos diferentes segmentos parece estar na dependência da aderência do glicocalix de uma bactéria com o glicocalix do enterócito. Este mecanismo parece ser aquele que regula todo o processo de colonização das bactérias no intestino delgado e ceco dos frangos, na fase pós-eclosão. Foi mostrado, que o elo de ligação entre estes glicocalixes, em muitos casos, pode ser uma proteína denominada de lectina, a qual se liga especificamente a um polissacarideo com estrutura molecular peculiar. Pesquisas têm sugerido que o posicionamento do glicocalix não apenas atua como um sistema de aderência da bactéria ao enterócito, mas pode armazenar e concentrar as enzimas digestivas produzidas pelas bactérias, enzimas estas que atuam diretamente sobre a mucosa do hospedeiro liberando substratos importantes para a sobrevivência e multiplicação do microorganismo. Neste sentido, a estrutura do glicocalix funciona como um reservatório de nutrientes para as bactérias. Outra função relevante do glicocalix é a de proteção, pois as bactérias estão sendo constantemente 102
8 submetidas a estresses, por exemplo, outras bactérias, virus, íons e moléculas deletérias. A aderência à mucosa intestinal parece, portanto, o mecanismo chave da colonização das bactérias patogênicas, e seus efeitos nocivos sobre a saúde intestinal. Assim, processos que possam prevenir a aderência das bactérias são eficazes em reduzir a colonização por patógenos, nos segmentos do TGI. Três procedimentos são propostos para reduzir a aderência bacteriana: a. promover a quebra dos mecanismos que sintetizam o glicocalix, principalmente pela inibição da polimerase bacteriana que estabelece os elos de ligação dos açúcares no polissacaride; b. desenvolver compostos que ocupam e bloqueiam o loco ativo de ação da lectina, que liga os glicocalix da bactéria com o do enterócito; c. estabelecer bloqueio dos receptores nas células hospedeiras, evitando assim a ligação do glicocalix bacteriano com o glicocalix do enterócito. Dentre as propostas acima, o uso de oligossacarideos (frutoligossarides e mananoligossacarides), que fazem parte dos chamados prebióticos parecem ser efetivos em reduzir colonização, pois atuam inibindo a aderência das bactérias ao enterócito, através da ligação com o glicocalix. A exclusão competitiva, assunto que será discutido em outra palestra deste Simpósio, também tem como princípio a aderência de bactérias não patogênicas, a sítios de ligação dos enterócitos (glicocalix) nos diferentes segmentos do TGI. Ação de probióticos, prebióticos e simbióticos sobre o desempenho de frangos Considerando os mecanismos fisiológicos acima descritos, alguns experimentos foram desenvolvidos em nossos laboratórios, objetivando pesquisar a eficácia dos prebióticos, probióticos e simbióticos sobre o desenvolvimento da mucosa, bem como desempenho zootécnico de frangos, tanto em condições experimentais, como de campo. O prebiótico utilizado foi parede celular de S. cerevisiae e o probiótico o B.subtilis. O conceito moderno de probiótico foi definido por Fuller (1989) como sendo um suplemento alimentar constituído de microorganismos vivos capazes de beneficiar o hospedeiro através do equilíbrio da microbiota intestinal. Posteriormente, o mesmo autor considerou que para serem considerados como probióticos, os microorganismos deveriam ser produzidos em larga escala, permanecerem estáveis e viáveis em condições de estocagem, serem capazes de sobreviver no ecossistema intestinal e possibilitar ao organismo os benefícios de sua presença. Os principais gêneros bacterianos utilizados como probióticos são: lactobacilos, bifidobactérias e estreptococos. Os prebióticos são ingredientes alimentares que não são digeridos na porção proximal do TGI de monogástricos, e que proporcionam efeito benéfico ao hospedeiro por estimular seletivamente o crescimento e/ou metabolismo de um limitado grupo de 103
9 bactérias no cólon (Gibson & Roberfroid, 1995). Outro aspecto importante é que, para ser considerado um prebiótico, o ingrediente não pode ser hidrolisado ou absorvido no intestino anterior (intestino delgado), seja um substrato seletivo para um determinado grupo de bactérias comensais benéficas, seja capaz de alterar de forma benéfica a microbiota intestinal e induza efeitos luminais ou sistêmicos que sejam benéficos ao hospedeiro (Gibson & Roberfroid, 1995). Assim, carboidratos não digeríveis como oligossacarídeos, alguns peptídeos e lipídeos não digeríveis podem ser considerados como prebióticos. Recentes estudos em nossos laboratórios mostraram os efeitos da adição de parede celular de S. cerevisiae, a qual é constituida de mananoligossacaríde (MOS) sobre o desenvolvimento da mucosa intestinal de frangos (Tabelas 4 e 5). Os resultados mostram que a adição deste prebiótico na ração de frangos tem efeito sobre o desenvolvimento das vilosidades intestinais, com aumento signficativo (P < 0,05) da altura do vilo, nos 03 segmentos do intestino delgado, sendo este efeito mais acentuado na primeira semana de vida do frango. Contudo, o ganho de peso das aves tratadas com parede celular de S. cerevisiae mostraram-se maior (P < 0,05) aos 42 dias de idade, quando comparada com os frangos não tratados com este prebiótico. Tabela 4 Altura do vilo (AV), profundidade da cripta (PC) e relação vilo/cripta (V/C) no duodeno, jejuno e íleo de frangos tratados e não tratados com prebiótico, aos 07 dias de idade. Tratamentos Controle 0,1% Prebiótico* 0,2% Prebiótico Duodeno AV (µm) 856±41 b 985±49 ab 1040±111 a PC (µm) 55±7 68±9 61±3 V/C(µm/µm) 15±2 15±1 17±2 Jejuno AV (µm) 392±50 b 507±22 a 496±38 a PC (µm) 58±7 b 55±4 b 39±2 a V/C(µm/µm) 7±0,3 c 9±0,6 b 13±0,9 a Íleo AV (µm) 325±52 b 413±47 a 422±29 a PC (µm) 42±4 51±7 53±9 V/C(µm/µm) 8±0,9 8±1,4 8±1,5 *O prebiótico utilizado foi parede celular de S. cerevisiae. Médias seguidas de letras diferentes nas linhas, diferem entre si P<0,05 O uso de simbióticos, ou seja, associação de prebióticos e probióticos também pode ser uma alternativa interessante no sentido de melhorar a sanidade do intestino delgado e ceco dos frangos, através dos mecanismos fisiológicos e microbiológicos acima discutidos. Assim, em um experimento, recentemente utilizado em uma granja comercial foi testada a eficiência de utilização de simbióticos na ração de frangos. Os resultados são mostrados na Tabela 6, e evidenciam uma melhora no ganho de peso e conversão alimentar dos lotes tratados com simbióticos. 104
10 Tabela 5 Consumo de ração (CR), ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA) de frangos tratados ou não com prebiótico na ração até 42 dias de idade. Parâmetros Tratamentos Controle 0,1% Prebiótico* 0,2% Prebiótico Cons. de ração (g) 4.198± ± ±29 Ganho de peso (g) 2450±12 b 2.538±20 ab 2.590±8 a Conv. alimentar 1,712±0,08 1,684±0,06 1,639±0,04 *O prebiótico utilizado foi parede celular de S. cerevisiae. Médias seguidas de letras diferentes nas linhas, diferem entre si P<0,05. Tabela 6 Consumo de ração (CR), peso final (PF), conversão alimentar (CA) e conversão alimentar corrigida (CAC) nos diferentes tratamentos. Parâmetros Tratamentos Controle Prebiótico* Simbiótico** Cons. Ração (g) Peso final (g) Conv. alimentar 1,994 1,989 2,011 Conv. alim. corrigida 2,249 1,878 1,714 * Prebiótico utilizado foi parede celular de S. cerevisiae, sendo adicionado 0,2% do produto na ração ** O probiótico utilizado foi B. subtilis, sendo adicionado 0,2% do produto na ração. 105
11 Agente trófico sobre a mucosa intestinal do frango Outros produtos podem ser utilizados como agentes tróficos para maior desenvolvimento da mucosa intestinal, ou seja, melhorar a capacidade de digestão e absorção de nutrientes na luz intestinal. Assim, temos testado qual o efeito da adição de glutamina (Gln) na ração de frango e seu efeito sobre o desenvolvimento das vilosidades intestinais. A glutamina é o aminoácido em maior quantidade no tecido muscular e no plasma, tendo sido observado importantes efeitos deste aminoácido sobre a reconstituição da mucosa intestinal, pois é o principal substrato para os enterócitos. Por outro lado, a oxidação da glutamina estimula a troca de sódio/hidrogênio (Na+/H+) na membrana luminal do enterócito, levando a maior absorção iônica (Rhoads et al., 1997). Estudos realizados com ratos, mostraram que quando os mesmos eram alimentados cronicamente pela via parenteral, a adição de glutamina prevenia a hipoplasia da mucosa intestinal; contudo, os mecanismos pelos quais a glutamina estimula a proliferação da mucosa intestinal não é bem conhecido, tendo sugerido dois processos: a. aumento da troca iônica e aumento da atividade da enzima ornitina descarboxilase (ODC) (Rhoads et al., 1997). Outro pesquisador tem sugerido que a glutamina possa ativar a transcrição de genes pelo aumento da atividade da proteína quinase, a qual ativa a mitogênese (Blikslager et al., 1997). Estudos em nossos laboratórios mostraram que a adição de 1% de L-glutamina na dieta de frangos, a base de milho e farelo de soja, foi capaz de aumentar o tamanho dos vilos, no duodeno e íleo, quando avaliado nos primeiros 07 dias de vida do pinto (Tabela 7). Outro agente que tem sido utilizado objetivando a sanidade e reparo da mucosa intestinal dos frangos são os ácidos graxos de cadeia curta - acétio, propiônico e butírico. Estes agentes além de atuarem reduzindo o ph, com efeitos fungicida, bacteriostático e bactericida (Smith et al., 1983) têm importante função metabólica, pois têm sido mostrado que os mesmos são metabólitos primários dos colonócitos, ou seja, células que compõem a mucosa do cólon. Talvez em frangos, este efeito seja mais evidente nos cecos. Autores mostraram que ratos tratados com ácidos graxos de cadeia curta, tiveram aumento da quantidade de DNA da mucosa do cólon, sugerindo hiperplasia acentuada neste segmento do TGI. Por outro lado, foi encontrado aumento da proliferação celular na mucosa do jejuno (Blikslager et al., 1997). Adaptação molecular da mucosa intestinal Após a perda de grandes áreas na mucosa intestinal responsáveis pela digestão e absorção de nutrientes, seja ressecção de parte do intestino delgado ou pela ação de agentes patogênicos, o epitélio remanescente torna-se hiperplásico com maior altura de vilo e profundidade de cripta (Dowling, 1992; Porus, 1965). A produção de células na cripta aumento e o mesmo ocorre com o número de células que compõem o vilo, sendo que este processo apresenta velocidade considerável. Assim, devido ao aumento da mucosa intestinal, o intestino como um todo apresenta maior capacidade de absorção de nutrientes e eletrólitos (Dowling, 1992; Dowling & Booth, 1967; Williamson et al., 1978a,b). Apesar do mecanismo proliferativo da mucosa ter sido 106
12 mostrado já faz algum tempo, o status de diferenciação celular das células epiteliais (novos enterócitos) tem sido assunto de muitos estudos, e ainda não se encontra elucidado. A capacidade destes novos enterócitos em responder de forma aguda, ou seja, apresentarem "capacidade absortiva precoce" é assunto sob investigação. Trabalhos têm sugerido que a proliferação celular na cripta determina o aparecimento de enterócitos imaturos que apresentam baixa capacidade absortiva, bem como reduzida atividade das enzimas na bordadura em escova (Buts et al., 1987; Gleeson et al., 1972; Menge & Robinson, 1978). Outros pesquisadores já evidenciaram que a resposta dos novos enterócitos à ressecção ou lesão da mucosa é mais complexa (Albert & Young, 1992; Chaves et al., 1987; Dowling, 1992). Por exemplo, a atividade de certas enzimas de membrana estariam aumentadas nestas células (Dowling, 1992). A forma de elucidar estes mecanismos está sendo possível através de técnicas que envolvam a expressão de genes responsáveis pela síntese de proteínas (enzimas) as quais atuam como enzimas digestivas ou transportadores de membrana. Assim, a análise molecular da resposta enterocítica poderá responder de forma confiável aos processos da diferenciação dos enterócitos nos diferentes segmentos do intestino delgado ou ceco das aves. Estudos recentes sobre os mecanismos moleculares da adaptação dos enterócitos têm sido publicados. Assim, após a ressecção de parte do intestino delgado, Rubin et al. (1996) mostraram que 48 horas após a ressecção, a porção remanescente da mucosa intestinal já apresentava no enterócitos um aumento de até três vezes na expressão de genes responsáveis pelos mecanismos absortivos da mucosa, ou seja, aumento do mrna de FABP (proteina carreadora de ácidos graxos) e apolipoproteina A-I (Apo A-I). Estes achados moleculares evidenciam que os enterócitos são capazes de responder de forma aguda às transformações no intestino delgado, em especial a redução da superfície absortiva, através da expressão de genes que codificam a síntese de proteínas de transporte de nutrientes. Estudos de nosso laboratório têm mostrado que a expressão de ODC (ornitina decarboxilase está reduzida durante o jejum alimentar). O trabalho de Adams et al. (1996) evidencia a adaptação molecular da mucosa intestinal quando da afecção com Eimeria acervulina, no que concerne a atividade enzimática. Estes pesquisadores mostraram que ocorre um aumento da atividade da maltase na bordadura em escova do jejuno e íleo de frangos experimentalmente infectados (Tabela 8). A redução da atividade no duodeno, onde ocorre a lesão foi compensada pelo aumento da atividade da enzima no jejuno e íleo (regiões com ausência de lesão). Este mecanismo compensatório parece ser induzido pela presença do alimento que ativa genes que transcrevem a síntese da enzima. 107
13 Tabela 7 Comprimento de vilo, profundidade de cripta e relação vilo/cripta nos segmentos do intestino delgado, em pintos de 07 dias de idade e suplementados com 1% de L-glutamina na ração. Segmento Inst. Região da Mucosa Tratamentos Controle 1% L-glutamina Duodeno Vilo (µm) Cripta(µm) Vilo/cripta(µm/µm) 5,8 9,5 Jejuno Vilo (µm) Cripta(µm) Vilo/cripta(µm/µm) 6,5 6,8 Íleo Vilo (µm) Cripta(µm) Vilo/cripta(µm/µm) 5,0 5,5 Tabela 8 Efeito da infecção com E. acervulina sobre a atividade da maltase na bordadura em escova da mucosa intestinal de frangos - adaptado de Adams et al. (1996). Atividade da maltase (U/g de proteína) N o de oocistos Duodeno Jejuno Íleo Obs: Oocisto de E. acervulina. Atividade da enzima expressa em (µ/g de proteína, sendo que uma unidade (U) é a quantidade de enzima capaz de quebrar 1 mol de substrato/min a 37 o C. Maltase - EC
14 Custo energético da absorção de nutrientes e reparo da mucosa intestinal A maioria dos trabalhos publicados na literatura mostram a importância do desenvolvimento da mucosa, bem como a manutenção de sua integridade, sobre o desempenho produtivo do frango, e várias são as pesquisas que oferecem alternativas de manejo para a proteção da mucosa, pois distúrbios dos processos de digestão e absorção levam a queda do desempenho. Considerando que a mucosa intestinal tem crescimento contínuo, devido à descamação das células para o lúmen intestinal, fica evidente que a reposição celular se faça às custas de consumo de energia, a qual é proveniente das reservas energéticas do organismo da ave e da ração ingerida. McBride & Kelly (1990) estimaram que, a manutenção do epitélio intestinal (mucosa) e estruturas anexas de suporte, tem custo de 20% da energia bruta consumida pelo animal. Com base nestas informações é importante estar alerta que parte da energia ingerida pelo frango fica destinada para a manutenção da mucosa, e quanto maior a necessidade de reparo da mesma, menor será a energia utilizada para ganho de peso. Bird et al. (1994) analisando a absorção de um derivado da glicose (3-0-metil- D-glicose) em função da quantidade de energia gasta (estimada pelo consumo de oxigênio/unidade de glicose absorvida). Apesar das limitações impostas pelo método de estudo, os autores concluiram que a mucosa consumia entre 80 a 90% de toda a energia utilizada pelo trato gastrointestinal, sendo que os processos sódio-dependentes (bomba de Na+-K+) eram responsáveis por 50 a 90% do consumo energético total da mucosa. Dessa forma a manutenção da mucosa intestinal, em condições fisiológicas normais, tem custo energético elevado para o frango. Quando ocorrem lesões, além da redução da quantidade de substrato digerido e absorvido, há ainda o custo para renovação deste epitélio. A energia conservada pelo reduzido "turnover" de células no epitélio intestinal poderá ser utilizada para desenvolvimento de massa muscular. Assim, o rendimento econômico do lote estará seriamente comprometido quando da existência de afecções na mucosa do TGI. Referências bibliográficas ADAMS, C; VAHL, H. A.; VELDMAN, A. Interaction between nutrition and Eimeria acervulina infection in broiler chickens: development of an experimental infection model. British Poultry Science 1996; 75: ALBERT, V.; YOUNG, G. P. Differentiation status of rat enterocytes after intestinal adaptation to jejunal bypass. Gut 1992; BLIKSLAGER, A. T.; ROBERTS C. Mechanisms of intestinal mucosa repair. Journal American Veterinary Medical Association, 1997; 9:
15 BIRD, A. R.; CROOM, Jr. W. J, FAN, Y. K.; DANIEL, L. R.; BLACK, B. L.; McBRIDE, B. W.; BULL, L. S.; TAYLOR, I. L. Jejunal glucose absorption is enhanced by epidermal growth factor in mice. Journal of Nutrition 1994; 124: BUTS, A. R.; CROOM, Jr. W. J.; FAN, Y. K.; DANIEL, L. R.; BLACK, B. L.; McBRIDGE, B. W.; BULL, L. S.; TAYLOR, I. L. Jejunal glucose absorption is enhanced by epidermal growth factor in mice. Journal of Nutrition 1994; 124: CHAVES, M.; SMITH, M. W.; WILLIAMSON, R. C. Increased activity of digestive enzymes in ileal enterocytes adapting to proximal small bowel resection. Gut 1987; 28: DOWLING, R. H. Cellular and molecular basis of intestinal and pancreatic adaptation. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 1992; 27 (Suppl. 193): DOWLING, R. H.; BOOTH, C. C. Structural and functional changes following small intestinal resection in the rat. Clinical Science, London, 1967; 32: DROR, Y.; NIR, I.; NITZAN, Z. The relative growth of internal organs in light and heavy breeds. British Poultry Science, 1977: 18: FERRER, R.; PLANAS, J. M.; DURFORT, M.; MORETO, M. Morphological study of the cecal epithelium of the chicken (Gallus domesticus, Domesticus L.). British Poultry Science, 1991: 32: FULLER, R. Probiotics in man and animals. Journal Applied Bacteriology, 1989; 66: GIBSON, G. R.; ROBERFROID, M. B. Dietary modulation of the human colonic microbiota: Introducing the concept of prebiotics. Journal of Nutrition, 1995; 125: GLEESON, M. D.; DOWLING, R. H.; PETERS, T. S. Biochemical changes in intestinal mucosa after experimental small bowel bypass in the rat. Clinical Science, London, 1972; 43: JOHNSON, L. R.; AURES, D.; YUEN, L. Prostaglandin-induced stimulation of protein synthesis in the gastrointestinal tract. American Journal of Physiology 1969; 217: McBRIDE, B. W.; KELLY, J. M. Energy cost of absorption and metabolism in the ruminant gastrointestinal tract and liver: a review. Journal of Animal Science, 1990; 68: MENGE, H.; ROBINSON, J. W. The relationship between functional and structural alterations in the rat small intestine following proximal resection of varying extent. Research Experimental Medicine, 1978; 173:
16 MURAKAMI, H.; AKIBA, Y.; HORIGUCHI, M. Growth and utilization of nutrients in newly-hatched chicks with or without removal of residual yolk. Growth, Development and Aging 1992; 56: NIR, I.; NITSAN, Z.; MAHAGNA, M. Comparative growth and development of the digestive organs and of some enzymes in broiler and egg type chicks after hatching. British Poultry Science, 1993; 34: NITSAN, Z.; BEN-AURAHAM, G.; ZOREF, Z.; NIR, I. Growth and development of the digestive organs and some enzymes in broiler chicks after hatching. British Poultry Science, 1991; 32: NITSAN, Z.; DUNNUNGTON, E.; SIEGEL, P. Organ growth and digestive enzyme levels to 15 days of age in lines of chickens differing in body weight. Poultry Science, 1991; 70: NOY, Y.; SKLAN, D. Metabolic responses to early nutrution. Journal Applied Poultry Research, 1998; 7: PORUS, R. L. Epithelial hyperplasia following massive small bowel resection in men. Gastroenterology, 1965; 48: RHOADS, J. M.; ARGENZIA, R. A.; CHEN, W. et al. L-glutamine stimulates intestinal cell proliferation and activates mitogen-activated protein kinase. American Journal of Physiology, 1997; 272(Gastrointestinal, Liver Physiology, 35): G RUBIN, D. C.; SWIETLICKI, E. A.; WANG, J. L.; DODSON, B. D.; LEVIN, M. S. Enterocytic gene expression in intestinal adaptation evidence for a specific cellular response. American Journal of Physiology, 1996; 270: G143-G152. SELL, J. L. Physiological limitations and potential for improvement in gastrointestinal tract function of poultry. Journal of Applied Poultry Research, 1996; 5: STEINER, M.; BOUGHES, H. R.; FREEDMAN, L. S.; GRAY, J. J. Effect of starvation on the tissue composition of the small intestine of the rat. American Journal of Physiology, 1968; 215: WILLIAMSON, R. C. N.; BAUER, F. L.; ROSS, J. S.; MALT, R. A. Proximal enterectomy stimulates distal hyperplasia more than by-pass or pancreaticobiliary diversion. Gastroenterology, 1978; 74: WILLIAMSON, R. C. N.; BUCHOLTZ, T. W.; MALT, R. A. Humoral stimulation of cell proliferation in small bowel after transection and resection in rats. Gastroenterology, 1978; 75: YAMAUCHI, K. E.; ISSHIKI, Y. Scanning electron microscopic observations on the intestinal villi in growing White Leghorn and broiler chickens from 1 to 30 days of age. British Poultry Science, 1991; 32:
09/03/2016. Professor Luciano Hauschild. Anatomia e fisiologia comparada do trato gastrointestinal de aves e suínos
 Professor Luciano Hauschild 1 Anatomia e fisiologia comparada do trato gastrointestinal de aves e suínos 2 1 1. Introdução 2. Compartimentos digestivos e funções 2.1 Boca 2.2 Esôfago 2.3 Estômago 2.4 Motilidade
Professor Luciano Hauschild 1 Anatomia e fisiologia comparada do trato gastrointestinal de aves e suínos 2 1 1. Introdução 2. Compartimentos digestivos e funções 2.1 Boca 2.2 Esôfago 2.3 Estômago 2.4 Motilidade
DIGESTÃO & ABSORÇÃO DE NUTRIENTES
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA DIGESTÃO & ABSORÇÃO DE NUTRIENTES Profa. Dra. Fernanda B. Lima MACRONUTRIENTES ORGÂNICOS Carboidratos Proteínas
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA DIGESTÃO & ABSORÇÃO DE NUTRIENTES Profa. Dra. Fernanda B. Lima MACRONUTRIENTES ORGÂNICOS Carboidratos Proteínas
ASPECTOS FISIOLÓGICOS DA UTILIZAÇÃO DE PROBIÓTICOS E PREBIÓTICOS VISANDO A SAÚDE INTESTINAL
 ASPECTOS FISIOLÓGICOS DA UTILIZAÇÃO DE PROBIÓTICOS E PREBIÓTICOS VISANDO A SAÚDE INTESTINAL Renato Luis Furlan UNESP Universidade Estadual Paulista Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal Faculdade
ASPECTOS FISIOLÓGICOS DA UTILIZAÇÃO DE PROBIÓTICOS E PREBIÓTICOS VISANDO A SAÚDE INTESTINAL Renato Luis Furlan UNESP Universidade Estadual Paulista Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal Faculdade
USO DE PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS E FLORA DE EXCLUSÃO COMPETITIVA
 1 USO DE PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS E FLORA DE EXCLUSÃO COMPETITIVA As técnicas de manejo, para melhoria do desempenho, estão na dependência do entendimento do funcionamento dos sistemas orgânicos, pois
1 USO DE PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS E FLORA DE EXCLUSÃO COMPETITIVA As técnicas de manejo, para melhoria do desempenho, estão na dependência do entendimento do funcionamento dos sistemas orgânicos, pois
SISTEMA DIGESTÓRIO MÓDULO 7 FISIOLOGIA
 SISTEMA DIGESTÓRIO MÓDULO 7 FISIOLOGIA SISTEMA DIGESTÓRIO O sistema digestório, responsável pela quebra dos alimentos e absorção dos nutrientes, é composto pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas.
SISTEMA DIGESTÓRIO MÓDULO 7 FISIOLOGIA SISTEMA DIGESTÓRIO O sistema digestório, responsável pela quebra dos alimentos e absorção dos nutrientes, é composto pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas.
Produtos e especialidades para nutrição animal derivados de microrganismos
 Produtos e especialidades para nutrição animal derivados de microrganismos João Fernando Albers Koch Zootecnista Doutor em Nutrição Animal P&D Biorigin Brasília/DF Setembro - 2017 Introdução Indústria
Produtos e especialidades para nutrição animal derivados de microrganismos João Fernando Albers Koch Zootecnista Doutor em Nutrição Animal P&D Biorigin Brasília/DF Setembro - 2017 Introdução Indústria
Boca -Faringe - Esôfago - Estômago - Intestino Delgado - Intestino Grosso Reto - Ânus. Glândulas Anexas: Glândulas Salivares Fígado Pâncrea
 Sistema Digestório Boca -Faringe - Esôfago - Estômago - Intestino Delgado - Intestino Grosso Reto - Ânus Glândulas Anexas: Glândulas Salivares Fígado Pâncrea A maioria dos mamíferos mastiga o alimento
Sistema Digestório Boca -Faringe - Esôfago - Estômago - Intestino Delgado - Intestino Grosso Reto - Ânus Glândulas Anexas: Glândulas Salivares Fígado Pâncrea A maioria dos mamíferos mastiga o alimento
Como funciona a microbiota intestinal e qual a relação entre esses microrganismos e a manutenção do peso das crianças?
 Compartilhe conhecimento! 176 Shares Como funciona a microbiota intestinal e qual a relação entre esses microrganismos e a manutenção do peso das crianças? O principal motivo para que a obesidade infantil
Compartilhe conhecimento! 176 Shares Como funciona a microbiota intestinal e qual a relação entre esses microrganismos e a manutenção do peso das crianças? O principal motivo para que a obesidade infantil
Profª Drª Maria Luiza Poiatti Unesp - Campus de Dracena
 Profª Drª Maria Luiza Poiatti Unesp - Campus de Dracena luiza@dracena.unesp.br Probióticos: Definição Probiótico significa a favor da vida Segundo a FAO/WHO, Microrganismos vivos que ao serem administrados
Profª Drª Maria Luiza Poiatti Unesp - Campus de Dracena luiza@dracena.unesp.br Probióticos: Definição Probiótico significa a favor da vida Segundo a FAO/WHO, Microrganismos vivos que ao serem administrados
METABOLISMO DE CARBOIDRATOS
 METABOLISMO DE CARBOIDRATOS FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES Prof. MSc. Jean Carlos Rodrigues Lima CRN 1/6002 SISTEMA DIGESTIVO DIGESTÃO DE CARBOIDRATOS BOCA: - Mastigação reduz tamanho das partículas - Secreções
METABOLISMO DE CARBOIDRATOS FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES Prof. MSc. Jean Carlos Rodrigues Lima CRN 1/6002 SISTEMA DIGESTIVO DIGESTÃO DE CARBOIDRATOS BOCA: - Mastigação reduz tamanho das partículas - Secreções
1- TURMA A. Biologia. a) proteínas. b) glicídios. c) lipídios. d) lipídios e glicídios. e) lipídios e proteínas.
 Biologia Atividade de classe Gabarito 2 os anos Tatiana mar/12 1- TURMA A 1- (PUCCamp modificada) Os fenilcetonúricos têm falta de uma enzima responsável pelo metabolismo do aminoácido fenilalanina. Para
Biologia Atividade de classe Gabarito 2 os anos Tatiana mar/12 1- TURMA A 1- (PUCCamp modificada) Os fenilcetonúricos têm falta de uma enzima responsável pelo metabolismo do aminoácido fenilalanina. Para
Utilização de Metabólitos Nutricionais e Imunológicos de Levedura na Melhoria da Qualidade Intestinal
 Utilização de Metabólitos Nutricionais e Imunológicos de Levedura na Melhoria da Qualidade Intestinal Adriano Antonio Rorato Méd. Veterinário Gerente Técnico Comercial Aves -Tectron Realização Histórico
Utilização de Metabólitos Nutricionais e Imunológicos de Levedura na Melhoria da Qualidade Intestinal Adriano Antonio Rorato Méd. Veterinário Gerente Técnico Comercial Aves -Tectron Realização Histórico
Universidade Estadual de Ponta Grossa / Departamento de Zootecnia / Castro-PR. Palavras chaves: Avicultura, Lactobacillus sp, probióticos.
 BIOMETRIA E ph DO TRATO DIGESTÓRIO DE FRANGOS DE CORTE SOB DESAFIO DE CAMA REUTILIZADA E ALTA DENSIDADE Liliane Heuert (PROVIC/UEPG), Bruno Machado, Kátia Nagano, Shivelly Galetto, Bruna Fittkau, Felipe
BIOMETRIA E ph DO TRATO DIGESTÓRIO DE FRANGOS DE CORTE SOB DESAFIO DE CAMA REUTILIZADA E ALTA DENSIDADE Liliane Heuert (PROVIC/UEPG), Bruno Machado, Kátia Nagano, Shivelly Galetto, Bruna Fittkau, Felipe
24/11/2015. Biologia de Microrganismos - 2º Semestre de Prof. Cláudio 1. O mundo microbiano. Profa. Alessandra B. F. Machado
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA Relação bactéria-hospedeiro Profa. Alessandra B. F. Machado O mundo microbiano Os microrganismos são ubíquos.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA Relação bactéria-hospedeiro Profa. Alessandra B. F. Machado O mundo microbiano Os microrganismos são ubíquos.
Metabolismo e produção de calor
 Fisiologia 5 Metabolismo e produção de calor Iniciando a conversa Apenas comer não é suficiente: o alimento precisa ser transformado (metabolizado) para ser aproveitado por nosso organismo. Açúcares (carboidratos),
Fisiologia 5 Metabolismo e produção de calor Iniciando a conversa Apenas comer não é suficiente: o alimento precisa ser transformado (metabolizado) para ser aproveitado por nosso organismo. Açúcares (carboidratos),
Importância do sistema digestivo para o equilíbrio do organismo. Exploratório 9 l Ciências Naturais 9.º ano
 Importância do sistema digestivo para o equilíbrio do organismo Em que consiste a nutrição e quais são as suas etapas? A nutrição consiste no processo através do qual os organismos asseguram a obtenção
Importância do sistema digestivo para o equilíbrio do organismo Em que consiste a nutrição e quais são as suas etapas? A nutrição consiste no processo através do qual os organismos asseguram a obtenção
SISTEMA DIGESTÓRIO. 8º ano/ 2º TRIMESTRE Prof Graziela Costa 2017
 SISTEMA DIGESTÓRIO 8º ano/ 2º TRIMESTRE Prof Graziela Costa 2017 Tubo Digestório Boca -Faringe - Esôfago - Estômago - Intestino Delgado - Intestino Grosso Reto - Ânus Glândulas Anexas: Glândulas Salivares
SISTEMA DIGESTÓRIO 8º ano/ 2º TRIMESTRE Prof Graziela Costa 2017 Tubo Digestório Boca -Faringe - Esôfago - Estômago - Intestino Delgado - Intestino Grosso Reto - Ânus Glândulas Anexas: Glândulas Salivares
Unipampa - Campus Dom Pedrito Disciplina de Suinocultura II Profa. Lilian Kratz Semestre 2017/2
 Unipampa - Campus Dom Pedrito Disciplina de Suinocultura II Profa. Lilian Kratz Semestre 2017/2 Desenvolvimento pós-natal dos suínos Eficiência alimentar do suíno é inversamente proporcional ao seu peso
Unipampa - Campus Dom Pedrito Disciplina de Suinocultura II Profa. Lilian Kratz Semestre 2017/2 Desenvolvimento pós-natal dos suínos Eficiência alimentar do suíno é inversamente proporcional ao seu peso
FISIOLOGIA GASTRINTESTINAL
 FISIOLOGIA GASTRINTESTINAL 03.05.11 Secreções gastrintestinais SECREÇÃO = adição de líquidos, enzimas, mucos ao lúmen do TGI 21.09.10 Secreção salivar Funções: 1) Lubrificação dos alimentos ingeridos com
FISIOLOGIA GASTRINTESTINAL 03.05.11 Secreções gastrintestinais SECREÇÃO = adição de líquidos, enzimas, mucos ao lúmen do TGI 21.09.10 Secreção salivar Funções: 1) Lubrificação dos alimentos ingeridos com
USO DE ANTIBIÓTICOS COMO PROMOTORES DE CRESCIMENTO E SEUS IMPASSES
 USO DE ANTIBIÓTICOS COMO PROMOTORES DE CRESCIMENTO E SEUS IMPASSES Em Animais Domésticos Barbara do Prado Verotti Graduanda de Medicina Veterinária 2011 História da descoberta Muitas culturas da antiguidade
USO DE ANTIBIÓTICOS COMO PROMOTORES DE CRESCIMENTO E SEUS IMPASSES Em Animais Domésticos Barbara do Prado Verotti Graduanda de Medicina Veterinária 2011 História da descoberta Muitas culturas da antiguidade
Microbiota Normal do Corpo Humano
 Microbiota Normal do Corpo Humano Microbiota Microbiota Microflora Flora indígena São termos usados para denominar os microrganismos que habitam o corpo humano e interagem de forma benéfica. Flora normal
Microbiota Normal do Corpo Humano Microbiota Microbiota Microflora Flora indígena São termos usados para denominar os microrganismos que habitam o corpo humano e interagem de forma benéfica. Flora normal
Sistema Digestório. Prof. MSc. Leandro Felício
 Sistema Digestório Prof. MSc. Leandro Felício INTRODUÇÃO Alimentos - fonte de matéria e energia Organismos autótrofos - produzem o próprio alimento (ex: bactérias, cianobactérias, algas e plantas). Organismos
Sistema Digestório Prof. MSc. Leandro Felício INTRODUÇÃO Alimentos - fonte de matéria e energia Organismos autótrofos - produzem o próprio alimento (ex: bactérias, cianobactérias, algas e plantas). Organismos
Henrique Guimarães Fernandes Médico Veterinário - Departamento de Nutrição da Vaccinar
 ACIDIFICANTES Henrique Guimarães Fernandes Médico Veterinário - Departamento de Nutrição da Vaccinar INTRODUÇÃO Os ácidos orgânicos englobam aqueles ácidos cuja estrutura química se baseiam no carbono.
ACIDIFICANTES Henrique Guimarães Fernandes Médico Veterinário - Departamento de Nutrição da Vaccinar INTRODUÇÃO Os ácidos orgânicos englobam aqueles ácidos cuja estrutura química se baseiam no carbono.
Nutrição e metabolismo celular
 Nutrição e metabolismo celular Nutrição - Conjunto de processos que fornecem ao organismo os nutrientes necessários à sua sobrevivência. Ocorre desde a entrada do alimento no corpo até à passagem dos nutrientes
Nutrição e metabolismo celular Nutrição - Conjunto de processos que fornecem ao organismo os nutrientes necessários à sua sobrevivência. Ocorre desde a entrada do alimento no corpo até à passagem dos nutrientes
ALOMETRIA DOS ÓRGÃOS DIGESTIVOS DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE FRANGOS DE CRESCIMENTO LENTO
 ALOMETRIA DOS ÓRGÃOS DIGESTIVOS DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE FRANGOS DE CRESCIMENTO LENTO Maria Luiza Rocha MEDRADO*¹, Saullo Diogo de ASSIS 1, Raphael Rodrigues dos SANTOS 1, Nadja Susana Mogyca LEANDRO
ALOMETRIA DOS ÓRGÃOS DIGESTIVOS DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE FRANGOS DE CRESCIMENTO LENTO Maria Luiza Rocha MEDRADO*¹, Saullo Diogo de ASSIS 1, Raphael Rodrigues dos SANTOS 1, Nadja Susana Mogyca LEANDRO
ENFERMAGEM ANATOMIA. SISTEMA DIGESTÓRIO Parte 3. Profª. Tatiane da Silva Campos
 ENFERMAGEM ANATOMIA Parte 3 Profª. Tatiane da Silva Campos Intestino delgado é um tubo muscular de cerca de 5 a 6 metros de comprimento, revestido de mucosa e mantido em sua posição na cavidade abdominal
ENFERMAGEM ANATOMIA Parte 3 Profª. Tatiane da Silva Campos Intestino delgado é um tubo muscular de cerca de 5 a 6 metros de comprimento, revestido de mucosa e mantido em sua posição na cavidade abdominal
2.3. Sistema Digestivo
 Ciências Naturais 9º ano Unidade 2 Organismo humano em equilíbrio Sistemas de Órgãos e Metabolismo Celular Nutrientes Energia CÉLULA Dióxido de Carbono Oxigénio Água Água Mitocôndria Os sistemas de órgãos
Ciências Naturais 9º ano Unidade 2 Organismo humano em equilíbrio Sistemas de Órgãos e Metabolismo Celular Nutrientes Energia CÉLULA Dióxido de Carbono Oxigénio Água Água Mitocôndria Os sistemas de órgãos
CIÊNCIAS NATURAIS 9º Ano de Escolaridade SISTEMA DIGESTIVO ALIMENTOS E NUTRIENTES MORFOLOGIA E FISIOLOGIA
 CIÊNCIAS NATURAIS 9º Ano de Escolaridade SISTEMA DIGESTIVO ALIMENTOS E NUTRIENTES MORFOLOGIA E FISIOLOGIA Ano Lectivo 2009/2010 FUNÇÕES DOS NUTRIENTES Nutrientes Energéticos Plásticos Reguladores Funções
CIÊNCIAS NATURAIS 9º Ano de Escolaridade SISTEMA DIGESTIVO ALIMENTOS E NUTRIENTES MORFOLOGIA E FISIOLOGIA Ano Lectivo 2009/2010 FUNÇÕES DOS NUTRIENTES Nutrientes Energéticos Plásticos Reguladores Funções
FISIOLOGIA FISIOLOGIA ANIMAL 4/3/2011 SISTEMAS DO ORGANISMO
 FISIOLOGIA ANIMAL SISTEMAS DO ORGANISMO FISIOLOGIA FUNCIONAMENTO DOS SERES VIVOS INTERPRETAR E DESCREVER FENÔMENOS DESCOBRIR CAUSAS E MECANISMOS CORRELAÇÕES ENTRE OS ÓRGÃOS DEFINIR FUNÇÕES PROF. CLERSON
FISIOLOGIA ANIMAL SISTEMAS DO ORGANISMO FISIOLOGIA FUNCIONAMENTO DOS SERES VIVOS INTERPRETAR E DESCREVER FENÔMENOS DESCOBRIR CAUSAS E MECANISMOS CORRELAÇÕES ENTRE OS ÓRGÃOS DEFINIR FUNÇÕES PROF. CLERSON
Graduação em Biotecnologia Disciplina de Biotecnologia Microbiana II. Probióticos. Por que devemos consumí-los diariamente?
 15 de maio de 2013 Graduação em Biotecnologia Disciplina de Biotecnologia Microbiana II Probióticos Por que devemos consumí-los diariamente? Prof. Fabricio Rochedo Conceição fabricio.rochedo@ufpel.edu.br
15 de maio de 2013 Graduação em Biotecnologia Disciplina de Biotecnologia Microbiana II Probióticos Por que devemos consumí-los diariamente? Prof. Fabricio Rochedo Conceição fabricio.rochedo@ufpel.edu.br
Os alimentos representam a fonte de matéria e energia para os seres vivos
 INTRODUÇÃO Os alimentos representam a fonte de matéria e energia para os seres vivos Nos organismos heterótrofos os alimentos são obtidos de forma pronta. A digestão é um conjunto de processos que visa
INTRODUÇÃO Os alimentos representam a fonte de matéria e energia para os seres vivos Nos organismos heterótrofos os alimentos são obtidos de forma pronta. A digestão é um conjunto de processos que visa
Biomassa de Banana Verde Polpa - BBVP
 Biomassa de Banana Verde Polpa - BBVP INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 100g (1/2 copo) Quantidade por porção g %VD(*) Valor Energético (kcal) 91 4,55 Carboidratos 21,4 7,13 Proteínas 2,1 2,80 Gorduras
Biomassa de Banana Verde Polpa - BBVP INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 100g (1/2 copo) Quantidade por porção g %VD(*) Valor Energético (kcal) 91 4,55 Carboidratos 21,4 7,13 Proteínas 2,1 2,80 Gorduras
GUIA DE ESTUDOS INSULINA E GLUCAGON
 GUIA DE ESTUDOS INSULINA E GLUCAGON 1) O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, possui função endócrina e exócrina. Na porção endócrina, o pâncreas produz dois hormônios: a insulina e o Esses hormônios
GUIA DE ESTUDOS INSULINA E GLUCAGON 1) O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, possui função endócrina e exócrina. Na porção endócrina, o pâncreas produz dois hormônios: a insulina e o Esses hormônios
Aulas Multimídias Santa Cecília. Profª Ana Gardênia
 Aulas Multimídias Santa Cecília Profª Ana Gardênia SISTEMA DIGESTÓRIO HUMANO Definição Nutrição Alimentos Anatomia Fisiologia www.infopedia.pt/$sistema-digestivo,2 Digestão É o conjunto de transformações
Aulas Multimídias Santa Cecília Profª Ana Gardênia SISTEMA DIGESTÓRIO HUMANO Definição Nutrição Alimentos Anatomia Fisiologia www.infopedia.pt/$sistema-digestivo,2 Digestão É o conjunto de transformações
ENFERMAGEM ANATOMIA. SISTEMA DIGESTÓRIO Parte 4. Profª. Tatiane da Silva Campos
 ENFERMAGEM ANATOMIA Parte 4 Profª. Tatiane da Silva Campos Intestino grosso Parte final do sistema digestório; compreende ceco (nele há o apêndice vermiforme, de função desconhecida), colo (ascendente,
ENFERMAGEM ANATOMIA Parte 4 Profª. Tatiane da Silva Campos Intestino grosso Parte final do sistema digestório; compreende ceco (nele há o apêndice vermiforme, de função desconhecida), colo (ascendente,
Pesquisa conduzida por PATC, LLC Lituânia, O impacto do Consórcio Probiotico (TCP) no crescimento de frangos de corte
 Pesquisa conduzida por PATC, LLC Lituânia, 2012 O impacto do Consórcio Probiotico (TCP) no crescimento de frangos de corte O impacto do Consórcio Probiotico (TCP) na produtividade de galinhas de corte
Pesquisa conduzida por PATC, LLC Lituânia, 2012 O impacto do Consórcio Probiotico (TCP) no crescimento de frangos de corte O impacto do Consórcio Probiotico (TCP) na produtividade de galinhas de corte
Ciências Naturais 9.º ano Fonte: Planeta Terra Santillana.
 Sistema digestivo Ciências Naturais 9.º ano Fonte: Planeta Terra Santillana http://isidrodafonseca.wordpress.com Porque nos alimentamos? Todos os seres vivos necessitam de obter matéria e energia permitem
Sistema digestivo Ciências Naturais 9.º ano Fonte: Planeta Terra Santillana http://isidrodafonseca.wordpress.com Porque nos alimentamos? Todos os seres vivos necessitam de obter matéria e energia permitem
Organismos autótrofos - produzem o próprio alimento (ex: bactérias, cianobactérias, algas e plantas).
 INTRODUÇÃO Alimentos - fonte de matéria e energia Organismos autótrofos - produzem o próprio alimento (ex: bactérias, cianobactérias, algas e plantas). Organismos heterótrofos - obtém alimentos de forma
INTRODUÇÃO Alimentos - fonte de matéria e energia Organismos autótrofos - produzem o próprio alimento (ex: bactérias, cianobactérias, algas e plantas). Organismos heterótrofos - obtém alimentos de forma
Aula: Digestão. Noções de feedback e Digestão
 Aula: Digestão Noções de feedback e Digestão PROFESSORA: Brenda Braga DATA: 24/04/2014 1. Feedback Causa Consequência Positivo Negativo Sede + + Beber água salgada Sede + - Beber água pura Desequilíbrio
Aula: Digestão Noções de feedback e Digestão PROFESSORA: Brenda Braga DATA: 24/04/2014 1. Feedback Causa Consequência Positivo Negativo Sede + + Beber água salgada Sede + - Beber água pura Desequilíbrio
Resposta inicial que, em muitos casos, impede a infecção do hospedeiro podendo eliminar os micróbios
 Resposta inicial que, em muitos casos, impede a infecção do hospedeiro podendo eliminar os micróbios Células da imunidade inata (macrófagos e neutrófilos) chegam rapidamente e em grande número no foco
Resposta inicial que, em muitos casos, impede a infecção do hospedeiro podendo eliminar os micróbios Células da imunidade inata (macrófagos e neutrófilos) chegam rapidamente e em grande número no foco
PANCREAS A eliminação do suco pancreático é regulada, principalmente, pelo sistema nervoso. Quando uma pessoa alimenta-se, vários fatores geram
 PANCREAS O pâncreas, uma importante glândula do corpo humano, é responsável pela produção de hormônios e enzimas digestivas. Por apresentar essa dupla função, essa estrutura pode ser considerada um órgão
PANCREAS O pâncreas, uma importante glândula do corpo humano, é responsável pela produção de hormônios e enzimas digestivas. Por apresentar essa dupla função, essa estrutura pode ser considerada um órgão
Biologia. Identidade dos Seres Vivos. Sistema Digestório Humano Parte 1. Prof.ª Daniele Duó
 Biologia Identidade dos Seres Vivos Sistema Digestório Humano Parte 1 Prof.ª Daniele Duó Função O organismo recebe os nutrientes através dos alimentos. Estes alimentos têm de ser transformados em substâncias
Biologia Identidade dos Seres Vivos Sistema Digestório Humano Parte 1 Prof.ª Daniele Duó Função O organismo recebe os nutrientes através dos alimentos. Estes alimentos têm de ser transformados em substâncias
FISIOLOGIA HUMANA. Funções SISTEMA DIGESTÓRIO
 FISIOLOGIA HUMANA SISTEMA DIGESTÓRIO Funções Fornecer/repor água, eletrólitos/sais minerais, nutrientes/substratos energéticos, vitaminas, para o corpo. 1 Aspectos morfofuncionais Sistema digestório: Trato
FISIOLOGIA HUMANA SISTEMA DIGESTÓRIO Funções Fornecer/repor água, eletrólitos/sais minerais, nutrientes/substratos energéticos, vitaminas, para o corpo. 1 Aspectos morfofuncionais Sistema digestório: Trato
GUIA DE ESTUDOS INSULINA E GLUCAGON
 GUIA DE ESTUDOS INSULINA E GLUCAGON 1) O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, possui função endócrina e exócrina. Na porção endócrina, o pâncreas produz dois hormônios: a insulina e o Esses hormônios
GUIA DE ESTUDOS INSULINA E GLUCAGON 1) O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, possui função endócrina e exócrina. Na porção endócrina, o pâncreas produz dois hormônios: a insulina e o Esses hormônios
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS. voltar índice próximo CIÊNCIAS. Unidade º ANO» UNIDADE 1» CAPÍTULO 3
 HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS CIÊNCIAS Unidade 41 www.sejaetico.com.br 8º ANO ALIMENTAÇÃO E DIGESTÃO NO SER HUMANO Índice ÍNDICE Por que nos alimentamos? www.sejaetico.com.br 3 Por que nos alimentamos? Os
HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS CIÊNCIAS Unidade 41 www.sejaetico.com.br 8º ANO ALIMENTAÇÃO E DIGESTÃO NO SER HUMANO Índice ÍNDICE Por que nos alimentamos? www.sejaetico.com.br 3 Por que nos alimentamos? Os
Digestão Comparada. Biologia Alexandre Bandeira e Rubens Oda Aula ao Vivo
 Digestão Comparada Digestão Humana Digestão do tipo extracelular Ações mecânicas e químicas-enzimáticas; O aparelho digestório humano é formado pelo tubo digestivo - Boca, faringe, esôfago,, intestino
Digestão Comparada Digestão Humana Digestão do tipo extracelular Ações mecânicas e químicas-enzimáticas; O aparelho digestório humano é formado pelo tubo digestivo - Boca, faringe, esôfago,, intestino
SISTEMA DIGESTIVO HUMANO (Parte 4)
 SISTEMA DIGESTIVO HUMANO (Parte 4) INTESTINO DELGADO O intestino delgado de um adulto é um tubo com pouco mais de 6 m de comprimento por 4 cm de diâmetro, e é dividido em três regiões: duodeno (região
SISTEMA DIGESTIVO HUMANO (Parte 4) INTESTINO DELGADO O intestino delgado de um adulto é um tubo com pouco mais de 6 m de comprimento por 4 cm de diâmetro, e é dividido em três regiões: duodeno (região
Hormônios do pâncreas. Insulina. Glucagon. Somatostatina. Peptídeos pancreáticos
 Endocrinologia do Pâncreas! O pâncreas como um órgão endócrino Importante papel na absorção, distribuição e armazenamento de vários substratos energéticos Hormônios do pâncreas Insulina Glucagon Somatostatina
Endocrinologia do Pâncreas! O pâncreas como um órgão endócrino Importante papel na absorção, distribuição e armazenamento de vários substratos energéticos Hormônios do pâncreas Insulina Glucagon Somatostatina
CIÊNCIAS FISIOLOGIA. China
 CIÊNCIAS FISIOLOGIA China 1. Nutrição: É o processo que envolve desde a ingestão do alimento até a metabolização do mesmo pelas células. Etapas: Ingestão Digestão Absorção Metabolização 2. Digestão: É
CIÊNCIAS FISIOLOGIA China 1. Nutrição: É o processo que envolve desde a ingestão do alimento até a metabolização do mesmo pelas células. Etapas: Ingestão Digestão Absorção Metabolização 2. Digestão: É
Metabolismo de aminoácidos de proteínas
 Metabolismo de aminoácidos de proteínas Profa Dra Mônica Santos de Freitas 12.09.2012 1 Introdução As proteínas são a segunda maior fonte de estocagem de energia no corpo; O maior estoque de proteínas
Metabolismo de aminoácidos de proteínas Profa Dra Mônica Santos de Freitas 12.09.2012 1 Introdução As proteínas são a segunda maior fonte de estocagem de energia no corpo; O maior estoque de proteínas
Fisiologia: Digestão, Respiração e Circulação
 Fisiologia: Digestão, Respiração e Circulação Fisiologia: Digestão, Respiração e Circulação 1. Um laboratório analisou algumas reações ocorridas durante o processo de digestão do amido em seres humanos.
Fisiologia: Digestão, Respiração e Circulação Fisiologia: Digestão, Respiração e Circulação 1. Um laboratório analisou algumas reações ocorridas durante o processo de digestão do amido em seres humanos.
Sistema digestório. Curso Técnico em Saúde Bucal Aula disponível: SISTEMA DIGESTÓRIO. Msc. Bruno Aleixo Venturi
 Sistema digestório Curso Técnico em Saúde Bucal Aula disponível: www.portaldoaluno.bdodonto.com.br SISTEMA DIGESTÓRIO Msc. Bruno Aleixo Venturi ? A digestão começa pela boca Funções Mecânica Transporte
Sistema digestório Curso Técnico em Saúde Bucal Aula disponível: www.portaldoaluno.bdodonto.com.br SISTEMA DIGESTÓRIO Msc. Bruno Aleixo Venturi ? A digestão começa pela boca Funções Mecânica Transporte
BIOSSÍNTESE DOS HORMÔNIOS (Protéicos) Estoque citoplasmático - secreção
 BIOSSÍNTESE DOS HORMÔNIOS (Protéicos) Estoque citoplasmático - secreção Exemplo HORMÔNIOS ESTEROIDES Sexuais e do tecido interrenal Outros tecidos Os esteroides estão envolvidos na regulação de vários
BIOSSÍNTESE DOS HORMÔNIOS (Protéicos) Estoque citoplasmático - secreção Exemplo HORMÔNIOS ESTEROIDES Sexuais e do tecido interrenal Outros tecidos Os esteroides estão envolvidos na regulação de vários
Fisiologia Gastrointestinal
 Fisiologia Gastrointestinal Digestão e absorção Prof. Ricardo Digestão É a degradação química dos alimentos ingeridos em moléculas absorvíveis. As enzimas digestivas são secretadas nas secreções salivar,
Fisiologia Gastrointestinal Digestão e absorção Prof. Ricardo Digestão É a degradação química dos alimentos ingeridos em moléculas absorvíveis. As enzimas digestivas são secretadas nas secreções salivar,
FIBRAS: por que consumi-las?
 FIBRAS: por que consumi-las? COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA NUTRICIONAL GVEDNT / SUVISA / SES-GO Fibras: por que consumi-las? GOIÂNIA 2014 Autoria Maria Janaína Cavalcante Nunes Daniela Ayumi Amemiya Cássia
FIBRAS: por que consumi-las? COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA NUTRICIONAL GVEDNT / SUVISA / SES-GO Fibras: por que consumi-las? GOIÂNIA 2014 Autoria Maria Janaína Cavalcante Nunes Daniela Ayumi Amemiya Cássia
Nutrição, digestão e sistema digestório. Profª Janaina Q. B. Matsuo
 Nutrição, digestão e sistema digestório Profª Janaina Q. B. Matsuo 1 2 3 4 Nutrição Nutrição: conjunto de processos que vão desde a ingestão do alimento até a sua assimilação pelas células. Animais: nutrição
Nutrição, digestão e sistema digestório Profª Janaina Q. B. Matsuo 1 2 3 4 Nutrição Nutrição: conjunto de processos que vão desde a ingestão do alimento até a sua assimilação pelas células. Animais: nutrição
PATOGENICIDADE BACTERIANA
 PATOGENICIDADE BACTERIANA Fatores de de Virulência Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará Curso de Licenciatura Plena em
PATOGENICIDADE BACTERIANA Fatores de de Virulência Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará Curso de Licenciatura Plena em
DISCIPLINA DE ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL SISTEMA DIGESTÓRIO. Prof. Dra. Camila da Silva Frade
 DISCIPLINA DE ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL SISTEMA DIGESTÓRIO Prof. Dra. Camila da Silva Frade ? Para a manutenção da vida dos animais, pois obtêm nutrientes essenciais para os processos corpóreos a partir
DISCIPLINA DE ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL SISTEMA DIGESTÓRIO Prof. Dra. Camila da Silva Frade ? Para a manutenção da vida dos animais, pois obtêm nutrientes essenciais para os processos corpóreos a partir
Oi, Ficou curioso? Então conheça nosso universo.
 Oi, Somos do curso de Nutrição da Universidade Franciscana, e esse ebook é um produto exclusivo criado pra você. Nele, você pode ter um gostinho de como é uma das primeiras aulas do seu futuro curso. Ficou
Oi, Somos do curso de Nutrição da Universidade Franciscana, e esse ebook é um produto exclusivo criado pra você. Nele, você pode ter um gostinho de como é uma das primeiras aulas do seu futuro curso. Ficou
Animais Monogástricos. Digestão Monogástricos. Animais Monogástricos. Digestão Monogástricos 28/08/2012
 Animais Monogástricos Digestão e Absorção de Carboidratos Animais monogástricos e ruminantes Prof. Dr. Bruno Lazzari de Lima Principais fontes de glicídeos: Polissacarídeos. Amido. Glicogênio. Dextrinas.
Animais Monogástricos Digestão e Absorção de Carboidratos Animais monogástricos e ruminantes Prof. Dr. Bruno Lazzari de Lima Principais fontes de glicídeos: Polissacarídeos. Amido. Glicogênio. Dextrinas.
Possíveis mudanças nutricionais em um ambiente livre de antibióticos promotores de crescimento
 Leia esta memória no APP e em lpncongress.com 134 Programa Proceedings Sponsors Revista avinews Professor Emérito, Universidade de Guelph Possíveis mudanças nutricionais em um ambiente livre de antibióticos
Leia esta memória no APP e em lpncongress.com 134 Programa Proceedings Sponsors Revista avinews Professor Emérito, Universidade de Guelph Possíveis mudanças nutricionais em um ambiente livre de antibióticos
Metabolismo de aminoácidos de proteínas. Profa Dra Mônica Santos de Freitas
 Metabolismo de aminoácidos de proteínas Profa Dra Mônica Santos de Freitas 16.05.2011 1 Introdução As proteínas são a segunda maior fonte de estocagem de energia no corpo; O maior estoque de proteínas
Metabolismo de aminoácidos de proteínas Profa Dra Mônica Santos de Freitas 16.05.2011 1 Introdução As proteínas são a segunda maior fonte de estocagem de energia no corpo; O maior estoque de proteínas
O processo digestivo
 O processo digestivo Esôfago Estômago e intestino delgado Intervenções cirúrgicas Reação enzimática Influência do processo digestivo na Microbiota Obesidade e hábitos alimentares Doenças Agudas ou Crônicas
O processo digestivo Esôfago Estômago e intestino delgado Intervenções cirúrgicas Reação enzimática Influência do processo digestivo na Microbiota Obesidade e hábitos alimentares Doenças Agudas ou Crônicas
Histologia 2 - Resumo Tubo Digestório
 Histologia 2 - Resumo Tubo Digestório - 2016-2 TUBO DIGESTÓRIO Tubo Digestivo Glândulas Associadas CAVIDADE ORAL LÍNGUA ESÔFAGO Lábio Mucosa Oral Dente Músculo Estriado Esquelético Papilas Gustativas Botões
Histologia 2 - Resumo Tubo Digestório - 2016-2 TUBO DIGESTÓRIO Tubo Digestivo Glândulas Associadas CAVIDADE ORAL LÍNGUA ESÔFAGO Lábio Mucosa Oral Dente Músculo Estriado Esquelético Papilas Gustativas Botões
a) De qual região do tubo digestivo foi extraída a secreção? b) Que enzima atuou no processo? Justifique sua resposta.
 Sistema Digestório 1) As proteínas alimentares são digeridas em etapas, até que seus produtos finais, os aminoácidos, possam ser absorvidos. O gráfico abaixo mostra a relação entre a quantidade de aminoácidos
Sistema Digestório 1) As proteínas alimentares são digeridas em etapas, até que seus produtos finais, os aminoácidos, possam ser absorvidos. O gráfico abaixo mostra a relação entre a quantidade de aminoácidos
Aula: 29 Temática: Metabolismo dos lipídeos parte I
 Aula: 29 Temática: Metabolismo dos lipídeos parte I Os lipídeos são armazenados em grandes quantidades como triglicerídeos neutros altamente insolúveis, tanto nos vegetais como nos animais. Eles podem
Aula: 29 Temática: Metabolismo dos lipídeos parte I Os lipídeos são armazenados em grandes quantidades como triglicerídeos neutros altamente insolúveis, tanto nos vegetais como nos animais. Eles podem
Digestão e Absorção de Proteínas
 Digestão e Absorção de Proteínas ruifonte@med.up.pt Departamento de Bioquímica da Faculdade de Medicina do Porto 1 As proteínas são formadas por resíduos de aminoácidos ligados entre si (numa cadeia linear)
Digestão e Absorção de Proteínas ruifonte@med.up.pt Departamento de Bioquímica da Faculdade de Medicina do Porto 1 As proteínas são formadas por resíduos de aminoácidos ligados entre si (numa cadeia linear)
Estudo de microbiomas avícolas: como a metagenômica pode ajudar?
 Estudo de microbiomas avícolas: como a metagenômica pode ajudar? Dra. Adriana Giongo Coordenadora do Laboratório de Geobiologia - IPR Novembro, 2016 Agenda 1 Microbiomas - humano - aves 2 Comunidades microbianas
Estudo de microbiomas avícolas: como a metagenômica pode ajudar? Dra. Adriana Giongo Coordenadora do Laboratório de Geobiologia - IPR Novembro, 2016 Agenda 1 Microbiomas - humano - aves 2 Comunidades microbianas
Fisiologia do Sistema Endócrino. Pâncreas Endócrino. Anatomia Microscópica. Anatomia Microscópica
 Fisiologia do Sistema Endócrino Pâncreas Endócrino Prof. Dr. Leonardo Rigoldi Bonjardim Profa. Adjunto do Depto. De Fisiologia-CCBS-UFS Material disponível em: http://www.fisiologiaufs.xpg.com.br 2006
Fisiologia do Sistema Endócrino Pâncreas Endócrino Prof. Dr. Leonardo Rigoldi Bonjardim Profa. Adjunto do Depto. De Fisiologia-CCBS-UFS Material disponível em: http://www.fisiologiaufs.xpg.com.br 2006
INTRODUÇÃO METABOLISMO DA ENERGIA BALANÇO ENERGÉTICO A ENERGIA ENERGIA DOS ALIMENTOS 19/06/2013 NUTRIENTES FORNECEDORES DE ENERGIA
 METABOLISMO DA ENERGIA BALANÇO ENERGÉTICO MESTRANDA: JUPYRA DURÃES SATIRO DOS SANTOS. ORIENTADOR: ALEXANDRE LESEUR CO- ORIENTADOR: JOSÉ ANTONIO DE FREITAS LINHA DE PESQUISA: PRODUÇÃO ANIMAL INTRODUÇÃO
METABOLISMO DA ENERGIA BALANÇO ENERGÉTICO MESTRANDA: JUPYRA DURÃES SATIRO DOS SANTOS. ORIENTADOR: ALEXANDRE LESEUR CO- ORIENTADOR: JOSÉ ANTONIO DE FREITAS LINHA DE PESQUISA: PRODUÇÃO ANIMAL INTRODUÇÃO
Fisiologia comparada dos Sistemas Digestórios. - Os alimentos representam a fonte de matéria e energia para os seres vivos.
 Fisiologia comparada dos Sistemas Digestórios - Os alimentos representam a fonte de matéria e energia para os seres vivos. - Nos organismos heterótrofos os alimentos são obtidos de forma pronta. - A digestão
Fisiologia comparada dos Sistemas Digestórios - Os alimentos representam a fonte de matéria e energia para os seres vivos. - Nos organismos heterótrofos os alimentos são obtidos de forma pronta. - A digestão
Sumário. Anatomia funcional do trato gastrintestinal e dos órgãos que drenam nele 1
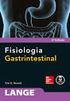 Sumário SEÇÃO I Capítulo 1 A resposta integrada a uma refeição Anatomia funcional do trato gastrintestinal e dos órgãos que drenam nele 1 Objetivos / 1 Visão geral do sistema gastrintestinal e de suas
Sumário SEÇÃO I Capítulo 1 A resposta integrada a uma refeição Anatomia funcional do trato gastrintestinal e dos órgãos que drenam nele 1 Objetivos / 1 Visão geral do sistema gastrintestinal e de suas
Sistema Digestivo. Prof a : Telma de Lima. Licenciatura em Biologia. "Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
 "Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina." Sistema Digestivo Prof a : Telma de Lima Licenciatura em Biologia Função O Sistema Digestivo é um conjunto de vários órgãos que têm como
"Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina." Sistema Digestivo Prof a : Telma de Lima Licenciatura em Biologia Função O Sistema Digestivo é um conjunto de vários órgãos que têm como
SUPLEMENTAÇÃO DE GLUTAMINA NA RAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE DESAFIADOS COM EIMERIA ACERVULINA
 SUPLEMENTAÇÃO DE GLUTAMINA NA RAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE DESAFIADOS COM EIMERIA ACERVULINA Janaina da Silva Moreira¹; Johnathan Deivid Alves de Freitas¹; Thaisa da Silva Dourado¹; Karina Ludovico de Almeida
SUPLEMENTAÇÃO DE GLUTAMINA NA RAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE DESAFIADOS COM EIMERIA ACERVULINA Janaina da Silva Moreira¹; Johnathan Deivid Alves de Freitas¹; Thaisa da Silva Dourado¹; Karina Ludovico de Almeida
Alimentares no Microbioma
 Impactos dos Suplementos Alimentares no Microbioma Humano Marcella Garcez Duarte, MD, MSc Microbiota Humana A composição da microbiota intestinal é essencial para a saúde e bem-estar do ser humano" Louis
Impactos dos Suplementos Alimentares no Microbioma Humano Marcella Garcez Duarte, MD, MSc Microbiota Humana A composição da microbiota intestinal é essencial para a saúde e bem-estar do ser humano" Louis
SISTEMA DIGESTÓRIO 3ª SÉRIE BIOLOGIA PROF. GRANGEIRO 1º BIM
 SISTEMA DIGESTÓRIO 3ª SÉRIE BIOLOGIA PROF. GRANGEIRO 1º BIM QUESTÃO 1 O gráfico abaixo se refere à atividade de uma enzima proteolítica que atua no trato digestório: A enzima em questão é a: a) Tripsina,
SISTEMA DIGESTÓRIO 3ª SÉRIE BIOLOGIA PROF. GRANGEIRO 1º BIM QUESTÃO 1 O gráfico abaixo se refere à atividade de uma enzima proteolítica que atua no trato digestório: A enzima em questão é a: a) Tripsina,
Nº 191 CAMAS HÚMIDAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO
 Nº 191 CAMAS HÚMIDAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO O sistema digestivo é um sistema complexo, que numa análise mais superficial não é mais do que uma interface entre a ave e o meio exterior. Como
Nº 191 CAMAS HÚMIDAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO O sistema digestivo é um sistema complexo, que numa análise mais superficial não é mais do que uma interface entre a ave e o meio exterior. Como
Efeito da influência de probiótico sobre a morfologia intestinal de codornas japonesas
 111 Efeito da influência de probiótico sobre a morfologia intestinal de codornas japonesas Effect of influence of probiotic on the intestinal morphology of Japanese quail Rafael BUENO 1 ; Ricardo de ALBUQUERQUE
111 Efeito da influência de probiótico sobre a morfologia intestinal de codornas japonesas Effect of influence of probiotic on the intestinal morphology of Japanese quail Rafael BUENO 1 ; Ricardo de ALBUQUERQUE
Regulation of Fat Synthesis by Conjugated Linoleic Acid: Lactation and the Ruminant Model
 Regulation of Fat Synthesis by Conjugated Linoleic Acid: Lactation and the Ruminant Model Dale E. Bauman, James W. Perfield II, Kevin J. Harvatine, and Lance H. Baumgard Aluno: Gabriel de Assis Reis Pesquisa
Regulation of Fat Synthesis by Conjugated Linoleic Acid: Lactation and the Ruminant Model Dale E. Bauman, James W. Perfield II, Kevin J. Harvatine, and Lance H. Baumgard Aluno: Gabriel de Assis Reis Pesquisa
NUTRIENTES. Profª Marília Varela Aula 2
 NUTRIENTES Profª Marília Varela Aula 2 NUTRIENTES NUTRIENTES SÃO SUBSTÂNCIAS QUE ESTÃO INSERIDAS NOS ALIMENTOS E POSSUEM FUNÇÕES VARIADAS NO ORGANISMO. PODEM SER ENCONTRADOS EM DIFERENTES ALIMENTOS, POR
NUTRIENTES Profª Marília Varela Aula 2 NUTRIENTES NUTRIENTES SÃO SUBSTÂNCIAS QUE ESTÃO INSERIDAS NOS ALIMENTOS E POSSUEM FUNÇÕES VARIADAS NO ORGANISMO. PODEM SER ENCONTRADOS EM DIFERENTES ALIMENTOS, POR
SISTEMA DIGESTÓRIO. Prof a Cristiane Oliveira
 SISTEMA DIGESTÓRIO Prof a Cristiane Oliveira SISTEMA DIGESTÓRIO QUAIS SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS? Conjunto de órgãos que realizam a ingestão dos alimentos, sua digestão e a absorção dos produtos resultantes;
SISTEMA DIGESTÓRIO Prof a Cristiane Oliveira SISTEMA DIGESTÓRIO QUAIS SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS? Conjunto de órgãos que realizam a ingestão dos alimentos, sua digestão e a absorção dos produtos resultantes;
A maioria dos alimentos precisa ser transformada para entrar nas células e realmente nutrir o organismo.
 Science Photo Library/Latinstock A maioria dos alimentos precisa ser transformada para entrar nas células e realmente nutrir o organismo. O que acontece com o amido de um sanduíche de queijo na boca? E
Science Photo Library/Latinstock A maioria dos alimentos precisa ser transformada para entrar nas células e realmente nutrir o organismo. O que acontece com o amido de um sanduíche de queijo na boca? E
PRÓBIÓTICOS-PREBIÓTICOS E MICROBIOTA
 1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS Década...... 50 60 70 80 90 Novos Aditivos (conservantes, estabilizantes, espessantes, corantes,...) para garantir um maior Prazo de Validade e uma
1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS Década...... 50 60 70 80 90 Novos Aditivos (conservantes, estabilizantes, espessantes, corantes,...) para garantir um maior Prazo de Validade e uma
BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS: AMIDO RESISTENTE E FIBRAS (aula 2) Patricia Cintra
 BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS: AMIDO RESISTENTE E FIBRAS (aula 2) Patricia Cintra Fibra alimentar - definição No Brasil, o Ministério da Saúde, pela portaria 41 de 14 de janeiro de 1998, da Agência Nacional
BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS: AMIDO RESISTENTE E FIBRAS (aula 2) Patricia Cintra Fibra alimentar - definição No Brasil, o Ministério da Saúde, pela portaria 41 de 14 de janeiro de 1998, da Agência Nacional
SISTEMA DIGESTIVO. Vera Campos. Disciplina: Anatomia e Fisiologia. Programa Nacional de Formação em Radioterapia
 Disciplina: Anatomia e Fisiologia SISTEMA DIGESTIVO Vera Campos Programa Nacional de Formação em Radioterapia Sistema Digestivo O sistema digestivo é formado pelo tubo digestivo: Cavidade oral, Esôfago,
Disciplina: Anatomia e Fisiologia SISTEMA DIGESTIVO Vera Campos Programa Nacional de Formação em Radioterapia Sistema Digestivo O sistema digestivo é formado pelo tubo digestivo: Cavidade oral, Esôfago,
SESC - Cidadania Prof. Simone Camelo
 SESC - Cidadania Prof. Simone Camelo O que é a digestão? Conjunto de reações químicas com a função de degradar o alimento, transformando-o em nutrientes. Enzimas - Amido Amilases Glicoses - Proteína Proteases
SESC - Cidadania Prof. Simone Camelo O que é a digestão? Conjunto de reações químicas com a função de degradar o alimento, transformando-o em nutrientes. Enzimas - Amido Amilases Glicoses - Proteína Proteases
Ingestão; Secreção; Mistura e propulsão; Digestão; Absorção; Defecação; Ingestão de Alimento. Processo Digestivo. Processo Absortivo.
 Ingestão; Secreção; Mistura e propulsão; Digestão; Absorção; Defecação; Ingestão de Alimento Processo Digestivo Processo Absortivo Defecação Grandes moléculas Moléculas menores Utilização Resíduos Trato
Ingestão; Secreção; Mistura e propulsão; Digestão; Absorção; Defecação; Ingestão de Alimento Processo Digestivo Processo Absortivo Defecação Grandes moléculas Moléculas menores Utilização Resíduos Trato
Sistema Digestório Disciplina Citologia e Histologia II. Docente: Sheila C. Ribeiro Setembro/2015
 Sistema Digestório Disciplina Citologia e Histologia II Docente: Sheila C. Ribeiro Setembro/2015 Sistema Digestório de Ruminantes Definição Vegetais Fibrosos Volumosos Estômago Aglandular Estômago Glandular
Sistema Digestório Disciplina Citologia e Histologia II Docente: Sheila C. Ribeiro Setembro/2015 Sistema Digestório de Ruminantes Definição Vegetais Fibrosos Volumosos Estômago Aglandular Estômago Glandular
METABOLISMO ENERGÉTICO integração e regulação alimentado jejum catabólitos urinários. Bioquímica. Profa. Dra. Celene Fernandes Bernardes
 METABOLISMO ENERGÉTICO integração e regulação alimentado jejum catabólitos urinários Bioquímica Profa. Dra. Celene Fernandes Bernardes REFERÊNCIA: Bioquímica Ilustrada - Champe ESTÁGIOS DO CATABOLISMO
METABOLISMO ENERGÉTICO integração e regulação alimentado jejum catabólitos urinários Bioquímica Profa. Dra. Celene Fernandes Bernardes REFERÊNCIA: Bioquímica Ilustrada - Champe ESTÁGIOS DO CATABOLISMO
Exercício de Fixação: Características Gerais da Microbiota do Homem
 Exercício de Fixação: Características Gerais da Microbiota do Homem 01-2018 1- Conceitue Microbiota. 2- Como é feita a identificação da microbiota de uma amostra de um ambiente específico através de métodos
Exercício de Fixação: Características Gerais da Microbiota do Homem 01-2018 1- Conceitue Microbiota. 2- Como é feita a identificação da microbiota de uma amostra de um ambiente específico através de métodos
SISTEMA DIGESTÓRIO HUMANO
 ANATOMIA e FISIOLOGIA SISTEMA DIGESTÓRIO HUMANO Prof. Wbio ORGANIZAÇÃO BÁSICA Boca Esôfago Estômago Intestino Delgado Intestino Grosso Ânus ESTRUTURAS ASSOCIADAS Glândulas Salivares Pâncreas Fígado Vesícula
ANATOMIA e FISIOLOGIA SISTEMA DIGESTÓRIO HUMANO Prof. Wbio ORGANIZAÇÃO BÁSICA Boca Esôfago Estômago Intestino Delgado Intestino Grosso Ânus ESTRUTURAS ASSOCIADAS Glândulas Salivares Pâncreas Fígado Vesícula
Enfermagem Médica. EO Karin Bienemann Coren AULA 01
 Enfermagem Médica EO Karin Bienemann Coren 162281 AULA 01 Saúde x Doença Saúde: Completo bem estar físico, mental e espiritual. Homeostasia: Equilíbrio. Doença: Perturbação da saúde. Sistema Digestório
Enfermagem Médica EO Karin Bienemann Coren 162281 AULA 01 Saúde x Doença Saúde: Completo bem estar físico, mental e espiritual. Homeostasia: Equilíbrio. Doença: Perturbação da saúde. Sistema Digestório
17/11/2016. Válvula em espiral e cecos pilóricos = aumentam área de absorção no intestino. Anfíbios: cloaca; não apresentam dentes; língua protrátil.
 Peixes cartilaginosos Sistema digestório Sistema cardiovascular Peixes ósseos Válvula em espiral e cecos pilóricos = aumentam área de absorção no intestino. Aves: Anfíbios: cloaca; não apresentam dentes;
Peixes cartilaginosos Sistema digestório Sistema cardiovascular Peixes ósseos Válvula em espiral e cecos pilóricos = aumentam área de absorção no intestino. Aves: Anfíbios: cloaca; não apresentam dentes;
PARÂMETROS HISTOLÓGICOS INSTESTINAIS DE FRANGOS DE CORTE SUPLEMENTADOS COM PROBIÓTICO FÚNGICO
 PARÂMETROS HISTOLÓGICOS INSTESTINAIS DE FRANGOS DE CORTE SUPLEMENTADOS COM PROBIÓTICO FÚNGICO Rafael Ícaro Matos VIEIRA* 1, Danne Kelle Siqueira LIMA¹, Thiago Dias SILVA¹, Solange Martins de SOUZA¹, Moisés
PARÂMETROS HISTOLÓGICOS INSTESTINAIS DE FRANGOS DE CORTE SUPLEMENTADOS COM PROBIÓTICO FÚNGICO Rafael Ícaro Matos VIEIRA* 1, Danne Kelle Siqueira LIMA¹, Thiago Dias SILVA¹, Solange Martins de SOUZA¹, Moisés
Prof. Marcelo Langer. Curso de Biologia. Aula 38 Citologia
 Prof. Marcelo Langer Curso de Biologia Aula 38 Citologia ENZIMAS Apenas alguns grupos de moléculas de RNA que apresentam função biocatalisadora, todas as enzimas são proteínas. FUNÇÕES DAS ENZIMAS: Proteínas
Prof. Marcelo Langer Curso de Biologia Aula 38 Citologia ENZIMAS Apenas alguns grupos de moléculas de RNA que apresentam função biocatalisadora, todas as enzimas são proteínas. FUNÇÕES DAS ENZIMAS: Proteínas
DISCIPLINA: RCG FISIOLOGIA II MÓDULO: FISIOLOGIA DO SISTEMA DIGESTÓRIO
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA DISCIPLINA: RCG 0216 - FISIOLOGIA II MÓDULO: FISIOLOGIA DO SISTEMA DIGESTÓRIO Docentes Responsáveis Prof. Dr.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA DISCIPLINA: RCG 0216 - FISIOLOGIA II MÓDULO: FISIOLOGIA DO SISTEMA DIGESTÓRIO Docentes Responsáveis Prof. Dr.
Metabolismo de aminoácidos de proteínas
 Metabolismo de aminoácidos de proteínas Profa Dra Mônica Santos de Freitas 12.09.2012 1 transporte DE AMINOÁCIDOS DENTRO DA CÉLULA O metabolismo de aminoácidos ocorre dentro da célula; A concentração intracelular
Metabolismo de aminoácidos de proteínas Profa Dra Mônica Santos de Freitas 12.09.2012 1 transporte DE AMINOÁCIDOS DENTRO DA CÉLULA O metabolismo de aminoácidos ocorre dentro da célula; A concentração intracelular
Microorganismos no Rúmen: bactérias e fungos Prof. Raul Franzolin Neto FZEA/USP Campus de Pirassununga
 1 Microorganismos no Rúmen: bactérias e fungos Prof. Raul Franzolin Neto FZEA/USP Campus de Pirassununga Importância 2 Biologia e ecologia da população microbiana é muito semelhante entre as espécies de
1 Microorganismos no Rúmen: bactérias e fungos Prof. Raul Franzolin Neto FZEA/USP Campus de Pirassununga Importância 2 Biologia e ecologia da população microbiana é muito semelhante entre as espécies de
Membranas biológicas
 Membranas biológicas Membrana celular Estrutura, organização e função Exemplos da importância no funcionamento de um organismo animal Biofísica Vet. 2019 - FCAV/UNESP Membrana celular (estrutura) Células
Membranas biológicas Membrana celular Estrutura, organização e função Exemplos da importância no funcionamento de um organismo animal Biofísica Vet. 2019 - FCAV/UNESP Membrana celular (estrutura) Células
