Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa Stricto Sensu em Educação Física
|
|
|
- Amanda Klettenberg Lagos
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa Stricto Sensu em Educação Física O EFEITO AGUDO DO EXERCÍCIO AQUÁTICO MODERADO EM FATORES DA COAGULAÇÃO DE PESSOAS COM HEMOFILIA Autor: Luís Gustavo Normanton Beltrame Orientador: Prof. Dr. Daniel Alexandre Boullosa Álvarez Brasília - DF 2013
2 LUIS GUSTAVO NORMANTON BELTRAME O EFEITO AGUDO DO EXERCÍCIO AQUÁTICO MODERADO EM FATORES DA COAGULAÇÃO DE PESSOAS COM HEMOFILIA Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação Stricto Sensu em Educação Física da Universidade Católica de Brasília, como requisito para obtenção do título de Mestre em Educação Física. Orientador: Prof. Dr. Daniel Alexandre Boullosa Álvarez. BRASÍLIA/DF 2013
3 12,5 cm B453e Beltrame, Luis Gustavo Normanton O efeito agudo do exercício aquático moderado em fatores da coagulação de pessoas com hemofilia. / Luis Gustavo Normanton Beltrame f. ; il.: 30 cm 7,5cm Dissertação (mestrado) Universidade Católica de Brasília, 2013 Orientação: Prof. Dr. Daniel Alexandre Boullosa Álvarez. 7,5 cm 1. Exercícios aquáticos. 2. Hemofilia. 3. Pessoas. I. Álvarez, Daniel Alexandre Boullosa, orient. II. Título. CDU 797: Ficha elaborada pela Biblioteca Pós-Graduação da UCB 07/06/2013
4 AGRADECIMENTOS Agradeço a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que me acompanham e iluminam em todos os caminhos trilhados nesta vida e contribuíram para mais este passo. Aos meus pais, José Carlos Beltrame e Maria da Graça Normanton Beltrame, que sempre estiveram presentes na minha formação e nunca deixaram de dar oportunidades para exercitarmos o nosso respeito, humildade, honestidade e perseverança diante dos desafios que a vida nos proporciona. A minha esposa e companheira, Flavia Simões Ferreira Rodrigues que sempre esteve ao meu lado, dividindo todos os momentos do dia-a-dia e que me deu o bem mais precioso da minha vida, a nossa filha Alice. Aos meus irmãos, André Luis Normanton Beltrame e Marília Normanton Beltrame e todos os familiares, que me deram o apoio necessário durante os momentos que mais precisei. Ao meu professor e orientador Dr. Daniel Alexandre Boullosa Álvarez, sempre dedicado, presente, ético, profissional e acima de tudo, companheiro e amigo. Com este professor, levo a certeza de que a ciência nos ensina que ainda há muito para aprendermos e que sem trabalho árduo e bem direcionado não há sucesso. Um agradecimento especial a todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília, que despertaram em mim novos horizontes a luz da ciência: Dr. Luiz Otávio Teles Assunção, Dra. Tânia Mara Vieira Sampaio, Dr. Herbet Simões, Dra Carmem Campbell, Dr. Flavio Pires, Dra Gislaine Ferreira de Melo, Dr. Jonato Prestes, Dr. Claudio Córdova e aos colegas de Mestrado, que sempre contribuíram para o meu desenvolvimento acadêmico. Meus agradecimentos a todos os funcionários e responsáveis pelos laboratórios que passamos horas e horas durante este período intenso e estimulante de pesquisa e aprendizado. Especialmente, ao Vinícius do laboratório de gerontologia e Vicente da piscina, muito obrigado. A toda equipe do Centro Internacional de treinamento em hemofilia, que idealizou o programa de atividade física para pessoas com hemofilia e tornou a atividade física uma
5 importante ferramenta no cuidado ás pessoas com hemofilia. Sem esta equipe não seria possível chegar aonde chegamos. Aos voluntários e familiares, que participaram direta e indiretamente do projeto de pesquisa e sempre acreditaram no meu trabalho, meus sinceros agradecimentos, pois sem vocês não poderíamos realizar tal projeto. Ao programa de bolsas PROSUP/CAPES, pelos recursos disponibilizados durante um período do curso de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação Física da Universidade Católica de Brasília, esperando poder reverter tais recursos em prol uma sociedade melhor. Um especial agradecimento aos professores Claudio Córdova e Ricardo Jacó pelas correções e apontamentos que contribuíram para melhora do texto e do conteúdo sob perspectivas acadêmico-científicas. A Universidade Católica de Brasília por fornecer todo equipamento e estrutura física necessária para o desenvolvimento do projeto. Muito Obrigado a todos!
6 DEDICATÓRIA Este trabalho é dedicado aos profissionais de saúde, aos pais, familiares dos pacientes, e principalmente ás pessoas com hemofilia, que lutam pela melhora da qualidade de vida e promoção da saúde por meio da atividade física. Em especial, dedico este trabalho a médica hematologista Jussara Almeida, pessoa que se entrega integralmente a Hemofilia por mais de 30 anos, com ações baseadas em fundamentação científica e experiência profissional, as quais tem resultado na inserção do profissional de educação física como parte integrante do corpo clínico e ao tratamento de Profilaxia instalado pelo Ministério da Saúde atualmente. Dedico também, ao Sr. Geremias Cavalcante (in memoriam), paciente, amigo e adepto incontestável da atividade física como parte integrante do seu tratamento. Um dos grandes motivadores deste trabalho; e a minha filhinha Alice Rodrigues Beltrame, que nasceu prematura no final deste processo de ensino e aprendizagem; e na sua luta para viver já nos dá a lição de que a vida é feita de muita perseverança e vontade por isso, deve ser aproveitada em cada segundo.
7 RESUMO BELTRAME, Luis Gustavo Normanton. O efeito agudo do exercício aquático moderado em fatores da coagulação de pessoas com hemofilia f. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Católica de Brasília - UCB, Brasília, A hemofilia é um distúrbio da coagulação caracterizado por sangramento prolongado. O efeito do exercício físico sobre a hemostasia em hemofílicos ainda tem sido pouco estudado. Este estudo tem como objetivo analisar o efeito agudo de uma sessão de exercício moderado em meio aquático na hemostasia de pessoas com hemofilia. Os parâmetros hemostáticos analisados foram: fator VIII (FVIII), tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcialmente ativado (TTPA), e fibrinogênio. A amostra foi composta de 10 hemofílicos adultos (22,3 ± 7,3 anos; IMC 21,7 ± 3,27) familiarizados com o treinamento aquático. Durante toda a sessão a frequência cardíaca foi monitorada. Observou-se um possível efeito benéfico no período do exercício no TP (-11,4%; intervalos de confiança -26,1 a 3,3%) e TTPA (-5,2%; -14,8 a 4,4); efeito incerto do FVIII (+42%; 90% -35 a 120%), sem mudanças nos níveis de fibrinogênio; e uma associação significativa entre FC durante o exercício e o TP após exercício (r=0,770; p=0,009). As maiores mudanças foram encontradas em hemofílicos moderados. Uma sessão de exercícios moderados na água pode influenciar positivamente alguns fatores de coagulação em pessoas com hemofilia. Este é um aspecto importante na melhora do quadro clínico. Entretanto, maiores estudos são necessários para verificar a influencia de diferentes intensidades e o exercício crônico sobre o processo hemostático desta população. Palavras chaves: Hemartrose. Hemofilia. Hemostasia. Exercício.
8 ABSTRACT Hemophilia is a bleeding disorder characterized by prolonged bleeding episodes. The effect of the exercise on the coagulation cascade in hemophiliacs has been poorly studied. The goal of this study was to analyze the acute effect of a single session of moderate aquatic exercise on haemostasis in hemophiliacs. The haemostatic parameters selected were: factor VIII (FVIII) levels, protrombine time (PT), activated partial tromboplastine time (APTT), and fibrinogen. The sample was composed by 10 hemophiliac adults (22.3 ± 7.3 yrs; BMI 21.7 ± 3.27) familiarized with aquatic training. Exercise intensity was monitored by means of heart rate (HR). There were possibly beneficial effects of the exercise bout on PT ( 11.4%; confidence intervals 26.1 to 3.3%) and APTT ( 5.2%; 14.8 to 4.4), an unclear effect of FVIII (+42%; 90%: 35 to 120%), with a trivial change on fibrinogen levels; and a significant association between the mean rise in HR during session and PT after exercise (r=0.770; p=0.009). The greater changes were observed in the participants with the moderate level of hemophilia. A short bout of moderate intensity of aquatic exercise may have a positive influence on some coagulatory factors in adults with haemophilia. This may be an important issue in a clinical setting. Further studies are warranted for testing the influence of different exercise intensities and regular exercise on haemostasis. Key Words: Hemarthrosis. Haemostasis. Hemophilia. Exercise.
9 LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 1 Estágios de desenvolvimento da capacidade reprodutora de pessoas com hemofilia e portadoras. Gerações - Sec. XIX - 10%; %; %). Fonte: Kasper e Buzin (2007)...18 Figura 2 Cascata de Coagulação - Cininogênio de alto peso molecular (CAPM), précalicreína (PK), Inibidor do Fator Tissular (IVFT). Conversão e ativação de fatores (seta preta), ação de inibidores (seta vermelha), reações catalisadas por fatores ativados (seta azul), funções da trombina (seta cinza). Fonte: 30 Figura 3 Representação esquemática dos complexos pró-coagulantes. O início da coagulação se faz mediante ligação do fator VIIa ao fator tecidual (FT), com subsequente ativação dos fatores IX e X. O complexo fator IXa/fator VIIIa ativa o fator X com eficiência ainda maior, e o fator Xa forma o complexo protombinase com o fator Va, convertendo o fator II (protrombina) em fator IIa (trombina). A superfície de membrana celular em que as reações ocorrem também se encontra representada. Fonte: Franco (2001) Gráfico 1 Gráfico baseado nos dados da Federação Mundial de Hemofilia, 2011 (World Federation of Hemophilia. Report on the Annual Global Survey 2010, publicado em 2011)... 19
10 LISTA DE ABREVIATURAS A - Área de superfície projetada a - Ativado (ex. fator VIIa) bpm - Batimentos por minuto Ca 2+ - Íons de cálcio Cd - Coeficiente de arrasto DMO - Densidade Mineral Óssea Fator II - Protrombina FC - Frequência Cardíaca FT - Fator Tecidual FVIII - Fator oito da coagulação FvW - Fator de von Willebrand HCV - Vírus da Hepatite C HIC - Hemorragias Intracranianas HIV/SIDA - Vírus da Imunodeficiência Humana CAPM - Cininogênio de Alto Peso Molecular IIa - Trombina IMC - Índice de Massa Corporal ON - Óxido Nítrico p - Densidade do fluido PCH - Pessoa(s) com hemofilia PK - Pré-calicreina R - Resistência de avanço IVFT - Inibidores da Via de Fator Tecidual TP - Tempo de Protrombina TTPA - Tempo de Tromboplastina Parcialmente Ativado
11 UI - Unidades Internacionais v - Velocidade de movimento VO 2 - Consumo de oxigênio
12 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO JUSTIFICATIVA OBJETIVOS Objetivo Geral Objetivos Específicos REVISÃO DE LITERATURA CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE HEMOFILIA Prevalência Manifestação e sítios de sangramento Tratamento da hemofilia ATIVIDADES FÍSICAS PARA PESSOAS COM HEMOFILIA (PCH) EFEITOS DO EXERCÍCIO SOBRE A HEMOSTASIA Mecanismo de ativação da cascata de coagulação O efeito do exercício sobre o sistema hemostático Efeitos do treinamento aquático MATERIAIS E MÉTODOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS Participantes Procedimentos Análise estatística RESULTADOS DISCUSSÃO CONCLUSÃO PERSPECTIVAS FUTURAS OUTRAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA PCH TREINAMENTO AQUÁTICO: DOSE RESPOSTA VS EFEITO TERAPÊUTICO NÃO FARMACOLÓGICO ESTUDO DO EFEITO CRÔNICO DO TREINAMENTO AQUÁTICO APLICAÇÃO PRÁTICA REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS... 50
13 ALBERTON CL, CADORE EL, PINTO SS, et al. Cardiorespiratory, neuromuscular and kinematic responses to stationary running performed in water and on dry land. European Journal of Applied Physiology DOI / s , QUEROL F, PÉREZ-ALENDA S, GALLACH JE, et al. Hemofilia: ejercicio y deporte. Apunts Medicina de l'esport 2011; 46(169): APÊNDICE APÊNDICE A Artigo aceito para publicação na Revista Brasileira de Cienantropometria e Desempenho Humano APÊNDICE B Termo de Consentimento Livre e Esclarecido APENDICE C - Resumo expandido premiado no 2º ConCREF APÊNDICE D- Resumo publicado - International Journal of Exercise Science APÊNDICE E Comunicações em congresso APÊNCICE F Artigo aceito para publicação Journal of Strength and Conditioning Research (JSCR) ANEXOS ANEXO A Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) - Versão Curta ANEXO B OFÍCIO CEP/HFA N. 016/
14
15 14 1. INTRODUÇÃO As hemofilias são as coagulopatias mais preocupantes e podem ser dividida em três tipos: Hemofilia A, Hemofilia B e Hemofilia C. A Hemofilia C ou Síndrome de Rosenthal é uma doença caracterizada pela deficiência do fator XI, podendo acometer homens e mulheres devido a sua característica autossômica recessiva não ligada ao cromossomo X e com manifestações clínicas de sangramentos que diferem das demais hemofilias (MÓDOLO et al., 2010). Já as hemofilias A e B são doenças hereditárias, podendo ocorrer casos de mutação genética sem histórico familiar. Atingem, em sua maioria, pessoas do sexo masculino enquanto as mães são portadoras da doença e não manifestam os sintomas. Tal enfermidade está associada à deficiência de proteína de coagulação sanguínea (fator). A hemofilia A (deficiência de fator VIII) e hemofilia B (deficiência de fator IX) são caracterizadas por episódios de sangramento prolongado em diversos locais do corpo, principalmente nas articulações (ANDERSON et al., 2000). Ambas apresentam manifestações clínicas semelhantes e serão discutidas com mais ênfase ao longo desta dissertação, pois este é o foco principal do estudo que norteia este trabalho. As Hemartroses (sangramento articular), sinovites (inflamação da sinóvia) e manchas roxas são alguns dos problemas mais frequentes em pacientes com hemofilia A e B. Estas complicações são geralmente acompanhadas de atrofia muscular em volta das articulações, possivelmente pelo menor uso da musculatura (TIKTINSKY et. al., 2002). Este quadro clínico envolve um processo degenerativo da articulação, conhecido como artropatia hemofílica. As hemorragias intra-articulares representam em torno de 65% a 80% dos episódios de sangramento (FERNÁNDEZ e BATISTELLA, 1992). O círculo vicioso ocasionado pelo aumento do aporte sanguíneo, inflamação da sinóvia, neovascularização e danos na cápsula articular tem sido a causa do aumento da dor, instabilidade articular e deficiência física em pessoas com hemofilia (PCH). Estes fatores refletem-se em baixos níveis de atividade física reportados nesta população associados a um alto índice de lesões e sangramentos (GONZALEZ et al., 2007; QUEROL et al., 2004; STEPHENSEN et al., 2004; BEETON et al., 1998), e dificuldades para a realização de atividades comuns na vida diária (VAN GENDEREN et al., 2002; MILLER et al., 1997). As coagulopatias são caracterizadas por alterações quantitativas ou qualitativas no mecanismo de coagulação sanguínea que estão relacionadas à deficiência de alguns dos
16 15 fatores de coagulação. As coagulopatias mais graves são as hemofilias A e B, as quais são caracterizadas por uma desordem hemorrágica associada ao mau funcionamento do sistema hemostático. Estas enfermidades são hereditárias, recessivas e estão relacionadas à mutação genética no braço longo do cromossomo X (KASPER e BUZIN, 2007; MANO, 2005). De acordo com Pio et al., (2009), o gene que codifica o FVIII esta localizado no braço longo do cromossomo X, na porção Xq28 e compreende pares de base distribuídos entre 26 éxons e 25 íntrons que variam de 69 a pares de base e de 0,2 a 32,4 kilobases, respectivamente. Além disso, este gene apresenta um baixo índice de polimorfismo e são reportadas também, mutações genéticas associadas ao FVIII com participação de outros genes, podendo resultar em deficiências combinadas dos fatores da coagulação. Segundo o mesmo autor, alguns trabalhos demonstram ainda a relação entre a variação quanto ao padrão de manifestações hemorrágicas, podendo estar relacionado a variabilidade fenotípica associada a farmacocinética do medicamento, e as mutações: no gene da protrombina, no gene da metilenotetrahidrofolato redutase, deficiência da proteína C e proteína S ou co-herança de polimorfismo que afetam o sistema de coagulação. Estima-se atualmente que o número de pessoas diagnosticadas com hemofilia no mundo é aproximadamente (SRIVASTAVA et al., 2012; EVATT, 2005). Levandose em consideração os dois tipos de hemofilia e todos os graus de severidade da enfermidade, há uma ocorrência de um para cada nascimentos do sexo masculino (KASPER e BUZIN, 2007). A ação de atenção a pacientes portadores de coagulopatias representa 73% da programação orçamentária para o quadriênio previsto pelo Tribunal de Contas da União; dos quais, 85% dos recursos empregados para o tratamento são destinados para o compra de medicamentos (SANTOS et al., 2007). O tratamento de PCH é realizado por meio de terapia de reposição de fator de forma intravenosa, levando-se em consideração o nível sérico de fator presente no sangue e as manifestações de sangramento. A terapia medicamentosa é apenas um dos componentes do tratamento. Outro importante componente associado à melhora da saúde e qualidade de vida da PCH tem sido o efeito da atividade física no tratamento e manutenção das condições biopsicossociais (QUEROL et al., 2011). Entre os múltiplos benefícios da atividade física, Vallejo et al., (2010) reportam a melhora do desempenho motor e parâmetros ventilatórios frente ao treinamento aquático com PCH adultas. O meio aquático tem sido recomendado frequentemente como ambiente eficaz de reabilitação de sangramentos agudos (FRANCO et
17 16 al., 2006; CALEFI et al., 2006), bem como na melhora das condições músculo esqueléticas (SRIVASTAVA et al., 2012; TIKTINSKY et al., 2009; WEIGEL e CARLSON, 1975) e capacidade cardiorrespiratória associado a melhor desempenho motor (VALLEJO et al., 2010). Além de benefícios músculo esqueléticos, alguns estudos reportam a possibilidade da ativação da cascata de coagulação associada ao aumento da intensidade do exercício (LIPPI e MAFFULLI, 2009; RIBEIRO e OLIVEIRA, 2005; EL-SAYED et al., 2000). Entretanto, são poucos estudos que verificaram tais efeitos em PCH (DEN UIJL et al., 2011; KOCH et al., 1984), sugerindo desta forma o preenchimento de uma lacuna ainda pouco estudada no tratamento de PCH que consiste na determinação da dose resposta do exercício físico associada a melhoras no processo de coagulação. 1.1 JUSTIFICATIVA Estudos diversos relacionam o exercício físico com alterações significativas na hemostasia tais como alterações na cascata proteolítica (DUFAUX et al., 1991), níveis aumentados de coaguloabilidade (SMITH, 2003; LIPPI e MAFFULLI, 2009) e a alteração de fatores complementares da coagulação em situações de estresse orgânico, como o exercício físico (ISRAEL e ISRAEL, 2002). Há indicações que os efeitos de exercícios vigorosos podem proporcionar mecanismos fisiológicos suficientes para ativação destes componentes sanguíneos (SMITH, 2003). A aplicação de protocolos diferentes tem demonstrado aumentos significativos no mecanismo de ativação da coagulação induzido pelo exercício, inclusive em pessoas sedentárias (EL- SAYED et al., 2000; VAN DEN BURG. et al., 2000). Algumas alterações podem estar relacionadas com a melhora transitória do processo de coagulação em hemofílicos. Entretanto, esta hipótese ainda tem sido pouco estudada (KOCH et al., 1984; DEN UIJL et al., 2011). Desta forma, o presente estudo tem como propósito verificar os efeitos dos exercícios físicos na água sobre os parâmetros de coagulação de PCH, já que este ambiente tem sido amplamente recomendado e pouco estudado (VALLEJO et al., 2010).
18 OBJETIVOS Objetivo Geral Analisar o efeito agudo do treinamento aquático sobre a hemostasia de pessoas com hemofilia (PCH) Objetivos Específicos Verificar o efeito agudo do exercício físico na água no processo de coagulação em pessoas com hemofilia por meio de mensuração dos seguintes parâmetros: FVIII, TTPA, TP e Fibrinogênio. Comparar a dose-resposta do treinamento aquático sobre a hemostasia de PCH de diferentes graus de severidade e tipos de hemofilia.
19 18 2. REVISÃO DE LITERATURA 2.1 CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE HEMOFILIA Prevalência As hemofilias A e B atingem um a cada nascimentos do sexo masculino, considerando todos os graus de severidade da doença (KASPER e BUZIN, 2007). O número de hemofílicos A (deficiência do fator VIII) é quatro vezes maior que o de hemofílicos B (deficiência do fator IX). De acordo com o nível sérico de fator de coagulação 35% dos pacientes são severos (< 0,01 UI ml -1 ), 15% dos pacientes são moderados (0,01-0,05 UI ml - 1 ) e 50% são hemofílicos leves (0,05 0,40 UI ml -1 ), conforme reportado por Berntorp e Shapiro (2012). A hemofilia é uma enfermidade hereditária, recessiva e ligada ao sexo. Geralmente afeta os indivíduos do sexo masculino devido a alteração genética encontrada no braço longo do cromossomo X (porção Xq28), estimando-se cerca de um terço de mutações genéticas sem histórico familiar antecedente (SRIVASTAVA et al., 2012). Entretanto, estimase um crescimento significativo de PCH para as gerações futuras, pois já pode ser observada uma crescente capacidade de reprodutividade nesta população, com um aumento de 10% no século XIX para 80% em 2007 (KASPER e BUZIN, 2007). Tal fato, aponta para um maior número de portadoras e possível perpetuação do gene mutante que predispõe a hemofilia (ver Figura 1). Figura 1. Estágios de desenvolvimento da capacidade reprodutora de pessoas com hemofilia e portadoras. Gerações - Sec. XIX - 10%; %; %. Fonte: Kasper e Buzin, (2007). De acordo com a Federação Mundial de Hemofilia o Brasil tem hemofílicos, dos quais são hemofílicos A e são hemofílicos B. (WFH, 2011). Entre hemofílicos A nascidos no Brasil e distribuídos por faixa etária, 376 indivíduos estão entre 0-4 anos de idade, entre 5-13 anos, entre anos, entre anos e com mais de 45 anos de idade (WFH, 2011) tal como demonstrado no gráfico 1. Na
20 19 região centro-oeste, estima-se 530 hemofílicos: 201 no Distrito Federal, região onde foi realizado o presente estudo; e 220 no estado de Goiás (BARCA et al., 2010). Este é um dos fatores que justifica o número reduzido de voluntários na presente pesquisa. Apesar do número não tão expressivo de pessoas acometidas por hemofilia, esta doença é considerada uma das coagulopatias mais graves devido à manifestação de aspectos clínicos diversos associados aos sangramentos prolongados tais como: hematomas musculares; hemartroses, sangramentos que ocorrem nas articulações e podem ocasionar deterioração óssea da cápsula articular; hematúria, presença de sangue na urina; sangramentos gastrointestinais; sangramentos intracranianos entre outros. Gráfico 1. Gráfico baseado nos dados da Federação Mundial de Hemofilia, 2011 (World Federation of Hemophilia. Report on the Annual Global Survey 2010, publicado em 2011) Manifestação e sítios de sangramento Esta enfermidade é caracterizada de acordo com o grau de severidade. Hemofílicos leves apresentam 5-40 UI dl -1 (0,05 0,40 UI ml -1 ) da proteína fator VIII ou IX na corrente sanguínea, sangramentos em situações de trauma severo, quadro cirúrgico e raramente sangramentos espontâneos. Hemofílicos moderados apresentam de 1-5 UI dl -1 (0,01-0,05 UI ml -1 ), sangramentos espontâneos ocasionais e sangramentos decorrentes de traumas menores ou cirurgias. Hemofílicos severos ou graves apresentam uma quantidade menor que 1 UI dl -1 (<0,01 UI ml -1 ) e apresentam uma predisposição a sangramentos espontâneos, predominantemente nas articulações e músculos (SRIVASTAVA et al., 2012). Os episódios de sangramento podem ser considerados graves (articulares, musculares, na boca, na gengiva, no nariz, hematúria) e de alta gravidade ou risco de morte (no sistema
21 20 nervoso central, gastrointestinal, no pescoço, na garganta e trauma severo) (SRIVASTAVA et al., 2012). Os sangramentos articulares (hemartroses) são os tipos de sangramento de maior incidência. Os sítios de sangramento mais acometidos são os joelhos, cotovelos e tornozelos, com uma prevalência de 45%, 30% e 15% respectivamente (WFH, 2005). Há uma frequência de 70-80% de hemartroses, 10-20% de sangramentos musculares, 5-10% de outros sangramentos e menor que 5% de sangramentos no sistema nervoso central (SRIVASTAVA et al., 2012). Estes sangramentos podem levar a diversas complicações crônicas tais como: a) complicações músculo esqueléticas - sinovites, hemartroses, artropatia hemofílica crônica, contraturas, formação de pseudotumor e fraturas; b) inibidores de fator VIII e IX - anticorpos produzidos para inibir o efeito desejado do medicamento; c) reações alérgicas e infecções relacionadas à transfusão - Vírus da Imunodeficiência Humana Adquirida (HIV/SIDA), Hepatite B, Hepatite C, Hepatite A, Parvovirus B19, outros (SRIVASTAVA et al., 2012). Os sangramentos mais comumente encontrados em PCH são as hemartroses, acometendo grande parte dos hemofílicos severos e levando a quadros de degeneração óssea crônica conhecida como a artropatia hemofílica ((RODRIGUEZ-MERCHAN, 2010; MULVANY, et al., 2010). Os primeiros sangramentos ocorrem na primeira infância, nos 12 ou 24 primeiros meses de vida (MULVANY, et al., 2010). Os sintomas mais comuns de um sangramento são: dor, inchaço, limitação articular (MARVIN, 1997), calor local e hematoma (RODRIGUEZ-MERCHAN, 2012). As articulações com três ou mais sangramentos em um período de três meses são caracterizadas como articulações alvo (GROEN, 2011). Esta característica clínica representa uma importante informação para o tratamento, pois a hemartrose tem um alto poder de degradação articular. Entretanto, o mecanismo exato pelo qual o sangue provoca a inflamação sinovial e a destruição da cartilagem e osso ainda é desconhecido (RODRIGUEZ- MERCHAN, 2012). Contudo, sabe-se que os sangramentos de repetição provocam, além da inflamação da sinóvia e dano da cartilagem, outros dois aspectos altamente comprometedores da função articular que sugerem tal degradação óssea em PCH: a) a hipertrofia da epífise óssea em fase de crescimento, que cresce de forma assimétrica, levando a uma deformidade valga na articulação envolvida; b) e a dor, que provoca um padrão flexor da articulação, podendo ser reversível a primeiro momento e posteriormente irreversível (RODRIGUEZ- MERCHAN, 2012).
22 21 Além dos sangramentos articulares, há sangramentos que podem ocorrer diretamente nos músculos. Os sangramentos musculares mais comuns são sangramentos de iliopsoas, quadríceps, gastrocnêmico/solear e flexores do braço, podendo levar a quadros de síndrome compartimental, comprometimento neurovascular, contraturas, fibroses, hematomas e pseudotumores (MULVANY et al., 2010). Dentre as maiores preocupações para tais sangramentos estão: sangramento no músculo iliopsoas - risco de paralisia do nervo femoral; sangramento do músculo gastrocnêmico - risco de deformidade (exemplo: pé equino ou contratura equina) ocasionada por lesão do nervo tibial posterior e contratura do músculo; e sangramento dos flexores do braço - risco de contratura isquêmica de Volkmann (SRIVASTAVA et al., 2012). A análise de frequência de sangramentos em diferentes tipos de tratamento em hemofílicos com idade entre um e cinco anos demonstrou uma menor incidência de sangramentos articulares do que sangramentos em outros sítios (MANCO JOHNSON et al., 2007). Entre o sangramento de maior severidade, com altas taxas de mortalidade e disfunções neurológicas estão às hemorragias intracranianas (HIC) (ZANON et al., 2012). Lesões póstraumáticas na cabeça e/ou fortes dores de cabeça são sintomas comuns de uma HIC que devem ser tratadas antes de serem avaliadas, pois representam eminente risco de morte (SRIVASTAVA et al., 2012). Assim, os resultados de sangramentos de repetição para PCH nas fases da infância e adolescência sem o adequado tratamento podem repercutir em alterações musculoesqueléticas, dor e limitação articular, encontradas comumente na fase adulta Tratamento da hemofilia Estudos mais recentes reportam a melhora do tratamento associado à evolução da engenharia genética e acesso ao medicamento como pontos relevantes na melhora do quadro clínico desta população (SRIVASTAVA et al., 2012; BERNTORP e SHAPIRO, 2012; MANNUCI, 2012; MANCO JOHNSON et al., 2007). O tratamento de PCH é realizado por meio de reposição precoce do fator de coagulação através da infusão intravenosa. O principal objetivo do tratamento de pessoas com hemofilia é prevenir o sangramento, principalmente os sangramentos espontâneos, mantendo os níveis desejados de fator de coagulação presente no sangue. Desta forma, evidências científicas têm preconizado o tratamento profilático (SRIVASTAVA et al., 2012; BERNTORP e SHAPIRO 2012; MANCO JOHNSON et al.,
23 ) que consiste na aplicação do medicamento de forma preventiva, antevendo possíveis episódios hemorrágicos. Embora existam divergências de protocolos em relação a quando começar a profilaxia, Berntorp e Shapiro (2012) relatam que em estudo comparativo realizado com dois modelos de tratamento, o sueco e o holandês, que iniciam a profilaxia aos dois e cinco anos de idade respectivamente, verificou-se menor número de hemartroses por ano no modelo sueco, o qual inicia o tratamento mais precocemente que o holandês. Estes achados, reforçam ainda mais a importância de se iniciar o tratamento profilático na primeira infância como fator primordial para saúde e qualidade de vida de PCH. De acordo com Berntorp e Shapiro (2012), o mecanismo causador da hemofilia foi reconhecido na década de 1950, entretanto até a década de 1960, onde o plasma e o crioprecipitado eram os únicos produtos disponíveis para o tratamento da hemofilia A (MANNUCI, 2012), a reposição de concentrados de fator de coagulação ainda não estava disponível a população em geral. Na década de 1970 os concentrados não estavam suficientemente prontos e refinados para a autoaplicação. Já na década de 1980, houveram registros elevados de contaminações virais como a hepatite e HIV/SIDA (MANNUCCI, 2011), aumentando os níveis de morbidade nesta população. Visto a necessidade e efetividade do tratamento e autoadministração do medicamento, também conhecido como tratamento domiciliar, às duas últimas décadas foram marcadas por um crescente desenvolvimento dos fármacos e meios de tratamento mais eficazes. Atualmente estima-se que a expectativa de vida de uma PCH, que tem acesso ao medicamento e que façam o tratamento adequado, esteja próximo ao da população em geral. Os quadros hemorrágicos são tratados com reposição do fator de coagulação deficiente por via intravenosa, com a finalidade de controle hemostático e interrupção do sangramento, podendo ser caracterizado em duas formas: profilaxia - tratamento padrão ouro para hemofílicos do tipo severo ou grave cuja principal função é manter os níveis de fator presente na corrente sanguínea de forma preventiva, evitando sangramentos espontâneos ou por trauma; e tratamento por demanda - cuja função é sanar o sangramento depois de já ter ocorrido, ocasionando danos articulares e limitações funcionais, principalmente em hemofílicos com a forma mais grave da doença. Apesar de evidências científicas terem frequentemente demonstrado a efetiva resposta do tratamento profilático nestes casos (SRIVASTAVA et al., 2012; BERNTORP e SHAPIRO, 2012; MANNUCI, 2012; MANCO
24 23 JOHNSON et al., 2007), há evidências que 80-85% da população mundial de hemofílicos ainda recebem o tratamento por demanda, conforme descrito acima, ou não recebem tratamento algum (RODRIGUEZ-MERCHAN, 2010). Levando-se em consideração todas as fases do tratamento, Srivastava et al., (2012), em nova versão do protocolo mundial de tratamento da PCH, definem os seguintes protocolos: tratamento por demanda, profilaxia primária, profilaxia secundária, profilaxia terciária e profilaxia intermitente. a) Tratamento por demanda - Tratamento dado no momento em que ocorre uma evidência clínica de sangramento comprovada; b) Profilaxia primária - Reposição regular e contínua (mínimo de 45 semanas ao ano) do fator de coagulação. Iniciado na ausência de lesão osteocondral observada por meio de exames físicos e/ou estudos de imagem, antes da segunda evidência clínica de sangramento em grandes articulações (joelho, tornozelo, cotovelo, quadril e ombro) e antes de completar três anos de idade; c) Profilaxia secundária - Reposição regular e contínua (mínimo de 45 semanas ao ano) do fator de coagulação. Inicia-se depois de dois ou mais sangramentos articulares e antes de iniciar um dano articular documentado por exames físicos e/ou de imagem; d) Profilaxia terciária - O tratamento de reposição de fator começa no início de um quadro patológico de dano articular documentado em exames físicos e radiográficos da articulação afetada; e) Profilaxia intermitente - Tratamento dado para prevenir sangramentos por períodos que não excedem 45 semanas durante um ano. Assim, de maneira geral, o tratamento de uma PCH pode ser dividido em: tratamento sob demanda, cuja aplicação do fator de coagulação ocorre após um episódio de sangramento; e o tratamento de profilaxia, cuja aplicação ocorre de forma preventiva de 2 a 3 vezes por semana. O tipo de tratamento ofertado a esta população tem repercutido na prática de atividades físicas e desenvolvimento psicossocial desta população. Pacientes tratados sob regime de demanda não são fisicamente ativos como os demais, podendo desenvolver comportamentos sedentários e consequentemente sangramento articular crônico (KHAWAJI et al., 2011). Devido ao medo de sangramentos articulares e musculares, pais de crianças com hemofilia evitam que as mesmas participem de atividades físicas e exercícios (LLINA S et
25 24 al., 2010; NAZZARO et al., 2006). Além de tais comportamentos observados entre pessoas com hemofilia e seus familiares, hemofílicos tratados sob regime de demanda reportam um quadro de incapacidade funcional e dor associados a um comportamento sedentário (ROYAL et al., 2002) observados desde a infância, demonstrando assim maior efetividade do tratamento profilático sobre o tratamento em demanda (MANCO JOHNSON et al., 2007). Não se sabe ao certo os efeitos da atividade física sobre o tratamento profilático de pessoas com hemofilia. Apesar de reportados efeitos benéficos sobre melhora das condições musculoesqueléticas associadas e diminuição de sangramentos (VON MACKENSEN et al., 2012; CZEPA D et al. 2012; TIKTINSKY et.al., 2002), há uma lacuna nos estudos associando modelos de treinamento com os mecanismos farmacocinéticos dos concentrados de fatores de coagulação para tratamento individualizado (COLLINS, 2012). Estudo recente (DEN UIJL et al., 2011) demonstra a ativação do FVIII em hemofílicos leves e moderados frente a atividade de esforço extenuante, mas poucos estudos tem mencionado a dose resposta do exercício sobre os marcadores de coagulação e discutido novos modelos de treinamento para esta população tal como sugerido por Souza et al., (2012). 2.2 ATIVIDADES FÍSICAS PARA PESSOAS COM HEMOFILIA (PCH) Os primeiros estudos sobre qualidade de vida em PCH surgiram em 1990 com a utilização de questionários genéricos, tais como SF 36 e EQ-5D (VON MACKENSEN, 2007). Em 2007 já podemos encontrar trabalhos científicos com questionários mais específicos para verificar a qualidade de vida de PCH (Haemo-QoL). A atividade física sempre foi um quesito importante abordado nestes instrumentos. Desta forma, estudo recente (CZEPA et al., 2012) procura a validação de tal instrumento (HEP-Test-Q) associado a testes de campo, tais como caminhada de 12 minutos, para identificação da aptidão física em hemofílicos e correlação com questionários específicos, visto que o tratamento atual e o acesso ao tratamento estão levando as PCH a um aumento significativo na expectativa de vida. O tratamento da hemofilia consiste na prevenção precoce e reabilitação de sangramento. Tal como o avanço do tratamento, a prática regular de atividade física para as PCH tem sido um grande desafio. A atividade física para esta população foi extremamente proibida devido à insegurança em relação aos quadros hemorrágicos que a mesma poderia causar. A partir da década de 1970, desde a descoberta da possibilidade de reposição do
26 25 concentrado de fator, evidências científicas destacam a atividade física como recurso terapêutico na melhora de aspectos fisiológicos e psicológicos das PCH. Desde então, a atividade física tem sido vista como componente necessário no tratamento e manutenção da capacidade funcional por meio de exercícios físicos e inclusão social (DE LA CORTE- RODRIGUEZ e RODRIGUEZ-MERCHAN, 2012; VALLEJO et al., 2010; WEIGEL e CARLSON, 1975). Há evidências científicas que reportam a diminuição de sangramentos devido à melhora da condição musculoesquelética em praticantes de atividade física regular (CZEPA et al., 2012; TIKTINSKY et al., 2002). Esta prerrogativa se mostra de grande importância no desenvolvimento de novas concepções para a aplicabilidade de novos modelos de treinamento para esta população. Sugere-se ainda a possibilidade do tratamento ajustar-se ao padrão de sangramento, condição musculoesquelética e ao tipo de atividade física a ser praticado por cada indivíduo, com possibilidades de aumento da eficácia do medicamento por meio de mensuração farmacocinética da atividade do fator de coagulação nestas condições (COLLINS, 2012). Em primeiro momento, evidências científicas têm demonstrado que o papel da atividade física para as PCH está voltado para a prevenção de lesões e diminuição da deterioração da cápsula articular, levando esta população à diminuição de morbidade e mortalidade (DE LA CORTE-RODRIGUEZ e RODRIGUEZ-MERCHAN, 2012). Tal fato tem levado a maiores recomendações para a prática de atividades físicas regulares entres as PCH. Entretanto, evidências científicas também tem demonstrado grande preocupação com fatores de risco associados ao sedentarismo e ao envelhecimento como: obesidade e sobrepeso; (MONAHAN et al., 2011) osteoporose (GHOSH e SHETTY, 2012; FALK et al., 2005) e qualidade de vida das PCH (CZEPA et al., 2012; VON MACKENSEN, 2007). Além de uma grande preocupação com o envelhecimento de pessoas com hemofilia, sugerindo o treinamento aeróbio (VALLEJO et al., 2010), exercício de força (BEYER et al., 2010), equilíbrio e flexibilidade (FORSYTH et al., 2011) como aspectos importantes a serem trabalhado nesta fase há também, uma grande preocupação na implementação de atividades esportivas e como conduzi-las na infância e adolescência de PCH (GROEN et al., 2010; MULDER et al., 2004). Nesta fase é reportado maior participação de crianças e adolescentes em esportes escolares (VAN DER NET et al., 2006) e em esportes nos períodos de lazer (FROMME et al., 2007).
27 26 Observa-se frequentemente a relação do exercício físico e o esporte como modelos de atividades físicas bem aceitas na reabilitação e tratamento das PCH. Apesar de diversos estudos terem demonstrado uma forte associação entre a atividade física de uma forma geral e benefícios relacionados à qualidade de vida tais como, inclusão social (WEIGEL e CARLSON, 1975, BUZZARD et al., 2007), melhora da autoestima (VON MACKENSEN, 2007), redução de comorbidades (GHOSH e SHETTY, 2012; SOUZA et al., 2012; DE MOERLOOSE et al., 2012), não são encontrados registros que abordem propriamente a importância da dose resposta do exercício no tratamento das PCH. A relação tratamento e atividade física é frequentemente associada à reposição de concentrado de fatores de coagulação no sangue de forma preventiva e precoce (tratamento profilático), principalmente em hemofílicos graves (BUZZARD et al., 2007), além de orientações para diminuição de lesão durante a prática de esportes (PETRINI et al., 2009). Embora pesquisadores mais recentes reportem que em condições hemostáticas adequadas as PCH podem manter uma boa condição física, com impactos relevantes na diminuição de comorbidades e mortalidade (DE LA CORTE-RODRIGUEZ et al., 2012), são poucos os estudos que sugerem alguma alteração no mecanismo de coagulação de acordo com a intensidade do exercício (DEN UIJL et al., 2011; KOCH et al., 1984). Entre os fatores de maior preocupação nos estudos que abordam a qualidade de vida relacionada à atividade física para as PCH, a saúde articular parece representar uma variável preocupante, a qual determina de forma clara os menores níveis de aptidão física entre indivíduos hemofílicos (CZEPA et al., 2012; LUTEREK et al., 2009; DOUMA-VAN RIET et al., 2009; GERSTNER et al., 2009; KHAWAJI et al., 2009; VAN DER NET et al., 2006). Desta forma, a manutenção de condições hemostáticas ideais (profilaxia primária) ainda é o fator decisivo para a prática de atividades físicas entre as PCH (DE LA CORTE- RODRIGUEZ et al., 2012; KHAWAJI et al., 2010). De acordo com Buxbaum et al., (2010), que mensuraram os níveis de atividade física diária por meio de acelerômetros e compararam hemofílicos e indivíduos sem hemofilia, foi observado que as PCH podem ser tão ativas quanto pessoas sem qualquer distúrbio hemorrágico. Entretanto, quando se aborda o tema esporte entre crianças com hemofilia, ainda há uma forte preocupação na escolha do esporte ideal. É importante verificar a habilidade da criança com o esporte escolhido e sugerir alternativas plausíveis com a finalidade de prevenir lesões, pois a prevenção de lesões não depende somente do uso de concentrado de fator
28 27 (MULDER et al., 2004). Além do tratamento farmacológico adequado há outros fatores que envolvem a prática de esportes. A atividade física desempenha um importante papel na aquisição de melhor condicionamento físico, força, resistência aeróbia, coordenação motora e aduz ainda aspectos favoráveis a inclusão social, melhora da autoestima, entre outros aspectos psicossociais (DOUMA-VAN RIET et al., 2009; VAN DER NET et al., 2006; MULDER et al., 2004; VON MACKENSEN, 2007). Apesar de alguns estudos reportarem a efetiva resposta da prática de esportes entre PCH como aspectos relevantes na melhora das condições musculoesqueléticas (GOMIS et al., 2009), bem como melhora da mobilidade articular, força, resistência e coordenação motora (CZEPA et al., 2012), há uma grande preocupação em relação ao aumento da proporção de sangramentos em hemofílicos submetidos a exercícios vigorosos (TIKTINSKY et al., 2009). Todavia, não há nenhuma associação linear entre a força e perfil de sangramento (TIKTINSKY et al., 2009). Desta forma, entre crianças e adolescentes com hemofilia é possível observar a maior tendência à participação de atividades esportivas com um maior nível de preocupação relacionado ao possível aumento de lesões ocasionadas principalmente por trauma, apontando como esporte mais recomendado a natação (TIKTINSKY et al., 2009; WEIGEL e CARLSON, 1975). Apesar de termos a natação como um dos esportes mais recomendados para as PCH, principalmente adultos com limitações articulares, há que se aproveitar o ambiente aquático para outras atividades tais como o treinamento aquático. Apesar dos benefícios advindos do esporte e a ocorrência de 71% de hemofílicos holandeses severos tratados em regime de profilaxia praticarem de um ou mais esportes em seu tempo de lazer (TIKTINSKY et al., 2009), é possível observar que há uma grande preocupação com os adultos hemofílicos em relação a comorbidades relacionadas ao envelhecimento e sedentarismo (KHAWAJI et al., 2010; VALLEJO et al., 2010; GERSTNER et al., 2009). Entre as atividades físicas mais comumente recomendadas para hemofílicos adultos estão: exercícios físicos para melhora da força, flexibilidade e equilíbrio (CZEPA et al., 2012; HILL et al., 2010), preferencialmente em ambiente aquático (VALLEJO et al., 2010). Entretanto, há a sugestão de outros métodos de treinamento para melhora da condição clínica das PCH com limitação articular e dor. Os programas de exercícios individualizados em casa para PCH demonstraram pouca eficácia (HILL et al., 2010). Em caso de artropatia hemofílica avançada o uso de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) é reportado
29 28 como sugestão para diminuição da dor, melhora da mobilidade articular e função motora (LUTEREK et al., 2009). Outra preocupação observada em hemofílicos adultos é a diminuição da massa óssea, que está associada aos longos períodos de imobilização que podem acarretar em osteopenia e osteoporose. As variáveis associadas a este quadro em PCH são: menores níveis de vitamina D, baixo IMC, menores níveis de atividade física; amplitude articular reduzida; histórico de inibidor, HIV/SIDA, vírus da hepatite C (HCV), e idade (GERSTNER et al., 2009). Tal fato reforça mais uma vez a importância da profilaxia precoce em hemofílicos para aperfeiçoar a realização de uma capacidade de tensão mecânica favorável ao desenvolvimento da massa óssea já na infância e adolescência (KHAWAJI et al., 2010). Nos casos de artropatia hemofílica ou limitação articular as atividades aquáticas têm sido frequentemente recomendadas, entretanto pouco estudadas, mas demonstram melhoras expressivas dos parâmetros cardiorrespiratórios e desempenho motor quando comparados antes e após 27 sessões com duração de 1h e frequência semanal de três vezes (VALLEJO et al., 2010). Desta forma, a maior parte dos estudos analisados tem reportado os efeitos da atividade física sobre a melhora da qualidade de vida em PCH levando-se em consideração benefícios em relação à capacidade aeróbia, aumento de força, equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora. Tais benefícios têm sido mais comumente reportados de acordo com os avanços do tratamento, principalmente em hemofílicos severos, os quais comumente apresentam um número maior de possibilidades de sangramentos espontâneos. Entre os sangramentos de maior preocupação estão os sangramentos articulares, os quais têm se apresentado como a maior causa de incapacidade física e funcional, diminuindo os níveis de atividade física e qualidade de vida desta população. As crianças com hemofilia severa, tratadas com concentrados de fator de forma profilática, têm sido encorajadas na prática de esportes e a literatura apresenta preocupações em relação ao aumento de possibilidades de lesões por trauma visto a maior liberdade de participação em tais atividades. Em adultos com hemofilia estima-se uma maior expectativa de vida e recomendação de exercícios físicos para melhora da força, flexibilidade e equilíbrio para a diminuição de quedas, abordando alterações da densidade mineral óssea (DMO), principalmente em indivíduos que foram submetidos à reabilitação com imobilização prolongada, mostrando a
30 29 importância da atividade física como recurso terapêutico em suas diversas modalidades para o tratamento de PCH. 2.3 EFEITOS DO EXERCÍCIO SOBRE A HEMOSTASIA Mecanismo de ativação da cascata de coagulação A hemostasia representa uma complexa interação entre coagulação, sistema fibrinolítico, plaquetas, células circulantes e alterações da parede vascular (EL-SAYED et al., 2004). Em resposta a uma lesão vascular as plaquetas circulantes agregam-se e aderem à superfície celular para o início do processo de coagulação sanguínea. A manutenção da integridade vascular é representada pelo coágulo de fibrina (FRANCO, 2001). A coagulação e a fibrinólise constituem dois importantes oponentes no processo hemostático e formação do trombo. A ativação do sistema de coagulação induz a formação de fibrina, enquanto a ativação do mecanismo fibrinolítico resulta em degradação do coágulo de fibrina, os quais são regulados pelo equilíbrio entre ativadores e inibidores deste processo (VAN DEN BURG et al., 1997). O mecanismo regulador deste processo se contrapõe a perda excessiva de sangue e a formação de trombos intravasculares provenientes da formação excessiva da fibrina (FRANCO, 2001). A coagulação sanguínea é um importante mecanismo do sistema hemostático associado a uma série de mecanismos fisiológicos que envolvem proteases, enzimas, e cofatores de coagulação para a geração de trombina e formação da rede de fibrina que sela o tampão hemostático. Este mecanismo de coagulação sanguínea pode ser subdividido em três vias: a) via intrínseca ou via de contato - caracterizada pela ativação do fator de Hageman (fator XII), realizada por meio de contato feito entre o sangue e superfície celular endotelial expost; b) via extrínseca - iniciada com a lesão vascular e liberação do fator tecidual (FT), cuja principal função é ativação do fator VII; e c) via comum de coagulação - que vai desde a ativação do fator X até a formação da fibrina, tal como demonstrado na Figura 2. As duas primeiras vias se ligam na etapa de ativação do fator X e seguem pela via comum até a ativação do sistema fibrinolítico. O sistema fibrinolítico tem como principal função a formação da rede de fibrina, que sela o tampão hemostático e faz o controle enzimático de degradação da fibrina (EL-SAYED et al., 2004).
31 30 Figura 2. Cascata de Coagulação. Cininogênio de Alto Peso Molecular (CAPM), Pré-calicreina (PK), Inibidor da Via do Fator Tissular (IVFT). Conversão e ativação de fatores (seta preta), ação de inibidores (seta vermelha), reações catalisadas por fatores ativados (seta azul), funções da trombina (seta cinza). Fonte: Tal como mostra a Figura 2 a via de contato ou via intrínseca da coagulação, além dos fatores VIII, IX, X, XI e XII, depende também das proteínas pré-calicreina (PK) e cininogênio de alto peso molecular (CAPM). Esta via inicia-se quando a PK, CAPM e FXII entram em contato com as cargas negativas do vaso lesado, denominado fase de contato. Nesta fase, a PK se converte em calicreina para ativação do FXII, o qual converte mais PK e calicreina, unindo-se a CAPM para liberação de bradicinina e ajudando na conversão do fator XI em FXIa (início da via intrínseca). Na presença de íons de cálcio, o fator XIa ativa o fator IX, que por sua vez junto com o fator VIIIa ativa o fator X. A associação entre os fatores Xa, Va e os íons de cálcio (Ca 2+ ) formam o complexo enzimático denominado protrombinase (ver Figura 3), o qual converte a protrombina (fator II) em trombina (IIa). A trombina atua sobre a conversão do fibrinogênio em monômeros e polímeros de fibrina e ativa o fator XIII que, na presença de íons de cálcio, estabiliza esta reação. Além da ativação do FXIII, a geração de trombina também é responsável pela ativação dos fatores V, VIII, XI e das plaquetas (ISRAEL LG e ISRAEL, 2002).
32 31 Figura 3. Representação esquemática dos complexos pró-coagulantes. O início da coagulação se faz mediante ligação do fator VIIa ao fator tecidual (FT), com subseqüente ativação dos fatores IX e X. O complexo fator IXa/fator VIIIa ativa o fator X com eficiência ainda maior, e o fator Xa forma o complexo protombinase com o fator Va, convertendo o fator II (protrombina) em fator IIa (trombina). A superfície de membrana celular em que as reações ocorrem também se encontra representada. Fonte: Franco (2001). As plaquetas também desempenham um importante papel no processo de coagulação, particularmente na via intrínseca da cascata de coagulação e têm a função de agregação e adesão na formação do tampão hemostático. Outro importante papel das plaquetas é o transporte de fibrinogênio e outros componentes liberados durante a agregação plaquetária (e.g. β tromboglobulina, fator plaquetário IV) (EL-SAYED et al., 2004). Os reguladores fisiológicos do mecanismo de coagulação são os inibidores da via de fator tecidual (IVFT), antitrombina, proteína C e proteína S, tal como mostra a Figura 2. O IVFT é sintetizado e secretado nas células do endotélio vascular e 8 % estão presentes nas plaquetas. Tem a função de inibir a ação do fator X ativado (Xa) e fator VIIa. A antitrombina III é sintetizada no fígado pelas células parenquimais. Tem como função primária inibir a função do fator Xa e a trombina, mas atua também sobre os fatores IXa, XIa e VIIa. A via anticoagulante de ação da proteína C desempenha o papel primário de regulador da formação de trombina e a prevenção de trombose microvascular. Os principais componentes desta via são a trombina, trombomodulina, proteínas C e S que atuam sobre os cofatores Va e VIIIa, os quais desempenham papel fundamental na geração de trombina (ISRAEL LG e ISRAEL, 2002).
33 32 A cascata de coagulação é composta por diversos fatores de coagulação que desempenham função específica em todo processo de coagulação. Quando há uma deficiência em algum destes fatores de coagulação denomina-se de coagulopatia. Dentre as principais coagulopatias temos a hemofilia (A e B), detectada por meio de exames laboratoriais específicos. Os principais testes laboratoriais para detecção de distúrbios hemorrágicos são: tempo de protrombina (TP), o qual detecta alteração na via extrínseca de coagulação; e o tempo de tromboplastina parcialmente ativado (TTPA), que avalia alterações hemostáticas na via intrínseca. Os testes de dosagem de FVIII e dosagem de FIX são mais específicos para controle da condição hemostática de pessoas com hemofilia A e B respectivamente e os testes de fibrinogênio verificam a formação da rede de fibrina como fase final da formação do trombo hemostático. Abaixo os principais testes utilizados para diagnóstico e avaliação da cascata de coagulação de PCH. a) O Tempo de Protrombina (TP) - Avaliação da via extrínseca da coagulação, medindo o tempo da formação do coágulo plasmático em presença de um excesso de fosfolipídios (tromboplastina), sendo dependente do complexo protrombinico (Fatores V, VII e X), da protrombina (Fator II) e fibrinogênio. b) O Tempo de Tromboplastina Parcialmente Ativado (TTPA) - Recalcificação do plasma na presença de grande quantidade de fosfolipídios é um ativador do sistema de contato. O TTPA é considerado um teste triagem. É uma prova não específica da via intrínseca que juntamente com o TP normal constitui um teste de investigação útil para detectar deficiência dos fatores VIII, IX, XII e XIII. c) A dosagem do Fator VIII - Detecta a quantidade de fator VIII plasmático responsável por alterar o tempo de coagulação que é inversamente proporcional à concentração plasmática do fator na amostra. d) A dosagem do Fator IX - Detecta a quantidade de fator IX plasmático responsável por alterar o tempo de coagulação que é inversamente proporcional à concentração plasmática do fator na amostra O efeito do exercício sobre o sistema hemostático. O exercício físico está associado à alteração de três componentes da hemostasia: coagulação, fibrinólise e sistema complementar (DUFAUX et al., 1991). De acordo com
34 33 Ribeiro e Oliveira (2005), a elevação da noradrenalina circulante durante o exercício causa hiperatividade plaquetária e aumento da coagulação medida nas plaquetas. Já o estímulo responsável pelos aumentos induzidos pelo exercício nos níveis de FVIII pode ser mediado por receptores beta-adrenérgicos (RIBEIRO e OLIVEIRA, 2005), enquanto que o aumento do fator Von Willebrand e FVIII: C (fator VIII coagulante) no plasma é causado por um mecanismo dependente do óxido nítrico (ON) (JILMA et al., 1997) cuja ativação está relacionada ao estresse de cisalhamento da parede endotelial provocado pela atividade física. Em relação aos mecanismos fisiológicos do processo de coagulação associados ao exercício físico, estudos realizados por Ribeiro e Oliveira (2005) associam o exercício físico com o aumento de componentes da cascata proteolítica, tais como: o FVIII e fator de Von Willebrand (FvW); diminuição do tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPA) e aumento do número de plaquetas. Porém, ainda há dúvidas se a melhor resposta para ativação destes mecanismos no sistema hemostático estaria na aplicação de um treinamento com a prevalência de vias metabólicas aeróbias ou anaeróbias. A ativação de alguns mecanismos da coagulação não são completamente compreendidos pela literatura, como a elevação do FVIII (EL-SAYED et al., 2000) e o aumento do fibrinogênio plasmático (EL-SAYED e DAVIES, 1995) induzidos pelo exercício, havendo assim resultados conflitantes. Alguns estudos reportam aumento do fibrinogênio em resposta ao exercício agudo (ARAI et al., 1990; JOOTAR et al., 1992; SUZUKI et al., 1992) e outros demonstram diminuição do mesmo componente (EL-SAYED et al., 2000). Esta inconsistência de resultados pode estar relacionada com os diferentes protocolos de exercícios, condicionamento físico, condições de saúde dos indivíduos e métodos de análise do plasma (EL-SAYED et al., 2000). De acordo com Weiss et al., (1991) exercícios moderados podem realçar a fibrinólise sanguínea, enquanto exercícios vigorosos podem ativar simultaneamente a fibrinólise e a coagulação. Já o efeito agudo do exercício físico sobre o aumento do FVIII da coagulação tem sido reportado por diversos estudos em períodos de exercícios com durações e intensidades variadas (EL-SAYED et al., 2000) evidenciado pela diminuição do TTPA (RIBEIRO e OLIVEIRA, 2005). Assim, pode-se sugerir que os marcadores da coagulação e indicadores do aumento da fibrinólise poderiam estar relacionados com a intensidade do exercício, ainda que as evidências não sejam conclusivas (EL-SAYED et al., 2000).
35 34 De acordo com Andrew et al., (1986), que aplicaram três métodos de exercício para verificar alterações agudas no FVIII e atividade fibrinolítica: exercícios gradativos até a exaustão; exercícios em estado estável; e exercício máximo em curta duração. Os resultados encontrados demonstraram que nos exercícios gradativos não houve alteração do FVIII até que fosse alcançado 80% da capacidade máxima; nos exercícios em estado estável e de curta duração foram verificadas mudanças relativas no complexo de FVIII e sistema fibrinolítico, entretanto não tão expressivas quanto o encontrado em exercícios gradativos até a exaustão. Weiss et al., (1991) relacionam a intensidade do exercício com o aumento na formação de plasminogênio, cuja função é regular a fibrinólise e marcadores da coagulação. Ademais, o aumento significativo na atividade fibrinolítica (75-250%) não se mostra aparente até atingir 50% frequência cardíaca máxima (FC max) (ANDREW et al., 1986), com maior aumento observado a 70%-90% da carga máxima aeróbia (ANDREW et al., 1986; DAVIS et, al., 1976). Todavia, Lippi e Maffulli, (2009) reportam que valores de FVIII, TTPA e VW são aumentados quando medidos logo após exercícios exaustivos mensurados em crianças sedentárias. O mesmo autor relata ainda que somente o FVIII se mantém elevado 24h após o exercício, concluindo que tanto o sistema hemostático quanto o sistema fibrinolítico são altamente influenciados pelo exercício físico, e que o exercício vigoroso está associado a um estado de hipercoagulação transitório, especialmente em sedentários ou indivíduos destreinados. Este mecanismo pode ser explicado pelo estresse de cisalhamento, o qual induz ativação da parede endotelial e liberação do fator de Von Willebrand e subseqüente modulação do FVIII (GONZALES et al., 2009); aumenta a atividade palquetária (hemostasia primária) e capacidade de coagulação (RIBEIRO e OLIVEIRA, 2005). Pode ser observado também, aumento de outros fatores de coagulação frente à intensidade do exercício em pessoas sem quadros patológicos (MENZEL K, HILBERG T. 2011). Estas alterações podem ser encontradas nos fatores de coagulação com aumento mais expressivo dos fatores VIII, IX e XI (MENZEL K, HILBERG T. 2011). Em intensidades mais elevadas do exercício, há ainda, uma expressão maior da proteína fator VIII. Estes achados associam-se a produção de epinefrina e norepinefrina como ativadores da reatividade plaquetária (IKARUGI H, et al., 1999) e ativação de marcadores da coagulação induzido pelo exercício (MENZEL K, HILBERG T. 2011).
36 35 Os efeitos agudos se mostram bem evidentes em relação à alteração dos mecanismos fisiológicos da hemostasia, enquanto que os efeitos crônicos ainda se apresentam conflitantes. Lippi e Maffulli, (2009) sugeriram que os principais efeitos crônicos do exercício na hemostasia são: a diminuição da agregação plaquetária, fatores de coagulação normais ou reduzidos e marcadores fibrinolíticos normais ou baixos. Entretanto, ainda são poucas as evidências até o momento Efeitos do treinamento aquático Há uma grande demanda do treinamento aquático voltado para melhora da capacidade aeróbia (TAKESHIMA et al., 2002) e redução de impacto sobre os membros inferiores (MIYOSHI et al., 2004). Tal fato justifica a ampla recomendação para a prática de atividades em meio aquático para as PCH (SRIVASTAVA et al., 2012). O treinamento aquático em adultos com hemofilia tem reportado melhora da amplitude articular, melhora da capacidade cardiorrespiratória (VALLEJO L. et al., 2010), equilíbrio e força (FRANCO et al., 2006). Entretanto, não há estudos que reportem os efeitos da dose resposta do treinamento aquático em adultos com hemofilia sobre os parâmetros hemostáticos da coagulação sanguínea. Os efeitos fisiológicos do treinamento aquático sobre a frequência cardíaca máxima (FCmax) e o consumo de oxigênio (VO 2 ) demonstram diferentes resultados quando comparados aos exercícios em terra (ALBERTON et al., 2010). Estes resultados estão associados a aspectos biomecânicos e as propriedades física da água (ALBERTON et al., 2010). Dentre estas propriedades podemos destacar a resistência de avanço (R), a densidade do fluido (p), a área de superfície projetada (A), a velocidade de movimento (v) e o coeficiente de arrasto (Cd) expresso por R = 0,5 * p * A * v 2 * Cd (PÖYHÖNEN et al., 2000). As respostas cardiorrespiratórias podem ser maiores de acordo com o aumento da área projetada e o aumento da resistência de avanço imposta pela intensidade do exercício (PINTO et al., 2008). Alguns estudos demonstram mudanças relacionadas ao tipo de exercício. O deslocamento vertical, como exercícios de resistência e exercícios estacionários, parece diminuir o gasto metabólico (ALBERTON, et al., 2009; HEITHOLD e GLASS, 2002; KRUEL, 2000) e a atividade neuromuscular (KELLY et al., 2000; MÜLLER et al., 2005). Os exercícios com deslocamento horizontal, como a caminhada demonstram um aumento do VO 2 (HALL et al., 1998; SHONO et al., 2000) e dos sinais eletromiográficos (EMG)
37 36 (MASUMOTO et al., 2008; SHONO et al., 2007) em ambiente aquático na mesma velocidade comparada com os exercícios em terra. Tal fato pode estar relacionado à diminuição aparente do peso, encontrada em profundidades maiores de imersão, facilitado pela flutuabilidade, encontrada em intensidades submáximas (HARRISSON et al., 1992). Em relação à frequência cardíaca dentro e fora da água, de acordo com Graef e Kruel (2006), podem-se observar mudanças representativas da frequência cardíaca (FC) a partir da imersão do corpo na água, demonstrando diferenças significativas na diminuição da FC a partir da profundidade de imersão: até o quadril (8-9 bpm), até a cicatriz umbilical (11-13 bpm), até o apêndice xifoide (13-16 bpm), ombro (13-25bpm) e pescoço (13-17 bpm). Tais resultados demonstrados no estudo supracitado apresentam variações expressivas entre os parâmetros mensurados. Outro fator relevante na variação da FC é a temperatura da água. Quanto menor a temperatura maior a diminuição da FC (GRAEF e KRUEL, 2006). As respostas cardiorrespiratórias observadas em repouso dentro e fora da água apresentam valores maiores de consumo de oxigênio (VO 2 ) fora da água do que dentro (ALBERTON et al., 2010). Entretanto, durante o protocolo de exercício realizado nestes dois ambientes, o VO 2 apresenta comportamento similar dentro e fora da água, com valores maiores alcançados fora da água, demonstrando uma diferença significativa entre os dois ambientes. Dependendo das propriedades físicas da água, da resistência de avanço do exercício e da flutuabilidade, é possível obter frequência cardíaca (FC), VO 2 e sinais eletromiográficos (EMG) maiores ou similares aos obtidos em exercícios em terra (ALBERTON et al., 2005; CASSADY e NIELSEN, 1992; KELLY et al., 2000; MIYOSHI et al., 2004). Para Graef et al., (2006), alguns dos efeitos da água sobre a diminuição da FC podem ser explicados pela pressão hidrostática sobre os indivíduos imersos verticalmente, havendo um maior volume de sangue que retorna ao coração e maior volume ejetado por sístole, permitindo uma menor frequência de bombeamento. De acordo com Alberton et al., (2010), que analisou os movimentos da corrida dentro e fora da água, o ritmo da velocidade angular do quadril comparado nestes dois ambientes exercem grande influência sobre os parâmetros cardiorrespiratórios e neuromusculares analisados em membros inferiores. O mesmo autor analisou o ritmo de execução do exercício em condições submáximas (60, 80 e 100 bpm) e máximas. Em condições submáximas (100
38 37 bpm) é possível observar o aumento dos sinais EMG, que indicam uma maior atividade neuromuscular, na corrida fora da água. Já em velocidade máxima é possível observar um comportamento similar dentro e fora da água. Os resultados encontrados da corrida dentro da água podem ser explicados pelo aumento da resistência de avanço (ALEXANDER, 1977). O aumento da cadência e consequentemente da velocidade angular do quadril na corrida estacionária repercutem em aumento do VO 2 tanto em terra como em água (ALBERTON et al., 2010), reportando maiores respostas cardiorrespiratórias de acordo com o aumento do ritmo de execução (CASSADY e NIELSEN, 1992; MASUMOTO et al., 2009). Em quadros patológicos tais como as hemartroses, encontradas comumente em hemofílicos adultos, há uma grande dificuldade em aumentar o ritmo dos exercícios fora da água devido a limitação articular e dor relatada por voluntários. Tal fato, nos leva a entender a água como um ambiente de maior liberdade de movimento e com maiores possibilidades de ativação metabólica entre as PCH. Apesar das atividades em água serem bem recomendadas entre hemofílicos (TIKTINSKY et al., 2009; WEIGEL e CARLSON, 1975), os efeitos do treinamento aquático sobre esta população ainda são pouco estudados (VALLEJO et al., 2010). Entretanto, há evidências de melhora da condição articular (CALEFI et al., 2006; FRANCO et al., 2006; ERBAN et al., 2002; HARRIS e BOGGIO, 2006) e associação entre a melhora da condição articular e parâmetros ventilatórios (VALLEJO et al., 2010). No entanto, os efeitos do treinamento aquático sobre controle hemostático de adultos com hemofilia ainda é uma lacuna a ser estudada. Os efeitos do exercício sobre parâmetros da coagulação reportados anteriormente, em pessoas sem hemofilia, apontam uma ativação do mecanismo de coagulação induzido pelo exercício em níveis de intensidade maiores, associando os níveis de VO 2 e FC ao aumento de FVIII (ANDREW et al., 1986; DAVIS et al., 1976; RIBEIRO e OLIVEIRA 2005) e melhora da capacidade de ativação da parede endotelial como fator relevante na ativação da cascata proteolítica da coagulação (FRANCESCOMARINO et al., 2009). Desta forma, os efeitos do exercício aquático sobre pessoas com hemofilia poderiam ter uma resposta maior sobre o mecanismo de coagulação do que os exercícios em terra, devido a capacidade de liberdade de movimentos reportada por adultos com hemofilia em atividades aquáticas (VALLEJO et al., 2010), podendo alcançar assim níveis maiores de ativação endotelial através do estresse de cisalhamento provocado pelo exercício físico em água do que em terra. Assim, o estudo proposto entende que os exercícios em água possam se aplicar melhor as condições dos
39 38 hemofílicos adultos com limitação articular sobre a possível ativação do sistema hemostático, induzindo a mudanças benéficas de alguns marcadores da coagulação.
40 39 3. MATERIAIS E MÉTODOS 3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS Participantes Na região Centro-Oeste estima-se 530 hemofílicos de todas as faixas etárias, dos quais 201 estão no Distrito Federal. Participaram voluntariamente deste estudo 10 hemofílicos do sexo masculino (8 do tipo A, 2 do tipo B) com idade media de 22 (± 7,3) anos e IMC 22 (±3,3) Kg/m 2. Metade dos sujeitos foram diagnosticados com hemofilia severa (4 do tipo A e 1 do tipo B), e os demais com hemofilia moderada (4 do tipo A e 1 do tipo B). Os participantes foram recrutados de forma aleatória. Como critérios de inclusão foram estabelecidos pacientes que estavam participando de forma regular do programa de atividades físicas do IHTC Brasil, devidamente acompanhados por médico hematologista e equipe multidisciplinar e liberados para a prática de atividade física. Para verificar o nível de atividade física foi aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ - versão curta), com resultados expressos em equivalentes metabólicos (METs). Para verificar o percentual de gordura (%G) foi adotado o protocolo de Jackson e Pollock (JACKSON e POLLOCK, 1978). Os dados para estimativa da intensidade do exercício foram frequência cardíaca de repouso (FCR), média da frequência cardíaca durante o exercício (FCM) e percentual da frequência cardíaca máxima estimada (% FCmax), mesurados por meio de monitor de freqüência cardíaca. Os voluntários foram informados para não realizar qualquer atividade física intensa e para evitar a ingestão de álcool 24 h antes da coleta de dados. Não foi permitido qualquer medicamento que influenciasse na hemostasia 72 h antes da coleta de dados. Todos os participantes preencheram um termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital das Forças Armadas de Brasília (protocolo 016/2010/CEP/HFA) Procedimentos Este estudo foi um estudo clínico intervencial, com os pacientes escolhidos aleatoriamente de acordo com os critérios de inclusão. Foram realizadas comparações dos resultados entre grupos (hemofílicos A VS hemofílicos B) e comparações intragrupos
41 40 (Moderados VS Severo). Antes do dia da coleta os participantes foram familiarizados com os procedimentos aplicados durante sessões realizadas em quatro semanas (ex. 2-3 dias por semana). As sessões foram realizadas em piscina aberta de 12 x 6 m em profundidade de 1,60 m. Todas as sessões foram realizadas no mesmo período do dia (ex a.m.), sob condições termoneurais, com temperatura ambiente entre 28ºC e 30ºC e umidade relativa do ar de ~ 30%. As sessões de exercício consistiram de 5 minutos de aquecimento e alongamento seguidos de 20 minutos de exercícios variados em meio líquido. Os exercícios foram realizados em períodos de 5 minutos, em velocidade moderada, em posição vertical e decúbito dorsal (Figura 1 - Apêndice A). Os exercícios realizados foram: pernada de costas com flexão plantar, pernada de costas com extensão plantar, abdução com flexão plantar e corrida na água em diversas direções. Após a sessão de exercícios os participantes realizaram um relaxamento e alongamento por 5 min. A intensidade da sessão de 20 minutos de exercício foi controlada por monitor de frequência cardíaca (FS1, Polar Electro Oy, Finland). A frequência cardíaca máxima (FCmax) foi calculada a partir da formula idade. A intensidade estimada da sessão de exercícios foi entre 56%-88% da FCmax e o % da FC durante o exercício foi calculado pela média atingida após a sessão. Foi calculada a elevação da média (%) da FC pela diferença entre FC em repouso antes do exercício e a média durante o exercício (Figura 2 - Apêndice A). Antes e imediatamente após a sessão de exercício foram realizadas quatro coletas de sangue em sistema fechado (5 ml c/u) de cada participante. Subsequentemente, as amostras foram estocadas em tubos de citrato, armazenadas e encaminhadas para o Laboratório de Análises Clínicas do Hospital das Forças Armadas (HFA). As amostras de sangue foram centrifugadas a 3500 r.p.m. por 15 minutos em temperatura ambiente para a obtensão do plasma pobre em plaquetas (PPP). Os parâmetros hemostáticos foram avaliados em coagulômetro (ACL 9000, Instrumentation Laboratory, USA). As variáveis mesuradas foram: tempo de protrombina (TP); tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPA); fator VIII (FVIII); fibrinogênio de Claus (F). Todos os procedimentos laboratoriais seguiram as recomendações do Centro Internacional de Treinamento em Hemofilia (IHTC) de Brasília Análise estatística Para o tratamento estatístico foi utilizado o programa Statistical package for the social sciences (v 16.02, SPSS Inc., Chicago, WI, USA). Os dados foram apresentados em
42 41 média ± DP. Para verificar a distribuição normal das variáveis utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. As diferenças entre os parâmetros hemostáticos medidos antes e após a sessão de exercícios foram verificadas com o teste T de Student pareado. Para verificar a magnitude das mudanças foi calculado o tamanho do efeito (ES) a partir da fórmula: [/(Mpré - Mapós)/DP agrupado/], sendo que "Mpré" representa o valor médio da variável antes da sessão; "Mapós" é o valor médio após a sessão; e "DP agrupado" representa a média dos desvios padrão em ambos momentos. Os limiares para o ES foram: 0,2 (pequeno); 0,6 (moderado); 1,2 (grande); e 2,0 (muito grande) (HOPKINS et al., 2009). O grau de incerteza da estimativa da mudança percentual média foi expresso em intervalo de confiança a 90% (90% IC). Foram realizadas inferências baseadas em magnitudes a partir das probabilidades das mudanças serem benéficas, insignificantes e prejudiciais. Para isso, foi assumido um mínimo efeito prático ou mínima mudança importante nas variáveis hemostáticas de 0,2 multiplicadas pelo desvio padrão entre sujeitos, expresso como coeficiente de variação (CV%). Os limiares para atribuição de termos qualitativos às chances dos efeitos serem substanciais foram: < 0,5%, quase certamente não; 0,5-5%, muito improvável; 5-25%, improvável; 25-75%, possível; 75-95%, provável; 95-99,5%, muito provável; > 99,5% quase certamente sim (HOPKINS et al., 2009). Os efeitos foram julgados clinicamente incertos se a chance de serem benéficos fosse >25% e a chance de ser prejudicial fosse > 0,5%. Para inferências mecanicistas, os efeitos foram considerados incertos se o intervalo de confiança sobrepusesse os limiares para valores substancialmente positivos ou negativos. Diferenças entre grupos e intragrupos através das condições de severidade da doença foram analisadas pelo teste de Wilcoxon (para distribuição normal dos valores) ou com o teste de Mann-Whitney (quando as diferenças entre as variáveis não são normais), conforme o mais apropriado. As relações entre os parâmetros foram avaliadas utilizando o coeficiente de correlação de Pearson (r). O nível de significância estatística admitiu o valor de p<0,05.
43 42 4. RESULTADOS A intensidade média da sessão de exercício foi de 56 a 88% da FCmax, com um valor médio de 70% FCmax. A média de elevação da FC durante o exercício resultou 69±18 bpm (101±33%). Não houve mudanças significativas nas variáveis do estudo (ver Tabela 2 - Apêndice A), com uma alta variabilidade observada entre sujeitos. Entretanto, quando realizada uma aproximação estatística inferencial baseada em magnitudes e no significado clínico, os resultados qualitativos revelaram que o TTPA exibiu efeito possivelmente benéfico, com um tamanho de efeito de 0,28. O TP foi a variável com maior mudança (ES=0,61). Foi encontrada uma correlação significante nos níveis de TP após a sessão de exercício e elevação da FC (Figura 2 - Apêndice A). Como esperado, houve grandes mudanças em pacientes com níveis de severidade moderado da doença, todavia estas alterações não foram estatisticamente significantes (Tabela 3 - Apêndice A). Mudanças de acordo com o tipo de hemofilia podem ser encontradas na Tabela 3- Apêndice A para maiores comparações.
44 43 5. DISCUSSÃO Este é o primeiro estudo para analisar o efeito agudo do exercício aquático sobre as respostas hemostáticas em um grupo de adultos hemofílicos. Não foram encontradas diferenças significativas nos marcadores de coagulação medidos após uma sessão de exercícios. Entretanto, foi observada uma alta variabilidade nas respostas individuais; no incremento de FVIII; na redução do TP e TTPA, com um maior efeito benéfico observado em hemofílicos moderados. Além disso, foi verificada uma correlação significativa entre a elevação da FC durante o exercício e os níveis de TP pós-exercício. Em conjunto, estes achados sugerem que este tipo de intervenção pode proporcionar um impacto positivo na resposta hemostática em adultos hemofílicos. Os achados do presente estudo estão de acordo com um estudo prévio (KOCH et al., 1984) realizado com crianças hemofílicas, no qual foram encontrados aumentos dos níveis de FVIII e níveis de fibrinogênio, com uma diminuição de TP após uma sessão de cicloergometro e a aumentos mais expressivos do FVIII, observado em hemofílicos moderados, em exercícios com intensidades elevadas (DEN UIJL et al., 2011). Porém, no estudo de Koch et al., (1984) não foram evidenciadas mudanças substanciais nos níveis de fibrinogênio considerando toda a amostra. Esta ausência de mudanças nos níveis de fibrinogênio está de acordo com uma pesquisa previa em pessoas saudáveis após uma maratona (MANDALAKI et al.,1980). Apesar de não termos considerado as diferenças de idade ou nível de treinamento entre os participantes dos diferentes estudos com hemofílicos, parece que a intensidade média do exercício poderia ser o maior fator que contribui para estas diferenças. Assim, a intensidade do exercício tem sido apresentada como um aspecto de grande relevância para o incremento do FVIII (ARAI M et al.,1990; EL-SAYED et al., 1996), enquanto os outros fatores de coagulação parecem não se alterar com este parâmetro de carga (EL-SAYED et al., 2000). Trabalhos mais recentes, com indivíduos sem quadros patológicos, tem observado que o FVIII apresenta uma variação maior de aumento nos exercícios extenuantes (100% do limiar anaeróbio individual) do que em exercício moderados (80% do limiar anaeróbio individual), demonstrando que o papel da intensidade representa um aspecto de grande relevância para as condições hemostáticas e marcadores de geração de trombina (MENZEL K, HILBERG T. 2011).
45 44 De acordo com esta afirmação, a intensidade do exercício no presente estudo com média de 70% FCmax, com uma variação de 56 a 88% da FCmax, sugere que a média de intensidade da sessão e portanto a descarga adrenal (RIBEIRO e OLIVEIRA, 2005) podem ser menores com relação ao estudo prévio com crianças hemofílicas que se exercitaram até exaustão (KOCH et al., 1984; DEN UIJL et al., 2011). Entretanto, é difícil comparar tais respostas dadas a partir dos diferentes perfis (triangular VS. retangular) ou modelos (aquático VS. cicloergometro) dos exercícios empregados. Não obstante, também tem sido reportado que mudanças na atividade fibrinolítica não são evidentes em intensidades menores que 50% da FCmax (ANDREW et al., 1986; EL-SAYED et al., 2000) com um grande incremento observado entre 70 e 90% da carga máxima de trabalho (ANDREW et al., 1986; DAVIS et, al., 1976) com estas alterações mantidas entre 45 min. e 24 h após a sessão de exercício (EL- SAYED et al., 2000; FERGUSON et al., 1987; PRISCO et al., 1998). Desta forma, considerando todos os resultados em conjunto, estima-se que pessoas com hemofilia A moderada poderiam se beneficiar de um incremento do FVIII ao passo que aumentem a intensidade do exercício, tal como tem sido apresentado em estudo prévio mais recente, realizado com hemofílicos (DEN UIJL et al., 2011), sugerindo que as doses aumentadas de norepinefrina também possam interferir no processo hemostático e geração de trombina (MENZEL K, HILBERG T. 2011). Em virtude de poucos estudos desta natureza realizados com hemofílicos severos, estima-se mais apropriado o tratamento profilático frente a atividades de alta intensidade para manutenção dos níveis necessários de fator (FVIII) no sangue. Entretanto, como os exercícios aquáticos tem sido mais recomendados do que os exercícios de pedalar para hemofílicos (VALLEJO et al., 2010), mais estudos comparando alta intensidade deste modelo de exercício são justificáveis. Ainda não está claro se os efeitos dos exercícios de alta intensidade em pessoas com hemofilia severa podem de fato representar um risco para as condições hemostáticas desta população, já que a literatura tem apontado os traumas ocasionados durante a prática de atividades físicas e não a intensidade do exercício como as principais causas de sangramento (TIKTINSKY et al., 2009). O TTPA demonstrou uma modificação possivelmente positiva quando considerado uma perspectiva mecanicista. Este achado está de acordo com estudos prévios (ARAI M et al.,1990; EL-SAYED et al., 1996; MANDALAKI et al.,1980; HERREN et al., 1992). Além disso, possíveis benefícios em TP a partir de uma perspectiva clínica estão de acordo com o
46 45 estudo prévio em crianças com hemofilia (KOCH et al., 1984), considerando não haver consenso sobre o efeito agudo do exercício em relação a estes parâmetros (EL-SAYED et al., 1996 (EL-SAYED et al., 2000; FERGUSON et al., 1987; PRISCO et al., 1998; HERREN et al., 1992). As mudanças no TP e TTPA pós-exercício poderia ir de 1 h a 24 h (ARAI M et al.,1990), com a observação de uma grande redução em pessoas fisicamente ativas quando comparado a pessoas sedentárias (EL-SAYED et al., 2000; KORSAN-BENGTSEN et al., 1973). As correlações exibidas dos níveis de TP após uma sessão de exercício e a elevação da FC durante o exercício (Figura 2), reforçam outra vez a possibilidade do papel da intensidade do exercício na resposta hemostática. Assim, enquanto maiores estudos poderiam avaliar o tempo da cinética de ativação da resposta aguda e a relação com a intensidade do exercício, todos os achados demonstram a importância do exercício físico regular para hemofílicos assim como, as suas respostas hemostáticas após uma sessão de exercício poderiam melhorar quando se encontram fisicamente ativos. Outro resultado interessante refere-se a melhor resposta observada em hemofílicos moderados (Tabela 3 - Apêndice A), levando-se em conta o número limitado de participantes. Este resultado está de acordo com o estudo realizado anteriormente (KOCH et al., 1984). Nestas condições e apesar de não ser muito claro o efeito do exercício em alguns parâmetros da coagulação, a melhora de um fator de coagulação poderia ser clinicamente importante para estes pacientes independentemente da severidade ou até mesmo do tipo de hemofilia. A partir do efeito positivo do exercício sobre alguns fatores com ausência da resposta de outros, sugere-se que aquelas limitações geneticamente determinadas poderiam ser parcialmente contra-arrestadas pela resposta de outros fatores de coagulação influenciados pelo exercício. Além disso, maiores estudos justificam a importância de uma análise mais ampla da cascata de coagulação, incluindo outros fatores e marcadores, tais como plasminogênio uroquinase (upa) (EL-SAYED et al., 2000) e o plasminogênio tecidual (tpa) (EL-SAYED et al., 1996). A maior limitação deste estudo foi o número de participantes, que restringiu as comparações entre a severidade da doença e mais especificamente entre os tipos de hemofilia. Porém, esta é uma limitação comum reportada em estudos anteriores, mostrando-se a necessidade de mais estudos que verifiquem efeitos da intensidade do exercício e a sua regularidade sobre as respostas hemostáticas em PCH.
47 46 6. CONCLUSÃO O efeito agudo de uma sessão de exercícios aquáticos de intensidade moderada de curta duração melhora alguns componentes da cascata de coagulação como o FVIII, TP, TTPA, com maiores respostas observadas em hemofílicos moderados e tipo A. De acordo com os resultados do presente estudo, pode-se sugerir uma possível redução de episódios de sangramento; e, portanto do uso da medicação para pessoas com hemofilia, reforçando a importância clínica do exercício aquático, que deverá ser confirmada em estudos com amostras maiores.
48 47 7. PERSPECTIVAS FUTURAS 7.1. OUTRAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA PCH Conforme apontado previamente na revisão de literatura, o quadro clínico mais comumente presente em pessoas com hemofilia são as hemartroses (sangramentos articulares) que se caracterizam por uma desordem hemorrágica associada ao mau funcionamento do sistema hemostático, provocando a destruição da cápsula articular, dor e perda de função (GROEN, 2011). Desta forma, para PCH, o meio líquido pode ser um ambiente ideal para a efetiva prática do exercício devido à ausência de impacto e a liberdade de movimentação reportada em experiência científica anterior (VALLEJO et al., 2010). Todavia, mais estudos devem ser feitos para definir um melhor modelo de exercício na água, que possibilite o aumento da intensidade e força de PCH conforme proposto em estudos anteriores realizados com pessoas sem hemofilia (ALBERTON et al., 2010; ALBERTON et al., 2011). Estes estudos poderiam evidenciar a importância do treinamento aquático sobre os exercícios de terra para esta população e associar os mesmos á possibilidades de obtenção de FC, VO 2 e sinais EMG maiores ou similares aos alcançados fora da água em pessoas normais com as propriedades físicas da água (a resistência de avanço do exercício e a flutuabilidade imposta durante o exercício) (ALBERTON et al., 2005; CASSADY e NIELSEN, 1992; KELLY et al., 2000; MIYOSHI et al., 2004). Visto que há uma alta prevalência de hemofílicos adultos com quadros de limitação articular (MULVANY et al., 2010) e que a corrida em meio líquido pode ser um movimento mais comum e eficaz na obtenção de maiores parâmetros cardiorrespiratórios (ALBERTON et al., 2010), foi observado que atividades em meio líquido com maior locomoção horizontal, tal como a corrida, poderiam ser mais eficientes para aumentar a intensidade do treinamento sobre os parâmetros cardiorrespiratórios em pessoas com hemofilia (VALLEJO et al., 2010). Tal fato pode está relacionado com a alteração de alguns componentes da coagulação como TTPA, TP, FVIII e Fibrinogênio analisados nesta pesquisa (ver Apêndice A). Entretanto, ante a ausência de investigações com este método de treinamento de promissoras perspectivas, fazem-se necessários maiores estudos para determinar a sua real validade ecológica na terapia com exercício físico em PCH.
49 TREINAMENTO AQUÁTICO: DOSE RESPOSTA VS EFEITO TERAPÊUTICO NÃO FARMACOLÓGICO A intensidade do exercício tem sido um aspecto de grande relevância no aumento dos níveis de FVIII (EL-SAYED et al., 2000; ARAI M et al.,1990; EL-SAYED et al., 1996). Tal como o incremento de FVIII, a intensidade da atividade física tem sugerido a diminuição do TTPA (LIPPI e MAFFULLI, 2009). Visto que o TTPA prolongado está associado a deficiências do processo de coagulação, caracterizando a enfermidade Hemofilia (SRIVASTAVA A. et al., 2012), a possível diminuição desta variável, tal como apresentado neste estudo (ver Apêndice A), seria um parâmetro positivo para as PCH relacionado a tolerância ao exercício. A dose resposta do exercício físico ainda continua sendo um ponto importante a ser estudada para quadros patológicos como a hemofilia, associada à farmacocinética da medicação, especialmente em hemofílicos severos. A adequação de modelos de treinamento aquáticos e tipos de exercícios mais propícios às condições articulares desta população é um aspecto que merece mais atenção, especialmente em adultos com hemofilia severa que apresentam artropatia hemofílica ESTUDO DO EFEITO CRÔNICO DO TREINAMENTO AQUÁTICO Os efeitos do exercício físico sobre a hemostasia de PCH foram reportados pelo estudo clássico de Koth et al. (1984), em um trabalho com crianças hemofílicas submetidas ao exercício até a exaustão em cicloergômetro e por Den Uijl et al., (2011), sob condições semelhantes. Parece que o grau de severidade da doença pode ser um aspecto relevante na ativação do FVIII de pessoas com hemofilia A (DEN UIJL et al., 2011). Os dois estudos demonstram benefícios favoráveis para o aumento de FVIII em hemofílicos leves e moderados e não significantes em hemofílicos severos. Os níveis de epinefrina e norepinefrina medidos durante o exercício coincidem com os níveis aumentados de FVIII, mas o autor sugere estudos mais aprofundados para comprovar esta relação (KOCH et al., 1984). Entretanto, não tem se observado a reprodução de resultados semelhantes em outras situações que poderíamos impor intensidades elevadas sem ocasionar desconforto excessivo as PCH, tais como o treinamento aquático.
50 49 O estudo prévio sobre o efeito crônico do treinamento aquático em PCH (ver Apêndice C) demonstra a alteração de alguns parâmetros da coagulação (TTPA, TP e Fibrinogênio) em hemofílicos submetidos a um treinamento intervalado e medidos antes, logo após e 30 minutos da realização do treinamento. Como o efeito do exercício sobre o aumento de parâmetros da coagulação está relacionado à intensidade do exercício proposto e de acordo com o os achados no referido trabalho (ver Apêndice C) as PCH podem tolerar bem o treinamento aquático em intensidades elevadas. Sugere-se que, maiores estudos sejam realizados levando-se em conta a dose resposta do treinamento aquático associado à dose do concentrado de fator, podendo assim estimar uma correlação entre mecanismos fisiológicos do treinamento aquático e os mecanismos farmacocinéticos do concentrado de fator. Tal fato, também sugere um estudo do perfil de sangramento e a mensuração da meia vida do fator VIII em hemofílicos do tipo A após um treinamento aquático intervalado APLICAÇÃO PRÁTICA O presente estudo demonstra que os hemofílicos adultos que participaram desta pesquisa toleram bem atividades em intensidade moderada a vigorosa (56% 88% FCmax). Entretanto, tais resultados são achados preliminares nesta população aplicados ao treinamento aquático. O avanço destes estudos poderiam efetivamente mudar o conceito de reabilitação em PCH, com maior atenção para estudos da dose resposta do exercício físico na água como recurso terapêutico não farmacológico no tratamento desta população e contribuir para a proposta de tratamento profilático personalizado, assim como sugerido por Collins, (2012). Visto que, a literatura reporta que a maior parte dos sangramentos associados à atividade física são ocasionados por trauma (TIKTINSKY et al., 2009) e não há estudos que reportem efetivamente os efeitos fisiológicos do exercício físico em PCH.
51 50 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALBERTON CL, COERTJENS M, FIGUEIREDO PAP, et al. Behavior of oxygen uptake in water exercises performed at different cadences in and out of water. Medicine & Science in Sports & Exercise 2005; 37: S103. ALBERTON CL, TARTARUGA MP, PINTO SS, et al. Cardiorespiratory responses to stationary running at different cadences in water and on land. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2009; 49: ALBERTON CL, ANTUNES AH, PINTO SS, et al. Correlation Between Rating of Perceived Exertion and Physiological Variables During the Execution of Stationary Running in Water at Different Cadences. Journal of Strength and Conditioning Research 2011; 25(1)/ ALBERTON CL, CADORE EL, PINTO SS, et al. Cardiorespiratory, neuromuscular and kinematic responses to stationary running performed in water and on dry land. European Journal of Applied Physiology DOI / s , ALEXANDER R. Mechanics and energetic of animal locomotion. In: Alexander R. Goldspink G (eds) Swimming. Chapman & Hall, London, 1977; pp ANDERSON A, HOLTZMAN TS, MASLEY J. Physical Therapy in Bleeding Disorders - National Hemophilia Foundation ANDREW M, CARTER C, O'BRODOVICH H, et al. Increases in factor VIII complex and fibrinolytic activity are dependent on exercise intensity. Journal of Applied Physiology 1986; 60(6): ARAI M, YORIFUJI H, IKEMATSU S. et al. Influence of strenuous exercise on blood coagulation and fibrinolytic system. Thrombosis Research 1990; 57: BARCA DAAV, REZENDE SM, SIMÕES BJ, et al. Hemovida Web Coagulopatias: um relato do seu processo de desenvolvimento e implantação Caderno Saúde Coletiva 2010; 18 (3):
52 51 BEETON K, CORNWELL J, ALLTREE J, Muscles rehabilitation in haemophilia. Haemophilia 1998; 4: BERNTORP E, SHAPIRO AD. Modern haemophilia care. The Lancet 2012; 379: BEYER R, INGERSLEV J, SORENSEN B. Muscle bleeds in professional athletes-- diagnosis, classification, treatment and potential impact in patients with haemophilia. Haemophilia 2010; 16(6): BUXBAUM NP, PONCE M, SAIDI P, MICHAELS LA. Psychosocial correlates of physical activity in adolescents with haemophilia. Haemophilia 2010; 16(4): BUZZARD BM. Physiotherapy, rehabilitation and sports in countries with limited replacement coagulation factor supply. Haemophilia 2007; 13 Suppl 2: CALEFI M, BERNADES M, MIRANDA J, et al. Aquatic therapy in the treatment of patients with coagulopathy. Haemophilia 2006; 12(Suppl. 2): CASSADY, SL and NIELSEN, DH. Cardiorespiratory responses of healthy subjects to calisthenics performed on land versus in water. Physical Therapy 1992; 75: COLLINS PW. Personalized prophylaxis. Haemophilia 2012; 18 Suppl. 4: CZEPA D, VON MACKENSEN S. and HILBERG T. Haemophilia & Exercise Project (HEP): subjective and objective physical performance in adult haemophilia patients results of a cross-sectional study. Haemophilia 2012; 18, DAVIS GL, ABILDGAARD CF, BERNAUER EM, et al. Fibrinolytic and hemostatic changes during and after maximal exercise in males. Journal of Applied Physiology 1976; 40(3): DE LA CORTE-RODRIGUEZ H, RODRIGUEZ-MERCHAN EC. The role of physical medicine and rehabilitation in haemophiliac patients. Blood Coagulation & Fibrinolysis 2013; 24(1): 1-9. DE MOERLOOSE P, FISCHER K, LAMBERT T, et al. Recommendations for assessment, monitoring and follow-up of patients with haemophilia. Haemophilia 2012; 18(3):
53 52 DOUMA-VAN RIET DC, ENGELBERT RH, VAN GENDEREN FR, et al. Physical fitness in children with haemophilia and the effect of overweight. Haemophilia 2009; 15(2): DEN UIJL I.E.M, GROEN W.G, VAN DER NET J, et al. Protected by nature? Effects of strenuous exercise on FVIII activity in moderate and mild haemophilia A patients - a pilot study. ISBN: , DUFAUX B, ORDER U, LIESEN H, Effects of short maximal physical exercise on coagulation, fibrinolysis and complement system. International Journal of Sports Medicine 1991; 12 Suppl 1: S EL SAYED MS, and DAVIES BA. Physical conditions program does not alter fibrinogen concentration in young healthy subjects. Medicine & Science in Sports & Exercise 1995; 27: EL-SAYED MS, LIN X, RATTU AJM. Blood coagulation and fibrinolysis at rest and in response to maximal exercise before and after a physical conditioning program. Blood Coagulation & Fibrinolysis 1996; 6(8): EL-SAYED MS, SALE C, JONES PGW. et.al. Blood hemostasis in exercise and training. Medicine & Science in Sports & Exercise 2000; 32 (5): EL-SAYED MS, ALI N and EL-SAYED AZ. Aggregation and Activation of Blood Platelets in Exercise and Training. Sports Medicine 2005; 35 (1): EL-SAYED MS, EL-SAYED AZ, AHMADIZAD S. Exercise and training effects on blood haemostasis in health and disease: an update. Sports Medicine 2004; 34(3): ERBAN M, ERBAN V, SCHUSZLER H et al. The rehabilitation outcomes in haemophilia. Haemophilia 2002; 8: EVATT, B. Guia para Desarrollar un Censo Nacional de Pacientes. Federacion Mundial de Hemofilia FERGUSON EW, BERNIER LL, BANTA GR, et al. Effects of exercise and conditioning on clotting and fibrinolytic activity in men. Journal of Applied Physiology 1987; 62(4):
54 53 FERNÁNDEZ PF, BATTISTELLA LM. Ortopedia y rehabilitación en hemofilia. Enciclopedia Iberoamericana de Hematología. Universidad de Salamanca 1992; 182: FRANCESCOMARINO S, SCIARTILLI A, VALERIO V, et al. The Effect of Physical Exercise on Endothelial Function. Sports Medicine 2009; 39 (10): FRANCO J, SAYAGO M, BERNADES M, et al. Analysis of the effects of aquatics rehabilitation in static postural control in patient hemophiliac: case study. Haemophilia 2006; 12(Suppl. 2): FRANCO RF. Fisiologia da coagulação, anticoagulação e fibrinólise. Medicina, Ribeirão Preto, 2001; 34: FALK B, PORTAL S, TIKTINSKY R, et al. Bone properties and muscle strength of young haemophilia patients. Haemophilia 2005; 11(4): FORSYTH AL, QUON DV, KONKLE BA. Role of exercise and physical activity on haemophilic arthropathy, fall prevention and osteoporosis. Haemophilia 2011; 17(5): FROMME A, DREESKAMP K, POLLMANN H, et al. Participation in sports and physical activity of haemophilia patients. Haemophilia 2007; 13(3): GERSTNER G, DAMIANO ML, TOM A, et al. Prevalence and risk factors associated with decreased bone mineral density in patients with haemophilia. Haemophilia 2009; 15(2): GOMIS M, QUEROL F, GALLACH JE, et al. Exercise and sport in the treatment of haemophilic patients: a systematic review. Haemophilia 2009; 15(1): GROEN WG, VAN DER NET J, HELDERS PJ, FISCHER K. Development and preliminary testing of a Paediatric Version of the Haemophilia Activities List (pedhal). Haemophilia 2010; 16(2): GHOSH K, SHETTY S. Bone health in persons with haemophilia: a review. European Journal of Haematology 2012; 89(2):
55 54 GONZÁLES, L. M. QUEROL, F. GALLACH, J. E. et al. Force fluctuation during the maximum isometric voluntary contraction of the quadriceps femoris in haemophilic patients. Haemophilia 2007; 13: GONZALES JU, THISTLETHWAITE JR, THOMPSON BC, SCHEUERMANN BW. Exercise-induced shear stress is associated with changes in plasma von Willebrand factor in older humans. European Journal of Applied Physiology 2009; 106: GRAEF FI e KRUEL LFM. Frequência cardíaca e percepção subjetiva do esforço no meio aquático: diferenças em relação ao meio terrestre e aplicações na prescrição do exercício uma revisão. Revista Brasileira de Medicina do Esporte 2006; Vol. 12, Nº 4. GROEN WG. Joint Health, Functional Ability and Physical Activity in Haemophilia. Thesis, Utrecht University. The Netherlands: HALL J, MCDONALD IA, MADDISON PJ, O HARE JP. Cardiorespiratory responses to underwater treadmill walking in healthy females. European Journal of Applied Physiology 1998; 77: HARRIS S, BOGGIO LN. Exercise may decrease further destruction in the adult haemophilic joint. Haemophilia 2006; 12: HARRISSON RA, HILLMAN M, BULSTRODE S. Loading of the lower limb when walking partially immersed: implications for clinical practice. Physiotherapy 1992; 78: HERREN T, BÄRSTCH P, HAEBERELI A, STRAUB PW. Increased thrombin-antithrombin III complexes after 1h of physical exercise. Journal of Applied Physiology 1992; 73(6): HEITHOLD K, GLASS SC. Variations in the heart rate and perception of effort during land and water aerobics in older women. Journal of Exercise Physiology 2002; 5(4): HILL K, FEARN M, WILLIAMS S, et al. Effectiveness of a balance training home exercise programme for adults with haemophilia: a pilot study. Haemophilia 2010; 16(1):
56 55 HOPKINS WG, MARSHALL SW, BATTERHAM AM, HANIN J. Progressive statistics for studies in sports medicine and exercise science. Medicine & Science in Sports & Exercise 2009; 41(1): KARUGI H, TAKA T, NAKAJIMA S, NOGUCHI T, WATANABE S, SASAKI Y, HAGA S, UEDA T, SEKI J, and YAMAMOTO J. Norepinephrine, but not epinephrine, enhances platelet reactivity and coagulation after exercise in humans. Journal of Applied Physiology 1999; 86(1): INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE/IPAQ COMMITTEE. Guidelines for data processing and analysis of the IPAQ: United States Disponível em:< Acesso em: 10 de jul ISRAEL LG; ISRAEL ED. Mechanisms in Hematology 3th ed. Publisher: Core Health Science, JACKSON AS, POLLOCK ML. Generalized equations for predicting body density of men. British Journal of Nutrition 1978; 40(3): JILMA, B. DIRNBERGER, E. EICHLER, HG, et al. Partial blockade of nitric oxide synthase blunts the exercise-induced increase of von Willebrand factor antigen and of factor VIII in man. Thrombosis and Haemostasis 1997; 78(4): JOOTAR S, CHAISIRIPOOMKERE W, THAIKILA O, et al. Effect of runing exercise on haematological changes, hematopoetic cells (CFU-GM) and fibrinolytic system in humans Journal of the Medical Association of Thailand 1992; 75: KASPER CK, BUZIN CH. Genetics of hemophilia A and B: An introduction for clinicians. The CSL Behring foundation for research and advancement of patient health. United States Disponível em: < Acesso em: 16 abril de KELLY BT, ROSKIN LA, KIRKENDALL DT, et al. Shoulder muscle activation during aquatic and dry land exercises in nonimpaired subjects. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2000; 30(4):
57 56 KHAWAJI M, AKESSON K, BERNTORP E. Long-term prophylaxis in severe haemophilia seems to preserve bone mineral density. Haemophilia 2009; 15(1): KHAWAJI M, ASTERMARK J, AKESSON K, et al. Physical activity for prevention of osteoporosis in patients with severe haemophilia on long-term prophylaxis. Haemophilia 2010; 16(3): KHAWAJI M, ASTERMARK J, AKESSON K, et al. Physical activity and joint function in adults with severe haemophilia on long-term prophylaxis. Blood Coagulation & Fibrinolysis 2011; 22(1): KOCH B, LUBAN NL, GALIOTO FM Jr, et al. Changes in coagulation parameters with exercise in patients with classic hemophilia. American Journal of Hematology 1984; 16(3): KORSAN-BENGTSEN K, WILHELMSEN L, TIBBLIN G. Blood coagulation and fibrinolysis in relation to degree of physical activity during work and leisure time. Acta Medica Scandinavica 1973; 193(1-2): KRUEL LFM. Physiological and biomechanical alterations in individuals practicing water exercises inside and outside of the water. Unpublished doctoral thesis. Santa Maria Federal University, LIPPI G, MAFFULLI N. Biological influence of physical exercise on hemostasis. Seminars in Thrombosis and Haemostasis 2009; 35(3): LLINA S A, SILVA M, PASTA G, et al. Controversial subjects in musculoskeletal care of haemophilia: cross fire Haemophilia 2010; 16 (Suppl. 5), LUTEREK M, BARANOWSKI M, ZAKIEWICZ W, et al. PNF-based rehabilitation in patients with severe haemophilic arthropathy: case study. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009; 11(3): MANCO-JOHNSON MJ, ABSHIRE TC, SHAPIRO AD, et al. Prophylaxis versus episodic treatment to prevent joint disease in boys with severe hemophilia. New England Journal of Medicine 2007; 357(6):
58 57 MANDALAKI T, DESSYPRIS A, LOUIZOU C, et al. Marathon run III: effects on coagulation, fibrinolysis, platelet aggregation and serum cortisol levels. A 3-year study. Thrombosis and Haemostasis 1980; 43(1): MANNUCCI PM. Treatment of haemophilia: building on strength in the third millennium. Haemophilia 2011; 17 Suppl 3:1-24. MANO CS, Management of bleeding disorders in children. Hematology American Society of Hematology 2005; MANNUCCI MP, Evolution of the European guidelines for the clinical development of factor VIII products: little progress towards improved patient management. Hemophilia 2012; Oct 23. doi: /hae [Epub ahead of print]. MARVIN SG. Musculoskeletal complications of hemophilia: the joint. Copyright World Federation of Hemophilia, MASUMOTO K, TOMOKI S, HOTTA N, et al. Muscle activation, cardiorespiratory response, and rating of perceived exertion in older subjects while walking in water and on dry land. Journal of Electromyography and Kinesiology 2008; 18(4): MASUMOTO K, DELION D, MERCER JA. Insight into muscle activity during deep water running. Medicine & Science in Sports & Exercise 2009; 41(10): MENZEL K, HILBERG T. Blood coagulation and fibrinolysis in healthy, untrained subjects: effects of different exercise intensities controlled by individual anaerobic threshold. European Journal of Applied Physiology 2011; 111: MILLER, R. BEETON, K. GOLDMAN, E. et.al. Counselling guidelines for managing musculeskeletal problems in haemophilia in the 1990s. Haemophilia 1997: 3: MIYOSHI T, SHIROTA T, YAMAMOTO S, et al. Effect of the walking speed to the lower limb joint angular displacements, joint moments and ground reaction forces during walking in water. Disability and Rehabilitation. 2004; 26: MÓDOLO NSP, AZEVEDO VLF, SANTOS PSS, ROSA ML, CORVINO DR, ALVES LJSC. Estratégia Anestesiológica para Cesariana em Paciente Portadora de Deficiência de Fator XI: Relato de Caso. Revista Brasileira de Anestesiologia 2010; 60: 2:
59 58 MONAHAN PE, BAKER JR, RISKE B, et al. Physical functioning in boys with hemophilia in the U.S. American Journal of Preventive Medicine 2011; 41(6 Suppl 4): S MÜLLER ESM, BLACK GL, FIGUEIREDO PAP, KRUEL LFM, HANISH C, APPEL HJ. Electromyographic comparison of abdominal exercises in and out of water. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto 2005; 5(3): MULVANY R, ZUCKER-LEVIN AR., JENG M, et al. Effects of a 6-Week, Individualized, Supervised Exercise Program for People With Bleeding Disorders and Hemophilic Arthritis. Physical Therapy 2010; 90(4): MULDER K, CASSIS F, SEUSER DR, et al. Risks and benefits of sports and fitness activities for people with haemophilia. Haemophilia 2004; 10 Suppl 4: PETRINI P, SEUSER A. Haemophilia care in adolescents-compliance and lifestyle issues. Haemophilia 2009; 15 Suppl 1: NAZZARO AM, OWENS S, HOOTS WK, et al. Knowledge, attitudes, and behaviors of youths in the US hemophilia population: results of a national survey. American Journal of Public Health 2006; 96(9): PINTO SS, ALBERTON CL, FIGUEIREDO PAP, et al. Respostas de Frequência Cardíaca, Consumo de Oxigênio e Sensação Subjetiva ao Esforço em um Exercício de Hidroginástica Executado por Mulheres em Diferentes Situações Com e Sem o Equipamento Aquafins. Revista Brasileira de Medicina do Esporte 2008; 14 (4): PIO SF, OLIVEIRA GC, SM REZENDE. As Bases Moleculares da Hemofilia A. Revista da Associação Medica Brasileira 2009; 55(2): PÖYHÖNEN T, KESKINEN KL, HAUTALA A, et al. Determination of hydrodinamic drag forces and drag coefficients on human leg/foot model during knee exercise. Clinical Biomechanics 2000; 15: PRISCO D, PANICCIA R, BANDINELLI B, et al. Evaluation of clotting and fibrinolytic activation after protracted physical exercise. Thrombosis Research 1998; 89(2):
60 59 QUEROL F, GONZALEZ LM, GALLACH E, et al. Comparative study of muscular strehgth and trophism in healthy subjects and haemophilic patients. Haemophilia 2004; 10(suppl.3): QUEROL F, PÉREZ-ALENDA S, GALLACH JE, et al. Hemofilia: ejercicio y deporte. Apunts Medicina de l'esport 2011; 46(169): RIBEIRO J, ALMEIRA-DIAS A, ASCENSÃO A, et al. Hemostatic response to acute physical exercise in healthy adolescents. Journal of Science and Medicine in Sport 2007; 10; RIBEIRO JL, OLIVEIRA AR. Exercise and training effects on blood haemostasis. Revista Brasileira de hematologia e hemoterapia 2005; 27(3): RODRIGUEZ-MERCHAN EC. Musculoskeletal Complications of Hemophilia Hospital for Special Surgery Journal 2010; 6: RODRIGUEZ-MERCHAN EC. Prevention of the musculoskeletal complications of hemophilia. Advances in Preventive Medicine 2012; Epub 2012, jul. 14. doi: /2012/ ROYAL S, SCHRAMM W, BERNTORP E, et al. Quality-of-life differences between prophylactic and on-demand factor replacement therapy in European haemophilia patients. Haemophilia 2002; 8, SANTOS CS, COUTINHO CMCP, PORTO MG. et.al. - Tribunal de Contas da União Secretaria de Fiscalização e Avaliação de programas do Governo - Relatório de Auditoria: Ação de Atenção a Pacientes Portadores de Coagulopatias. Brasília SHONO T, MASUMOTO K, FUJISHIMA K, et al. Gait patterns and muscle activity in the lower extremities of elderly women during underwater treadmill walking against water flow. Journal Physiological Anthropology 2007; 26(6): SHONO T, FUJISHIMA K, HOTTA N, et al. Physiological responses and RPE during underwater treadmill walking in women of middle and advanced age. Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science 2000; 19(4):
61 60 SMITH JE. Effects of strenuous exercise on haemostasis. British Journal of Sports Medicine 2003; 37: SOUZA JC, SIMOES HG, CAMPBELL CS, et al. Haemophilia and exercise. International Journal of Sports Medicine 2012; 33(2): SRIVASTAVA A, BREWER AK, MAUSER-BUNSCHOTEN EP, et al. Treatment Guidelines Working Group on Behalf Of The World Federation of Hemophilia: Guidelines for the management of hemophilia. Haemophilia 2012; STEPHENSEN, D. EVANS, G. WINTER, M. Muscles atrophy: can it really be prevented or it is inevitable. Haemophilia 2004; 10 (suppl. 3): SUZUKI T, YAMAUCHI K, YAMADA Y, et. al. Blood coagulability and fibrinolytic activity before and after physical training during the recovery phase of acute myocardial infarction. Clinical Cardiology 1992; 15: TAKESHIMA N, ROGERS ME, WATANABE WF, et al. Water-based exercise improves health-related aspects of fitness in older women. Medicine & Science in Sports & Exercise 2002; 33: TIKTINSKY R, FALK B, HEIM M, et.al. The effect of resistance training on the frequency of bleeding in haemophilia patients: a pilot study. Haemophilia 2002; 8: TIKTINSKY R, KENET G, DVIR Z, et al. Physical activity participation and bleeding characteristics in young patients with severe haemophilia. Haemophilia 2009; 15(3): VALLEJO L, PARDO A, GOMIS M, et al. Influence of aquatic training on the motor performance of patients with haemophilic arthropathy. Haemophilia 2010; 16(1): VAN DEN BURG PJM, HOSPERS JEH, VAN VLIET M, et al. Effect of endurance training and seasonal fluctuation on coagulation and fibrinolysis in young sedentary men. Journal of Applied Physiology 1997; 82(2):
62 61 VAN DEN BURG PL, HOSPERS JE, MOSTERD WL. et al. Aging physical condition and exercise-induced changes in hemostatic factors and reaction products. Journal of Applied Physiology 2000; 88(5): VAN GENDEREN FR, VAN MEETEREN NLU, VAN DER BOM JG. et.al. Towards haemophilia activities list (HAL). Haemophilia 2002; 8: VAN DER NET J, VOS RC, ENGELBERT RH, et al. Physical fitness, functional ability and quality of life in children with severe haemophilia: a pilot study. Haemophilia 2006; 12(5): VON MACKENSEN S, GRINGERI A, SIBONI SM, et al. Italian Association of Haemophilia Centres (AICE). Health-related quality of life and psychological well-being in elderly patients with haemophilia. Haemophilia 2012; 18(3): VON MACKENSEN S. Quality of life and sports activities in patients with haemophilia. Haemophilia 2007; 13 Suppl 2: WEIGEL N, e CARLSON BR. Physical Activity and Hemophilia Yes or Not? American Corrective Therapy Association Journal 1975; 29 (6) WEISS C, SEITEL G, and BARTSCH P. Coagulation and Fibrinolysis after moderate and very heavy exercise in healthy male subjects. Medicine & Science in Sports & Execise 1991; 30: WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA/ WFH. Guidelines for the Management of Hemophilia: Montreal. 2005; Disponível em: < [19 nov 2011]. WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA/WFH. Report on the Annual Global Survey 2010: World Federation of Hemophilia, ZANON E, IORIO A, ROCINO A, et al. Intracranial haemorrhage in the Italian population of haemophilia patients with and without inhibitors. Haemophilia 2012; 18,
63 62 APÊNDICE APÊNDICE A Artigo aceito para publicação na Revista Brasileira de Cienantropometria e Desempenho Humano Artigo Original O efeito agudo do exercício aquático moderado em fatores da coagulação de pessoas com hemofilia Acute effect of moderate intensity aquatic exercise on coagulatory factors in persons with hemophilia O efeito agudo do exercício aquático em pessoas com hemofilia Luis Gustavo Normanton Beltrame 1,3, Andre Luis Normanton Beltrame 1, Ana Luisa Almeida 3, Paulo Roberto Sabino 2, Jussara Almeida 3, Laurinda Abreu 4, Daniel Alexandre Boullosa 1. 1 Universidade Católica de Brasília. Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Brasília, DF. Brasil. 2 Hospital das Forças Armadas de Brasília. Laboratório de Análises Clínicas. Brasília, DF. Brasil. 3 Centro Internacional de Treinamento em Hemofilia (IHTC-Brasil), Brasília, DF. Brasil. 4 Lavadores, Vigo, Spain. Estudo científico vinculado ao Comitê de Ética do Hospital das Forças Armadas de Brasília sob o protocolo 016/2010/CEP/HFA
64 63 Resumo - A hemofilia é um distúrbio da coagulação caracterizado por sangramento prolongado. O efeito do exercício físico sobre a hemostasia em hemofílicos ainda tem sido pouco estudado. Este estudo tem como objetivo analisar o efeito agudo de uma sessão de exercício moderado em meio aquático na hemostasia de pessoas com hemofilia. Os parâmetros hemostáticos analisados foram: fator VIII (FVIII), tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcialmente ativado (TTPA), e fibrinogênio. A amostra foi composta de 10 hemofílicos adultos (22,3 ± 7,3 anos; IMC 21,7 ± 3,27) familiarizados com o treinamento aquático. Durante toda a sessão a frequência cardíaca foi monitorada. Observouse um possível efeito benéfico no período do exercício no TP (-11,4%; intervalos de confiança -26,1 a 3,3%) e TTPA (-5,2%; -14,8 a 4,4); efeito incerto do FVIII (+42%; 90% -35 a 120%), sem mudanças nos níveis de fibrinogênio; e uma associação significativa entre FC durante o exercício e o TP após exercício (r=0,770; p=0,009). As maiores mudanças foram encontradas em hemofílicos moderados. Uma sessão de exercícios moderados na água pode influenciar positivamente alguns fatores de coagulação em pessoas com hemofilia. Este é um aspecto importante na melhora do quadro clínico. Entretanto, maiores estudos são necessários para verificar a influencia de diferentes intensidades e o exercício crônico sobre o processo hemostático desta população. Palavras chaves: hemartrose, hemofilia, hemostasia, exercício Abstract - Hemophilia is a bleeding disorder characterized by prolonged bleeding episodes. The effect of the exercise on the coagulation cascade in hemophiliacs has been poorly studied. The goal of this study was to analyze the acute effect of a single session of moderate aquatic exercise on haemostasis in hemophiliacs. The haemostatic parameters selected were: factor VIII (FVIII) levels, protrombine time (PT), activated partial tromboplastine time (APTT), and fibrinogen. The sample was composed by 10 hemophiliac adults (22.3 ± 7.3 yrs; BMI 21.7 ± 3.27) familiarized with aquatic training. Exercise intensity was monitored by means of heart rate (HR). There were possibly beneficial effects of the exercise bout on PT ( 11.4%; confidence intervals 26.1 to 3.3%) and APTT ( 5.2%; 14.8 to 4.4), an unclear effect of FVIII (+42%; 90%: 35 to 120%), with a trivial change on fibrinogen levels; and a significant association between the mean rise in HR during session and PT after exercise (r=0.770; p=0.009). The greater changes were observed in the participants with the moderate level of hemophilia. A short bout of moderate intensity of aquatic exercise may have a positive influence on some coagulatory factors in adults with haemophilia. This may be an important issue in a clinical setting. Further studies are warranted for testing the influence of different exercise intensities and regular exercise on haemostasis. Key Words: hemarthrosis, haemostasis, hemophilia, exercise
65 64 INTRODUÇÃO A hemofilia está entre as coagulopatias de maior importância 1. A principal característica da hemofilia é a deficiência dos fatores de coagulação que interrompem o processo hemostático, ocasionando um sangramento prolongado, o qual está associado a uma frequência maior de hemartroses e sinovitis de acordo com o grau de severidade da enfermidade 2. Estes quadros hemorrágicos envolvem um processo degenerativo da articulação, conhecido como artropatia hemofílica, onde as hemorragias intra-articulares representam entre 65% a 80% dos episódios de sangramento 2. Esses eventos podem levar a subsequente período de imobilização, atrofia muscular, diminuição de força e amplitude articular, que consequentemente induzem um ciclo vicioso que favorece um estilo de vida sedentário 2, aumentando as co-morbidades e novos episódios de sangramento 3,4. Nesse contexto o exercício físico regular tem demonstrado um importante papel no ganho de força 5,6, resistência 7, e propriocepção 8. Além disso, o exercício físico tem sido associado a prevenção 5,6,8,9 e melhor recuperação de episódios de sangramento 2. Desta forma o exercício regular pode ser considerado um meio interessante e eficiente no tratamento de pessoas com hemofilia e na melhora da qualidade de vida desta população (QoL) 10,11. Estudos prévios tem demonstrado o efeito agudo do exercício intenso no processo de coagulação Dufax et al. 15 sugerem que o exercício altera três cascatas proteolíticas (coagulação, fibrinólise e sistema complementar) envolvidas na hemostasia. Além disso, há evidências científicas que reportam o efeito do exercício no processo de coagulação sobre a contagem de plaquetas, agregação plaquetária e diminuição do tempo de tromboplastina parcialmente ativado (TTPA) associado ao aumento do fator VIII (FVIII) 16. Dessa forma observa-se que o exercício físico pode exercer um efeito agudo positivo sobre vários parâmetros hemostáticos, principalmente na diminuição do TTPA e aumento de FVIII após o exercício. Todavia tais estudos foram conduzidos em indivíduos saudáveis ou com outras patologias. Encontramos apenas um estudo com hemofílicos 17 que reporta um aumento transitório dos níveis de FVIII em crianças com hemofilia A leve e moderada; e uma diminuição no tempo de protrombina (TP) em hemofílicos com grau moderado e severo após um exercício incremental em cicloergômetro. Este estudo sugere uma efetiva resposta do efeito agudo do exercício sobre o sistema hemostático de crianças com hemofilia. Entretanto, dado o grande número de fatores que influenciam a hemostasia, assim como o tipo e intensidade do exercício 18,19, o potencial de interação com os níveis séricos de fator presente
66 65 no sangue e o tipo de hemofilia, mais estudos se mostram necessários para testar o possível benefício do exercício sobre as respostas agudas na hemostasia, e mais especificamente em hemofílicos adultos. Assim, tal como sugerido que a diminuição do TTPA poderia ser um parâmetro interessante na melhora do quadro clínico da hemofilia 20, seria interessante verificar os níveis de TTPA assim como outros parâmetros de coagulação após uma sessão de exercícios. Todas estas informações podem ser relevantes para determinação da melhor dose resposta do exercício em pessoas com hemofilia (PCH). Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar a hipótese de que uma sessão de exercícios aquáticos poderia afetar positivamente a resposta hemostática em um grupo de adultos hemofílicos. Este modelo de intervenção foi utilizado a partir de recomendações recentes de vários estudos 6-8. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS Participantes Participaram voluntariamente deste estudo 10 hemofílicos (8 do tipo A, 2 do tipo B). Metades dos sujeitos foram diagnosticados com hemofilia severa, e os demais com hemofilia moderada. Para verificar o nível de atividade física foi aplicado o questionário internacional de atividade física (IPAQ - versão curta) 21, com resultados expressos em equivalentes metabólicos (METs). Para verificar o percentual de gordura (%G) foi adotado o protocolo de Jackson e Pollock 22. Os dados para estimativa da intensidade do exercício foram frequência cardíaca de repouso (FCR), média da frequência cardíaca durante o exercício (FCM), e percentual da frequência cardíaca máxima estimada (%FCmax). As características da amostra estão apresentadas em estatística descritiva (média e desvio padrão) na Tabela 1. Os voluntários foram informados para não realizar qualquer atividade física intensa e para evitar a ingestão de álcool 24 h antes da coleta de dados. Não foi permitido qualquer medicamento que influenciasse na hemostasia 72 h antes da coleta de dados. Todos os participantes preencheram um termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital das Forças Armadas de Brasília (protocolo 016/2010/CEP/HFA).
67 66 Tabela 1. Características da amostra Variáveis Média Desvio Padrão Idade (anos) 22 ± 7,3 IMC (Kgm 2 ) 22 ± 3,3 FCR (bpm) 70 ± 8,1 FCM (bpm) 139 ± 16,5 % FCmax (%) 70 ± 9,2 METs* 3818 ± 3415 %G (%) 12 ± 6 IMC (Índice de Massa Corporal); FCR (frequência cardíaca de repouso; bpm); FCM (média da frequência cardíaca durante o exercício; bpm); % FCmax (percentual da frequência cardíaca máxima); METs (equivalente metabólico minuto/semana), % G (percentual de gordura corporal). *Referencial de valores do questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ): pouco ativo (< 600 METs), moderadamente ativo ( METs), ativo ( METs), muito ativo (> 3000 METs). Procedimentos Antes do dia da coleta os participantes foram familiarizados com os procedimentos aplicados durante sessões realizadas em quatro semanas (ex. 2-3 dias por semana). As sessões foram realizadas em piscina aberta de 12 x 6 m em profundidade de 1,60 m. Todas as sessões foram realizadas no mesmo período do dia (ex a.m.), sob condições termoneurais, com temperatura ambiente entre 28ºC e 30ºC e umidade relativa do ar de ~30%. As sessões de exercício consistiram de 5 minutos de aquecimento e alongamento seguidos de 20 minutos de exercícios variados em meio líquido. Os exercícios foram realizados em períodos de 5 minutos em velocidade moderada em posição vertical e decúbito dorsal (Figura 1). Os exercícios realizados foram: pernada de costas com flexão plantar, pernada de costas com extensão plantar, abdução com flexão plantar e corrida na água em diversas direções. Após a sessão de exercícios os participantes realizaram um relaxamento e alongamento por 5 min. A intensidade da sessão de 20 minutos de exercício foi controlada por monitor de frequência cardíaca (FS1, Polar Electro Oy, Finland). A frequência cardíaca máxima (FCmax) foi calculada a partir da formula idade. A intensidade estimada da sessão de exercícios foi entre 56%-86% da FCmax e o % da FC durante o exercício foi calculado pela média atingida após a sessão. Foi calculada a elevação da média (%) da FC pela diferença entre FC em repouso antes do exercício e a média durante o exercício (Figura 2).
68 67 Flutuador Figura 1. Treinamento aquático Antes e imediatamente após a sessão de exercício foram realizadas quatro coletas de sangue em sistema fechado (5 ml c/u) de cada participante. Subsequentemente as amostras foram estocadas em tubos de citrato, armazenadas e encaminhadas para Laboratório de Análises Clínicas do Hospital das Forças Armadas (HFA). As amostras de sangue foram centrifugadas a 3500 r.p.m. por 15 minutos em temperatura ambiente para a obtensão do plasma pobre me plaquetas (PPP). Os parâmetros hemostáticos foram avaliados em coagulômetro (ACL 9000, Instrumentation Laboratory, USA). As variáveis mesuradas foram: tempo de protrombina (TP); tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPA); fator VIII (FVIII); fibrinogênio de Claus (F). Todos os procedimentos laboratoriais seguiram as recomendações do Centro Internacional de Treinamento em Hemofilia (IHTC) de Brasília. Análise estatística Para o tratamento estatístico foi utilizado o programa Statistical package for the social sciences (v 16.02, SPSS Inc., Chicago, WI, USA). Os dados foram apresentados em média ± DP. Para verificar a distribuição normal das variáveis utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. As diferenças entre os parâmetros hemostáticos medidos antes e após a sessão de exercícios foram verificadas com o teste T de Student pareado. Para verificar a magnitude das mudanças foi calculado o tamanho do efeito (ES) a partir da fórmula: [/(Mpré -
69 68 Mapós)/DP agrupado/], sendo que "Mpré" representa o valor médio da variável antes da sessão; "Mapós" é o valor médio após a sessão; e "DP agrupado" representa a média dos desvios padrão em ambos momentos. Os limiares para o ES foram: 0,2 (pequeno); 0,6 (moderado); 1,2 (grande); e 2,0 (muito grande) 23. O grau de incerteza da estimativa da mudança percentual média foi expresso em intervalo de confiança a 90% (90% IC). Foram realizadas inferências baseadas em magnitudes a partir das probabilidades das mudanças serem benéficas, insignificantes e prejudiciais. Para isso foi assumido um mínimo efeito prático ou mínima mudança importante nas variáveis hemostáticas de 0,2 multiplicadas pelo desvio padrão entre sujeitos, expresso como coeficiente de variação (CV%). Os limiares para atribuição de termos qualitativos às chances dos efeitos serem substanciais foram: < 0,5%, quase certamente não; 0,5-5%, muito improvável; 5-25%, improvável; 25-75%, possível; 75-95%, provável; 95-99,5%, muito provável; > 99,5% quase certamente sim 23. Os efeitos foram julgados clinicamente incertos se a chance de serem benéficos fosse >25% e a chance de ser prejudicial fosse > 0,5%. Para inferências mecanicistas, os efeitos foram considerados incertos se o intervalo de confiança sobrepusesse os limiares para valores substancialmente positivos ou negativos. Diferenças entre grupos e intra-grupos através das condições de severidade da doença foram analisadas pelo teste de Wilcoxon ou com o teste de Mann-Whitney, conforme o mais apropriado. As relações entre os parâmetros foram avaliadas utilizando o coeficiente de correlação de Pearson (r). O nível de significância estatística admitiu o valor de p<0,05. RESULTADOS A intensidade média da sessão de exercício foi de 56 a 88% da FC max, com um valor médio de 70% FC max. A média de elevação da FC durante o exercício resultou 69±18 bpm (101±33%). Não houve mudanças significativas nas variáveis do estudo (ver Tabela 2), com uma alta variabilidade observada entre sujeitos. Entretanto, quando realizada uma aproximação estatística inferencial baseada em magnitudes e no significado clínico, os resultados qualitativos revelaram que o TTPA exibiu efeitos possivelmente benéficos, com um tamanho de efeito de 0,28. O TP foi a variável com maior mudança (ES=0,61). Foi encontrada uma
70 TP após (s) 69 correlação significante nos níveis de TP após a sessão de exercício e elevação da FC (veja na figura 2). Tabela 2. Parâmetros da coagulação mensurados antes (Pré) e após (Pós) sessão de exercícios e magnitude das diferenças entre as condições. Parâmetros "Pré-" "Pós-" % Mudança Inferências qualitativas Coagulação (média ± DP) (média ± DP) (90% IC) ES Clínica Mecanicista FVIII (UI.dL 1 ) 1,75 ± 0,94 2,31 ± 1,83 42 ( 35; 120) 0,38 Incerto Incerto TP (s) 18,28 ± 11,45 13,28 ± 1,13 11,4 ( 26,1; 3,3) 0,61 Possivelmente benéfico Possivelmente insignificante TTPA (s) 77,56 ± 18,4 72,44 ± 18,19 5,2 ( 14,8; 4,4) 0,28 Incerto Possivelmente benéfico Fibrinogênio (mg.dl 1 ) 304,9 ± 49,2 305,1 ± 47,9 0,6 ( 5,1; 6,4) 0,003 Possivelmente insignificante Incerto Fator VIII (FVIII); tempo de protrombina (TP); tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPA); variação percentual média (%); intervalo de confiança de 90% (90% IC); tamanho do efeito (ES). r = p = Mudanças FC (%) Figura 2. Relação entre o tempo de protrombina (TP) após a sessão de exercícios e a mudança percentual média da frequência cardíaca (FC) durante o exercício.
71 70 Como esperado, houve grandes mudanças em pacientes com níveis de severidade moderado da doença, todavia estas alterações não foram estatisticamente significantes (ver Tabela 3). Mudanças de acordo com o tipo de hemofilia podem ser encontradas na Tabela 3 para maiores comparações. Tabela 3. Variação percentual media entre pré- e pós-exercício de acordo com tipo de hemofilia (A vs. B) e o grau de severidade (Severo vs. Moderado). Grau de severidade Tipo de hemofilia Coagulação Severo (n=5) (média Moderado (n=5) A B (média ± DP) (média ± DP) (média ± DP) ± DP) FVIII (UI.dL 1 ) 7,4 ±10,5 50,6 ± 75,8 41,8 ± 81,2 14,4 ± 20,3 TP (s) 10,7 ± 34,6 12,1 ± 25,8 15,0 ± 31,5 2,9 ± 1,1 TTPA (s) 5,2 ± 23,4 5,2 ± 8,2 7,3 ± 18,1 3,2 ± 3,0 Fibrinogênio (mg.dl 1 ) 4,6 ± 10,5 5,9 ± 6,3 0,002 ± 10,686 3,2 ± 8,1 Fator VIII (FVIII), tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcialmente ativado (TTPA). DISCUSSÃO Este é o primeiro estudo para analisar o efeito agudo do exercício aquático sobre as respostas hemostáticas em um grupo de adultos hemofílicos. Não foram encontradas diferenças significativas nos marcadores de coagulação medidos após uma sessão de exercícios. Entretanto foi observada uma alta variabilidade nas respostas individuais; no incremento de FVIII; na redução do TP e TTPA com um maior efeito benéfico observado em hemofílicos moderados. Além disso, foi verificada uma correlação significativa entre a elevação da FC durante o exercício e os níveis de TP pós-exercício. Em conjunto, estes achados sugerem que este tipo de intervenção pode proporcionar um impacto positivo na resposta hemostática em adultos hemofílicos. Os achados do presente estudo estão de acordo com um estudo prévio 17 realizado com crianças hemofílicas, no qual foram encontrados aumentos dos níveis de FVIII e níveis de
72 71 fibrinogênio, com uma diminuição de TP após uma sessão de cicloergometro. Porém, no presente estudo não foram evidenciadas mudanças substanciais nos níveis de fibrinogênio considerando toda a amostra. Esta ausência de mudanças nos níveis de fibrinogênio está de acordo com uma pesquisa previa em pessoas saudáveis após uma maratona 24. Apesar de não termos considerado as diferenças de idade ou nível de treinamento entre os participantes dos diferentes estudos, parece que a intensidade média do exercício poderia ser o maior fator que contribui para estas diferenças. Assim, a intensidade do exercício tem sido apresentada como um aspecto de grande relevância para o incremento do FVIII 13,14, enquanto os outros fatores de coagulação parecem não se alterar com este parâmetro de carga 25. De acordo com esta afirmação, a intensidade do exercício no presente estudo com média de 70% FC max, com uma variação de 56 a 88% da FC max, sugere que a média de intensidade da sessão; e portanto a descarga adrenal 18 podem ser menores com relação ao estudo prévio com crianças hemofílicas que se exercitaram até exaustão 17. Entretanto, é difícil comparar tais respostas dadas a partir dos diferentes perfis (triangular VS. retangular) ou modelos (aquático VS. cicloergometro) dos exercícios empregados. Não obstante, também tem sido reportado que mudanças na atividade fibrinolítica não são evidentes em intensidades menores que 50% da FC max 12,25 com um grande incremento observado entre 70 e 90% da carga máxima de trabalho 12,26 com estas alterações mantidas entre 45 min. e 24 h após a sessão de exercício 25,27,28. Desta forma, considerando todos os resultados em conjunto, estima-se que pessoas com hemofilia A moderada poderiam se beneficiar de um incremento do FVIII ao passo que aumentem a intensidade do exercício. Já em hemofílicos severos estima-se mais apropriado o tratamento profilático frente a atividades de alta intensidade para manutenção dos níveis necessários de fator (FVIII) no sangue. Entretanto, como os exercícios aquáticos tem sido mais recomendados do que os exercícios de pedalar para hemofílicos 7, mais estudos comparando alta intensidade deste modelo de exercício são justificáveis. O TTPA demonstrou uma modificação possivelmente positiva quando considerado uma perspectiva mecanicista. Este achado está de acordo com estudos prévios 13,14,24,29. Além disso, possíveis benefícios em TP a partir de uma perspectiva clínica estão de acordo com o estudo prévio em crianças com hemofilia 17, considerando não haver consenso sobre o efeito agudo do exercício em relação a estes parâmetros 14,25,27-29,. As mudanças no TP e TTPA pósexercício poderia ir de 1 h a 24 h 13, com a observação de uma grande redução em pessoas fisicamente ativas quando comparado a pessoas sedentárias 25,30. As correlações exibidas dos níveis de TP após uma sessão de exercício e a elevação da FC durante o exercício (Figura 2)
73 72 reforçam outra vez a possibilidade do papel da intensidade do exercício na resposta hemostática. Assim, enquanto maiores estudos poderiam avaliar o tempo da cinética de ativação da resposta aguda e a relação com a intensidade do exercício, todos os achados demonstram a importância do exercício físico regular para hemofílicos assim como as suas respostas hemostáticas após uma sessão de exercício poderia melhorar quando se encontram fisicamente ativos. Outro resultado interessante refere-se a melhor resposta observada em hemofílicos moderados (Tabela 3), levando-se em conta o número limitado de participantes. Este resultado está de acordo com o estudo realizado anteriormente 17. Nestas condições, e apesar de não ter muito claro o efeito do exercício em alguns parâmetros da coagulação, a melhora de um fator de coagulação poderia ser clinicamente importante para estes pacientes independentemente da severidade ou até mesmo do tipo de hemofilia. A partir do efeito positivo do exercício sobre alguns fatores com ausência da resposta de outros, sugere-se que aquelas limitações geneticamente determinadas poderiam ser parcialmente contra-arrestadas pela resposta de outros fatores de coagulação influenciados pelo exercício. Além disso, maiores estudos justificam a importância de uma análise mais ampla da cascata de coagulação, incluindo outros fatores e marcadores, tais como plasminogênio uroquinase (upa) 25 e o plasminogênio tecidual (tpa) 14. A maior limitação deste estudo foi o número de participantes que limitou as comparações entre a severidade da doença e mais especificamente entre os tipos de hemofilia. Entretanto, esta é uma limitação comum reportada em estudos anteriores, mostrando-se a necessidade de mais estudos que verifiquem efeitos da intensidade do exercício e a sua regularidade sobre as respostas hemostáticas em pessoas com hemofilia. CONCLUSÃO O efeito agudo de uma sessão de exercícios aquáticos de intensidade moderada de curta duração melhora alguns componentes da cascata de coagulação como o FVIII, TP, TTPA, com maiores respostas observadas em hemofílicos moderados e tipo A. De acordo com os resultados do presente estudo, pode-se sugerir uma possível redução de episódios de sangramento e, portanto do uso da medicação para pessoas com hemofilia, reforçando a
74 73 importância clínica do exercício aquático, que deverá ser confirmada em estudos com amostras maiores.
75 74 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Kasper CK, Buzin CH. Genetics of hemophilia A and B: An introduction for clinicians. The CSL Behring foundation for research and advancement of patient health: United States. 2007; Available from: < genmonograph. pdf > [2012 apr 16]. 2. Tiktinsky R, Falk B, Heim M, Martinovitz U. The effect of resistance training on the frequency of bleeding in haemophilia patients: a pilot study. Haemophilia 2002; 8(1): González LM, Querol F, Gallach JE, Gomis M, Aznar VA. Force fluctuations during the maximum isometric voluntary contraction of the quadriceps femoris in haemophilic patients. Haemophilia 2007; 13(1): Beeton K, Cornwell J, Alltree J. Muscle rehabilitation in haemophilia. Haemophilia 1998; 4(4): Broderick CR, Herbert RD, Latimer J, Curtin JA, Selvadurai HC. The effect of an exercise intervention on aerobic fitness, strength and quality of life in children with hemophilia. BCM Blood Disord 2006;6:2. Available from: < 6. Souza JC, Simões HG, Campbell FL, Pontes FL, Boullosa DA, Prestes J. Haemophilia and exercise. Int J Sports Med 2011; 32(2): Vallejo L, Pardo A, Gomis M, Gallach JE, Pérez S, Querol F. Influence of aquatic training on the motor performance of patients with haemophilic arthropathy. Haemophilia 2010; 16(1): Franco J, Sayago M, Bernardes M, Machado J, Almeida J. Analysis of the effects of aquatics rehabilitation in static postural control in patients hemophiliac: case study. Haemophilia 2006; 12(suppl. 2): Herbsleb M, Hilberg T. Maximal and submaximal endurance performance in adults with severe haemophilia. Haemophilia 2009; 15(1):
76 Querol F, Pérez-Alenda S, Gallach JE, Devís-Devís J, Valencia-Peris A, González LM. Hemofilia: ejercicio y deporte. Apunts Med Esport 2011; 46(169): Von Mackensen S. Quality of life and sports activities in patients with haemophilia. Haemophilia 2007; 13(Suppl 2): Andrew M, Carter C, O'Brodovich H, Heigenhauser G. Increases in factor VIII complex and fibrinolytic activity are dependent on exercise intensity. J Appl Physiol. 1986; 60(6): Arai M, Yorifuji H, Ikematsu S, Nagasawa H, Fujimaki M, Fukutake K, et al. Influences of strenuous exercise (triathlon) on blood coagulation and fibrinolytic system. Thromb Res 1990; 57(3): El-Sayed MS, Lin X, Rattu AJ. Blood coagulation and fibrinolysis at rest and in response to maximal exercise before and after a physical conditioning program. Blood Coagul Fibrinolysis 1996; 6(8): Dufaux B, Order U, Liesen H. Effect of a short maximal physical exercise on coagulation, fibrinolysis, and complement system. Int J Sports Med 1991;12(Suppl 1):S Lippi G, Maffulli N. Biological influence of physical exercise on hemostasis. Semin Thromb Hemost 2009; 35(3): Koch B, Luban NL, Galioto FM Jr, Rick ME, Goldstein D, Kelleher JF Jr. Changes in coagulation parameters with exercise in patients with classic hemophilia. Am J Hematol. 1984; 16(3): Ribeiro JL, Oliveria AR. Exercise and training effects on blood haemostasis. Rev Bras Hematol Hemoter 2005; 27(3): Van Den Burg PJM, Hospers JE, Van Vliet M, Mosterd WL, Bouma BN, Huisveld IA. Effect of endurance training and seasonal fluctuation coagulation and fibrinolysis in young sedentary men. J Appl Physiol 1997; 82(2): World Federation of Hemophilia/ WFH. Guidelines for the Management of Hemophilia: Montreal. 2005; Available from: < Hemophilia-WHF-2005.pdf> [2011 nov 19].
77 International Physical Activity Questionnaire/IPAQ committee. Guidelines for data processing and analysis of the IPAQ: United States. 2005; Available from: < [2010 jul 10]. 22. Jackson AS, Pollock ML. Generalized equations for predicting body density of men. Br J Nutr 1978; 40(3): Hopkins WG, Marshall SW, Batterham AM, Hanin J. Progressive statistics for studies in sports medicine and exercise science. Med Sci Sports Exerc 2009; 41(1): Mandalaki T, Dessypris A, Louizou C, Panayotopoulou C, Dimitriadou C. Marathon run III: effects on coagulation, fibrinolysis, platelet aggregation and serum cortisol levels. A 3-year study. Thromb Haemost 1980; 43(1): El-Sayed MS, Sale C, Jones PG, Chester M. Blood hemostasis in exercise and training. Med Sci Sports Exerc 2000; 32(5): Davis GL, Abildgaard CF, Bernauer EM, Britton M. Fibrinolytic and hemostatic changes during and after maximal exercise in males. J Appl Physiol 1976; 40(3): Ferguson EW, Bernier LL, Banta GR, Yu-Yahiro J, Schoomaker EB. Effects of exercise and conditioning on clotting and fibrinolytic activity in men. J Appl Physiol 1987; 62(4): Prisco D, Paniccia R, Bandinelli B, Fedi S, Cellai AP, Liotta AA, et al. Evaluation of clotting and fibrinolytic activation after protracted physical exercise. Thromb Res 1998; 89(2): Herren T, Bärstch P, Haebereli A, Straub PW. Increased thrombin-antithrombin III complexes after 1h of physical exercise. J Appl Physiol 1992; 73(6): Korsan-Bengtsen K, Wilhelmsen L, Tibblin G. Blood coagulation and fibrinolysis in relation to degree of physical activity during work and leisure time. Acta Med Scand 1973; 193(1-2):
78 77 APÊNDICE B Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Eu,, responsável por, abaixo assinado, juntamente aos promotores da pesquisa, declaro ter lido ou ouvido e compreendido totalmente o presente termo de consentimento para participação voluntária do aluno(a),o (a) qual sou responsável, nessa pesquisa, o qual estabelece o seguinte: O aluno está participando de livre e espontânea vontade de uma pesquisa para identificar e analisar através de um teste de 20 minutos, efeitos na hemostasia (via coleta de sangue antes e após o teste) e também medições de composição corporal (peso, altura e dobras cutâneas). Nenhum tipo de pagamento será efetuado pela participação do aluno (a) como voluntário nessa pesquisa. Para essa pesquisa, será necessário que o aluno seja praticante de atividades físicas regulares e devidamente liberado pelos médicos para tal fim. Qualquer informação ou resultados obtidos será mantido em sigilo e a discrição dos mesmos em publicações científicas ocorrerá sem qualquer chance de identificação. Tenho assegurado o direito de abandonar a participação nessa pesquisa a qualquer momento, bastando para isso comunicar o desejo aos pesquisadores. Após estes esclarecimentos, solicitamos seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Nome do Participante da Pesquisa Assinatura do Responsável Assinatura do Pesquisador Assinatura do Orientador Testemunha
79 78 APENDICE C - Resumo expandido premiado no 2º ConCREF7 Anais do 2º Congresso do Conselho Regional de Educação Física da 7º Região V.1, n.1, 73-79; 2012 ISSN Efeito agudo do treinamento aquático intervalado sobre marcadores da coagulação em pessoas com hemofilia Temática: Atividade física e saúde Comunicação Oral Luis Gustavo Normanton Beltrame 1 Wallace Araujo de Barros 2 Laís Tonello 1 Daniel Alexandre Boullosa 1 Universidade Católica de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil. luisbeltrame@gmail.com Resumo Introdução: A hemofilia é uma enfermidade de ordem hereditária caracterizada por episódios de sangramento prolongado. O objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos agudos do treinamento intervalado aquático sobre tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcialmente ativado (TTPA) e fibrinogênio em hemofílicos grave. Métodos: A amostra foi composta por 6 hemofílicos (5 do tipo A e 1 do tipo B), com 25,3 (±6,6) anos, 67,2 (±10,4) kg, estatura 1,70 (±0,1) metros e IMC 23,1 (±3,1) kg/m 2. Os indivíduos foram submetidos a três coletas de sangue: antes, logo após e 30 minutos após exercício aquático intervalado. Para verificar as mudanças ocorridas utilizou-se o tamanho de efeito (ES) e comparação entre as médias. Também foram verificadas as correlações entre os parâmetros avaliados. Resultados: Foram observadas mudanças não significativas nos parâmetros medidos logo após e 30 minutos após o treinamento aquático intervalado com resultados mais expressivos do tamanho do efeito em TP (ES = -0,44) e fibrinogênio (ES = 0,49). Não houve correlação entre os parâmetros avaliados. Conclusão: O feito agudo do treinamento aquático intervalado sobre os mecanismos de ativação do processo hemostático de hemofílicos grave representa uma tendência a otimização do processo de coagulação que sugere a necessidade de estudos com amostras maiores. Palavras chave: Hemostasia, Treinamento intervalado, exercício aquático, Hemofilia. 1 Pós-graduação Stricto Sensu em Educação Física da Universidade Católica de Brasília. Instituição financiadora: IMUNOTECH Sistemas e Diagnósticos. 2 Laboratório de Análises Clinicas do Hospital das Forças Armadas do Distrito Federal
80 79 Abstract Introduction: The hemophilia is a genetic disease characterized by prolonged bleeding episodes. Goal: The aim of this study was analyze the acute effect of an aquatic interval training session on protrombin time (PT), activated partial tromboplastine time (APTT) and fibrinogen in persons with severe hemophilia. Methods: The sample was composed by 6 hemophiliacs (5 type A and 1 type B) aged 25,3 (±6,6), 67,2 (±10,4) kg, 1,70 (±0,1) m and BMI 23,1(±3,1)kg/m 2.. The subjects were evaluated in various hemostatic parameters: before, immediately after, and 30 minutes after the interval workout in the pool. Effect size (ES) and paired t test were employed to verify changes in selected parameters. Associations between variables were also assessed Results: Although non significant, there were observed some changes on the measured parameters before, immediately after, and 30 minutes after the aquatic interval training with the greater effect size values for PT (ES = - 0,44) and fibrinogen (ES = 0,49). There was no correlation between evaluated parameters. Conclusion: The acute effect of the aquatic interval training on activation of the haemostatic mechanism in person with severe hemophilia demonstrated a tendency to optimization of the coagulation process that warrants further investigation with greater a sample size. Keywords: Hemostasis, Aquatic exercise, interval training, Hemophilia
81 80 Efeito agudo do treinamento aquático intervalado sobre marcadores da coagulação em pessoas com hemofilia Introdução As coagulopatias são enfermidades caracterizadas pela deficiência qualitativa ou quantitativa de alguns dos fatores de coagulação sanguínea. Dentre as coagulopatias de maior gravidade estão à hemofilia A (deficiência de FVIII) e a hemofilia B (deficiência de FIX). A hemofilia é uma enfermidade de ordem hereditária, na maioria dos casos, com uma prevalência de 1 para cada 5000 e atinge preferencialmente pessoas do sexo masculino (KASPER and BUZIN, 2007). Esta enfermidade é caracterizada por episódios de sangramento prolongado. Entre as complicações clínicas mais comuns em pessoas com hemofilia estão as hemartroses que ocupam cerca de, 65 a 85% dos episódios de sangramento e os sítios sangramento mais afetados são joelho cotovelo e tornozelo (FERNÁNDEZ- PALAZZI and BATTISTELLA, 1992). Entretanto os episódios de sangramento podem ocorrer em qualquer parte do corpo, acarretando danos de ordem músculo esquelética e psicossociais associados à inatividade física (TIKTINSKY et al., 2002), levando a uma piora da qualidade de vida (VON MACKENSEN S, 2007). Devido à insegurança em relação aos episódios hemorrágicos articulares e musculares estudos relatam uma forte tendência entre os pais de crianças com hemofilia a prevenir seus filhos aderindo a programas de exercício físicos (LLINA et al., 2010). Desta forma é observada a adoção de comportamentos sedentários entre esta população na fase adulta. Evidências científicas têm reportado que tais comportamentos estão associados a atrofia muscular, instabilidade articular e restrição de movimento (TIKTINSKY et al., 2002), resultando em diminuição de força muscular, capacidade aeróbia e anaeróbia, propriocepção e flexibilidade (HILBERG et al., 2003). Estes quadros são mais comumente observados em hemofílicos adultos do que em crianças e adolescentes (STREET et al., 2006). O medo da ocorrência de episódios hemorrágicos articulares e musculares tem levado pessoas com hemofilia a não participarem de programas de exercício levando os mesmo a inatividade física acarretando no sedentário (LLINA et al., 2010),. Entretanto há evidências que indicam que a atividade física produz um estado transitório de hipercoagulabilidade (LLINA et al., 2010). Devido ao aumento de geração de trombina, hiperatividade plaquetária e aumento dos fatores de coagulação, tais como FVIII e FvW (LIPPI e MAFFULLI, 2009; OTHMAN et al., 2009). Entretanto há poucos estudos que analisem os efeitos da atividade física sobre o processo hemostático de pessoas com hemofilia. Objetivo do estudo Tal estudo pretende analisar os efeitos agudos de alguns marcadores da coagulação: tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcialmente ativado (TTPA) e fibrinogênio, em pessoas com hemofilia submetidas a um treinamento intervalado aquático. Revisão de literatura A coagulação esta dividida em duas etapas a hemostasia primária, caracterizada pela atividade plaquetária; e a hemostasia secundária onde são observadas mudanças na geração de trombina e fatores de coagulação até a formação da rede de fibrina. A ativação da coagulação resulta da formação de trombina, no aumento de fibrino peptídeo A, de fatores coagulantes ativos, e em um estado hipercoagulante no pós-exercício com um encurtamento no tempo de
82 81 coagulação sanguínea e diminuição do tempo de tromboplastina parcialmente ativado (TTPA) (). O TTPA, tempo de protombina (TP) e fibrinogênio são marcadores importantes no processo de coagulação. O TTPA está relacionada às vias intrínsecas e comuns da cascata de coagulação (pré-calicreína, cininogênio de alto peso molecular, fatores XII, XI, IX, VIII, X, V, protombina e fibrinogênio), sendo mais sensível à deficiência dos fatores VIII e IX (). O TP prolongado está associado a anomalias na via extrínseca da coagulação (fatores VII, V, X, protrombina ou fibrinogênio). (O fibrinogênio marca a fase final do tampão hemostático. Estudos prévios tem sugerido a alteração de alguns dos componentes da coagulação sanguínea como aumento de FVIII e FIX (LIPPI e MAFFULLI, 2009), diminuição no TTPA e TP induzidos por uma resposta aguda ao exercício (El-SAYED et al., 2000), além da ativação do sistema fibrinolítico (LIPPI e MAFFULLI, 2009). Entretanto são poucos estudos que tem observado tais eventos em pessoas com hemofilia (KOCH et al.,1984; DEN UIJL et al., 2011). Estudos mais recentes têm reportado ações benéficas de testes de esforço em cicloergômetro na atividade do FVIII de pessoas com hemofilia (DEN UIJL et al., 2011). Há evidências que reportam o papel do exercício físico associados à intensidade e duração (LIPPI and MAFFULLI, 2009; ). A resposta aguda do exercício sobre a ativação dos mecanismos hemostáticos reporta mudanças significativas, sugerindo uma ativação mais pronunciada em atividades mais intensas (El-SAYED et al., 2000). O exercício intenso pode aumentar a agregação plaquetária em resposta a agentes agregatórios como adenosina difosfato (ADP) (colágeno e adrenalina) (El-SAYED et al., 2000). Os efeitos do exercício sobre a coagulação sanguínea tem se associado a hipercoagulabilidade quando medidos logo após ao exercício. Essa tendência é também refletida pelo decréscimo de 7% - 38% no TTPA observados após exercícios máximos (COLLEN et al.,1977; BARTSCH et al., 1982). Já os resultados sobre a ativação do TP tem sido controversos. Entretanto as alterações em TTPA e TP podem persistir de 1 a 24h pósexercício (ARAI et al., 1990; ROCKER et al., 1990). Em estudo realizado com protocolo padronizado de cicloergômetro para homens jovens reportou-se um aumento significante nos níveis de fator VIII associado a diminuição do TTPA (LIN et al., 1999). Além dos efeitos sobre o TP e TTPA o exercício físico tem induzido respostas significativas nos níveis de fibrinogênio (ARAI et. al,1990). Aumentos expressivos da atividade fibrinolítica não são reportados até em exercícios abaixo de 50% da frequência cardíaca máxima (ANDREW et al., 1986). Desta forma os efeitos agudos do exercício físico sobre a coagulação sanguínea sugerem a aceleração da fibrinólise e a indução a mudanças nas funções plaquetárias. Materiais e métodos Participaram voluntariamente deste estudo 6 hemofílicos (5 do tipo A e 1 do tipo B), com 25,3 (±6,6) anos, 67,2 (±10,4) kg, estatura 1,70 (±0,1) metros e IMC 23,1 (±3,1) kg/m 2. Todos os indivíduos foram diagnosticados com hemofilia severa (níveis séricos de fator < 1%) foram devidamente acompanhados e liberados para prática de atividade física. Os indivíduos foram submetidos à avaliação antropométrica, a 16 minutos de corrida em flutuação na água, seguindo o método intervalado (4 séries de 2 minutos com descanso de 2 minutos entre as séries) e a três coletas de sangue (antes, logo após e 30 minutos após o exercício). A frequência cardíaca (FC) foi controlada mediante um monitor de frequência cardíaca (RS 800CX, Polar electro Oy, USA). Todas as sessões foram realizadas no mesmo período do dia entre meio dia e 14h com temperatura ambiente entre 28ºC e 30ºC, umidade relativa do ar de ~ 30% e temperatura da água entre 26 ºC e 29 ºC. Todos os participantes
83 82 preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Católica de Brasília (protocolo Nº 071/2011). Procedimentos laboratoriais - As amostra coletadas foram estocadas em tubos de citrato e centrifugadas a 3500 rpm por 15 minutos, imediatamente após a coleta. Os parâmetros hemostáticos foram avaliados em coagulômetro (ACL 9000, Instrumantation Laboratory, USA) no Laboratório de Análises Clinicas do Hospital das Forças Armadas (HFA). As variáveis mesuradas foram: tempo de protrombina (TP); tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPA); fibrinogênio de Claus (F). Todos os procedimentos seguiram recomendações do Centro Internacional de Treinamento em Hemofilia (IHTC) de Brasília. Todos os dados são apresentados em média ± DP. Para verificar a normalidade dos dados foi utilizado o teste Shapiro-Wilks e para verificar a correlação entre as variáveis foram utilizados os teste de Perason (r) para os dados que apresentaram distribuição normal (TTPA e Fibrinogênio) e o teste de correlação de Spearman (σ) para os dados que não apresentaram distribuição normal (TP). Todos os testes foram correlacionados entre os momentos pré, logo após e 30 minutos após a sessão de treinamento aquático intervalado. O teste t pareado também foi utilizado para verificar se as mudanças foram significativas. Para verificar a magnitude das mudanças foi utilizado o tamanho do efeito (ES). Os limiares para ES foram 0,2 (pequeno), 0,6 (moderado), 1,2 (alto), e 2,0 (muito alto) (HOPKINS et al., 2009). Para correlação entre e FC e os parâmetros de coagulação foi utilizado o teste de Spearman (σ). O nível de significância adotado foi de p 0,05. Para o tratamento estatístico foi utilizado o statistical package for the social sciences software (v20, SPSS Inc., Chicago, WI, USA). Resultados O TP pós-exercício encontrado na amostra estudada apresenta uma mudança moderada (ES = -0,44) com uma diminuição observada após 30 minutos, equiparando-se aos valores encontrados no pré-exercício. Os valores de TTPA pré e pós-exercício (64,1 ± 14,4 e 71,0 ± 19) apresentam um tamanho do efeito moderado (-0,41) com mudanças no aumento do TTPA medido logo após o exercício, com um comportamento bem semelhante aos encontrados no TP e um tamanho de efeito pequeno (ES = -0,14). Os valores de fibrinogênios comparados pré é pós exercício (ES = 0,4) e os pré e 30 minutos após exercício (ES = 0,49) demonstram mudanças na diminuição dos níveis de fibrinogênio, com uma modulação diferente dos demais parâmetros medidos (ver tabela 1). Tabela 1- Parâmetros da coagulação Parâmetros da coagulação Pré (Média ±DP) Pós (Média ±DP) ES Valor p Pré2 (Média ±DP) 30 pós (Média ±DP) TP(s) 15,2 ± 2,4 18,6 ± 9,4-0,44 0,43 15,2 ± 2,4 15,2 ± 1,4 0 0,98 TTPA(s) 64,1 ± 14,4 71,0 ± 19-0,41 0,36 64,6 ± 14,4 66,7 ± 22,7-0,14 0,58 F (mg/dl) 268 ± 45,5 246,7 ± 63,7 0,4 0, ± 45,5 244 ± 52,3 0,49 0,32 Tempo de protrombina (TP); tempo de tromboplastina parcialmente ativado (TTPA); fibrinogênio (F); antes da realização do exercício (pré); após a realização do exercício (pós); 30 minutos após a realização do exercício (30 pós); tamanho do efeito (ES). Valor de p significativo 0,05. A frequência cardíaca atingida durante o treinamento intervalado apresenta uma variação de 46% (87 ± 20,4) a 94% (178 ±18,3) com uma FC média de 76% (145 ± 17,5) da frequência máxima estimada para cada indivíduo. Os parâmetros de coagulação analisados (TP, TTPA e Fibrinogênio) 30 minutos após o exercício, não apresentaram correlações significativas com os valores de FC média reportados (ver tabela 2). Entretanto houve correlações significativas em as alterações encontradas nos parâmetros de coagulação ES Valor p
84 83 observadas em TP e TTPA com TTPA pré e 30 após o exercício (r=0,92; p=0,009) e TTPA logo após (La) e 30 após o exercício (r= 0,813; p=0,049). Tabela 2 Correlação parâmetros de coagulação e frequência cardíaca média (FC media) σ Valor de p Parâmetros de coagulação 30pós TP-FC media 0,66 0,16 TTPA-FC media -0,03 0,96 F-FC media 0,64 0,17 Coeficiente de correlação (σ) para valor de p significativo 0,05 Tabela 3 Correlação entre os momentos pré, logo após e 30 minutos após o exercício Parâmetros da coagulação Valor de p TP pré/tp La 0,543 0,266 TP pré/tp 30 0,543 0,266 TP La/TP30 0,886 0,019* TTPA pré/la 0,63 0,18 TTPA pré/30 0,921 0,009* TTPA La/30 0,813 0,049* F pré/la 0,295 0,57 F pré/30 0,413 0,416 F La/30 0,687 0,132 Pré exercício (pré); logo após (La); 30 minutos após (30).coeficiente de correlação (r ou σ) valores de p 0,05 (*) Discussão Os resultados apresentados demonstram uma tendência à diminuição dos valores de TP e TTPA e sugerem uma possível ativação da cascata de coagulação, com dados correlacionais significativos em TTPA medidos nos momentos pré e 30 minutos após; e logo após e 30 minutos após o exercício proposto, sugerindo uma maior sensibilidade para ativação dos fatores VIII e IX (deficientes em pessoas com hemofilia). Esta possível tendência pode estar relacionada com evidências que reportam que os efeitos do exercício sobre estes marcadores atuam de 1 a 24h (ARAI et al., 1990; ROCKER et al., 1990) em pessoas sem hemofilia. Embora o efeito agudo do exercício sobre tais marcadores da coagulação medidos antes e 30 minutos após o exercício tenha apenas demonstrado um leve incremento dos valores encontrados no pré-exercício. Todavia o efeito agudo do exercício medido sobre o fibrinogênio em pessoas com hemofilia se mostrou diminuído nos dois momentos observado logo após o exercício e 30 minutos após o exercício, sugerindo que um efeito diferente do evidenciado em estudos com pessoas sem hemofilia (COLLEN et al.,1977; BARTSCH et al., 1982). Porém, um aspecto importante do presente estudo é que se verificou uma boa tolerância dos hemofílicos ao esforço de alta intensidade quando aplicado em meio aquático com o método intervalado. Isto sugere que estes pacientes podem ser beneficiados pelos efeitos do exercício intenso quando praticado com esta modalidade.
85 84 Conclusão Os resultados do presente estudo demonstram uma tendência a ativação da cascata de coagulação medidas de forma aguda até 30 minutos após o exercício realizado em água. Futuros estudos com amostras maiores deverão verificar estes resultados. Entretanto, este estudo sugere que esforços de alta intensidade podem ser bem tolerados por hemofílicos quando aplicado o método intervalado aquático.
86 85 Referencial bibliográfico ANDREW M, CARTER C, O'BRODOVICH H, HEIGENHAUSER G. Increases in factor VIII complex and fibrinolytic activity are dependent on exercise intensity. J Appl Physiol. 1986;60(6): ARAI M, YORIFUJI H, IKEMATSU S, NAGASAWA H, FUJIMAKI M, FUKUTAKE K, et al. Influence of strenuous exercise (triathlon) on blood coagulation and fibrinolytic system. Thromb Res. 1990;57(3): BARTSCH P, SCHIMDT EK, STRAUB PW. Fibrinopeptide A after strenuous physical exercise at higth altitude. J Appl Physiol 53(1):40-3, 1982 COLLEN D, SEMERARO N, TRICOT JP, VERMYLEN J.. Turnover of Fibrinogen, plasminogen, and protrombin during exercise in man. J Appl Physiol 1977:42(6): DEN UIJL I.E.M., W.G. GROEN, J. VAN DER NET, D.E. GROBBEE, PH. G. DE GROOT, K. FISCHER. Protected by nature? Effects of strenuous exercise on FVIII activity in moderate and mild haemophilia A patients - a pilot study, ISBN: , EL-SAYED MS, SALE C, JONES PGW, et al. Blood hemostasis in exercise and training. Med Sci Sports Exerc. 2000;32(5): FERNÁNDEZ-PALAZZI F, BATTISTELLA LM. Ortopedia y rehabilitación en hemofilia. Enciclopedia Iberoamericana de Hematología. Salamanca: Universidad de Salamanca; HILBERG T, HERBSLEB M, PUTA C, GABRIEL HHW, SCHRAMM W. Physical training increases isometric muscular strength and propriocepitive performance in haemophilic subjects. Haemophilia 2003; 9: HOPKINS WG, MARSHALL SW, BATTERHAM AM, HANIN J. Progressive statistics for studies in sports medicine and exercise science. Med Sci Sports Exerc. 2009;41(1):3-13. KASPER and BUZIN; KASPER CK, BUZIN CH. Genetics of hemophilia A and B: An introduction for clinicians. The CSL Behring foundation for research and advancement of patient health; KOCH B, LUBAN NL, GALIOTO FM JR, RICK ME, GOLDSTEIN D, KELLEHER JF JR. Changes in coagulation parameters with exercise in patients with classic hemophilia. Am J Hematol. 1984;16(3): LIN X, EL-SAYED MS, WATERHOUSE J, REILLY T. Activation and disturbance of blood hemostasis following strenuous physical exercise. Int J Sports Med 20: , 1999 LIPPI G, MAFFULLI N. Biological influence of physical exercise on hemostasis. Semin Thromb Hemost. 2009;35(3): LLINA A.S, M. SILVA, G. PASTA, _ J.V. LUCK, J.G. ASENCIO, F. FERNANDEZ PALAZZI,H. CAVIGLIA, M. MANCO-JOHNSON, AND A. SEUSER Controversial subjects in musculoskeletal care of haemophilia: cross fire Haemophilia, 16 (Suppl. 5), , OTHMAN M, POWELL S, CHIRINIAN Y, HEGADORN C, HOPMAN W, LILLICRAP D. Thromboelastography reflects global hemostatic variation among severe haemophilia A dogs at rest and following acute exercise. Haemophilia 2009; 15:
87 86 ROCKER L, TAENZER M, DRYGAS WK, LILL H, HEYDUCK B AND ALTENKIRCH H. U. Effect of prolonged physical exercise on the fibrinolytic system. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 60(6):478-81, 1990 STREET A, HILL K, SUSSEX B, WARNER M, SCULLY MF. Haemophilia and ageing. Haemophilia 2006; 12 (Suppl. 3): TIKTINSKY R, FALK B, HEIM M, MARTINOVITZ U. The effect of resistance training on the frequency of bleeding in haemophilia patients: a pilot study. Haemophilia. 2002;8(1):22-7. VON MACKENSEN S. Quality of life and sports activities in patients with haemophilia. Haemophilia. 2007;13(Suppl 2);38 43.
88 87 APÊNDICE D- Resumo publicado - International Journal of Exercise Science II International Meeting in Exercise Physiology 5-7 May, 2011São Pedro, SP - Brazil PROCEEDINGS OF THE II INTERNATIONAL MEETING IN EXERCISE PHYSIOLOGY International Journal of Exercise Science (1): S93 Acute effect of water exercise in persons with hemophilia Luís Gustavo Normanton Beltrame 1,2 ; André Luís Normantron Beltrame 1 ; Ana Luisa Almeida 1 ; Mariana Sayago 1 ; Jussara Almeida 1 ; Jonato Prestes 2 and Daniel A. Boullosa 2. 1 International Hemophilia Training Center - IHTC Brazil, Brasília/DF 2 Catholic University of Brasília UCB, Brasília/DF Objective: To evaluate the acute effect of aquatic exercise on haemostasis in persons with hemophilia (PWH). Methods: Five males with hemophilia A aged years, with a minimum of six months of experience, underwent blood collection before and immediately after 20 minutes of an aquatic exercise session. Pre- and Post- differences were evaluated with regard to: Factor VIII (FVIII), Prothrombin Time (PT), Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) and Fibrinogen. Subjects heart rate (HR) was monitored during aquatic exercise. Wilcoxon signed-rank test and Cohen s D were utilized to evaluate the difference of means and effect sizes, respectively. Results: No significant differences were detected between the pre- and post- values. Interestingly, FVIII and TP exhibited a moderate effect, while the APTT and fibrinogen demonstrated small effect sizes after 20 minutes of aquatic exercise at 70% of HRmax. Conclusion: Considering the limitations, further studies are required to verify the possible benefits of moderate aquatic exercise in haemostasis of PWH. Key-words: haemophilia, aquatic exercise, haemostasis.
89 88 APÊNDICE E Comunicações em congresso ANAIS - IV Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercícios. Pôster - Resumo 202; pg101, 16 a 19 de maio de PERFIL DO ESTILO DE VIDA DE PESSOAS COM HEMOFILIA Autores: Silvio Assunção 1, Luis Gustavo Normanton Beltrame 2 silvio.hemofilia@ig.com.br Instituições: 1 União Brasileira de Hemofilia/UBH. 2 Universidade Católica de Brasília, Brasília/DF, Brasil. Apoio: Centro Internacional de Treinamento em Hemofilia; Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto/MG (Instituto de ciências humanas e sociais/ichs-ufop). INTRODUÇÃO: A hemofilia é uma desordem hemorrágica caracterizada por sangramento prolongado em diversas partes do corpo. A atividade física nesta população tem sido mais encorajada pelo corpo clínico a partir dos anos 70. Entretanto a busca por estilo de vida ativo nesta população ainda tem sido um desafio constate. Este desafio está associado ao tratamento preventivo (profilaxia) e acesso ao medicamento. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi analisar o perfil do estilo de vida de pessoas com hemofilia e as condições de acesso ao tratamento como prerrogativa para um estilo de vida ativo. METODOLOGIA: A amostra foi composta de 79 hemofílicos com 34,8 (± 11,5) anos e de diversos estados brasileiros. O instrumento utilizado foi o questionário O Pentáculo do Bem-Estar (PEB) de Nahas, MV, Barros, MVG & Francalacci, V, (2000), com acréscimo de três perguntas em relação ao tratamento da hemofilia, com pontuação que vão de 0 (não faz parte do comportamento) a 3 (sempre faz parte do comportamento). Os questionários foram enviados aos participantes por mídia online. Para o tratamento estatístico foi utilizado estatística descritiva (média e desvio padrão) e percentual para análise de dados. RESULTADO: Em relação à hemofilia 67% (n=53) dos indivíduos conhecem o nível sérico da enfermidade e procuram controla-los; 59% (n=47) sempre reconhecem um sangramento, mas somente 28% (n=22) sempre tem acesso ao medicamento. De acordo com os resultados encontrados no PEB, 39% das respostas dos participantes foram 3 (sempre fazem parte do comportamento) e 43% foram 2 (quase sempre fazem parte do comportamento) classificados como índice positivo de 2,19 (± 0,2). CONCLUSÃO: A amostra estudada apresentou uma classificação positiva nos cinco parâmetros estudados do estilo de vida (hábitos nutricionais, atividade física, comportamento preventivo, relacionamento social e controle do stress). Entretanto o acesso ao medicamento e a atividade física parecem apresentar uma forte relação podendo ser mais estudados. O número de participantes até o presente momento é um fator limitante do estudo para apontar um perfil desta população, mas é possível observar uma tendência a um estilo de vida ativo. Sugere-se um estudo com abordagem ampliada da amostra, visto que se estima cerca de indivíduos com hemofilia no Brasil de acordo com cadastro nacional.
90 89 ANAIS - IV Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercícios. Comunicação Oral - Resumo 72; pg. 36, 16 a 19 de maio de EFEITO AGUDO DO EXERCÍCIO RESISTIDO NA HEMOSTASIA EM PESSOAS COM HEMOFILIA Autores: Luis Gustavo Normanton Beltrame e Daniel A. Boullosa. luisbeltrame@gmail.com Instituição: Universidade Católica de Brasília, Brasília/DF, Brasil. Apoio: Centro Internacional de Treinamento em Hemofilia, Brasília/DF, Brasil. INTRODUÇÃO: A hemofilia é uma coagulopatia de ordem genética caracterizada pela deficiência quantitativa e qualitativa dos fatores de coagulação. Estudos prévios já estudaram o efeito agudo do exercício aeróbio nos processos de coagulação. Entretanto, os efeitos do treinamento resistido no processo de coagulação sanguínea ainda não foram pesquisados. OBJETIVO: O presente estudo pretende analisar o efeito agudo do exercício resistido sobre o processo de hemostasia de pessoas adultas com hemofilia. MÉTODOS: A amostra foi composta de hemofílicos A (n=3) e hemofílicos B (n=4) com 25,1 (5,9) anos, 64 (6,9) kg, 1,69 (0,04) m, e IMC 22,4(2,5) Kg/m 2. Os indivíduos foram submetidos a duas coletas de sangue antes e após a realização de 3 séries (6-12 repetições) de exercício de rosca bíceps com peso livre a 80% de 1 RM e 30 segundos entre as séries. Os componentes sanguíneos analisados foram fator VIII (FVIII), fator IX (FIX), fibrinogênio e tempo de protrombina (TP). Para avaliar a mudança no tamanho do efeito foi utilizado o D de Cohen. RESULTADOS: Considerando o tamanho do efeito, os mecanismos de ativação do processo de coagulação proporcionados pelo exercício sobre o fibrinogênio foram maiores em hemofílico A (1,19) do que em hemofílicos B (0,47), com uma relação semelhante na diminuição no TP entre os grupos hemofílico A (1,0) e hemofílico B (1,14). Considerando a deficiência dos fatores de coagulação dos indivíduos, os resultados encontrados para análise de FVIII (hemofilia A) e FIX (hemofilia B) demonstraram uma redução com um tamanho do efeito moderado (0,5) em hemofílicos A, e muito pequeno (0,07) em hemofílicos B. Porém, quando considerado os fatores não deficientes de cada grupo, foi observado um maior aumento em hemofílicos B do que em hemofílicos A. CONCLUSÃO: Os resultados encontrados demonstram a diminuição dos fatores de coagulação deficientes medidos após o exercício resistido, e um aumento mais pronunciado de fatores não deficientes em hemofílicos B, com expressões diferentes entre os dois grupos estudados em relação ao fibrinogênio e TP. Isto sugere uma possível ativação da cascata de coagulação mais pronunciada no hemofílico B (deficiência do FIX). Estes resultados sugerem á necessidade de maiores estudos para todos os componentes da cascata de coagulação associados ao exercício resistido em hemofílicos.
91 90 ANAIS - IV Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercícios. Comunicação Oral - Resumo 208; pg. 109, 16 a 19 de maio de EFEITO DO TRATAMETO PROFILÁTICO COM TREINAMENTO RESISTIDO EM PESSOAS COM HEMOFILIA. Autores: Laís Tonello 1, Luis Gustavo Normanton Beltrame, 1, Danilo Sousa Pinho 1, Daniel A. Boullosa 1. lais101288@gmail.com Instituição: 1 Universidade Católica de Brasília, Brasília/DF, Brasil. Apoio: Centro Internacional de Treinamento em Hemofilia (IHTC), Brasília/DF, Brasil. INTRODUÇÃO: Estudos recentes revelam baixa condição física de hemofílicos adultos em relação á resistência aeróbia, propriocepção, equilíbrio e força. Atualmente a necessidade de se buscar métodos e treinamentos específicos que proporcionem uma melhora das capacidades físicas desta população com a devida atenção aos frequentes quadros hemorrágicos durante o treinamento. OBJETIVO: O presente estudo pretende analisar os efeitos de um programa de treinamento resistido, associados ao uso de medicamento, em pessoas com hemofilia. MÉTODOS: Este estudo foi composto de hemofílicos A (n=3) e hemofílicos B (n=3), com 25,7 (6,28) anos, índice de massa corporal (IMC) 20,8 (2,22) kg/m 2, % gordura 11,8(6,47); dos quais 3 eram severos, 2 moderados, e 1 leves; com pelo menos seis meses de treinamento resistido; e acompanhados pelo IHTC Brazil sob tratamento em profilaxia secundária. Os participantes foram submetidos á 6 semanas de treinamento resistido de 6-12 repetições (~80% de 1 RM), intervalo de 30 segundos entre as séries, e de 1-3 minutos entre os exercícios. Foi utilizado o test T pareado para comparação da composição corporal e o desempenho antes e após intervenção. RESULTADOS: Observouse aumento do número de repetições em todas as séries com dados significativos nos exercícios de rosca bíceps de 6,7 (1,8) para 8,5 (2,3) p=0,03; diminuição do percentual de gordura; aumento do perímetro em membros superiores (treinados) e em membros inferiores (não treinados). Não foi reportado nenhum caso de sangramento articular ou muscular provocado pelo treinamento e nem interrupção do mesmo. CONCLUSÃO: Os efeitos crônicos do treinamento com peso em pessoas com hemofilia demonstraram uma otimização da capacidade de adaptação metabólica ao exercício, aumento da massa muscular, e diminuição do percentual de gordura, sem ocasionar danos por sangramento muscular ou articular.
92 91 ANAIS - IV Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercícios. Pôster - Resumo 201; pg. 101, 16 a 19 de maio de O EFEITO DA CORRIDA EM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL SOBRE OS MARCADOES DE LESÃO CELULAR AST E ALT. Autores: André Luís N. Beltrame 1,2, Luís Gustavo N.Beltrame 1. andrelbeltrame@hotmail.com Instituição: 1 Universidade Católica de Brasília, Brasília/DF, Brasil Apoio: 2 Programa de Bolsas Capes/PROSUSP INTRODUÇÃO: Clinicamente há indícios de que deficientes intelectuais (DI) parecem ser menos ativos que pessoas que não apresentam deficiência intelectual, associando-se a quadros de risco como obesidade e doenças cardiovasculares. Os efeitos do sedentarismo sobre os marcadores bioquímicos AST e ALT podem estar associados ao acúmulo de massa corporal, a alterações hepáticas e a disfunção metabólica já que estão presentes no fígado, miocárdio, rins e músculo esquelético. A sua elevação indica o aumento de lesões celulares. OBJETIVO: O trabalho tem como objetivo comparar o efeito de um programa de atividade física regular sobre os marcadores biquímicos alanina aminotransferase (AST) e aspartato aminotrasferase (ALT) em pessoas com deficiência intelectual ativas e sedentárias. METODOLOGIA: a amostra foi composta por 14 indivíduos com DI, 9 praticantes de corrida e 5 sedentários; com idade entre 28 (±7) e 35 (±3) anos respectivamente. Os participantes foram submetidos a uma coleta de sangue em repouso para verificar os níveis basais de parâmetros sanguíneos. Foi utilizado o test t para amostras independentes o Spearman s test para correlações entre os dados. Para todos os testes foi considerado o nível de significância de p>0,05. RESULTADOS: Os resultados encontrados demonstraram um aumento significativo de AST (p=0,03) e ALT (p=0,01) nos indivíduos sedentários medidos em repouso com uma correlação positiva entre os níveis de AST/ALT (0,66 p=0,05; 0,90 p=0,03) para ativos e sedentários respectivamente. CONCLUSÃO: Os resultados encontrados sobre os níveis de AST e ALT em DI sedentários demonstram um aumento significativo de lesões celulares, sugerindo que atividade física regular em praticantes de corrida com DI pode proporcionar uma melhora a nível basal nos marcadores de lesão celular AST e ALT, podendo estar associado a aumento de riscos cardiovasculares, alterações hepáticas e a distúrbios metabólicos. Entretanto sugere-se mais estudos com número maior de indivíduos DI a fim de identificar mais criteriosamente os sítios de atuação dos marcadores.
93 APÊNCICE F Artigo aceito para publicação Journal of Strength and Conditioning Research (JSCR). 92
94 93
95 94
96 95
97 96
98 97
99 98
100 99
101 100
102 101
103 102
104 103
105 104
106 105
HEMOSTASIA E COAGULAÇÃO. Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba
 HEMOSTASIA E COAGULAÇÃO Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba 1.Petéquias: DISTÚRBIOS DA COAGULAÇÃO O PACIENTE QUE SANGRA alteração dos vasos ou plaquetas 2.Equimoses, melena, hematúria, hematêmese,
HEMOSTASIA E COAGULAÇÃO Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba 1.Petéquias: DISTÚRBIOS DA COAGULAÇÃO O PACIENTE QUE SANGRA alteração dos vasos ou plaquetas 2.Equimoses, melena, hematúria, hematêmese,
Distúrbios da Coagulação
 Distúrbios da Coagulação Hemofilias HEMOFILIAS Doenças hemorrágicas resultantes da deficiência quantitativa e/ou qualitativa do fator VIII ou fator IX da coagulação Genética (cromossomo X) / adquirida
Distúrbios da Coagulação Hemofilias HEMOFILIAS Doenças hemorrágicas resultantes da deficiência quantitativa e/ou qualitativa do fator VIII ou fator IX da coagulação Genética (cromossomo X) / adquirida
Profa. Dra. Larissa Gorayb F Mota
 COAGULOPATIAS Profa. Dra. Larissa Gorayb F Mota COAGULOPATIAS Doenças hemorrágicas: alteração no mecanismo de coagulação Congênitas: hemofilia, doença de von Willebrand, deficiência de fatores de coagulação
COAGULOPATIAS Profa. Dra. Larissa Gorayb F Mota COAGULOPATIAS Doenças hemorrágicas: alteração no mecanismo de coagulação Congênitas: hemofilia, doença de von Willebrand, deficiência de fatores de coagulação
SANGUE PLAQUETAS HEMOSTASIA
 SANGUE PLAQUETAS HEMOSTASIA Fisiologia Molecular BCT 2S/2011 Universidade Federal de São Paulo EPM/UNIFESP DISTÚRBIOS RELACIONADOS ÀS HEMÁCEAS CASO 1: Paciente portador de úlcera péptica Diagnóstico: Anemia
SANGUE PLAQUETAS HEMOSTASIA Fisiologia Molecular BCT 2S/2011 Universidade Federal de São Paulo EPM/UNIFESP DISTÚRBIOS RELACIONADOS ÀS HEMÁCEAS CASO 1: Paciente portador de úlcera péptica Diagnóstico: Anemia
Profa. Dra. Larissa Gorayb F Mota
 HEMOSTASIA & COAGULAÇÃO Profa. Dra. Larissa Gorayb F Mota HEMOSTASIA Fenômeno fisiológico, dinâmico: mantém o sangue fluido no interior dos vasos e impede sua saída para os tecidos(trombose e hemorragia)
HEMOSTASIA & COAGULAÇÃO Profa. Dra. Larissa Gorayb F Mota HEMOSTASIA Fenômeno fisiológico, dinâmico: mantém o sangue fluido no interior dos vasos e impede sua saída para os tecidos(trombose e hemorragia)
Hemofilias congênitas:
 Hemofilias congênitas: conceitos, herança e aspectos clínicos Margareth Castro Ozelo Hemocentro UNICAMP 2013 Sumário Definições e epidemiologia Estrutura e mutações FVIII e FIX Hereditariedade Diagnóstico
Hemofilias congênitas: conceitos, herança e aspectos clínicos Margareth Castro Ozelo Hemocentro UNICAMP 2013 Sumário Definições e epidemiologia Estrutura e mutações FVIII e FIX Hereditariedade Diagnóstico
AULA-7 PROCESSO DE HEMOSTASIA
 AULA-7 PROCESSO DE HEMOSTASIA Profª Tatiani UNISALESIANO PROCESSO DE HEMOSTASIA- COAGULAÇÃO DO SANGUE Toda vez que ocorre ferimento e extravasamento de sangue dos vasos, imediatamente são desencadeados
AULA-7 PROCESSO DE HEMOSTASIA Profª Tatiani UNISALESIANO PROCESSO DE HEMOSTASIA- COAGULAÇÃO DO SANGUE Toda vez que ocorre ferimento e extravasamento de sangue dos vasos, imediatamente são desencadeados
Prevenção da Artrose e Osteoporose. Prof. Avelino Buongermino CREFITO-3/6853-F
 Prevenção da Artrose e Osteoporose Prof. Avelino Buongermino CREFITO-3/6853-F Envelhecimento Aumento do número de idosos na população melhor expectativa de vida Política visando a promoção da saúde e melhoria
Prevenção da Artrose e Osteoporose Prof. Avelino Buongermino CREFITO-3/6853-F Envelhecimento Aumento do número de idosos na população melhor expectativa de vida Política visando a promoção da saúde e melhoria
Trombocitopenia induzida pela heparina
 Trombocitopenia induzida pela heparina Novembro 2012 ULSM Hospital Pedro Hispano, Matosinhos Distinguir Terapêutica curta duração: Profilática Emergência Heparina via parentérica Heparinas baixo peso molecular
Trombocitopenia induzida pela heparina Novembro 2012 ULSM Hospital Pedro Hispano, Matosinhos Distinguir Terapêutica curta duração: Profilática Emergência Heparina via parentérica Heparinas baixo peso molecular
Sistema muculoesquelético. Prof. Dra. Bruna Oneda
 Sistema muculoesquelético Prof. Dra. Bruna Oneda Sarcopenia Osteoporose A osteoporose é definida como uma desordem esquelética que compromete a força dos ossos acarretando em aumento no risco de quedas.
Sistema muculoesquelético Prof. Dra. Bruna Oneda Sarcopenia Osteoporose A osteoporose é definida como uma desordem esquelética que compromete a força dos ossos acarretando em aumento no risco de quedas.
Síndrome Periódica Associada à Criopirina (CAPS)
 www.printo.it/pediatric-rheumatology/br/intro Síndrome Periódica Associada à Criopirina (CAPS) Versão de 2016 1. O QUE É A CAPS 1.1 O que é? A Síndrome Periódica Associada à Criopirina (CAPS) compreende
www.printo.it/pediatric-rheumatology/br/intro Síndrome Periódica Associada à Criopirina (CAPS) Versão de 2016 1. O QUE É A CAPS 1.1 O que é? A Síndrome Periódica Associada à Criopirina (CAPS) compreende
Hemofilia: Tratamento de Reposição sob Demanda. Mônica Hermida Cerqueira
 Hemofilia: Tratamento de Reposição sob Demanda Mônica Hermida Cerqueira Agenda 1. O que é o tratamento de reposição sob demanda. 2. Como determinar a percentagem da elevação do fator e a frequencia de
Hemofilia: Tratamento de Reposição sob Demanda Mônica Hermida Cerqueira Agenda 1. O que é o tratamento de reposição sob demanda. 2. Como determinar a percentagem da elevação do fator e a frequencia de
Síndrome Periódica Associada à Criopirina (CAPS)
 www.printo.it/pediatric-rheumatology/pt/intro Síndrome Periódica Associada à Criopirina (CAPS) Versão de 2016 1. O QUE É A CAPS 1.1 O que é? A Síndrome Periódica Associada à Criopirina (CAPS) compreende
www.printo.it/pediatric-rheumatology/pt/intro Síndrome Periódica Associada à Criopirina (CAPS) Versão de 2016 1. O QUE É A CAPS 1.1 O que é? A Síndrome Periódica Associada à Criopirina (CAPS) compreende
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE GERIATIA E GERONTOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA BIOMÉDICA
 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE GERIATIA E GERONTOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA BIOMÉDICA DENISE BASTIANI EFICÁCIA DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE GERIATIA E GERONTOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA BIOMÉDICA DENISE BASTIANI EFICÁCIA DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ HOSPITAL DE CLÍNICAS CURITIBA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ HOSPITAL DE CLÍNICAS CURITIBA Orto-Hemo HC-UFPR LUCIANO DA ROCHA LOURES PACHECO HC-UFPR Luciano Rocha Loures Pacheco COMPLICAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS E ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ HOSPITAL DE CLÍNICAS CURITIBA Orto-Hemo HC-UFPR LUCIANO DA ROCHA LOURES PACHECO HC-UFPR Luciano Rocha Loures Pacheco COMPLICAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS E ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS
Sumário Detalhado. PARTE I Gerenciamento de riscos 21. PARTE II Patologia da lesão esportiva 177. Capítulo 4 Equipamento de proteção 116
 Sumário Detalhado PARTE I Gerenciamento de riscos 21 Capítulo 1 Técnicas de condicionamento 22 A relação entre os fisioterapeutas esportivos e os preparadores físicos 23 Princípios do condicionamento 23
Sumário Detalhado PARTE I Gerenciamento de riscos 21 Capítulo 1 Técnicas de condicionamento 22 A relação entre os fisioterapeutas esportivos e os preparadores físicos 23 Princípios do condicionamento 23
HEMATÓCRITO e HEMOSSEDIMENTAÇÃO. Prof. Carolina Vicentini
 HEMATÓCRITO e HEMOSSEDIMENTAÇÃO Prof. Carolina Vicentini HEMATÓCRITO É O PERCENTUAL DE CÉLULAS VERMELHAS NO SANGUE. VALORES PARA MULHERES: 38-48% VALORES PARA HOMENS: 40-50% FATORES INFLUENCIADORES. ALTITUDE
HEMATÓCRITO e HEMOSSEDIMENTAÇÃO Prof. Carolina Vicentini HEMATÓCRITO É O PERCENTUAL DE CÉLULAS VERMELHAS NO SANGUE. VALORES PARA MULHERES: 38-48% VALORES PARA HOMENS: 40-50% FATORES INFLUENCIADORES. ALTITUDE
INTRODUÇÃO À HEMOSTASIA. Rafael Fighera Laboratório de Patologia Veterinária Hospital Veterinário Universitário Universidade Federal de Santa Maria
 INTRODUÇÃO À HEMOSTASIA Rafael Fighera Laboratório de Patologia Veterinária Hospital Veterinário Universitário Universidade Federal de Santa Maria Hemostasia A hemostasia compreende as interações que ocorrem
INTRODUÇÃO À HEMOSTASIA Rafael Fighera Laboratório de Patologia Veterinária Hospital Veterinário Universitário Universidade Federal de Santa Maria Hemostasia A hemostasia compreende as interações que ocorrem
AS VANTAGENS DO NOVO MODELO DA CASCATA DE COAGULAÇÃO BASEADO NAS SUPERFÍCIES CELULARES
 AS VANTAGENS DO NOVO MODELO DA CASCATA DE COAGULAÇÃO BASEADO NAS SUPERFÍCIES CELULARES Rassan Dyego Romão Silva, Antonio Jose Dias Martins e Bruna Rezende Faculdade Alfredo Nasser Aparecida de Goiânia
AS VANTAGENS DO NOVO MODELO DA CASCATA DE COAGULAÇÃO BASEADO NAS SUPERFÍCIES CELULARES Rassan Dyego Romão Silva, Antonio Jose Dias Martins e Bruna Rezende Faculdade Alfredo Nasser Aparecida de Goiânia
HEMOSTASIA. Rafael Fighera Laboratório de Patologia Veterinária Hospital Veterinário Universitário Universidade Federal de Santa Maria
 HEMOSTASIA Rafael Fighera Laboratório de Patologia Veterinária Hospital Veterinário Universitário Universidade Federal de Santa Maria HEMOSTASIA PRIMÁRIA Divisões da hemostasia primária alteração no calibre
HEMOSTASIA Rafael Fighera Laboratório de Patologia Veterinária Hospital Veterinário Universitário Universidade Federal de Santa Maria HEMOSTASIA PRIMÁRIA Divisões da hemostasia primária alteração no calibre
Os Benefícios da Atividade Física no Tratamento do Transtorno no Uso de Drogas
 Os Benefícios da Atividade Física no Tratamento do Transtorno no Uso de Drogas Fisioterapeuta Jussara Lontra Centro de Estudos Expressão genérica que pode ser definida como qualquer movimento corporal,
Os Benefícios da Atividade Física no Tratamento do Transtorno no Uso de Drogas Fisioterapeuta Jussara Lontra Centro de Estudos Expressão genérica que pode ser definida como qualquer movimento corporal,
Plaquetas 1) CARACTERÍSTICAS DAS PLAQUETAS 10/4/2017. Thais Schwarz Gaggini. 1) Características das plaquetas; 2) Função; 3) Trombocitopoiese;
 Plaquetas Thais Schwarz Gaggini Médica Veterinária, Msc., Dra. CONTEÚDOS DE AULA 1) Características das plaquetas; 2) Função; 3) Trombocitopoiese; 4) Hemostasia; 5) Alterações da hemostasia; 1) CARACTERÍSTICAS
Plaquetas Thais Schwarz Gaggini Médica Veterinária, Msc., Dra. CONTEÚDOS DE AULA 1) Características das plaquetas; 2) Função; 3) Trombocitopoiese; 4) Hemostasia; 5) Alterações da hemostasia; 1) CARACTERÍSTICAS
Guia do paciente / cuidador
 Guia do paciente / cuidador Hemcibra MD (emicizumabe) Injeção subcutânea Guia do paciente / cuidador para garantir o uso seguro de Hemcibra MD (emicizumabe) no tratamento da hemofilia A. Este material
Guia do paciente / cuidador Hemcibra MD (emicizumabe) Injeção subcutânea Guia do paciente / cuidador para garantir o uso seguro de Hemcibra MD (emicizumabe) no tratamento da hemofilia A. Este material
Cartão de Alerta do Paciente
 Cartão de Alerta do Paciente Hemcibra MD (emicizumabe) Injeção subcutânea Cartão de Alerta do Paciente para garantir o uso seguro de Hemcibra MD (emicizumabe) no tratamento da hemofilia A. Este material
Cartão de Alerta do Paciente Hemcibra MD (emicizumabe) Injeção subcutânea Cartão de Alerta do Paciente para garantir o uso seguro de Hemcibra MD (emicizumabe) no tratamento da hemofilia A. Este material
DEFICIÊNCIA DE FATOR XI, ATUALIZAÇÃO SOBRE UMA SÍNDROME HEMORRÁGICA RARA. Larissa Carrasco a, Marco Aurélio Ferreira Federige a
 DEFICIÊNCIA DE FATOR XI, ATUALIZAÇÃO SOBRE UMA SÍNDROME HEMORRÁGICA RARA. Larissa Carrasco a, Marco Aurélio Ferreira Federige a a Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU RESUMO A deficiência de fator XI
DEFICIÊNCIA DE FATOR XI, ATUALIZAÇÃO SOBRE UMA SÍNDROME HEMORRÁGICA RARA. Larissa Carrasco a, Marco Aurélio Ferreira Federige a a Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU RESUMO A deficiência de fator XI
Amplitude de Movimento. Amplitude de Movimento. Tipos de ADM 27/2/2012
 Amplitude de Movimento Amplitude de Movimento Professora: Christiane Riedi Daniel É o movimento completo de uma articulação ADM completa depende de: ADM Articular termos como flexão, extensão... goniometria
Amplitude de Movimento Amplitude de Movimento Professora: Christiane Riedi Daniel É o movimento completo de uma articulação ADM completa depende de: ADM Articular termos como flexão, extensão... goniometria
por Prof. Rosemilia Cunha Princípios Gerais Hemostasia consiste na interrupção fisiológica de uma hemorragia, evitando
 ANTICOAGULANTES, ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIO E TROMBOLÍTICO Princípios Gerais Hemostasia consiste na interrupção fisiológica de uma hemorragia, evitando perdas de sangue de uma lesão vascular, e também
ANTICOAGULANTES, ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIO E TROMBOLÍTICO Princípios Gerais Hemostasia consiste na interrupção fisiológica de uma hemorragia, evitando perdas de sangue de uma lesão vascular, e também
Qualidade de vida de pacientes idosos com artrite reumatóide: revisão de literatura
 Qualidade de vida de pacientes idosos com artrite reumatóide: revisão de literatura André Ricardo Bezerra Bonzi (1); Renata Soares Ferreira (2) Edécio Bona Neto (3); Daniel Sarmento Bezerra (4); Tânia
Qualidade de vida de pacientes idosos com artrite reumatóide: revisão de literatura André Ricardo Bezerra Bonzi (1); Renata Soares Ferreira (2) Edécio Bona Neto (3); Daniel Sarmento Bezerra (4); Tânia
Benefícios Fisiológicos
 Os Benefícios da Atividade Física no Tratamento do Transtorno no Uso de Drogas Fisioterapeuta Jussara Lontra Atividade Física expressão genérica que pode ser definida como qualquer movimento corporal,
Os Benefícios da Atividade Física no Tratamento do Transtorno no Uso de Drogas Fisioterapeuta Jussara Lontra Atividade Física expressão genérica que pode ser definida como qualquer movimento corporal,
Palavras-chave: Hemostasia. Coagulação. Coagulopatia. Hemofilia A e Hemofilia B. Diagnóstico. Tratamento.
 HEMOFILIAS: FISIOPATOLOGIA, INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA E TRATAMENTO Mariana Ribeiro 1 Luciano Fernandes de Paiva 2 RESUMO A hemostasia é um processo fisiológico do corpo, visando manter o sangue em estado
HEMOFILIAS: FISIOPATOLOGIA, INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA E TRATAMENTO Mariana Ribeiro 1 Luciano Fernandes de Paiva 2 RESUMO A hemostasia é um processo fisiológico do corpo, visando manter o sangue em estado
Sysmex Educational Enhancement & Development
 Sysmex Educational Enhancement & Development SEED-África Boletim Informativo No 8 2011 Hemofilia uma abordagem do laboratório de diagnóstico Coagulação O objectivo deste boletim informativo é fornecer
Sysmex Educational Enhancement & Development SEED-África Boletim Informativo No 8 2011 Hemofilia uma abordagem do laboratório de diagnóstico Coagulação O objectivo deste boletim informativo é fornecer
Os Benefícios da Atividade Física no Tratamento da Dependência Química. Benefícios Fisiológicos
 Os Benefícios da Atividade Física no Tratamento da Dependência Química Fisioterapeuta Jussara Lontra Atividade Física expressão genérica que pode ser definida como qualquer movimento corporal, produzido
Os Benefícios da Atividade Física no Tratamento da Dependência Química Fisioterapeuta Jussara Lontra Atividade Física expressão genérica que pode ser definida como qualquer movimento corporal, produzido
Plano de Estudos. Escola: Escola de Ciências e Tecnologia Grau: Mestrado Curso: Exercício e Saúde (cód. 398)
 Plano de Estudos Escola: Escola de Ciências e Tecnologia Grau: Mestrado Curso: Exercício e Saúde (cód. 398) 1. o Ano - 1. o Semestre DES10220 Fisiologia do Exercício Motricidade 3 Semestral 78 DES10221
Plano de Estudos Escola: Escola de Ciências e Tecnologia Grau: Mestrado Curso: Exercício e Saúde (cód. 398) 1. o Ano - 1. o Semestre DES10220 Fisiologia do Exercício Motricidade 3 Semestral 78 DES10221
Avaliação da Hemostasia
 Avaliação da Hemostasia Plaquetas Produção : medula óssea Megacariócito plaquetas circulantes Remoção: baço, medula óssea e fígado Meia vida das plaquetas 5 a 6 dias Plaquetas - Funções Hemostasia e trombose
Avaliação da Hemostasia Plaquetas Produção : medula óssea Megacariócito plaquetas circulantes Remoção: baço, medula óssea e fígado Meia vida das plaquetas 5 a 6 dias Plaquetas - Funções Hemostasia e trombose
AVALIAÇÃO LABORATORIAL DOS DISTÚRBIOS DE COAGULAÇÃO HEMOSTASIA
 AVALIAÇÃO LABORATORIAL DOS DISTÚRBIOS DE COAGULAÇÃO HEMOSTASIA 1- Componente Vascular Endotélio íntegro: impede a adesão das plaquetas Lesão Vascular: Vasoconstrição mediada por via reflexa (reduz o fluxo
AVALIAÇÃO LABORATORIAL DOS DISTÚRBIOS DE COAGULAÇÃO HEMOSTASIA 1- Componente Vascular Endotélio íntegro: impede a adesão das plaquetas Lesão Vascular: Vasoconstrição mediada por via reflexa (reduz o fluxo
Formação treinadores AFA
 Preparação específica para a atividade (física e mental) Equilíbrio entre treino e repouso Uso de equipamento adequado à modalidade (ex: equipamento, calçado, proteções) E LONGEVIDADE DO ATLETA Respeito
Preparação específica para a atividade (física e mental) Equilíbrio entre treino e repouso Uso de equipamento adequado à modalidade (ex: equipamento, calçado, proteções) E LONGEVIDADE DO ATLETA Respeito
IMPACTO DA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL SOBRE A QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS PORTADORES DE ARTROSE INCAPACITANTE.
 CARLA CARVALHO HORN IMPACTO DA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL SOBRE A QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS PORTADORES DE ARTROSE INCAPACITANTE. Dissertação de Mestrado em Gerontologia Biomédica Para a obtenção do
CARLA CARVALHO HORN IMPACTO DA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL SOBRE A QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS PORTADORES DE ARTROSE INCAPACITANTE. Dissertação de Mestrado em Gerontologia Biomédica Para a obtenção do
 Fraturas e Luxações Prof Fabio Azevedo Definição Fratura é a ruptura total ou parcial da estrutura óssea 1 Fraturas Raramente representam causa de morte, quando isoladas. Porém quando combinadas a outras
Fraturas e Luxações Prof Fabio Azevedo Definição Fratura é a ruptura total ou parcial da estrutura óssea 1 Fraturas Raramente representam causa de morte, quando isoladas. Porém quando combinadas a outras
Doutoramento em Actividade Física e Saúde
 Doutoramento em Actividade Física e Saúde 2º Semestre Disciplina de Análise de Dados 10 de Fevereiro de 2010 - José Carlos Ribeiro 17 de Fevereiro de 2010 - José Carlos Ribeiro Disciplina de Estilos de
Doutoramento em Actividade Física e Saúde 2º Semestre Disciplina de Análise de Dados 10 de Fevereiro de 2010 - José Carlos Ribeiro 17 de Fevereiro de 2010 - José Carlos Ribeiro Disciplina de Estilos de
 www.printo.it/pediatric-rheumatology/br/intro síndrome de Majeed Versão de 2016 1. O QUE É A MAJEED 1.1 O que é? A síndrome de Majeed é uma doença genética rara. As crianças afetadas sofrem de Osteomielite
www.printo.it/pediatric-rheumatology/br/intro síndrome de Majeed Versão de 2016 1. O QUE É A MAJEED 1.1 O que é? A síndrome de Majeed é uma doença genética rara. As crianças afetadas sofrem de Osteomielite
FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA
 FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA A Fisioterapia Pediátrica é o ramo da Fisioterapia que utiliza uma abordagem com base em técnicas neurológicas e cardiorrespiratórias especializadas, buscando integrar os objetivos
FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA A Fisioterapia Pediátrica é o ramo da Fisioterapia que utiliza uma abordagem com base em técnicas neurológicas e cardiorrespiratórias especializadas, buscando integrar os objetivos
Profa Dra Cláudia Ferreira da Rosa Sobreira Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
 DOENÇAS MUSCULARES Profa Dra Cláudia Ferreira da Rosa Sobreira Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo DOENÇAS MUSCULARES
DOENÇAS MUSCULARES Profa Dra Cláudia Ferreira da Rosa Sobreira Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo DOENÇAS MUSCULARES
1. Participante do projeto, Departamento de Saúde, Universidade Estadual de Feira de Santana,
 1271 AVALIAÇÃO DO PERFIL CLÍNICO E DAS PROVAS DE COAGULAÇÃO DOS INDIVÍDUOS ATENDIDOS NAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Hélder Lamuel Almeida Mascarenhas Sena 1 ; Marianne
1271 AVALIAÇÃO DO PERFIL CLÍNICO E DAS PROVAS DE COAGULAÇÃO DOS INDIVÍDUOS ATENDIDOS NAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Hélder Lamuel Almeida Mascarenhas Sena 1 ; Marianne
AVALIAÇÃO LABORATORIAL DA HEMOSTASIA
 AVALIAÇÃO LABORATORIAL DA HEMOSTASIA Disciplina LCV UESP Araçatuba Prof.Adjunto Paulo César Ciarlini MEGACARIOPOESE IL-3; IL-6; G-CSF; GM-CSF HEMOSTASIA Vaso + Plaquetas + Fatores de Coagulação Fibrinogênio
AVALIAÇÃO LABORATORIAL DA HEMOSTASIA Disciplina LCV UESP Araçatuba Prof.Adjunto Paulo César Ciarlini MEGACARIOPOESE IL-3; IL-6; G-CSF; GM-CSF HEMOSTASIA Vaso + Plaquetas + Fatores de Coagulação Fibrinogênio
Hemostasia: Princípios Gerais Liga de Hematologia da Bahia Aula Inaugural Thaizza Correia
 Hemostasia: Princípios Gerais Liga de Hematologia da Bahia Aula Inaugural 2012.2 Thaizza Correia Princípios Gerais Limita a perda de sangue interações da parede vascular, plaquetas e proteínas plasmáticas
Hemostasia: Princípios Gerais Liga de Hematologia da Bahia Aula Inaugural 2012.2 Thaizza Correia Princípios Gerais Limita a perda de sangue interações da parede vascular, plaquetas e proteínas plasmáticas
Deformidades no crescimento
 A felicidade de uma infância vê-se pelos joelhos, cada marca é uma história A articulação do joelho situa-se na região de grande crescimento. Para se ter uma idéia, cerca de 70% do crescimento do membro
A felicidade de uma infância vê-se pelos joelhos, cada marca é uma história A articulação do joelho situa-se na região de grande crescimento. Para se ter uma idéia, cerca de 70% do crescimento do membro
Tendinopatia Patelar
 O tendão patelar, que também pode ser chamado de ligamento patelar (ou ligamento da patela) é um local comum de lesões, principalmente em atletas. O treinamento esportivo geralmente benificia as qualidades
O tendão patelar, que também pode ser chamado de ligamento patelar (ou ligamento da patela) é um local comum de lesões, principalmente em atletas. O treinamento esportivo geralmente benificia as qualidades
I Curso de Choque Faculdade de Medicina da UFMG INSUFICIÊNCIA DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS MODS
 I Curso de Choque Faculdade de Medicina da UFMG INSUFICIÊNCIA DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS MODS Alterações Hematológicas Anatomia. Circulação. Distribuição. Função. Adaptação x Disfunção. Alterações Hematológicas
I Curso de Choque Faculdade de Medicina da UFMG INSUFICIÊNCIA DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS MODS Alterações Hematológicas Anatomia. Circulação. Distribuição. Função. Adaptação x Disfunção. Alterações Hematológicas
Resolução de Questões do ENEM (Noite)
 Resolução de Questões do ENEM (Noite) Resolução de Questões do ENEM (Noite) 1. O cladograma representa, de forma simplificada, o processo evolutivo de diferentes grupos de vertebrados. Nesses organismos,
Resolução de Questões do ENEM (Noite) Resolução de Questões do ENEM (Noite) 1. O cladograma representa, de forma simplificada, o processo evolutivo de diferentes grupos de vertebrados. Nesses organismos,
Sustentação do corpo Proteção dos órgãos nobres Cérebro Pulmões Coração.
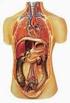 ESQUELETO ARTICULAÇÃO LESÕES MUSCULARES, ESQUELÉTICAS E ARTICULARES Sustentação do corpo Proteção dos órgãos nobres Cérebro Pulmões Coração. Junção de ossos (dois ou mais) Estruturas Ligamentos Ligar ossos
ESQUELETO ARTICULAÇÃO LESÕES MUSCULARES, ESQUELÉTICAS E ARTICULARES Sustentação do corpo Proteção dos órgãos nobres Cérebro Pulmões Coração. Junção de ossos (dois ou mais) Estruturas Ligamentos Ligar ossos
Defeitos osteoarticulares
 Osteoartrite Descrição Osteoartrite ou doença articular degenerativa ( artrose ) caracteriza-se pela perda progressiva da cartilagem articular e alterações reacionais no osso subcondral e margens articulares,
Osteoartrite Descrição Osteoartrite ou doença articular degenerativa ( artrose ) caracteriza-se pela perda progressiva da cartilagem articular e alterações reacionais no osso subcondral e margens articulares,
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTOR E PROFESSOR DE TAEKWONDO GRÃO MESTRE ANTONIO JUSSERI DIRETOR TÉCNICO DA FEBRAT
 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTOR E PROFESSOR DE TAEKWONDO GRÃO MESTRE ANTONIO JUSSERI DIRETOR TÉCNICO DA FEBRAT Alongamento é o exercício para preparar e melhorar a flexibilidade muscular, ou seja,
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTOR E PROFESSOR DE TAEKWONDO GRÃO MESTRE ANTONIO JUSSERI DIRETOR TÉCNICO DA FEBRAT Alongamento é o exercício para preparar e melhorar a flexibilidade muscular, ou seja,
ÁCIDO TRANEXÂMICO - ATX
 ÁCIDO TRANEXÂMICO - ATX Combate a melasmas e estabiliza coágulos sanguíneos, auxiliando no tratamento de hemorragias. INTRODUÇÃO O Ácido tranexâmico (ATX), é conhecido pela sua função antifibrinolítica,
ÁCIDO TRANEXÂMICO - ATX Combate a melasmas e estabiliza coágulos sanguíneos, auxiliando no tratamento de hemorragias. INTRODUÇÃO O Ácido tranexâmico (ATX), é conhecido pela sua função antifibrinolítica,
Disciplina de Hematologia Veterinária - PPGCA Prof. Dr. Adilson Donizeti Damasceno Professor Adjunto I DMV/EV/UFG
 Disciplina de Hematologia Veterinária - PPGCA Prof. Dr. Adilson Donizeti Damasceno Professor Adjunto I DMV/EV/UFG addamasceno@vet.ufg.br INTRODUÇÃO CONCEITO Evento fisiológico responsável pela fluidez
Disciplina de Hematologia Veterinária - PPGCA Prof. Dr. Adilson Donizeti Damasceno Professor Adjunto I DMV/EV/UFG addamasceno@vet.ufg.br INTRODUÇÃO CONCEITO Evento fisiológico responsável pela fluidez
25/4/2011 MUSCULAÇÃO E DIABETES. -Estudos epidemiológicos sugerem redução de 30% a 58% o risco de desenvolver diabetes
 MUSCULAÇÃO E DIABETES -Estudos epidemiológicos sugerem redução de 30% a 58% o risco de desenvolver diabetes -Alguns trabalhos demonstram que os exercícios de força (3 a 6 séries semanais, 10-15 repetições
MUSCULAÇÃO E DIABETES -Estudos epidemiológicos sugerem redução de 30% a 58% o risco de desenvolver diabetes -Alguns trabalhos demonstram que os exercícios de força (3 a 6 séries semanais, 10-15 repetições
OSTEOPOROSE: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO Bruno Ferraz de Souza Abril de 2018
 OSTEOPOROSE: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO Bruno Ferraz de Souza Abril de 2018 1. BREVE INTRODUÇÃO A osteoporose (OP) é uma doença osteometabólica sistêmica caracterizada por alterações da quantidade e/ou qualidade
OSTEOPOROSE: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO Bruno Ferraz de Souza Abril de 2018 1. BREVE INTRODUÇÃO A osteoporose (OP) é uma doença osteometabólica sistêmica caracterizada por alterações da quantidade e/ou qualidade
O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE ATIVIDADE FÍSICA
 O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE ATIVIDADE FÍSICA 1 a Atividade Física 2013.indd 1 09/03/15 16 SEDENTARISMO é a falta de atividade física suficiente e pode afetar a saúde da pessoa. A falta de atividade física
O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE ATIVIDADE FÍSICA 1 a Atividade Física 2013.indd 1 09/03/15 16 SEDENTARISMO é a falta de atividade física suficiente e pode afetar a saúde da pessoa. A falta de atividade física
PADRÃO DE HERANÇA LIGADA AO CROMOSSOMO X
 PADRÃO DE HERANÇA LIGADA AO CROMOSSOMO X HOMENS: apresenta um X e um Y XY sexo heterogamético o seus gametas serão metade com cromossomo X e metade com cromossomo Y MULHER: apresenta dois X XX sexo homogamético
PADRÃO DE HERANÇA LIGADA AO CROMOSSOMO X HOMENS: apresenta um X e um Y XY sexo heterogamético o seus gametas serão metade com cromossomo X e metade com cromossomo Y MULHER: apresenta dois X XX sexo homogamético
INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE DEFICIENTES FÍSICOS
 INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE DEFICIENTES FÍSICOS Área Temática: Saúde Aline Cristina Carrasco (Coordenadora da Ação de Extensão) Aline Cristina Carrasco 1 Juliana Lima Valério
INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE DEFICIENTES FÍSICOS Área Temática: Saúde Aline Cristina Carrasco (Coordenadora da Ação de Extensão) Aline Cristina Carrasco 1 Juliana Lima Valério
Sobre a Esclerose Tuberosa e o Tumor Cerebral SEGA
 Sobre a Esclerose Tuberosa e o Tumor Cerebral SEGA A Esclerose Tuberosa, também conhecida como Complexo da Esclerose Tuberosa, é uma desordem genética que atinge entre 1 e 2 milhões de pessoas no mundo
Sobre a Esclerose Tuberosa e o Tumor Cerebral SEGA A Esclerose Tuberosa, também conhecida como Complexo da Esclerose Tuberosa, é uma desordem genética que atinge entre 1 e 2 milhões de pessoas no mundo
SandraPais XVII FÓRUM DE APOIO AO DOENTE REUMÁTICO 10 E 11 OUTUBRO DE 2014
 SandraPais XVII FÓRUM DE APOIO AO DOENTE REUMÁTICO 10 E 11 OUTUBRO DE 2014 Uma degeneração focal das cartilagens articulares, com espessamento ósseo subcondral e proliferações osteocondrais marginais Dá
SandraPais XVII FÓRUM DE APOIO AO DOENTE REUMÁTICO 10 E 11 OUTUBRO DE 2014 Uma degeneração focal das cartilagens articulares, com espessamento ósseo subcondral e proliferações osteocondrais marginais Dá
Na ESGB, os testes utilizados para avaliar a força são: força abdominal; flexões/extensões de braços.
 Agrupamento de Escolas D. Maria II Escola Básica e Secundária de Gama Barros Ficha Informativa da Área dos Conhecimentos 10º Ano Qualidades Físicas As qualidades físicas podem ser definidas como todas
Agrupamento de Escolas D. Maria II Escola Básica e Secundária de Gama Barros Ficha Informativa da Área dos Conhecimentos 10º Ano Qualidades Físicas As qualidades físicas podem ser definidas como todas
INFLUÊNCIA DA CAMINHADA ORIENTADA EM PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 1
 INFLUÊNCIA DA CAMINHADA ORIENTADA EM PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 1 CHAVES, Ricardo - Lemes 2 TEIXEIRA, Bruno Costa 3 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
INFLUÊNCIA DA CAMINHADA ORIENTADA EM PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 1 CHAVES, Ricardo - Lemes 2 TEIXEIRA, Bruno Costa 3 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
Coagulação Sanguínea
 Coagulação Sanguínea ; MICHELE DA SILVA FERREIRA ;CAROLINE DE PAULA PEDRO CARDOSO. 1 ; MARIANA CAVALCANTE CERQUEIRA DA SILVA. 1 1 ; VANESSA CRISTINA FERNANDES 1 ; MIKALOUSKI, Udson. 2 RESUMO Sempre que
Coagulação Sanguínea ; MICHELE DA SILVA FERREIRA ;CAROLINE DE PAULA PEDRO CARDOSO. 1 ; MARIANA CAVALCANTE CERQUEIRA DA SILVA. 1 1 ; VANESSA CRISTINA FERNANDES 1 ; MIKALOUSKI, Udson. 2 RESUMO Sempre que
PROTOCOLO MÉDICO ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO (AEH) E OUTROS ANGIOEDEMAS BRADICINÉRGICOS. Área: Médica Versão: 1ª
 Página: 1 de 6 O AHE caracteriza-se por angioedema recorrente causado por excesso de bradicinina cuja forma de herança é autossômica dominante. Embora seja doença rara, é importante que seja reconhecida,
Página: 1 de 6 O AHE caracteriza-se por angioedema recorrente causado por excesso de bradicinina cuja forma de herança é autossômica dominante. Embora seja doença rara, é importante que seja reconhecida,
INTRODUÇÃO LESÃO RENAL AGUDA
 INTRODUÇÃO Pacientes em tratamento imunossupressor com inibidores de calcineurina estão sob risco elevado de desenvolvimento de lesão, tanto aguda quanto crônica. A manifestação da injuria renal pode se
INTRODUÇÃO Pacientes em tratamento imunossupressor com inibidores de calcineurina estão sob risco elevado de desenvolvimento de lesão, tanto aguda quanto crônica. A manifestação da injuria renal pode se
PROJETO QUEDAS IPGG REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO COM RISCO DE QUEDA
 APS SAÚDE SANTA MARCELINA OSS MICROREGIÃO CIDADE TIRADENTES-GUAIANAZES NIR CIDADE TIRADENTES PROJETO QUEDAS IPGG REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO COM RISCO DE QUEDA ANDRÉA C. FOLHE DÉBORA DUPAS G. NASCIMENTO FERNANDA
APS SAÚDE SANTA MARCELINA OSS MICROREGIÃO CIDADE TIRADENTES-GUAIANAZES NIR CIDADE TIRADENTES PROJETO QUEDAS IPGG REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO COM RISCO DE QUEDA ANDRÉA C. FOLHE DÉBORA DUPAS G. NASCIMENTO FERNANDA
O SANGUE HUMANO. Professora Catarina
 O SANGUE HUMANO Professora Catarina SANGUE Principais funções: Transportar O 2 e nutrientes a todas as células do corpo; Recolher CO 2 e excreções; Transportar hormônios; Proteger o corpo contra a invasão
O SANGUE HUMANO Professora Catarina SANGUE Principais funções: Transportar O 2 e nutrientes a todas as células do corpo; Recolher CO 2 e excreções; Transportar hormônios; Proteger o corpo contra a invasão
 www.printo.it/pediatric-rheumatology/br/intro CANDLE Versão de 2016 1. O QUE É A CANDLE 1.1 O que é? A Dermatose Neutrofílica Atípica Crônica com Lipodistrofia e Temperatura Elevada (CANDLE) é uma doença
www.printo.it/pediatric-rheumatology/br/intro CANDLE Versão de 2016 1. O QUE É A CANDLE 1.1 O que é? A Dermatose Neutrofílica Atípica Crônica com Lipodistrofia e Temperatura Elevada (CANDLE) é uma doença
Hematologia DOENCA DE VON WILLEBRAND
 DOENCA DE VON WILLEBRAND 17.09.08 Apesar dessa doenca envolver uma ptn de coagulacao, ela atua na hemostasia primaria, entao nao faz parte das coagulopatias. Esse fator de VW é uma glicoptn de alto peso
DOENCA DE VON WILLEBRAND 17.09.08 Apesar dessa doenca envolver uma ptn de coagulacao, ela atua na hemostasia primaria, entao nao faz parte das coagulopatias. Esse fator de VW é uma glicoptn de alto peso
Fármacos Anticoagulantes, Trombolíticos e Antiplaquetários
 Fármacos Anticoagulantes, Trombolíticos e Antiplaquetários COAGULAÇÃO SANGUÍNEA A coagulação sanguínea trata-se de uma serie de castas enzimáticas que vão se ativando gradativamente e aumentando os fatores
Fármacos Anticoagulantes, Trombolíticos e Antiplaquetários COAGULAÇÃO SANGUÍNEA A coagulação sanguínea trata-se de uma serie de castas enzimáticas que vão se ativando gradativamente e aumentando os fatores
A INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA GORDURA CORPORAL DOS PARTICIPANTES DO PIBEX INTERVALO ATIVO 1
 A INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA GORDURA CORPORAL DOS PARTICIPANTES DO PIBEX INTERVALO ATIVO 1 CARDOSO, Eduardo Rangel 2 ; PANDA, Maria Denise de Justo 3 ; FIGUEIRÓ, Michele Ferraz
A INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA GORDURA CORPORAL DOS PARTICIPANTES DO PIBEX INTERVALO ATIVO 1 CARDOSO, Eduardo Rangel 2 ; PANDA, Maria Denise de Justo 3 ; FIGUEIRÓ, Michele Ferraz
INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO SISTEMÁTICO DE HIDROGINÁSTICA NOS COMPONENTES DA APTIDÃO FÍSICA DE IDOSOS
 INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO SISTEMÁTICO DE HIDROGINÁSTICA NOS COMPONENTES DA APTIDÃO FÍSICA DE IDOSOS INTRODUÇÃO JOSÉ MORAIS SOUTO FILHO SESC, Triunfo, Pernambuco, Brasil jmfilho@sescpe.com.br O envelhecimento
INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO SISTEMÁTICO DE HIDROGINÁSTICA NOS COMPONENTES DA APTIDÃO FÍSICA DE IDOSOS INTRODUÇÃO JOSÉ MORAIS SOUTO FILHO SESC, Triunfo, Pernambuco, Brasil jmfilho@sescpe.com.br O envelhecimento
A INTERVENSÃO FISIOTEPÁPICA NA OSTEOPOROSE
 CONEXÃO FAMETRO 2017: ARTE E CONHECIMENTO XIII SEMANA ACADÊMICA ISSN: 2357-8645 A INTERVENSÃO FISIOTEPÁPICA NA OSTEOPOROSE Vittória Felix FAMETRO Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza. vittoriarf@gmail.com
CONEXÃO FAMETRO 2017: ARTE E CONHECIMENTO XIII SEMANA ACADÊMICA ISSN: 2357-8645 A INTERVENSÃO FISIOTEPÁPICA NA OSTEOPOROSE Vittória Felix FAMETRO Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza. vittoriarf@gmail.com
Benefícios gerais da actividade física
 Organização e Desenvolvimento Desportivo 2010/2011 Carmen Pereira Benefícios gerais da actividade física Introdução Benefícios gerais da actividade física Um dos principais aspectos que aumentou consideravelmente
Organização e Desenvolvimento Desportivo 2010/2011 Carmen Pereira Benefícios gerais da actividade física Introdução Benefícios gerais da actividade física Um dos principais aspectos que aumentou consideravelmente
ALONGAMENTO MUSCULAR
 MOVIMENTOS PASSIVOS E ATIVOS ALONGAMENTO MUSCULAR Prof. Ma. Ana Júlia Brito Belém/PA Aula 03 AMPLITUDE DE MOVIMENTO E a medida de um movimento articular, que pode ser expressa em graus. Quanto maior a
MOVIMENTOS PASSIVOS E ATIVOS ALONGAMENTO MUSCULAR Prof. Ma. Ana Júlia Brito Belém/PA Aula 03 AMPLITUDE DE MOVIMENTO E a medida de um movimento articular, que pode ser expressa em graus. Quanto maior a
INDICAÇÕES PARA USO CLÍNICO DE HEMOCOMPONENTES. Concentrado de Hemácias (CH)
 Concentrado de Hemácias (CH) A transfusão de concentrados de hemácias está indicada para aumentar rapidamente a capacidade de transporte de oxigênio em pacientes com diminuição da massa de hemoglobina.
Concentrado de Hemácias (CH) A transfusão de concentrados de hemácias está indicada para aumentar rapidamente a capacidade de transporte de oxigênio em pacientes com diminuição da massa de hemoglobina.
DIVISÃO DE LABORATÓRIO CENTRAL HC FMUSP PARAMETRIZAÇÃO DE COLETA. Data criação: 22/02/2010 Data aprovação: 31/05/2012. Numero da versão: 03
 Tempo de Sangramento IVY (NÃO ESTÁ SENDO REALIZADO) Vide observação. Contagem de Plaquetas (manual) 1 tubo de EDTA Temperatura ambiente, até 5 horas da coleta. Para 24 horas, armazenar a 4 C Tempo de Protrombina
Tempo de Sangramento IVY (NÃO ESTÁ SENDO REALIZADO) Vide observação. Contagem de Plaquetas (manual) 1 tubo de EDTA Temperatura ambiente, até 5 horas da coleta. Para 24 horas, armazenar a 4 C Tempo de Protrombina
Ficha Informativa da Área dos Conhecimentos
 Ficha Informativa da Área dos Conhecimentos 1 Qualidades Físicas As qualidades físicas podem ser definidas como todas as capacidades treináveis de um organismo. As qualidades são: resistência, força, velocidade,
Ficha Informativa da Área dos Conhecimentos 1 Qualidades Físicas As qualidades físicas podem ser definidas como todas as capacidades treináveis de um organismo. As qualidades são: resistência, força, velocidade,
MIOPATIAS E DOENÇAS DA JUNÇÃO NEUROMUSCULAR
 MIOPATIAS E DOENÇAS DA JUNÇÃO NEUROMUSCULAR Profa Dra Cláudia Ferreira da Rosa Sobreira Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de
MIOPATIAS E DOENÇAS DA JUNÇÃO NEUROMUSCULAR Profa Dra Cláudia Ferreira da Rosa Sobreira Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de
PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS OSTEOPOROSE
 Circular 334/2014 São Paulo, 09 de Junho de 2014. PROVEDOR(A) ADMINISTRADOR(A) PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS OSTEOPOROSE Diário Oficial da União Nº 107, Seção 1, sexta-feira, 6 de junho de
Circular 334/2014 São Paulo, 09 de Junho de 2014. PROVEDOR(A) ADMINISTRADOR(A) PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS OSTEOPOROSE Diário Oficial da União Nº 107, Seção 1, sexta-feira, 6 de junho de
Transfusão Em Cirurgia
 Transfusão Em Cirurgia Dante Mário Langhi Jr Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 2006 Transfusão em Cirurgia Lesões traumáticas - importante causa de morte entre 1 e 44 anos de idade
Transfusão Em Cirurgia Dante Mário Langhi Jr Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 2006 Transfusão em Cirurgia Lesões traumáticas - importante causa de morte entre 1 e 44 anos de idade
ENFERMAGEM. DOENÇAS HEMATOLÓGICAS Parte 2. Profª. Tatiane da Silva Campos
 ENFERMAGEM DOENÇAS HEMATOLÓGICAS Parte 2 Profª. Tatiane da Silva Campos ALTERAÇÕES DA COAGULAÇÃO Púrpuras (Trombocitopênica Imunológica): doença adquirida; os anticorpos destroem as plaquetas. Sintomas:
ENFERMAGEM DOENÇAS HEMATOLÓGICAS Parte 2 Profª. Tatiane da Silva Campos ALTERAÇÕES DA COAGULAÇÃO Púrpuras (Trombocitopênica Imunológica): doença adquirida; os anticorpos destroem as plaquetas. Sintomas:
TRABALHO CIENTÍFICO (MÉTODO DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO PATOLOGIA CLÍNICA)
 1 TRABALHO CIENTÍFICO (MÉTODO DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO PATOLOGIA CLÍNICA) ESTABILIDADE DO PLASMA FRESCO CONGELADO CANINO EM DIFERENTES PROTOCOLOS DE CONGELAMENTO E ARMAZENAMENTO STABILITY OF CANINE FRESH
1 TRABALHO CIENTÍFICO (MÉTODO DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO PATOLOGIA CLÍNICA) ESTABILIDADE DO PLASMA FRESCO CONGELADO CANINO EM DIFERENTES PROTOCOLOS DE CONGELAMENTO E ARMAZENAMENTO STABILITY OF CANINE FRESH
Sistema muscular Resistência Muscular Localizada Flexibilidade Osteoporose Esteróides Anabolizantes
 MÚSCULOS, ARTICULAÇÕES, FORÇA, FLEXIBILIDADE E ATIVIDADE FÍSICAF Sistema muscular Resistência Muscular Localizada Flexibilidade Osteoporose Esteróides Anabolizantes APARELHO LOCOMOTOR HUMANO Constituição
MÚSCULOS, ARTICULAÇÕES, FORÇA, FLEXIBILIDADE E ATIVIDADE FÍSICAF Sistema muscular Resistência Muscular Localizada Flexibilidade Osteoporose Esteróides Anabolizantes APARELHO LOCOMOTOR HUMANO Constituição
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA PROFESSOR : THIAGO FERNANDES SÉRIE: 2º ANO
 COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA PROFESSOR : THIAGO FERNANDES SÉRIE: 2º ANO ATIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA PROFESSOR : THIAGO FERNANDES SÉRIE: 2º ANO ATIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura
Determinantes do processo saúde-doença. Identificação de riscos à saúde. Claudia Witzel
 Determinantes do processo saúde-doença. Identificação de riscos à saúde Claudia Witzel CONCEITOS DE SAÚDE E DOENÇA Saúde pode ser definida como ausência de doença Doença ausência de saúde... Saúde é um
Determinantes do processo saúde-doença. Identificação de riscos à saúde Claudia Witzel CONCEITOS DE SAÚDE E DOENÇA Saúde pode ser definida como ausência de doença Doença ausência de saúde... Saúde é um
Pubalgia. Fig. 1 fortes grupos musculares que concentram esforços na sínfise púbica.
 Pubalgia É uma síndrome caracterizada por dor na sínfise púbica, com irradiação para as regiões inguinais (virilha) e inferior do abdome, podendo estar associada a graus variáveis de impotência funcional
Pubalgia É uma síndrome caracterizada por dor na sínfise púbica, com irradiação para as regiões inguinais (virilha) e inferior do abdome, podendo estar associada a graus variáveis de impotência funcional
INFLUÊNCIA DO EXCESSO DE PESO NA FORÇA MUSCULAR DE TRONCO DE MULHERES
 INFLUÊNCIA DO EXCESSO DE PESO NA FORÇA MUSCULAR DE TRONCO DE MULHERES Pâmela Abreu Vargas Barbosa 1 (IC)*, Tânia Cristina Dias da Silva Hamu 1 (PQ), Daniella Alves Vento 1 (PQ) 1 Universidade Estadual
INFLUÊNCIA DO EXCESSO DE PESO NA FORÇA MUSCULAR DE TRONCO DE MULHERES Pâmela Abreu Vargas Barbosa 1 (IC)*, Tânia Cristina Dias da Silva Hamu 1 (PQ), Daniella Alves Vento 1 (PQ) 1 Universidade Estadual
Tratamento Com freqüência, é possível se prevenir ou controlar as cefaléias tensionais evitando, compreendendo e ajustando o estresse que as ocasiona.
 CEFALÉIAS As cefaléias (dores de cabeça) encontram-se entre os problemas médicos mais comuns. Alguns indivíduos apresentam cefaléias freqüentes, enquanto outros raramente as apresentam. As cefaléias podem
CEFALÉIAS As cefaléias (dores de cabeça) encontram-se entre os problemas médicos mais comuns. Alguns indivíduos apresentam cefaléias freqüentes, enquanto outros raramente as apresentam. As cefaléias podem
Sepse Professor Neto Paixão
 ARTIGO Sepse Olá guerreiros concurseiros. Neste artigo vamos relembrar pontos importantes sobre sepse. Irá encontrar de forma rápida e sucinta os aspectos que você irá precisar para gabaritar qualquer
ARTIGO Sepse Olá guerreiros concurseiros. Neste artigo vamos relembrar pontos importantes sobre sepse. Irá encontrar de forma rápida e sucinta os aspectos que você irá precisar para gabaritar qualquer
MÔNICA BOTKE OLDRA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO E NA PREVENÇÃO DAS HEMARTROSES EM HEMOFÍLICOS: REVISÃO SISTEMÁTICA
 MÔNICA BOTKE OLDRA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO E NA PREVENÇÃO DAS HEMARTROSES EM HEMOFÍLICOS: REVISÃO SISTEMÁTICA Cascavel 2003 MÔNICA BOTKE OLDRA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO
MÔNICA BOTKE OLDRA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO E NA PREVENÇÃO DAS HEMARTROSES EM HEMOFÍLICOS: REVISÃO SISTEMÁTICA Cascavel 2003 MÔNICA BOTKE OLDRA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO
Vasculite sistémica primária juvenil rara
 www.printo.it/pediatric-rheumatology/br/intro Vasculite sistémica primária juvenil rara Versão de 2016 2. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 2.1 Quais são os tipos de vasculite? Como é a vasculite classificada?
www.printo.it/pediatric-rheumatology/br/intro Vasculite sistémica primária juvenil rara Versão de 2016 2. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 2.1 Quais são os tipos de vasculite? Como é a vasculite classificada?
DIVISÃO DE LABORATÓRIO CENTRAL HC FMUSP PARAMETRIZAÇÃO DE COLETA
 Contagem de Plaquetas (manual) Temperatura, até 5 horas da coleta. Para 24 horas, armazenar a 4 C De 2ª à 6ª feira das 07hs às 15hs. Tempo de Protrombina (TP) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA)
Contagem de Plaquetas (manual) Temperatura, até 5 horas da coleta. Para 24 horas, armazenar a 4 C De 2ª à 6ª feira das 07hs às 15hs. Tempo de Protrombina (TP) Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA)
Guia para a Hemovigilância no Brasil ANVISA Profª. Fernanda Barboza
 Guia para a Hemovigilância no Brasil ANVISA 2015 Profª. Fernanda Barboza Hemovigilância Um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar
Guia para a Hemovigilância no Brasil ANVISA 2015 Profª. Fernanda Barboza Hemovigilância Um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar
QUEDAS NA IDADE SÉNIOR: DO RISCO À PREVENÇÃO!
 QUEDAS NA IDADE SÉNIOR: DO RISCO À PREVENÇÃO! Janeiro, 2015 Sumário Processo de envelhecimento Incidência das quedas em Portugal Complicações das quedas Do risco à prevenção de quedas Envelhecimento Velhice
QUEDAS NA IDADE SÉNIOR: DO RISCO À PREVENÇÃO! Janeiro, 2015 Sumário Processo de envelhecimento Incidência das quedas em Portugal Complicações das quedas Do risco à prevenção de quedas Envelhecimento Velhice
 www.printo.it/pediatric-rheumatology/br/intro Doença de Kawasaki Versão de 2016 2. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 2.1 Como é diagnosticada? A DK é uma doença de diagnóstico clínico ou de cabeceira. Isto significa
www.printo.it/pediatric-rheumatology/br/intro Doença de Kawasaki Versão de 2016 2. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 2.1 Como é diagnosticada? A DK é uma doença de diagnóstico clínico ou de cabeceira. Isto significa
