Artigos Originais TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E A ARQUEOLOGIA DO AMAPÁ NA SALA DE AULA. Original Articles
|
|
|
- Victorio Cruz Botelho
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 155 RESUMO Artigos Originais TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E A ARQUEOLOGIA DO AMAPÁ NA SALA DE AULA Original Articles DIDACTIC TRANSPOSITION AND THE AMAPÁ ARCHAEOLOGY IN CLASSROOM Ana Cristina Rocha Silva * tinaunifap@gmail.com Edinaldo Pinheiro Nunes Filho ** edinaldopnf@outlook.com CAMINE: Cam. Educ. = CAMINE: Ways Educ., Franca, SP, Brasil - e - está licenciada sob Licença Creative Commons A transposição didática consiste em um conjunto de ações transformadoras que visam tornar um saber sábio em saber ensinável. Seu desafio maior é transpor o conhecimento científico para o conhecimento escolar a partir de uma linguagem adequada ao contexto dos alunos. Assim, ela age no sentido de torná-los protagonistas de seu próprio processo de aprendizagem. As pesquisas arqueológicas realizadas no estado do Amapá têm revelado um grande potencial para a produção de conhecimento sobre a ocupação e comportamento dos grupos humanos que habitaram a Amazônia em tempos prístinos. Porém, essa potencialidade esbarra no distanciamento entre o conhecimento produzido nos laboratórios dedicados às pesquisas arqueológicas e as salas de aulas. Nessa direção, esse trabalho visa apresentar a transposição didática como uma estratégia para reduzir o espaçamento entre os resultados das pesquisas arqueológicas e a sociedade. Além disso, o texto objetiva descrever a experiência vivida por acadêmicos do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal do Amapá (campus Binacional/Oiapoque) em projetos de execução da transposição didática e inserção da arqueologia nas salas de aula do município de Oiapoque, extremo norte do Amapá. Palavras-chave: transposição didática. arqueologia. Amapá. sala de aula. * Mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Graduada em História e Especialista em História da Amazônia. Professora Assistente I da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP/Campus Binacional). Membro do Grupo de Pesquisa Estudo, Pesquisa e Preservação da Cultura Material do Amapá (CNPq). Membro da Diretoria da ANPUH-AP ( ). ** Doutor em Desenvolvimento Socioambiental pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com estágio de pós-doutorado pela Universidade de Coimbra (Portugal). Mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professor Adjunto III da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP/Campus Marco Zero).
2 156 ABSTRACT The didactic transposition is a set of transformative actions aimed at making a wise knowledge into teachable knowledge. Its biggest challenge is to translate scientific knowledge to school knowledge in a language appropriated to the students' context. So it acts to make students protagonists of their own learning process. Archaeological researches conducted in the state of Amapá have shown great potential for the production of knowledge about the occupation and behavior of human groups that inhabited the Amazon in pristine times. However, this potential bumps into the gap between the knowledge produced in laboratories dedicated to archaeological research and classrooms. In this sense, this work presents the didactic transposition as a strategy to reduce this gap between the results of archaeological research and society. In addition, the paper aims to describe the experience of some academics with Degree in History from the Federal University of Amapá (Binational/Oiapoque campus) in an implementation project of didactic transposition and archeology inclusion in classrooms in the municipality of Oiapoque, extreme northern Amapá. Keywords: didactic transposition. archeology. Amapá. classroom. INTRODUÇÃO Este artigo discute a transposição didática enquanto estratégia de aproximação entre o conhecimento produzido nos laboratórios de pesquisas arqueológicas e as salas de aulas. O objetivo do trabalho é debater a importância da transposição didática no compartilhamento do conhecimento produzido pelas pesquisas arqueológicas do estado do Amapá, bem como descrever experiências que tiveram sucesso na transposição desse conhecimento. O trabalho apresenta-se em cinco seções. A primeira trata do surgimento e conceituação do termo transposição didática. Na sequência, se apresenta aspectos das pesquisas arqueológicas realizadas no Amapá, bem como destaca-se a potencialidade do patrimônio arqueológico desse Estado. A terceira seção discute o amadurecimento conceitual da Ciência da Arqueologia, bem como discute a utilização da transposição didática em favor do ingresso dessa ciência na sala de aula. A quarta seção descreve a experiência de acadêmicos do curso de História da Universidade Federal do Amapá (câmpus Boinacional/Oiapoque) na execução da transposição didática e inserção do conhecimento produzido pela arqueologia nas salas de aula do município de Oiapoque, extremo norte do Amapá.
3 157 ENTENDENDO A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA A dinamicidade e rapidez da sociedade contemporânea tem imposto muitos desafios à educação. Um dos mais difíceis de se alcançar é a aproximação entre o conhecimento que vem sendo produzido no interior de centros de pesquisas científicas e as escolas. O distanciamento entre aquilo que se descobre e/ou redescobre cotidianamente nos laboratórios científicos e aquilo que é ensinado nas salas de aula da educação básica provoca certa desarmonia no ritmo da transmissão de conhecimentos. Assim, enquanto a produção de conhecimento se renova a cada dia nos laboratórios, na sala de aula, em geral, o conhecimento é repassado de forma estática, imutável. Considerando que a transmissão de conhecimentos produzidos pela humanidade é uma das principais atribuições da escola, essa aparente imutabilidade acaba por interromper uma das funções sociais da educação formal. Nesse sentido, a transposição didática apresenta-se como uma estratégia de enfrentamento para que a escola não se torne isolada da realidade científica que está em seu entorno. De acordo com Almeida (2011), o sociólogo Michel Verret foi quem introduziu o termo transposição didática, ainda no ano de Posteriormente, o francês Yves Chevallard rediscutiu o termo na obra La transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné. Nesse trabalho, Chevallard ampliou o termo dividindo-o em três fases distintas, porém, interligadas. As fases descritas por ele correspondem respectivamente a: [...] savoir savant (saber do sábio), que no caso é o saber elaborado pelos cientistas; o savoir a ensigner (saber a ensinar), que no caso é a parte específica aos professores e que está diretamente relacionada à didática e à prática de condução de sala de aula; e por último o savoir ensigné (saber ensinado), aquele que foi absorvido pelo aluno mediante as adaptações e as transposições feitas pelos cientistas e pelos professores (CHEVALLARD, 1998 apud ALMEIDA, 2011, p. 10). Na análise de Almeida (2011), a ampliação do termo e sua subdivisão em três fases interdependentes revelam que, para Chevallard, existem diferenças entre o conhecimento que se produz nos laboratórios científicos e o conhecimento desenvolvido em ambientes estritamente educativos, tais como as escolas. Não são
4 158 diferenças conceituais, consistem em diferenças textuais, pois estão posicionadas no campo semântico e léxico e que, por essa condição, precisam ser consideradas. Tendo em vista essa diferenciação textual, na definição de Fhilipe Perrenoud transposição didática é [...] a ação de fabricar artesanalmente os saberes, tornandoos ensináveis, exercitáveis e passíveis de avaliação no quadro de uma turma, de um ano, de um horário, de um sistema de comunicação e trabalho. (PERRENOUD, 1993 apud ALMEIDA, 2011, p. 9). Na avaliação de Polidoro e Stigar (2010, p. 155) o espaçamento entre o saber científico e o saber ensinado não retrata necessariamente uma hierarquia de saberes. A distância entre um e outro representa [...] uma transformação de saberes que ocorre nas diferentes práticas sociais, em função da diversidade dos gêneros discursivos e dos interlocutores aí envolvidos. Para os autores, nesse contexto, o processo de transformação do conhecimento ocorre porque os funcionamentos didático e científico diferem entre si. Eles estão relacionados, porém, não estão sobrepostos. Dessa forma: [...] para que um determinado conhecimento seja ensinado, em situação acadêmico-científica ou escolar, necessita passar por transformação, uma vez que não foi criado com o objetivo primeiro de ser ensinado. A cada transformação sofrida pelo conhecimento corresponde, então, o processo de Transposição Didática (POLIDORO; STIGAR, 2010, p. 155). Nessa direção e ainda conforme Polidoro e Stigar (2010), a modificação de um objeto de conhecimento científico para um objeto de conhecimento escolar exige seleção e inter-relacionamento do conhecimento acadêmico, a fim de que o mesmo possa se adequar às possibilidades cognitivas dos educandos e à realidade que o circunda. Portanto, subtende-se dos autores que a transposição didática ocorre a partir de ajustes entre as linguagens oral e escrita e as condições dos aprendizes, assim como as condições de ensino-aprendizagem oferecidas na escola. Indo ao encontro do pensamento de Polidoro e Stigar (2010), Almeida (2011) também sinaliza que o grande desafio da transposição didática é transpor o conhecimento científico para o conhecimento escolar com base em uma linguagem adequada à realidade dos alunos. No dizer desse último autor, a adequação de linguagem é ainda mais imperiosa na educação básica, pois, nessa etapa em especial, o distanciamento
5 159 entre conhecimento científico e conhecimento escolar parece ser maior. Almeida (2011) defende a necessidade de o docente buscar estratégias de ensino que permitam ao aluno digerir os conteúdos de maneira mais palatável possível. Nesse sentido, é mister que o professor proporcione um processo de ensino/aprendizagem prazeroso e com potencial para deslocar seus alunos da condição de meros receptores de conteúdos e informações para a condição de protagonistas de seu próprio processo de aprendizagem. Esse é um dos grandes desafios da educação que pode ser conquistado com o uso adequado da transposição didática. AS PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS NO AMAPÁ Localizado no extremo norte do Brasil, o Estado do Amapá apresenta uma vasta herança cultural. A diversidade dessa herança está expressa nas quatro principais fases arqueológicas identificadas no Estado, a saber: Aruã, Maracá, Mazagão e Aristé 1. Cada uma dessas fases corresponde a uma sequência de desenvolvimento cultural e cronológico na região. A Figura 1, adiante, identifica o local de ocorrência das fases. Figura 1: Fases arqueológicas amapaenses. Fonte: Pardi e Silveira (2005) 1 Há, ainda, uma quinta fase denominada Koriabo. As pesquisas a respeito dessa fase ainda não permitem apresentar dados mais aprofundados sobre ela.
6 160 A fase Aruã relaciona-se à uma tradição ainda não estabelecida. Ela [...] representa a mais antiga evidência de ocupação humana do Estado. (NUNES FILHO, 2010, p. 21). A localização geográfica da fase Aruã compreende: o Estado do Amapá, as Ilhas Mexiana e Caviana e o Marajó (no Estado do Pará). Está relacionada a grupos de caçadores-coletores com agricultura incipiente. Os sítios arqueológicos pertencentes à fase Aruã são pequenos e rasos. Isso infere grupos humanos pequenos e com curta permanência em um dado local. Nessa fase, predomina a cerâmica simples, ou seja, sem decoração. Entre as peças da fase estão: assadeiras utilizadas provavelmente para cozer pão de mandioca, figuras toscas relacionadas possivelmente a prática religiosa, lâminas de machado polidas e contas pendentes de jadeíta. A datação relativa dessa fase compreende os séculos XIII e XVII (NUNES FILHO, 2010). A fase Aristé (conhecida popularmente como Cunani) está relacionada à Tradição Policroma 2. Os grupos indígenas pertencentes a essa fase se estabeleceram no extremo norte do Amapá; destaca-se, no mesmo período em que os grupos ligados à fase Mazagão também se estabeleceram no sul do Estado. A fase Aristé está localizada geograficamente na metade norte do Amapá, [...] limitada, ao norte, pelo Rio Oiapoque e, ao sul, pelos rios Araguari/Amapari (SIMÕES, 1972 apud NUNES FILHO, 2010, p. 22). Além de serem rasos, os sítios dessa fase sugerem curto período de ocupação. Estão situados ao logo de rios e igarapés, afastados dos locais utilizados como cemitérios. Esses últimos, chamados de sítios-cemitérios se caracterizam pela disposição de urnas funerárias expostas em gruta ou cavernas. Quando esses abrigos eram ausentes no ambiente natural, os grupos pertencentes à fase Aristé abriam poços artificiais ou depositavam suas urnas na terra. A datação relativa da fase compreende os séculos XV e XVI. A fase Mazagão está relacionada à Tradição Cultural Inciso Ponteado 3. Nunes Filho (2010, p. 23) esclarece que, entre os séculos XV e XVI, grupos da fase 2 A Tradição Policroma se caracteriza pela ampla diversidade de técnicas decorativas e pela complexidade de motivos. Predomina como decoração a pintura em vermelho ou pretro sobre engobo (tipo de tratamento feito antes da queima da cerâmica, na superfície do vasilhame) branco (NUNES FILHO, 2010, p. 72). 3 A Tradição Inciso Ponteado caracteriza-se pela decoração feita através de incisões, predominantemente retilínea e, às vezes, em padrões desenhados em finas linhas paralelas, espaçadas uniformemente e, associadas a ponteados. São também modelagens em baixo relevo
7 161 Mazagão imigraram para o sul do Amapá, ocupando a área limitada, ao norte, pelos rios Araguari e Amapari e, ao sul, pelo rio Jarí. Posteriormente, se concentraram no rio Vila Nova, estabelecendo contato com a fase Maracá e recebendo, assim, a influência de padrões cerâmicos dessa última. As ocupações da fase Mazagão correspondem a sítios habitações e cemitérios. Pelas dimensões dos mesmos, sugerem pequenos contingentes populacionais. Nos sítios cemitérios, são encontradas urnas funerárias com enterramentos secundários em cavernas. A datação relativa dessa fase vai do século XV ao XVI. A presença de contas de vidros junto às urnas funerárias infere a contemporaneidade da fase Mazagão com o europeu (NUNES FILHO, 2010, p. 24). A fase cerâmica Maracá ainda não possui filiação cultural. Ela ocorre na região onde a observação da fase Mazagão é predominante. As urnas funerárias dessa fase geralmente são encontradas em grutas. Essas urnas podem ser: tubulares, zoomorfas, antropormofas e antropozoomorfas. As primeiras são simples e possuem a forma de cilindro oco, com tampa. As zoomorfas remetem a imagem de jabutis e tartarugas. As urnas antropomorfas (Fotografia 1, adiante) representam, em geral, a figura humana sentada em um banco de argila. O corpo e os braços possuem o formato cilíndrico; as mãos estão apoiadas sobre os joelhos, as pernas trazem panturrilhas bastante grossas e os pés apoiam-se no solo. As mãos e pés são estilizados, sendo os dedos em um número de 3 a 7, definidos por incisões. A representação dos órgãos genitais é feita com realismo. A tampa ilustrada a cabeça das urnas, mostrando, no topo, um disco plano ou não. A Figura 2, adiante, ilustra as urnas antropomorfas Maracá. As urnas antropozoomorfas da fase Maracá misturam características de corpos de animais com cabeças humanas. É comum as urnas da fase Maracá apresentarem ossos cremados. Elas eram lacradas através de cordões enfiados em orifícios feitos na parte inferior da tampa; na parte superior, uniam-se pela aplicação de argila na junção, isso tornava as urnas hermeticamente vedadas. A datação relativa da fase Maracá compreende os séculos XV e XVII (NUNES FILHO, 2010, p. 25). A singularidade da herança cultural deixada pelos povos que habitaram o Amapá em tempos prístinos chama a atenção de especialistas desde o século XIX. ou adornos biomorfos sobre a borda ou parede dos recipientes e a pintura (NUNES FILHO, 2010, p. 72).
8 162 Nessa lógica, pioneiros como Goeldi (em 1895), Penna (em 1872), Nimuendaju (em 1915) e Hilbert (em 1953) estão entre os pesquisadores que já desenvolveram estudos no estado. Embora a região como um todo tenha sido considerada por Meggers (1977 apud NUNES FILHO, 2014) como um ambiente pobre e inibidor ao desenvolvimento cultural, os estudos históricos e arqueológicos revelam a existência de uma intensa complexidade cultural dos povos antigos do Estado. Complexidade essa já constatada através das pesquisas pioneiras dos pesquisadores citados acima e ratificada recentemente por arqueólogos que atuam de forma permanente no Amapá. Ao pesquisar sítios localizados na região do Amapari, uma grande área de terra firme localizada no centro-oeste do estado, Nunes Filho 4 (2014) nos revela um contexto cultural que, no mínimo, exige um repensar acerca dos padrões de ocupação na região Amazônica. Segundo o meio especializado, em geral, as sociedades complexas estudadas pela arqueologia nos últimos anos teriam surgido em ambientes de várzea, sendo este ecossistema o grande responsável pelo surgimento de tais grupos. Contrariando essa perspectiva, os estudos de Nunes Filho (2014) na região do Amapari revelam que, assim como os grupos da várzea, os grupos pré-históricos que habitaram a terra firme daquela região também foram capazes de superar suas limitações ecológicas, demonstrando, portanto, intensa complexidade cultural. Conforme o autor, ao fazerem uso do cultivo de plantas e manejo ambiental, os grupos pré-históricos da região do Amapari otimizaram seus recursos naturais sem o comprometimento da existência e qualidade do ecossistema no qual estavam inseridos. Assim, eles foram capazes de construir uma relação harmoniosa com o ecossistema Amazônico e uma preocupação com a preservação ambiental. A partir da diversidade e especialização de recursos ambientais, esses grupos [...] superaram a barreira do tempo em termos de modernidade e inovação tecnológica sem agredir o ambiente natural. (NUNES FILHO, 2011, p. 99). Assim, o autor constata que o desenvolvimento de sociedades complexas na Amazônia não é exclusividade dos ambientes de várzea. Os grupos pré-coloniais que habitaram a terra firme da região do Amapari, no Amapá, [...] criaram condições 4 Arqueólogo vinculado à Universidade Federal do Amapá e fundador do Centro de Pesquisas Arqueológicas do Amapá (CEPAP/UNIFAP).
9 163 ambientais favoráveis ao desenvolvimento de uma complexidade cultural. E, certamente, foram por muito tempo sustentáveis. (NUNES FILHO, 2014, p. 187). Considerando que o feito desses grupos chamados pré-históricos constitui-se como um enorme desafio à sociedade contemporânea que em pleno século XXI agride desenfreadamente seus recursos naturais não há como negar que os mesmos compunham sim sociedades complexas, e que seus conhecimentos a respeito da dinâmica ambiental da região em muito contribuiriam para o enfrentamento dos problemas ambientais da contemporaneidade. Os estudos de Cabral e Saldanha 5 (2010), por sua vez, também sinalizam a complexidade dos grupos pré-históricos do Amapá. Um dos sítios mais evidenciados nas pesquisas desses profissionais é o sítio de estruturas megalíticas conhecido como Rego Grande, localizado a 16 quilômetros da sede do município de Calçoene. Segundo os autores, esse sítio contém mais de 150 blocos de rocha; alguns desses blocos medem mais de três metros de comprimento e outros estão fincados no solo formando um círculo no topo de uma elevação (CABRAL; SALDANHA, 2011). Por conta dessas peculiaridades, o local vem sendo comparado ao Stonehenge, na Inglaterra. Os autores em destaque dão conta de que a construção do lugar exigiu não apenas força bruta, como também intensa organização. Na análise deles: As rochas foram posicionadas no solo com muito cuidado e maestria, apesar do imenso tamanho e do peso de algumas delas. Para isso, foi necessária a coesão de muitas pessoas, um esforço coletivo para criar um espaço onde várias cerimônias eram realizadas. Provavelmente havia uma liderança forte por trás de tudo isso, capaz de reunir um grupo e convencê-lo de que o esforço valia a pena (CABRAL; SALDANHA, 2011, p. 54). Considerando a empreitada para a construção do lugar supracitado, os autores destacados ratificam a complexidade cultural dos grupos pré-coloniais que habitaram o atual estado do Amapá. Segundo eles, a intensa diversidade de sítios e culturas arqueológicas revelam que limitações ambientais não constituíram obstáculo para a organização social de grupos indígenas na região. Os blocos megalíticos encontrados no município de Calçoene constituem-se como um 5 Arqueólogos vinculados ao Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Instituto de Pesquisa Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA).
10 164 elemento a mais do rico contexto indígena da Amazônia antiga, bem como expressa a riqueza cultural dos povos nativos da região. Pelo exposto, as pesquisas arqueológicas realizadas no Amapá já possuem evidências para sustentar que a região não foi no passado (nem o é no presente) um lugar inóspito ao desenvolvimento cultural; não foi uma terra sem gente ou tampouco um lugar intocado pela ação humana, tal como inculcavam os livros didáticos há algum tempo atrás. Os resultados das investigações arqueológicas na região permitem afirmar que, assim como a cultura Maia nos Andes, na Amazônia e, em especial, no Amapá, também se desenvolveram sociedades com complexos sistemas de hierarquia e organização. ARQUEOLOGIA E TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA Conforme Barreto (2010, p. 13), etmologiacamente, a palavra arqueologia se origina do grego arkhaiología (arkhaíos, antigo; logía, discurso, tratado), e diz respeito a ciência ou estudo das coisas antigas. Surgido em fins do século XVI, o termo associava-se ao estudo das antiguidades clássicas ou dos monumentos préhistóricos dos países europeus. Nesses moldes e de acordo com a tradição, a arqueologia passou a ser definida como o mero estudo das coisas ou dos objetos criados pelo trabalho humano, os artefatos (FUNARI, 2003, p. 13). Essa concepção desatualizada acabou por disseminar a ideia de que a tarefa dessa ciência estava restrita a instrumentalizar profissionais para esburacar o solo à procura de objetos antigos. Para Funari (2003), dentro dessa lógica tradicional, os artefatos não teriam relação alguma com seus produtores e utilizadores: os homens. Assim, a interpretação dos artefatos deveria realizar-se a partir de um contexto a-histórico, no qual os artefatos estariam separados da dinâmica social e ambiental dos homens. Segundo Barreto (2010), tal abordagem valorizava o artefato em si, como se ele tivesse o poder de responder a todas as interrogações a respeito da sociedade que o criou. Ao defender que a [...] cultura refere-se, a um só tempo, ao mundo material e espiritual e que [...] não existe uma oposição entre os dois que justifique o estudo apenas das coisas, Funari (2003, p. 13) nos oferta a superação da concepção
11 165 tradicional de arqueologia. De acordo com o autor, nos últimos anos, a arqueologia tem ampliado seu campo de ação para o estudo da cultura material de qualquer tempo, seja ele pretérito ou presente. Dessa forma, [...] a porção da materialidade estudada pela arqueologia não se restringe ao produto do trabalho humano. (FUNARI, p.14). Além dos artefatos, a arqueologia também analisa os ecofatos e os biofatos, pois ambos estão conectados à apropriação da natureza pelo homem. O autor explica que, se os artefatos são os objetos resultantes da ação do homem, por analogia, os conceitos de ecofato e biofato foram criados pelos arqueólogos para designar os vestígios do meio ambiente e de restos de animais que possuem associação com a ação dos seres humanos. Funari (2003, p. 14) justifica seu raciocínio defendendo que os fenômenos da natureza, enquanto conjunto de recursos apropriáveis, podem ser utilizados das mais diversas maneiras e conforme as necessidades, interesses e cultura do sistema social que deles se aproveita. Assim, por exemplo, as águas do rio Eufrates, na Mesopotâmia, eram utilizadas pelos pastores nômades apenas como fonte d água para seus rebanhos, enquanto que para os agricultores sumérios e acádios, essas mesmas águas possibilitaram a criação de um complexo sistema de irrigação. A partir desses exemplos, o intelectual deixa claro que a apropriação da natureza jamais ocorre em um contexto a-histórico, tal como defendia a concepção tradicional de arqueologia, ela ocorre sempre a partir da dinâmica de determinada organização social. O fortalecimento da relação indissociável entre homem e meio provocou a renovação conceitual do objeto de estudo da arqueologia. Avançou-se, assim, da tarefa de desenterrar coisas ou tesouros perdidos (tal como o reproduzido nos filmes de Indiana Jones) para [...] o estudo da cultura material que busca compreender as relações sociais e as transformações na sociedade. (FUNARI, 2003, p. 15). Atualmente, portanto, a partir da Carta de Lausanne (ICAHM, 1990), o patrimônio arqueológico passa a ser definido como: [...] a porção do patrimônio material para qual os métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos primários. Engloba todos os vestígios da existência humana e interessa todos os lugares onde há indícios de atividades humanas não importando quais sejam elas,
12 166 estruturais e vestígios abandonados de todo o tipo, na superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como o material a eles associados. A significação ofertada ao patrimônio arqueológico indica que qualquer indício de atividade ou presença humana em um dado local deve ser considerado como vestígio arqueológico. Através da análise desses vestígios, a arqueologia reúne elementos para compreender a vida social dos homens e as transformações ocorridas na sociedade ao longo dos tempos. Dentre as várias contribuições sociais ofertadas pela arqueologia, a possibilidade do conhecimento do passado para a compreensão do presente e o planejamento coeso do futuro é uma das mais importantes. Entretanto, para que o conhecimento produzido a partir da arqueologia chegue ao conhecimento da sociedade, é necessário que ele ultrapasse as paredes dos laboratórios e chegue até as salas de aula. A desinformação sobre o objeto de estudo dessa ciência ainda é enorme por parte da sociedade, inclusive por parte de muitos professores. Não é a toa que para muitas pessoas a arqueologia estuda os dinossauros. A falta de informações sobre a disciplina está relacionada a aspectos diversos. Destaca-se aqui apenas dois deles: a ausência da disciplina no currículo escolar e a dificuldade de acesso dos professores às discussões que envolvem a ciência. Tais aspectos desdobram-se na pouca habilidade dos mesmos em explorar a arqueologia em sala de aula. E é exatamente aqui que a transposição didática pode ser usada em favor dessa ciência. Compreendida por Monteiro (2007) como um conjunto de ações transformadoras capazes de um tornar um saber sábio em saber ensinável, a transposição didática exige que o professor desenvolva competências. Para Almeida (2011, p. 32), competências [...] são condições superiores de comportamento profissional que só se atinge mediante estudo. Dessa forma, para que ela a transposição didática aconteça em sala de aula, ela exige um docente dedicado que busca aperfeiçoar-se continuamente. No dizer do autor: A transposição didática aqui pode e deve ser entendida como a capacidade de construir-se diariamente. Ela se dá quando o professor passa a ter coragem de abandonar moldes antigos e
13 167 ultrapassados e aceita o novo. E aceita porque tem critérios lógicos para transformá-lo. (ALMEIDA, 2011, p. 33). A partir do posicionamento de Almeida (2011), é possível afirmar que, deparando-se com um professor competente e disposto a aplicar a transposição didática, a arqueologia pode encontrar uma porta aberta para entrar no ambiente escolar e ter seu conteúdo explorado nas aulas da sua das mais variadas disciplinas. TRANSPONDO O CONHECIMENTO PARA A SALA DE AULA Como descrito anteriormente, as pesquisas arqueológicas realizadas no Amapá vêm possibilitando um maior conhecimento a respeito dos modos de viver dos grupos pré-históricos que habitaram a região no passado. Apesar disso, no estado como um todo, esse conhecimento encontra uma enorme dificuldade para acessar a sala de aula. Objetivando possibilitar esse acesso, alunos da turma de veteranos 6 do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal do Amapá, lotados no campus Binacional, no município de Oiapoque, desenvolveram projetos de intervenção para executar a transposição didática e levar a arqueologia do Amapá para as salas de aula do município. Os projetos nasceram durante a fase teórica da disciplina intitulada Prática do ensino de História II: ênfase em arqueologia 7, que pretendeu instrumentalizar os discentes do curso de história para a realização da transposição didática. Dentre vários fins, a disciplina objetivou: a) refletir os usos e possibilidades da arqueologia para a construção do conhecimento histórico; b) aprofundar os conhecimentos sobre as pesquisas arqueológicas na Amazônia e no Amapá com vistas à realização da transposição didática; e c) incentivar práticas docentes que possibilitem um elo entre história e arqueologia. Durante a etapa teórica da disciplina, buscou-se ofertar aos discentes um arcabouço teórico que os levasse a compreender as teorias que explicam o processo povoamento da Amazônia, bem como os estudos acerca das culturas arqueológicas do Amapá. A compreensão desses aspectos é que iriam dar 6 Turma , que atualmente está cursando o quinto semestre do curso. 7 Ministrada pela professora mestra Ana Cristina Rocha Silva.
14 168 subsídios para o amadurecimento de estratégias de transposição didática, uma vez que havia, por parte dos discentes, um grande desconhecimento a respeito das pesquisas arqueológicas na região. Feita a exploração do arcabouço teórico, os alunos foram divididos em quatro Grupos de Trabalho (GT s) para, com o auxílio da docente da disciplina, elaborar projetos de intervenção para serem aplicados em duas instituições escolares do município de Oiapoque, denominadas aqui de escola-campo 1 e escola-campo 2. As duas instituições são, respectivamente, a Escola Estadual Joaquim Caetano 8 e a Escola Estadual Duque de Caxias 9, instituições essas que ofertam o Ensino Fundamental I e II no município de Oiapoque. Cada GT elaborou um projeto diferente, com temáticas e objetivos próprios. Todos eles foram executados no período de 21 a 30 de março de O GT 1 10 elaborou o projeto intitulado preservando nossa história: o sítio arqueológico de Calçoene. O projeto destacou a importância do conhecimento, valorização e divulgação da história do sítio arqueológico de Calçoene (conhecido como Rego Grande). Seu público alvo foram os alunos do 7º ano da escola-campo 1. O projeto vislumbrou apresentar um pouco da história e das pesquisas realizadas no sítio destacado. Para tanto, foram utilizados recursos diferenciados, como: documentários, exposição de fotos e palestras. Destaca-se que, para organizar tais recursos, além de pesquisas em periódicos e livros especializados, o GT 1 foi diretamente ao município de Calçoene entrevistar o guarda-parque do sítio arqueológico de Calçoene, o senhor Lailson Camelo, conhecido popularmente como Garrafinha. A entrevista com ele rendeu a esse grupo um rico material que explorou, sobretudo, a importância da preservação do sítio para as presentes e futuras gerações. Todas as atividades planejadas no âmbito do projeto elaborado pelo GT 1 tiveram como diretriz central a dinamização do ensino de História, o resgate da memória e o fomento de ações preservacionistas. 8 Localizada no centro do município de Oiapoque. 9 Localizada no Distrito de Clevelândia do Norte, a 06 quilômetros da cidade de Oiapoque. 10 Composto pelos acadêmicos Teresinha de Jesus, Géssica da Costa, Jéssica Mendes, Thiane Keisse Ferro, Loyanne Cristini Pires, Nilene Martins, Aldo Césas cardoso, Ana Iza Ribeiro e Wallison Rodrigues.
15 169 Por sua vez, o GT 2 11 elaborou o projeto denominado Os sítios arqueológicos Aristé (Cunani), cujo objetivo central foi apresentar aos estudantes do 7º ano da escola-campo 1 a fase Arqueológica Aristé. Houve, por parte do GT 2, a preocupação em apresentar a fase Aristé de forma didática e com linguagem adequada para a faixa etária e realidade social dos alunos da escola-campo 1. Dessa forma, além da apresentação de réplicas das cerâmicas Aristé (ou Cunani), o grupo desenvolveu jogos didáticos que exploravam as características e locais de ocorrência dessa fase. Interessante foi notar que os alunos reconheceram que o território habitado por eles, na atualidade, está contido na área de ocorrência da fase Aristé. Isso os permitiu compreender que aquele território já era ocupado por grupos indígenas muito antes da criação do município de Oiapoque, possibilitando, assim, a construção de elos identitários. Denominado Conscientizar para preservar: a civilização Maracá, o projeto do GT 3 12 vislumbrou apresentar a civilização Maracá e identificar as influências e vestígios dessa civilização no presente. O grupo discutiu, ainda, a importância da preservação dos sítios Maracá para a produção de conhecimento a respeito da préhistória da região. O público alvo desse grupo foram os alunos do 8º ano da escolacampo 1. Em meios às estratégias didáticas criadas pelo grupo, destaca-se a utilização de objetos cerâmicos e artesanatos que trazem consigo grafismos da cultura Maracá. Tais materiais foram utilizados para fazer com que os alunos conseguissem identificar as marcas da civilização Maracá em seu cotidiano e, a partir disso, pudessem refletir a respeito de seu uso e preservação. Destaca-se que, em meio às estratégias didáticas do GT 3, apresentou-se uma encenação protagonizada pelos próprios acadêmicos. A encenação discutiu aspectos legais da preservação do patrimônio arqueológico no Brasil e apresentou situações-problemas para os alunos compreenderem como agir em casos de achados fortuitos de sítio arqueológicos, uma vez que é comum a localização de sítios na área urbana e rural do município de Oiapoque. 11 Composto pelos acadêmicos Doriedson dos Santos, Francisco Wilton de Oliveira, Girlene Costa, Jaime Vilhena, Joanpicio Sousa, Poela Lia, Rair Martins, Risonete dos santos, Roberto Veiga e Yuri Aniká. 12 Composto pelos acadêmicos Adriana Pantoja, Erasmo Ribeiro, Fabíola Vilhena, Francinildo Leite, Josiel Oliveira, Lilciane Ribeiro, Maiara Barbosa, Marco Silva, Marco Silva, Márcia Rosa, Mirian Gadelha e Sthéfanie Maiara.
16 170 Intitulado As origens do povoamento amazônico, o projeto do GT 4 13 foi o único executado na escola-campo 2. O projeto pretendeu esclarecer as teorias que explicam o processo de povoamento da Amazônia para, assim, explorar as formas de uso do meio ambiente amazônico por grupos pré-colombianos. O público alvo do projeto foram os alunos do 8º ano da escola campo 2. As estratégias didáticas do GT 4 combinaram o uso de mapas, réplicas de artefatos cerâmicos das culturas Aristé e Maracá, fotografias e jogos didáticos. O principal jogo didático utilizado pelo grupo constou em um quebra-cabeça extragrande confeccionado em material emborrachado. O quebra-cabeça trazia o mapa das fases arqueológicas do Amapá e, ao montá-lo, os alunos aprendiam de forma lúdica os rastros das civilizações que habitaram o estado no passado. A experiência vivida pelos acadêmicos demonstra ser possível a inserção da arqueologia no cotidiano escolar. Devidamente instrumentalizados e capacitados, é possível que professores transponham as paredes de laboratórios e transformem o conhecimento acadêmico em conhecimento escolar. CONSIDERAÇÕES FINAIS O patrimônio arqueológico do estado do Amapá possui um enorme potencial para a produção de conhecimento a respeito da ocupação e comportamento dos grupos humanos que habitaram a região Amazônica no passado. Todavia, essa potencialidade tem esbarrado no enorme distanciamento entre o conhecimento que vem sendo produzido nos laboratórios dedicados às pesquisas arqueológicas e as salas de aulas. Nesse sentido, a transposição didática foi apresentada aqui como uma estratégia para diminuir o espaçamento entre os resultados das pesquisas arqueológicas e a sociedade. A experiência vivida por acadêmicos do curso de História da Universidade Federal do Amapá (câmpus Binacional/Oiapoque) demonstrou ser possível transpor o conhecimento advindo das pesquisas arqueológicas da região para a sala de aula. Demonstrou, ainda que, se executada com o planejamento e linguagem adequada, a transposição didática pode tornar mais harmônico e contínuo o fluxo do 13 Composto pelos acadêmicos Aldelan Nunes, Ana Lúcia Monteiro, Cleia Dias, Israel Pereira, Juliana Aniká, Márcia Rosiane Teixeira, Rosanira Lima, Sara Gabriel Silva, Josilene dos Santos e Ivanéia Soares.
17 171 conhecimento acadêmico para o conhecimento escolar. Obviamente que o movimento daquilo que é produzido nos laboratórios de arqueologia em direção à sala de aula não depende unicamente da competência e vontade do professor e/ou pesquisador. Não é intenção desse artigo sustentar tal posicionamento. Sabe-se que a deficiência na oferta de direitos básicos, como educação de qualidade, perpetua desigualdades que atinge toda a sociedade. Pesquisadores e professores de todos os níveis de ensino (do fundamental ao superior) não estão isentos desse contexto. Logo, as responsabilidades pelas falhas no processo de compartilhamento das pesquisas arqueológicas não podem recair unicamente sobre uma ponta (pesquisadores) ou outra (professores) porque elas possuem relação com contextos muito maiores que, em geral, estão fora do alcance do poder de atuação desses profissionais. O que se buscou nesse artigo é defender a importância cultural e social da inserção da arqueologia no ambiente escolar e mostrar que a transposição didática pode possibilitar essa inserção. No Amapá, em especial, a arqueologia vem desmontando mitos e revelando que, no passado, embora tenham sido rotulados pelo europeu conquistador como incivilizados, os grupos pré-colombianos que habitaram tal espaço possuíam forte complexidade cultural e dominavam sofisticadas técnicas de uso e manejo do meio ambiente. Proporcionar o ingresso desse e de outros conhecimentos produzidos pela arqueologia nas salas de aulas significa, dentre outras coisas, contribuir para a superação de abordagens deficientes sobre os grupos pré-históricos da região. Ao compreender a importância e singularidade do modo de viver desses povos e dos vestígios deixados por eles no ambiente, é possível que crianças sejam estimuladas a compreender a legitimidade e grandeza de sua própria história. Libertando-se, portanto, de verdades absolutas e compreendendo que o conhecimento está em constante processo de construção, reformulação e ressignificação. REFERÊNCIAS ALMEIDA, G. P. Transposição didática: por onde começar? 2. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
18 172 AMARAL, A. et al. Do lado de cá: fragmentos de História do Amapá. Belém: Açaí, BARRETO, M. V. Abordando o passado: uma introdução à arqueologia. Belém: Paka-Tatu, CABRAL, M. P.; SALDANHA, J. D. M. O caminho das pedras. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, n. 65, p , fev ;. A arqueologia do Amapá: reavaliação e novas perspectivas. In GUAPINDAIA, V.; PEREIRA, V. Arqueologia da Amazônia I. Belém: Ed. MPEG : IPHAN : SECULT-PA, FUNARI, P. P. Arqueologia. São Paulo: Contexto, ICAHM. Carta de Lausanne. Lausanne, Disponível em: < 990.pdf>. Acesso em: 11 maio MONTEIRO, A. M. Professores de história: entre saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad X, NEVES, E. G. Arqueologia da Amazônia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, NUNES FILHO, E. P. Desenvolvimento cultural em terra firme: condições ecológicas de ocupação humana na região do Amapari no período pré-colonial. Macapá: Ed. UNIFAP, Modelo de desenvolvimento local na Amazônia Pré-Colonial: complexidade cultural e modernidade em sociedades pré-coloniais da Amazônia. Revista Estação Cientifica, Macapá, v. 1, n. 2, p , Túmulos pré-históricos no Amapá: sepultamento em poço. Macapá: Centro Genildo Batista, PARDI, M. L. F.; SILVEIRA, O. Amapá: gestão do patrimônio arqueológico e o programa estadual de preservação. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARQUEOLOGIA, 13., 2006, Campo Grande. Anais... Campo Grande: SAB, POLIDORO, L. F.; STIGAR, R.. A transposição didática: a passagem do saber científico para o saber escolar. Cibertologia - Revista de Teologia & Cultura, São Paulo, ano 6, ed. 27, p , jan./fev PORRO, A. O povo das águas: ensaios de etno-história amazônica. Rio de Janeiro: Vozes, PROUS, A. Arqueologia brasileira. Brasília, DF: Ed. Universidade de Brasília, 1992.
19 173 SCHAN, D. P. Múltiplas vozes, memória e histórias. Por uma gestão compartilhada do Patrimônio Arqueológico na Amazônia. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Brasília, n. 33, p , SILVA, A. C. R. Programa de Preservação do Patrimônio Arqueológico do Amapá (2005/2013): um modelo de gestão de política pública de preservação cultural. Macapá, f. Dissertação (Mestrado em Direito Ambiental e Políticas Públicas) Universidade Federal do Amapá, Macapá, Artigo recebido em: 30/04/2016 Aprovado em: 07/06/2016
Aula 1 de 4 Versão Aluno
 Aula 1 de 4 Versão Aluno O QUE É ARQUEOLOGIA? Arqueologia é a ciência que busca entender as culturas humanas a partir do estudo do registro arqueológico, que é o conjunto de todos os traços materiais da
Aula 1 de 4 Versão Aluno O QUE É ARQUEOLOGIA? Arqueologia é a ciência que busca entender as culturas humanas a partir do estudo do registro arqueológico, que é o conjunto de todos os traços materiais da
Kit educativo da Amazônia Central
 Universidade de São Paulo Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE Livros e Capítulos de Livros - MAE 2014 Kit educativo da Amazônia Central http://www.producao.usp.br/handle/bdpi/47564
Universidade de São Paulo Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE Livros e Capítulos de Livros - MAE 2014 Kit educativo da Amazônia Central http://www.producao.usp.br/handle/bdpi/47564
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: PROJETO AS PEGADAS DO DINOSSAURO
 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: PROJETO AS PEGADAS DO DINOSSAURO Artur CARMELLO NETO, Faculdade de Ciências e Letras Unesp Araraquara-SP Formação de professores na perspectiva
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: PROJETO AS PEGADAS DO DINOSSAURO Artur CARMELLO NETO, Faculdade de Ciências e Letras Unesp Araraquara-SP Formação de professores na perspectiva
Palavras-chave: projeto, educação especial, aprendizagem significativa, adaptação curricular.
 A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL Artur Carmello Neto Diretoria de Ensino Região de Araraquara RESUMO A prática docente bem sucedida foi realizada em uma Sala de Recursos
A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL Artur Carmello Neto Diretoria de Ensino Região de Araraquara RESUMO A prática docente bem sucedida foi realizada em uma Sala de Recursos
BRINCANDO NO SÍTIO: CRIANÇAS, CULTURA MATERIAL E PASSADO NA AMAZÔNIA. (...) a criança não sabe menos, sabe outra coisa.
 BRINCANDO NO SÍTIO: CRIANÇAS, CULTURA MATERIAL E PASSADO NA AMAZÔNIA. Márcia Bezerra 1 (...) a criança não sabe menos, sabe outra coisa. (COHN, 2005: 33) É comum andar pela Amazônia e encontrar casas assentadas
BRINCANDO NO SÍTIO: CRIANÇAS, CULTURA MATERIAL E PASSADO NA AMAZÔNIA. Márcia Bezerra 1 (...) a criança não sabe menos, sabe outra coisa. (COHN, 2005: 33) É comum andar pela Amazônia e encontrar casas assentadas
A Arqueologia brasileira e o seu papel social
 Universidade de São Paulo Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE Livros e Capítulos de Livros - MAE 2014 A Arqueologia brasileira e o seu papel social
Universidade de São Paulo Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE Livros e Capítulos de Livros - MAE 2014 A Arqueologia brasileira e o seu papel social
IDENTIFICAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DO AGRESTE PERNAMBUCANO
 IDENTIFICAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DO AGRESTE PERNAMBUCANO Rayanne Aguiar Pimentel e Silva 1 ; Viviane Maria Cavalcanti de Castro 2 1 Estudante do Curso de Arqueologia. CFCH - UFPE;
IDENTIFICAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DO AGRESTE PERNAMBUCANO Rayanne Aguiar Pimentel e Silva 1 ; Viviane Maria Cavalcanti de Castro 2 1 Estudante do Curso de Arqueologia. CFCH - UFPE;
OS PRIMEIROS HABITANTES DO BRASIL
 Ensino Fundamental 2 Nome N o 6 o ano História Prof. Caco Data / / Ficha 5 OS PRIMEIROS HABITANTES DO BRASIL Norberto Luiz Guarinello I. Orientações: Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e explique a sua
Ensino Fundamental 2 Nome N o 6 o ano História Prof. Caco Data / / Ficha 5 OS PRIMEIROS HABITANTES DO BRASIL Norberto Luiz Guarinello I. Orientações: Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e explique a sua
A Arte das Cerâmicas Marajoara
 A Arte das Cerâmicas Marajoara A arte marajoara representa a produção artística, sobretudo em cerâmica, dos habitantes da Ilha de Marajó, no Pará, considerada a mais antiga arte cerâmica do Brasil e uma
A Arte das Cerâmicas Marajoara A arte marajoara representa a produção artística, sobretudo em cerâmica, dos habitantes da Ilha de Marajó, no Pará, considerada a mais antiga arte cerâmica do Brasil e uma
FEVEREIRO 2012 JUNHO 2014 JUNHO 2017 DELIBERAÇÃO CEE N 111/2012 CEE Nº 126/2014
 FEVEREIRO 2012 JUNHO 2014 JUNHO 2017 DELIBERAÇÃO CEE N 111/2012 DELIBERAÇÃO CEE N 111/2012 MODIFICADA PELA DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO CEE 154/2017, QUE DISPÕE CEE Nº 126/2014 SOBRE ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO
FEVEREIRO 2012 JUNHO 2014 JUNHO 2017 DELIBERAÇÃO CEE N 111/2012 DELIBERAÇÃO CEE N 111/2012 MODIFICADA PELA DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO CEE 154/2017, QUE DISPÕE CEE Nº 126/2014 SOBRE ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO
O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
 O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL Iamara Harami E.E. Dona Irene Machado de Lima Diretoria de Ensino Região de Registro RESUMO: O presente trabalho visa que o aluno
O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL Iamara Harami E.E. Dona Irene Machado de Lima Diretoria de Ensino Região de Registro RESUMO: O presente trabalho visa que o aluno
Avanços, obstáculos e superação de obstáculos no ensino de português no. Brasil nos últimos 10 anos 1 Tânia Maria Moreira 2
 Brasil nos últimos 10 anos 1 2 Avanços, obstáculos e superação de obstáculos no ensino de português no Nos últimos dez anos, muitas coisas importantes aconteceram na expectativa de promover avanços no
Brasil nos últimos 10 anos 1 2 Avanços, obstáculos e superação de obstáculos no ensino de português no Nos últimos dez anos, muitas coisas importantes aconteceram na expectativa de promover avanços no
PLANO DE ENSINO. CURSO Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais MATRIZ 763
 Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Câmpus Ponta Grossa PLANO DE ENSINO CURSO Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais MATRIZ 76 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Resolução 07/11-COGEP
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Câmpus Ponta Grossa PLANO DE ENSINO CURSO Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais MATRIZ 76 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Resolução 07/11-COGEP
RESUMO. Palavras chave: Educação, Preservação do patrimônio.
 RESUMO Trata-se de uma proposta inovadora de se ensinar História e Geografia na educação básica tendo como suporte a produção de material pedagógico com os elementos da própria localidade. A proposta se
RESUMO Trata-se de uma proposta inovadora de se ensinar História e Geografia na educação básica tendo como suporte a produção de material pedagógico com os elementos da própria localidade. A proposta se
Introdução. Referencial teórico
 1 O PROFESSOR FORMADOR E OS SABERES DOCENTES ALMEIDA, Patrícia Cristina Albieri de UNICAMP HOBOLD, Márcia de Souza UNIVILLE GT-08: Formação de Professores Agência Financiadora: CNPq Introdução Nas últimas
1 O PROFESSOR FORMADOR E OS SABERES DOCENTES ALMEIDA, Patrícia Cristina Albieri de UNICAMP HOBOLD, Márcia de Souza UNIVILLE GT-08: Formação de Professores Agência Financiadora: CNPq Introdução Nas últimas
FACULDADE DE CASTANHAL FCAT EDSON CÉSAR EDUARDO QUADROS HERMES NETO JOANNE FERREIRA CERÂMICA MARACÁ CASTANHAL
 FACULDADE DE CASTANHAL FCAT EDSON CÉSAR EDUARDO QUADROS HERMES NETO JOANNE FERREIRA CERÂMICA MARACÁ CASTANHAL 2013 Introdução à Cerâmica: a cerâmica como material arqueológico "A cerâmica é uma das mais
FACULDADE DE CASTANHAL FCAT EDSON CÉSAR EDUARDO QUADROS HERMES NETO JOANNE FERREIRA CERÂMICA MARACÁ CASTANHAL 2013 Introdução à Cerâmica: a cerâmica como material arqueológico "A cerâmica é uma das mais
Arqueologia e História Indígena em Museu de Território
 Arqueologia e História Indígena em Museu de Território 154 vaso de cerâmica reconstituído pelo MAC / (200 a 500 anos antes do presente) Sede do MAC em Pains, MG Na cidade de Pains, MG, encontra-se o Museu
Arqueologia e História Indígena em Museu de Território 154 vaso de cerâmica reconstituído pelo MAC / (200 a 500 anos antes do presente) Sede do MAC em Pains, MG Na cidade de Pains, MG, encontra-se o Museu
COLÉGIO SANTA TERESINHA R. Madre Beatriz 135 centro Tel. (33)
 DISCIPLINA: Português 1 Leitura Gêneros textuais: lenda, conto, capa, tela, reportagem, entrevista, história em quadrinhos, notícia, texto informativo, cartaz. 2 Aspectos Gramaticais Substantivo próprio
DISCIPLINA: Português 1 Leitura Gêneros textuais: lenda, conto, capa, tela, reportagem, entrevista, história em quadrinhos, notícia, texto informativo, cartaz. 2 Aspectos Gramaticais Substantivo próprio
O BRASIL ANTES DOS PORTUGUESES HISTÓRIA PRÉ-CABRALINA DO BRASIL
 O BRASIL ANTES DOS PORTUGUESES HISTÓRIA PRÉ-CABRALINA DO BRASIL Capítulo 10 BRASIL ocupação entre 15 a 40 mil anos Número de habitantes quando os portugueses aqui chegaram 4 a 5 milhões de nativos Sítios
O BRASIL ANTES DOS PORTUGUESES HISTÓRIA PRÉ-CABRALINA DO BRASIL Capítulo 10 BRASIL ocupação entre 15 a 40 mil anos Número de habitantes quando os portugueses aqui chegaram 4 a 5 milhões de nativos Sítios
A PRÉ-HISTÓRIA BRASILEIRA CAPÍTULO 4
 Professor Marcos Antunes A PRÉ-HISTÓRIA BRASILEIRA CAPÍTULO 4 www.professoredley.com.br HIPÓTESES PARA EXPLICAR O POVOAMENTO DA AMÉRICA O Povoamento da América O crânio de Luzia, encontrado em Lagoa Santa
Professor Marcos Antunes A PRÉ-HISTÓRIA BRASILEIRA CAPÍTULO 4 www.professoredley.com.br HIPÓTESES PARA EXPLICAR O POVOAMENTO DA AMÉRICA O Povoamento da América O crânio de Luzia, encontrado em Lagoa Santa
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO RESOLUÇÃO N DE 16 DE SETEMBRO DE 2008
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO RESOLUÇÃO N. 3.751 DE 16 DE SETEMBRO DE 2008 Aprova o Projeto Político Pedagógico dos Cursos de Bacharelado
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO RESOLUÇÃO N. 3.751 DE 16 DE SETEMBRO DE 2008 Aprova o Projeto Político Pedagógico dos Cursos de Bacharelado
ANÁLISE DO MATERIAL CERÂMICO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS BALOTARI I, II E III NO DISTRITO DE FLORESTA DO SUL / MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SP
 ANÁLISE DO MATERIAL CERÂMICO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS BALOTARI I, II E III NO DISTRITO DE FLORESTA DO SUL / MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SP Jean Ítalo de Araújo Cabrera Universidade Estadual Paulista
ANÁLISE DO MATERIAL CERÂMICO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS BALOTARI I, II E III NO DISTRITO DE FLORESTA DO SUL / MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SP Jean Ítalo de Araújo Cabrera Universidade Estadual Paulista
1 o Semestre. PEDAGOGIA Descrições das disciplinas. Práticas Educacionais na 1ª Infância com crianças de 0 a 3 anos. Oficina de Artes Visuais
 Práticas Educacionais na 1ª Infância com crianças de 0 a 3 anos 1 o Semestre Estudo dos aspectos históricos e políticos da Educação infantil no Brasil, articulado às teorias de desenvolvimento da primeira
Práticas Educacionais na 1ª Infância com crianças de 0 a 3 anos 1 o Semestre Estudo dos aspectos históricos e políticos da Educação infantil no Brasil, articulado às teorias de desenvolvimento da primeira
Repensando o Ensino do Português nas Universidades. Prof. Oscar Tadeu de Assunção
 Repensando o Ensino do Português nas Universidades Prof. Oscar Tadeu de Assunção Resumo: O objetivo deste artigo é refletir sobre o uso de textos literários e não literários, na universidade, no ensino-aprendizagem
Repensando o Ensino do Português nas Universidades Prof. Oscar Tadeu de Assunção Resumo: O objetivo deste artigo é refletir sobre o uso de textos literários e não literários, na universidade, no ensino-aprendizagem
Apresentação para Sala de Aula para alunos de 1ª a 4ª série
 Apresentação para Sala de Aula para alunos de 1ª a 4ª série O que é Patrimônio Cultural? Patrimônio é constituído pelos bens materiais e imateriais que se referem à nossa identidade, nossas ações, costumes,
Apresentação para Sala de Aula para alunos de 1ª a 4ª série O que é Patrimônio Cultural? Patrimônio é constituído pelos bens materiais e imateriais que se referem à nossa identidade, nossas ações, costumes,
O NÚCLEO AUDIOVISUAL DE GEOGRAFIA (NAVG) TRABALHANDO A GEOGRAFIA COM CURTAS: EXPERIÊNCIA DO PIBID SUBPROJETO DE GEOGRAFIA.
 O NÚCLEO AUDIOVISUAL DE GEOGRAFIA (NAVG) TRABALHANDO A GEOGRAFIA COM CURTAS: EXPERIÊNCIA DO PIBID SUBPROJETO DE GEOGRAFIA. Rodrigo Siqueira da Silva Luciana Lima Barbosa Leydiane Paula da Silva 1 Orientadores:
O NÚCLEO AUDIOVISUAL DE GEOGRAFIA (NAVG) TRABALHANDO A GEOGRAFIA COM CURTAS: EXPERIÊNCIA DO PIBID SUBPROJETO DE GEOGRAFIA. Rodrigo Siqueira da Silva Luciana Lima Barbosa Leydiane Paula da Silva 1 Orientadores:
Transposição Didática e o Ensino de Ciências e Biologia
 Transposição Didática e o Ensino de Ciências e Biologia Disciplina: Didática Aplicada ao Ensino de Ciências e Biologia Docente: Dra. Eduarda Maria Schneider Objetivos Debater sobre os saberes científicos
Transposição Didática e o Ensino de Ciências e Biologia Disciplina: Didática Aplicada ao Ensino de Ciências e Biologia Docente: Dra. Eduarda Maria Schneider Objetivos Debater sobre os saberes científicos
Kit educativo de Lagoa Santa
 Universidade de São Paulo Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE Livros e Capítulos de Livros - MAE 2014 Kit educativo de Lagoa Santa http://www.producao.usp.br/handle/bdpi/47565
Universidade de São Paulo Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE Livros e Capítulos de Livros - MAE 2014 Kit educativo de Lagoa Santa http://www.producao.usp.br/handle/bdpi/47565
COLÉGIO XIX DE MARÇO
 COLÉGIO XIX DE MARÇO Educação do jeito que deve ser 2016 1 a PROVA PARCIAL DE HISTÓRIA Aluno(a) Nº Ano: 6º Turma: Data: / /2016 Nota: Professor(a): Ivana Cavalcanti Riolino Valor da Prova: 40 pontos Orientações
COLÉGIO XIX DE MARÇO Educação do jeito que deve ser 2016 1 a PROVA PARCIAL DE HISTÓRIA Aluno(a) Nº Ano: 6º Turma: Data: / /2016 Nota: Professor(a): Ivana Cavalcanti Riolino Valor da Prova: 40 pontos Orientações
Página 1 de 6 CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
 Questão 1: Procurando definir o que é Arqueologia, Paul Bahn observa que a palavra vem do grego (arkhaiologia, discurso acerca de coisas antigas ), mas hoje significa o estudo do passado humano através
Questão 1: Procurando definir o que é Arqueologia, Paul Bahn observa que a palavra vem do grego (arkhaiologia, discurso acerca de coisas antigas ), mas hoje significa o estudo do passado humano através
Bernadete Kurek Lidiane Conceição Monferino. Resumo. Abstract
 a) Área de inscrição: Educação FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ATUAM NA PRÁTICA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL Bernadete Kurek Lidiane Conceição Monferino UTFPR/UFPR bernadetekurek@gmail.com;
a) Área de inscrição: Educação FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ATUAM NA PRÁTICA DO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL Bernadete Kurek Lidiane Conceição Monferino UTFPR/UFPR bernadetekurek@gmail.com;
O Período Neolítico: a Revolução Agrícola. Profª Ms. Ariane Pereira
 O Período Neolítico: a Revolução Agrícola Profª Ms. Ariane Pereira Introdução Período Neolítico: os homens ampliaram suas técnicas de sobrevivência, domesticação de animais e plantas; Polimento das pedras,
O Período Neolítico: a Revolução Agrícola Profª Ms. Ariane Pereira Introdução Período Neolítico: os homens ampliaram suas técnicas de sobrevivência, domesticação de animais e plantas; Polimento das pedras,
343 de 665 VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS ISSN
 343 de 665 ACESSIBILIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS: TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS DE LÍNGUA MATERNA ATRAVÉS DE JOGOS Sônia Souza Carvalho
343 de 665 ACESSIBILIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS: TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS DE LÍNGUA MATERNA ATRAVÉS DE JOGOS Sônia Souza Carvalho
Ensinar e aprender História na sala de aula
 Ensinar e aprender História na sala de aula Séries iniciais do Ensino Fundamental Ensino de História nas séries iniciais do Ensino Fundamental Por que estudar História? Quais ideias os educandos possuem
Ensinar e aprender História na sala de aula Séries iniciais do Ensino Fundamental Ensino de História nas séries iniciais do Ensino Fundamental Por que estudar História? Quais ideias os educandos possuem
Programação QUADRO SISTEMATICO COM ATIVIDADES DO EVENTO. 15 de maio de de maio de de maio de 2019 Manha
 Programação QUADRO SISTEMATICO COM ATIVIDADES DO EVENTO 15 de maio de 2019 16 de maio de 2019 17 de maio de 2019 Manha 09h - 12h 09h- 12h Fóruns Temáticos 09h- 12h Fóruns Temáticos Tarde 16 h - 20 h 13h
Programação QUADRO SISTEMATICO COM ATIVIDADES DO EVENTO 15 de maio de 2019 16 de maio de 2019 17 de maio de 2019 Manha 09h - 12h 09h- 12h Fóruns Temáticos 09h- 12h Fóruns Temáticos Tarde 16 h - 20 h 13h
REVISTA ELETRÔNICA DE EDUCAÇÃO DA FACULDADE ARAGUAIA, 7: ,
 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E OS SABERES E FAZERES CULTURAIS DE JATAÍ Laiana Lopes Oliveira 1 Anelita Maluf Caetano Silva 2 Iolene Mesquita Lobato 3 RESUMO Com a ampliação da jornada escolar na rede básica
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E OS SABERES E FAZERES CULTURAIS DE JATAÍ Laiana Lopes Oliveira 1 Anelita Maluf Caetano Silva 2 Iolene Mesquita Lobato 3 RESUMO Com a ampliação da jornada escolar na rede básica
Critérios para atuação do IPHAN no licenciamento de loteamentos Lúcia Juliani
 Critérios para atuação do IPHAN no licenciamento de loteamentos Lúcia Juliani Arqueóloga Diretora da A Lasca Arqueologia O que são sítios arqueológicos? Sítios arqueológicos representam os remanescentes
Critérios para atuação do IPHAN no licenciamento de loteamentos Lúcia Juliani Arqueóloga Diretora da A Lasca Arqueologia O que são sítios arqueológicos? Sítios arqueológicos representam os remanescentes
A PRÉ-HISTÓRIA DE SANTA LUZIA
 A PRÉ-HISTÓRIA DE SANTA LUZIA Marcos Paulo de Souza Miranda Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Cadeira nº 93. Patrono: Orville Derby De acordo com a historiografia tradicional,
A PRÉ-HISTÓRIA DE SANTA LUZIA Marcos Paulo de Souza Miranda Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Cadeira nº 93. Patrono: Orville Derby De acordo com a historiografia tradicional,
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS ACERCA DE TEORIAS DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 1 THEORETICAL CONSIDERATIONS ABOUT THEORIES OF EDUCATION SCIENCES
 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS ACERCA DE TEORIAS DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 1 THEORETICAL CONSIDERATIONS ABOUT THEORIES OF EDUCATION SCIENCES Tailon Thiele 2, Eliane Miotto Kamphorst 3 1 Projeto de pesquisa realizado
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS ACERCA DE TEORIAS DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 1 THEORETICAL CONSIDERATIONS ABOUT THEORIES OF EDUCATION SCIENCES Tailon Thiele 2, Eliane Miotto Kamphorst 3 1 Projeto de pesquisa realizado
A IMPORTÂNCIA DO USO DE JOGOS DIDÁTICOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE QUÍMICA
 A IMPORTÂNCIA DO USO DE JOGOS DIDÁTICOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE QUÍMICA Lillyane Raissa Barbosa da Silva 1 ; Renata Joaquina de Oliveira Barboza 2 ; José Geovane Jorge de Matos 3 ; Magadã
A IMPORTÂNCIA DO USO DE JOGOS DIDÁTICOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE QUÍMICA Lillyane Raissa Barbosa da Silva 1 ; Renata Joaquina de Oliveira Barboza 2 ; José Geovane Jorge de Matos 3 ; Magadã
Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio Grande
 Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio Grande Relatório de Visita a Sítio Arqueológico Pinturas da Princesa Mar de Espanha Este relatório pode ser reproduzido total ou parcialmente, desde que citada
Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio Grande Relatório de Visita a Sítio Arqueológico Pinturas da Princesa Mar de Espanha Este relatório pode ser reproduzido total ou parcialmente, desde que citada
I A Importância da Formação de Professores de Sociologia para a Educação Básica.
 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E INTEGRAÇÃO SOCIAL DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA PROFESSOR: ROGERIO MENDES DE
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E INTEGRAÇÃO SOCIAL DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA PROFESSOR: ROGERIO MENDES DE
O JOGO E A VIDA: AS RELEVÂNCIAS DOS ELEMENTOS TRABALHADOS, ATRAVÉS DOS JOGOS, PARA O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM E PARA O COTIDIANO INFANTIL
 O JOGO E A VIDA: AS RELEVÂNCIAS DOS ELEMENTOS TRABALHADOS, ATRAVÉS DOS JOGOS, PARA O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM E PARA O COTIDIANO INFANTIL Vitor Martins Menezes; Luís Paulo de Carvalho Piassi Universidade
O JOGO E A VIDA: AS RELEVÂNCIAS DOS ELEMENTOS TRABALHADOS, ATRAVÉS DOS JOGOS, PARA O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM E PARA O COTIDIANO INFANTIL Vitor Martins Menezes; Luís Paulo de Carvalho Piassi Universidade
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DO LICENCIADO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
 VIII SEMLICA Campus IV/UEPB Catolé do Rocha PB - 07 a 10 de novembro de 2017 CADERNO VERDE DE AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ISSN 2358-2367 (http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/cvads)
VIII SEMLICA Campus IV/UEPB Catolé do Rocha PB - 07 a 10 de novembro de 2017 CADERNO VERDE DE AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ISSN 2358-2367 (http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/cvads)
TRILHA I O PROFESSOR E A SALA DE AULA
 TRILHA I O PROFESSOR E A SALA DE AULA OFICINA 1 STORYTELLING Segunda, 06/02, das 19h às 22h30 OFICINA 2 PLANEJAMENTO INTELIGENTE Terça, 07/02, das 19h às 22h30 OFICINA 3 APLICAÇÕES DAS TEORIAS DE GRUPO
TRILHA I O PROFESSOR E A SALA DE AULA OFICINA 1 STORYTELLING Segunda, 06/02, das 19h às 22h30 OFICINA 2 PLANEJAMENTO INTELIGENTE Terça, 07/02, das 19h às 22h30 OFICINA 3 APLICAÇÕES DAS TEORIAS DE GRUPO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA MESTRADO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA MESTRADO TÚMULOS PRÉ-HISTÓRICOS EM POÇO COM CÂMARA, NO AMAPÁ: CARACTERIZADORES ÉTNICOS Edinaldo Pinheiro Nunes Filho RECIFE-PE 2003 UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA MESTRADO TÚMULOS PRÉ-HISTÓRICOS EM POÇO COM CÂMARA, NO AMAPÁ: CARACTERIZADORES ÉTNICOS Edinaldo Pinheiro Nunes Filho RECIFE-PE 2003 UNIVERSIDADE
O PAPEL DO EDUCADOR NO PROCESSO DE ENSINO DAS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 O PAPEL DO EDUCADOR NO PROCESSO DE ENSINO DAS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 1 Geysse Gadelha Rocha, 2 Maria Mirian de Fatima Melo Costa, 3 Luciano Gutembergue Bonfim. ¹ Graduanda em Pedagogia pela
O PAPEL DO EDUCADOR NO PROCESSO DE ENSINO DAS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 1 Geysse Gadelha Rocha, 2 Maria Mirian de Fatima Melo Costa, 3 Luciano Gutembergue Bonfim. ¹ Graduanda em Pedagogia pela
Amazônia desconhecida: a ocupação humana milenar da floresta
 Universidade de São Paulo Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE Livros e Capítulos de Livros - MAE 2014 Amazônia desconhecida: a ocupação humana milenar
Universidade de São Paulo Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE Livros e Capítulos de Livros - MAE 2014 Amazônia desconhecida: a ocupação humana milenar
A AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: CONTRIBUIÇÕES DO DIÁRIO DE BORDO
 A AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: CONTRIBUIÇÕES DO DIÁRIO DE BORDO Priscila Ximenes Souza do Nascimento, PUCPR. i RESUMO O presente trabalho versa sobre a prática de avaliação desenvolvida no estágio
A AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: CONTRIBUIÇÕES DO DIÁRIO DE BORDO Priscila Ximenes Souza do Nascimento, PUCPR. i RESUMO O presente trabalho versa sobre a prática de avaliação desenvolvida no estágio
... EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE TUBARÃO: ESTUDO DE CASO DO COLEGIO DEHON, TUBARÃO - SC
 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE TUBARÃO: ESTUDO DE CASO DO COLEGIO DEHON, TUBARÃO - SC Ademir Jacinto Jacques1 Profa. Dra. Márcia Fernandes Rosa Neu2 RESUMO: O presente artigo tem
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE TUBARÃO: ESTUDO DE CASO DO COLEGIO DEHON, TUBARÃO - SC Ademir Jacinto Jacques1 Profa. Dra. Márcia Fernandes Rosa Neu2 RESUMO: O presente artigo tem
A EXPERIÊNCIA DO PIBID E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE HISTÓRIA
 A EXPERIÊNCIA DO PIBID E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE HISTÓRIA Ítalo Pereira de Sousa 1 Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) E-mail: italops.wow@gmail.com Auricélia Lopes Pereira 2 Universidade Estadual
A EXPERIÊNCIA DO PIBID E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE HISTÓRIA Ítalo Pereira de Sousa 1 Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) E-mail: italops.wow@gmail.com Auricélia Lopes Pereira 2 Universidade Estadual
PLANO DE CURSO DISCIPLINA:História ÁREA DE ENSINO: Fundamental I SÉRIE/ANO: 2 ANO DESCRITORES CONTEÚDOS SUGESTÕES DE PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 UNIDADE 1 MUITO PRAZER, EU SOU CRIANÇA. *Conhecer e estabelecer relações entre a própria história e a de outras pessoas,refletindo sobre diferenças e semelhanças. *Respeitar e valorizar a diversidade étnico
UNIDADE 1 MUITO PRAZER, EU SOU CRIANÇA. *Conhecer e estabelecer relações entre a própria história e a de outras pessoas,refletindo sobre diferenças e semelhanças. *Respeitar e valorizar a diversidade étnico
Código 0183P Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (V3)
 Coleção Akpalô Geografia aprovada no PNLD 2019 Código 0183P19051 Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (V3) 1º ano O sujeito e seu lugar no mundo O modo de vida das crianças em diferentes lugares
Coleção Akpalô Geografia aprovada no PNLD 2019 Código 0183P19051 Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (V3) 1º ano O sujeito e seu lugar no mundo O modo de vida das crianças em diferentes lugares
A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO HISTÓRICO A PARTIR DA AMPLIAÇÃO DAS FONTES HISTÓRICAS: subprojeto PIBID de História, UEG/Câmpus Pires do Rio- Goiás
 A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO HISTÓRICO A PARTIR DA AMPLIAÇÃO DAS FONTES HISTÓRICAS: subprojeto PIBID de História, UEG/Câmpus Pires do Rio- Goiás Luana Kellen Alves Silva (1), Jane Cristina Nunes (2), Igor
A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO HISTÓRICO A PARTIR DA AMPLIAÇÃO DAS FONTES HISTÓRICAS: subprojeto PIBID de História, UEG/Câmpus Pires do Rio- Goiás Luana Kellen Alves Silva (1), Jane Cristina Nunes (2), Igor
RESGATE DOS MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LÁBREA POR MEIO DE FOTOGRAFIAS
 RESGATE DOS MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LÁBREA POR MEIO DE FOTOGRAFIAS Leara Moreira de Lira 1 ; Fábio Teixeira Lima 2 ; Éden Francisco Barros Maia 3 INTRODUÇÃO O resgate dos monumentos históricos de Lábrea
RESGATE DOS MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LÁBREA POR MEIO DE FOTOGRAFIAS Leara Moreira de Lira 1 ; Fábio Teixeira Lima 2 ; Éden Francisco Barros Maia 3 INTRODUÇÃO O resgate dos monumentos históricos de Lábrea
Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (V3)
 Coleção Crescer Geografia aprovada no PNLD 2019 Código 0233P19051 Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (V3) 1º ano O sujeito e seu lugar no mundo O modo de vida das crianças em diferentes lugares
Coleção Crescer Geografia aprovada no PNLD 2019 Código 0233P19051 Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (V3) 1º ano O sujeito e seu lugar no mundo O modo de vida das crianças em diferentes lugares
MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009 EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento) I. Dominar
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009 EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento) I. Dominar
Linha do tempo. Arq. Atualidade ac d. C d. C.
 PRÉ-HISTÓRIA Linha do tempo 500.000 ac 1789 d. C. 1453 d. C. Atualidade Arq. Pré-História identifica dividido em período Anterior a invenção da escrita Paleolítico Neolítico Idade dos Metais 2 milhões
PRÉ-HISTÓRIA Linha do tempo 500.000 ac 1789 d. C. 1453 d. C. Atualidade Arq. Pré-História identifica dividido em período Anterior a invenção da escrita Paleolítico Neolítico Idade dos Metais 2 milhões
LITERATURA INFANTIL E FORMAÇÃO DE LEITOR: UM OLHAR PARA O ALUNO DO 5º ANO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
 ISBN 978-85-7846-516-2 LITERATURA INFANTIL E FORMAÇÃO DE LEITOR: UM OLHAR PARA O ALUNO DO 5º ANO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Fernanda Aparecida Ferreira Pinheiro UEL E-mail: fernandha.ferreira.pinheiro@gmail.com
ISBN 978-85-7846-516-2 LITERATURA INFANTIL E FORMAÇÃO DE LEITOR: UM OLHAR PARA O ALUNO DO 5º ANO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL Fernanda Aparecida Ferreira Pinheiro UEL E-mail: fernandha.ferreira.pinheiro@gmail.com
A UTILIZAÇÃO DE JOGOS LÚDICOS COMO AUXÍLIO NA ABORDAGEM DE TEMÁTICAS AMBIENTAIS NO ENSINO DE QUÍMICA
 A UTILIZAÇÃO DE JOGOS LÚDICOS COMO AUXÍLIO NA ABORDAGEM DE TEMÁTICAS AMBIENTAIS NO ENSINO DE QUÍMICA Joseane Tavares Barbosa 1 ; Maria Janaína de Oliveira 1 (orientadora) Joseane Tavares Barbosa 1 (autora)
A UTILIZAÇÃO DE JOGOS LÚDICOS COMO AUXÍLIO NA ABORDAGEM DE TEMÁTICAS AMBIENTAIS NO ENSINO DE QUÍMICA Joseane Tavares Barbosa 1 ; Maria Janaína de Oliveira 1 (orientadora) Joseane Tavares Barbosa 1 (autora)
O SABER PEDAGÓGICO E A INTERDISCIPLINARIDADE COMO PRÁTICA DE ENSINO APRENDIZAGEM 1
 O SABER PEDAGÓGICO E A INTERDISCIPLINARIDADE COMO PRÁTICA DE ENSINO APRENDIZAGEM 1 Elenice de Alencar Silva Cursando Licenciatura em Pedagogia UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO cesi@uema.br
O SABER PEDAGÓGICO E A INTERDISCIPLINARIDADE COMO PRÁTICA DE ENSINO APRENDIZAGEM 1 Elenice de Alencar Silva Cursando Licenciatura em Pedagogia UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO cesi@uema.br
ELABORAÇÃO DE RECURSO DIDÁTICO INCLUSIVO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.
 ELABORAÇÃO DE RECURSO DIDÁTICO INCLUSIVO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL. Luiz Alfredo de Paula (1); Sibele Schimidtt de Paula (2). (1) Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba/SP - (1) prof.luizdepaula@gmail.com;
ELABORAÇÃO DE RECURSO DIDÁTICO INCLUSIVO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL. Luiz Alfredo de Paula (1); Sibele Schimidtt de Paula (2). (1) Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba/SP - (1) prof.luizdepaula@gmail.com;
RESULTADO DA AVALIAÇÃO INTERNA Edital Capes, 6/2018 Programa Residência Pedagógica/UNEB
 RESULTADO DA AVALIAÇÃO INTERNA Edital Capes, 6/2018 Programa Residência Pedagógica/UNEB A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação PROGRAD/ UNEB no uso de suas atribuições informa: 1- A relação (a seguir) das
RESULTADO DA AVALIAÇÃO INTERNA Edital Capes, 6/2018 Programa Residência Pedagógica/UNEB A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação PROGRAD/ UNEB no uso de suas atribuições informa: 1- A relação (a seguir) das
COMPUTADORES NAS PRÁTICAS LECTIVAS DOS FUTUROS PROFESSORES DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO: TAREFAS COM APLIQUETAS
 ProfMat 2008 COMPUTADORES NAS PRÁTICAS LECTIVAS DOS FUTUROS PROFESSORES DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO: TAREFAS COM APLIQUETAS Paula Catarino 1 e Maria Manuel da Silva Nascimento 2 pcatarin@utad.pt e mmsn@utad.pt
ProfMat 2008 COMPUTADORES NAS PRÁTICAS LECTIVAS DOS FUTUROS PROFESSORES DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO: TAREFAS COM APLIQUETAS Paula Catarino 1 e Maria Manuel da Silva Nascimento 2 pcatarin@utad.pt e mmsn@utad.pt
SANTOS, Leonor Werneck. RICHE, Rosa Cuba. TEIXEIRA, Claudia Souza. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012.
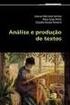 Resenhas 112 SANTOS, Leonor Werneck. RICHE, Rosa Cuba. TEIXEIRA, Claudia Souza. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012. Fernanda Cristina Ferreira* nandacferreira@hotmail.coml * Aluna
Resenhas 112 SANTOS, Leonor Werneck. RICHE, Rosa Cuba. TEIXEIRA, Claudia Souza. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012. Fernanda Cristina Ferreira* nandacferreira@hotmail.coml * Aluna
Palavras-chave: Formação Continuada. Múltiplas Linguagens. Ensino Fundamental I.
 1 MÚLTIPLAS LINGUAGENS: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE LONDRINA E REGIÃO SANTOS, A. R. B; Instituto Federal do Paraná (IFPR) GAMA, A.
1 MÚLTIPLAS LINGUAGENS: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE LONDRINA E REGIÃO SANTOS, A. R. B; Instituto Federal do Paraná (IFPR) GAMA, A.
UMA HISTÓRIA INDÍGENA DE LONGA DURAÇÃO NA AMAZÔNIA ANTIGA: PRÁTICAS FUNERÁRIAS DA FOZ DO RIO AMAZONAS
 UMA HISTÓRIA INDÍGENA DE LONGA DURAÇÃO NA AMAZÔNIA ANTIGA: PRÁTICAS FUNERÁRIAS DA FOZ DO RIO AMAZONAS LETÍCIA SANTOS NASCIMENTO* 1 AVELINO GAMBIM JÚNIOR** 2 RESUMO Desde o século XIX tem sido registrado
UMA HISTÓRIA INDÍGENA DE LONGA DURAÇÃO NA AMAZÔNIA ANTIGA: PRÁTICAS FUNERÁRIAS DA FOZ DO RIO AMAZONAS LETÍCIA SANTOS NASCIMENTO* 1 AVELINO GAMBIM JÚNIOR** 2 RESUMO Desde o século XIX tem sido registrado
Habilidades Cognitivas. Prof (a) Responsável: Maria Francisca Vilas Boas Leffer
 Habilidades Cognitivas Prof (a) Responsável: Maria Francisca Vilas Boas Leffer As competências nas Problematizações das unidades de aprendizagem UNID 2.1 Construindo as competências sob os pilares da educação
Habilidades Cognitivas Prof (a) Responsável: Maria Francisca Vilas Boas Leffer As competências nas Problematizações das unidades de aprendizagem UNID 2.1 Construindo as competências sob os pilares da educação
Educador A PROFISSÃO DE TODOS OS FUTUROS. Uma instituição do grupo
 Educador A PROFISSÃO DE TODOS OS FUTUROS F U T U R O T E N D Ê N C I A S I N O V A Ç Ã O Uma instituição do grupo CURSO 2 OBJETIVOS Discutir e fomentar conhecimentos sobre a compreensão das potencialidades,
Educador A PROFISSÃO DE TODOS OS FUTUROS F U T U R O T E N D Ê N C I A S I N O V A Ç Ã O Uma instituição do grupo CURSO 2 OBJETIVOS Discutir e fomentar conhecimentos sobre a compreensão das potencialidades,
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO EDUCACIONAL: REFLEXÕES TEÓRICO PRÁTICAS
 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO EDUCACIONAL: REFLEXÕES TEÓRICO PRÁTICAS Autor(a): Luanna Maria Beserra Filgueiras (1); Maria das Graças Soares (1); Jorismildo da Silva Dantas (2); Jorge Miguel Lima Oliveira
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO EDUCACIONAL: REFLEXÕES TEÓRICO PRÁTICAS Autor(a): Luanna Maria Beserra Filgueiras (1); Maria das Graças Soares (1); Jorismildo da Silva Dantas (2); Jorge Miguel Lima Oliveira
VIVÊNCIAS INTERCULTURAIS AMPLIADAS. Aprendizagens em Inglês
 VIVÊNCIAS INTERCULTURAIS AMPLIADAS Aprendizagens em Inglês 2º SEMESTRE 2019 A INTERCULTURALIDADE A convivência social com pessoas e com os saberes que elas têm é fundamental para que um estudante se desenvolva.
VIVÊNCIAS INTERCULTURAIS AMPLIADAS Aprendizagens em Inglês 2º SEMESTRE 2019 A INTERCULTURALIDADE A convivência social com pessoas e com os saberes que elas têm é fundamental para que um estudante se desenvolva.
TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: VISÃO DOS GRADUANDOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/LICENCIATURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
 TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: VISÃO DOS GRADUANDOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/LICENCIATURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Jefferson Fagundes Ataíde 1 RESUMO: Dispõe-se aqui uma pesquisa que busca reafirmar a relevância
TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: VISÃO DOS GRADUANDOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/LICENCIATURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Jefferson Fagundes Ataíde 1 RESUMO: Dispõe-se aqui uma pesquisa que busca reafirmar a relevância
APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA FÍSICA ATRAVÉS DO USO DE MAQUETES
 APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA FÍSICA ATRAVÉS DO USO DE MAQUETES Daniela Pedraschi Universidade Luterana do Brasil (dani_geopedraschi@gmail.com) Stefani Caroline Bueno Rosa Universidade Luterana do Brasil (tefibueno@gmail.com)
APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA FÍSICA ATRAVÉS DO USO DE MAQUETES Daniela Pedraschi Universidade Luterana do Brasil (dani_geopedraschi@gmail.com) Stefani Caroline Bueno Rosa Universidade Luterana do Brasil (tefibueno@gmail.com)
TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: DESENLACE DAS DIFICULDADES NA MATEMÁTICA
 TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: DESENLACE DAS DIFICULDADES NA MATEMÁTICA RESUMO Roselene Pova Professora da rede municipal Mestranda em Educação e-mail: lenipova@yahoo.com.br No cotidiano da escola surgem diversos
TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: DESENLACE DAS DIFICULDADES NA MATEMÁTICA RESUMO Roselene Pova Professora da rede municipal Mestranda em Educação e-mail: lenipova@yahoo.com.br No cotidiano da escola surgem diversos
STOP MOTION: UMA FERRAMENTA LÚDICA NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO DAS LIGAÇÕES QUÍMICAS. Apresentação: Pôster
 STOP MOTION: UMA FERRAMENTA LÚDICA NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO DAS LIGAÇÕES QUÍMICAS Apresentação: Pôster Nairy Rodrigues de Oliveira 1 ; Adriana dos Santos Carvalho 2 ; Quêmele Braga de Amorim
STOP MOTION: UMA FERRAMENTA LÚDICA NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO DAS LIGAÇÕES QUÍMICAS Apresentação: Pôster Nairy Rodrigues de Oliveira 1 ; Adriana dos Santos Carvalho 2 ; Quêmele Braga de Amorim
Palavras-Chave: Gênero Textual. Atendimento Educacional Especializado. Inclusão.
 O GÊNERO TEXTUAL BILHETE COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E DA ESCRITA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UMA EXPERIÊNCIA NA APAE BELÉM Albéria Xavier de Souza Villaça 1 Bruna
O GÊNERO TEXTUAL BILHETE COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E DA ESCRITA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UMA EXPERIÊNCIA NA APAE BELÉM Albéria Xavier de Souza Villaça 1 Bruna
A prática como componente curricular na licenciatura em física da Universidade Estadual de Ponta Grossa
 A prática como componente curricular na licenciatura em física da Universidade Estadual de Ponta Grossa Da Silva, Silvio Luiz Rutz 1 ; Brinatti, André Maurício 2 ; De Andrade, André Vitor Chaves 3 & Da
A prática como componente curricular na licenciatura em física da Universidade Estadual de Ponta Grossa Da Silva, Silvio Luiz Rutz 1 ; Brinatti, André Maurício 2 ; De Andrade, André Vitor Chaves 3 & Da
O LÚDICO E A GEOGRAFIA NO PIBID
 O LÚDICO E A GEOGRAFIA NO PIBID Jamábia Raídgia Félix da Silva (1); Roney Jacinto de Lima (1); Patrícia Ferreira Rodrigues (2); Jaciele Cruz Silva (3); Universidade Estadual da Paraíba Campus III, jamabiaraidgia@gmail.com
O LÚDICO E A GEOGRAFIA NO PIBID Jamábia Raídgia Félix da Silva (1); Roney Jacinto de Lima (1); Patrícia Ferreira Rodrigues (2); Jaciele Cruz Silva (3); Universidade Estadual da Paraíba Campus III, jamabiaraidgia@gmail.com
A VALORIZAÇÃO DA CULTURA NA ESCOLA E.E.F. M DO CAMPO PROFESSORA BENEDITA LIMA ARAÚJO ZONA RURAL DE ABAETETUBA-PA¹
 A VALORIZAÇÃO DA CULTURA NA ESCOLA E.E.F. M DO CAMPO PROFESSORA BENEDITA LIMA ARAÚJO ZONA RURAL DE ABAETETUBA-PA¹ Adriana Farias Cardoso Discente do Curso de Licenciatura em Educação do Campo- ano 2015.
A VALORIZAÇÃO DA CULTURA NA ESCOLA E.E.F. M DO CAMPO PROFESSORA BENEDITA LIMA ARAÚJO ZONA RURAL DE ABAETETUBA-PA¹ Adriana Farias Cardoso Discente do Curso de Licenciatura em Educação do Campo- ano 2015.
AS DIFICUDADES NO ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS SURDOS NA EREM MACIEL MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PE
 AS DIFICUDADES NO ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS SURDOS NA EREM MACIEL MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PE Suzana Ferreira da Silva Universidade de Pernambuco, suzanasilva.sf@gmail.com Introdução
AS DIFICUDADES NO ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS SURDOS NA EREM MACIEL MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PE Suzana Ferreira da Silva Universidade de Pernambuco, suzanasilva.sf@gmail.com Introdução
CURRÍCULO DO CURSO DE PSICOLOGIA
 CURRÍCULO DO CURSO DE PSICOLOGIA A estrutura do currículo está organizada em um Núcleo Comum e um Perfil Profissionalizante de Formação do Psicólogo, que se desdobra em duas Ênfases Curriculares a serem
CURRÍCULO DO CURSO DE PSICOLOGIA A estrutura do currículo está organizada em um Núcleo Comum e um Perfil Profissionalizante de Formação do Psicólogo, que se desdobra em duas Ênfases Curriculares a serem
CURSO PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E EDUCAÇÃO
 OBJETIVOS: Fomentar a produção e circulação de saberes docentes acerca das diferentes manifestações artísticas e expressivas no campo da Educação. Oferecer possibilidades de formação sensível, reflexiva
OBJETIVOS: Fomentar a produção e circulação de saberes docentes acerca das diferentes manifestações artísticas e expressivas no campo da Educação. Oferecer possibilidades de formação sensível, reflexiva
A "TEMÁTICA INDÍGENA NA ESCOLA" COMO NOVA POSSIBILIDADE DOCENTE: OS ÍNDIOS DO PASSADO E DO PRESENTE RESENHA
 A "TEMÁTICA INDÍGENA NA ESCOLA" COMO NOVA POSSIBILIDADE DOCENTE: OS ÍNDIOS DO PASSADO E DO PRESENTE HELENA AZEVEDO PAULO DE ALMEIDA 1 UFOP RESENHA FUNARI, Pedro Paulo; PIÑON, Ana. A temática indígena na
A "TEMÁTICA INDÍGENA NA ESCOLA" COMO NOVA POSSIBILIDADE DOCENTE: OS ÍNDIOS DO PASSADO E DO PRESENTE HELENA AZEVEDO PAULO DE ALMEIDA 1 UFOP RESENHA FUNARI, Pedro Paulo; PIÑON, Ana. A temática indígena na
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS (ATERROS) ÀS MARGENS DOS RIOS AQUIDAUANA E MIRANDA, NO PANTANAL: DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO
 1 SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS (ATERROS) ÀS MARGENS DOS RIOS AQUIDAUANA E MIRANDA, NO PANTANAL: DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO PAULO ANDRÉ LIMA BORGES 1 e WALFRIDO M. TOMÁS 2 RESUMO: Sítios arqueológicos têm sido
1 SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS (ATERROS) ÀS MARGENS DOS RIOS AQUIDAUANA E MIRANDA, NO PANTANAL: DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO PAULO ANDRÉ LIMA BORGES 1 e WALFRIDO M. TOMÁS 2 RESUMO: Sítios arqueológicos têm sido
José Veranildo Lopes da COSTA JUNIOR 1 Josilene Pinheiro MARIZ 2
 124 LOPES, Paulo Henrique Moura. A LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS NOS CURSOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: DE JUSTIFICATIVA PARA AVALIAÇÃO ORAL A UM USO EFICAZ PARA O FOMENTO DA COMPETÊNCIA LEITORA. Dissertação
124 LOPES, Paulo Henrique Moura. A LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS NOS CURSOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: DE JUSTIFICATIVA PARA AVALIAÇÃO ORAL A UM USO EFICAZ PARA O FOMENTO DA COMPETÊNCIA LEITORA. Dissertação
CONSTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE
 1 CONSTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE Joana D`arc Anselmo da Silva Estudante do Curso de Licenciatura em Pedagogia, bolsista PIBID Universidade Federal da Paraíba. UFPB Campus IV, joanadarc945@gmail.com
1 CONSTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE Joana D`arc Anselmo da Silva Estudante do Curso de Licenciatura em Pedagogia, bolsista PIBID Universidade Federal da Paraíba. UFPB Campus IV, joanadarc945@gmail.com
Cultura material e imaterial
 Cultura material e imaterial Patrimônio Histórico e Cultural: Refere-se a um bem móvel, imóvel ou natural, que possua valor significativo para uma sociedade, podendo ser estético, artístico, documental,
Cultura material e imaterial Patrimônio Histórico e Cultural: Refere-se a um bem móvel, imóvel ou natural, que possua valor significativo para uma sociedade, podendo ser estético, artístico, documental,
PENSAMENTOS DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS SOBRE SABERES DOCENTES: DEFINIÇÕES, COMPREENSÕES E PRODUÇÕES.
 PENSAMENTOS DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS SOBRE SABERES DOCENTES: DEFINIÇÕES, COMPREENSÕES E PRODUÇÕES. Amayra Rocha da Silva Graduanda do Curso de Pedagogia. Bolsista-CNPq, UFPI. Profª. Drª. Maria da
PENSAMENTOS DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS SOBRE SABERES DOCENTES: DEFINIÇÕES, COMPREENSÕES E PRODUÇÕES. Amayra Rocha da Silva Graduanda do Curso de Pedagogia. Bolsista-CNPq, UFPI. Profª. Drª. Maria da
PERSPECTIVAS NA FORMAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE DOS ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA DA UESB
 PERSPECTIVAS NA FORMAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE DOS ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA DA UESB Guilherme Matos de Oliveira 1 Nerêida Maria Santos Mafra De Benedictis 2 INTRODUÇÃO Na atualidade compreende-se
PERSPECTIVAS NA FORMAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE DOS ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA DA UESB Guilherme Matos de Oliveira 1 Nerêida Maria Santos Mafra De Benedictis 2 INTRODUÇÃO Na atualidade compreende-se
 19 uma centena de sítios com pinturas e gravuras rupestres, entre abrigos sob rocha e simples blocos de granito e de arenito, gravados ou pintados ao longo de cursos d'água, distribuídos, irregularmente,
19 uma centena de sítios com pinturas e gravuras rupestres, entre abrigos sob rocha e simples blocos de granito e de arenito, gravados ou pintados ao longo de cursos d'água, distribuídos, irregularmente,
XVIII ENDIPE Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira
 A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DE ALUNOS DE LICENCIATURA EM FÍSICA: RELATOS DA EXPERIÊNCIA NA DISCIPLINA DE QUÍMICA GERAL Josane do Nascimento Ferreira Instituto Federal de Mato Grosso campus Pontes
A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DE ALUNOS DE LICENCIATURA EM FÍSICA: RELATOS DA EXPERIÊNCIA NA DISCIPLINA DE QUÍMICA GERAL Josane do Nascimento Ferreira Instituto Federal de Mato Grosso campus Pontes
PIRÂMIDE ALIMENTAR: UMA PROPOSTA DE INTERDISCIPLINARIDADE E INCLUSÃO NA ESCOLA 1
 PIRÂMIDE ALIMENTAR: UMA PROPOSTA DE INTERDISCIPLINARIDADE E INCLUSÃO NA ESCOLA 1 Ana Paula Cargnelutti Boniatti Zwirtes 2, Cecília Gabriela Rubert Possenti 3, Marnei Dalires Zorzella 4 1 Trabalho desenvolvido
PIRÂMIDE ALIMENTAR: UMA PROPOSTA DE INTERDISCIPLINARIDADE E INCLUSÃO NA ESCOLA 1 Ana Paula Cargnelutti Boniatti Zwirtes 2, Cecília Gabriela Rubert Possenti 3, Marnei Dalires Zorzella 4 1 Trabalho desenvolvido
DIAGNÓSTICO DA UTILIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO NO ENSINO DE BIOLOGIA
 DIAGNÓSTICO DA UTILIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO NO ENSINO DE BIOLOGIA Girlene dos Santos Souza girlenessouza@gmail.com Mário Luiz Farias Cavalcanti mariolfcavalcanti@yahoo.com.br Maria de Fátima Machado Gomes
DIAGNÓSTICO DA UTILIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO NO ENSINO DE BIOLOGIA Girlene dos Santos Souza girlenessouza@gmail.com Mário Luiz Farias Cavalcanti mariolfcavalcanti@yahoo.com.br Maria de Fátima Machado Gomes
A Prática Profissional terá carga horária mínima de 400 horas distribuídas como informado
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR UNIDADE ACADÊMICA DE LICENCIATURAS E FORMAÇÃO GERAL CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA CAMPUS JOÃO PESSOA Prática
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR UNIDADE ACADÊMICA DE LICENCIATURAS E FORMAÇÃO GERAL CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA CAMPUS JOÃO PESSOA Prática
A IMPORTÂNCIA DA CARTOGRAFIA ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL: o papel da Cartografia Tátil
 A IMPORTÂNCIA DA CARTOGRAFIA ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL: o papel da Cartografia Tátil Fernanda Taynara de Oliveira Graduando em Geografia Universidade Estadual de Goiás Campus Minaçu Kelytha
A IMPORTÂNCIA DA CARTOGRAFIA ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL: o papel da Cartografia Tátil Fernanda Taynara de Oliveira Graduando em Geografia Universidade Estadual de Goiás Campus Minaçu Kelytha
Osman da Costa Lins- FACOL
 1 AS CONTRIBUIÇÕES DA UTILIZAÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS À LUZ DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE 1 Suelma Amorim do Nascimento;
1 AS CONTRIBUIÇÕES DA UTILIZAÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS À LUZ DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE 1 Suelma Amorim do Nascimento;
DIAGNÓSTICO DO ENSINO E APRENDIZADO DA CARTOGRAFIA NOS DIFERENTES NÍVEIS DE FORMAÇÃO
 DIAGNÓSTICO DO ENSINO E APRENDIZADO DA CARTOGRAFIA NOS DIFERENTES NÍVEIS DE FORMAÇÃO Adriana Aparecida Silva 1 Fabrícia Alves da Silva 2 Pôster GT - Geografia Resumo O ensino e aprendizado da cartografia
DIAGNÓSTICO DO ENSINO E APRENDIZADO DA CARTOGRAFIA NOS DIFERENTES NÍVEIS DE FORMAÇÃO Adriana Aparecida Silva 1 Fabrícia Alves da Silva 2 Pôster GT - Geografia Resumo O ensino e aprendizado da cartografia
REPRESENTAÇÕES EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE: ALGUMAS REFLEXÕES DOS ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
 REPRESENTAÇÕES EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE: ALGUMAS REFLEXÕES DOS ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Verginia Batista Resumo O presente artigo intitulado
REPRESENTAÇÕES EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE: ALGUMAS REFLEXÕES DOS ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Verginia Batista Resumo O presente artigo intitulado
O PAPEL DAS INTERAÇÕES PROFESSOR-ALUNO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
 O PAPEL DAS INTERAÇÕES PROFESSOR-ALUNO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA Autor: Almir Lando Gomes da Silva (1); Co-autor: Antonio Fabio do Nascimento Torres (2); Coautor: Francisco Jucivanio
O PAPEL DAS INTERAÇÕES PROFESSOR-ALUNO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA Autor: Almir Lando Gomes da Silva (1); Co-autor: Antonio Fabio do Nascimento Torres (2); Coautor: Francisco Jucivanio
