O verdadeiro, o bom e o belo em Frege 1
|
|
|
- Igor Paixão Sacramento
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Marco Ruffino* O verdadeiro, o bom e o belo em Frege 1 É parte da maioria dos manuais introdutórios de lógica a idéia de que há dois e apenas dois valores semânticos que uma sentença (ou proposição em alguns casos) pode assumir, e em geral estes valores são o verdadeiro e o falso. Tais são os chamados valores de verdade, e são, do ponto de vista ontológico, objetos, assim como os demais elementos dos domínios nos quais as linguagens formais são interpretadas. Este quase lugar comum da lógica tem seu início com o trabalho de Frege. Foi ele quem formulou pela primeira vez com clareza a tese de que sentenças (e proposições) têm como referência objetos de um tipo especial que ele chamou de valores de verdade ( Wahrheitswerthe ). No entanto, algo que certamente se perdeu no uso semântico contemporâneo dos valores de verdade foi exatamente aquilo que motivou a sua introdução (ou o seu reconhecimento) na filosofia de Frege, a saber, a idéia mesma de valor. A maioria dos manuais não chega a explicar ou mesmo perguntar a razão pela qual o verdadeiro e o falso são chamados valores (quem faz isso são os estudantes de lógica, para nosso embaraço às vezes). A impressão que se tem é que o termo valor tem uma conotação puramente semântica, no sentido de poder estar para : assim como uma constante individual pode ser associada a um objeto do domínio de interpretação semântica, uma sentença (ou proposição) pode ser associada a um destes estranhos objetos pela função de interpretação. Na concepção contemporânea, verdadeiro e falso parecem não ter nada de específico, podendo ser trocados por quaisquer outros valo- * UFRJ/CNPq, ruffino@gmx.net 1 Agradeço aos participantes do Simpósio A Verdade como Valor, realizado em março de 2005 na Universidade Federal de Santa Maria, pela discussão que se seguiu à apresentação deste trabalho. Agradeço, em particular, a Róbson Reis, organizador do Simpósio, em primeiro lugar pelo convite, mas principalmente pelas questões colocadas ao meu texto, que ajudaram a clarificar vários pontos do mesmo. A tradução das passagens citadas ao longo do texto é minha. Este trabalho foi escrito com apoio do CNPq. o que nos faz pensar n 0 20, dezembro de 2006
2 28 Marco Ruffino res designados, como 1 e 0, ou Paris e Berlin. Na concepção de Frege, no entanto, valor de verdade não é simplesmente aquilo que pode ser atribuído a uma sentença ou proposição por uma função que fixa objetos a entidades lingüísticas, mas também isso que o nome diz: o valor que ela pode ter, no sentido próprio do termo. O termo valor de verdade (e a noção correspondente) não foi originalmente criado por Frege, mas tinha já sido cunhado dentro da tradição filosófica alemã do século XIX, mais particularmente, entre os filósofos de inclinação neo-kantiana. Gottfried Gabriel (1986) apresentou um estudo histórico das origens da idéia de valor de verdade em Frege, e sugeriu que o uso do termo Wahrheitswert por Frege tem uma dupla motivação: a primeira é, como já disse, a sua vinculação à filosofia neo-kantiana, devido à influência que sobre ele teria sido exercida por alguns dos pensadores desta tradição, especialmente por Hermann Lotze, que foi seu professor em Göttingen 2. (Wilhelm Windelband, outro aluno de Lotze, já emprega o termo Wahrheitswert em sua obra Präludien, de 1884.) A outra motivação viria da terminologia da matemática, na qual se fala de argumentos e valores de funções. O verdadeiro e o falso são chamados de valores porque são primariamente reconhecidos por Frege como valores possíveis (no sentido matemático) de funções de um tipo especial (conceitos). Eu não pretendo aqui - e nem tenho competência para tanto - fazer um levantamento detalhado da história da noção de valor de verdade na escola neo-kantiana, mas sim apenas algumas observações sobre o papel que esta noção desempenha no interior da filosofia de Frege. Eu me concentrarei basicamente em dois pontos. Em primeiro lugar, discutirei como a noção de verdade e o valor que a verdade implica são fundamentais para Frege em sua argumentação contra o psicologismo, então prevalente na lógica e na ciência alemã. Em particular, a noção de valor de verdade é uma forma conveniente de realçar a natureza normativa da lógica. Em segundo lugar, pretendo analisar as diferentes comparações feitas por Frege ao longo de sua obra entre a lógica, a ética e a estética no que diz respeito aos seus valores (respectivamente, o verdadeiro, o bom e o belo), e mostrar que cada uma delas realça, na verdade, um aspecto diferente da lógica enquanto disciplina normativa (ou da verdade como valor). Ao propor uma comparação entre o verdadeiro, o 2 A tese de Gabriel é na verdade mais forte; ele procura mostrar que Frege é de fato um pensador neo-kantiano. Apesar das coincidências terminológicas, a tese de Gabriel não encontra apoio nos textos de Frege, que expressam antes uma perspectiva fortemente realista no que diz respeito à lógica e à matemática.
3 O verdadeiro, o bom e o belo em Frege 29 bom e o belo em Frege não estou querendo fazer uma discussão de sua visão a respeito da ética ou da estética. Isso por várias razões, mas a principal é que Frege nunca se ocupou, pelo menos em sua filosofia oficial, da ética e muito menos da estética. Nas poucas passagens em que ele compara a lógica com a ética e a estética, seu objetivo é apenas lançar luz sobre aspectos essenciais da lógica por comparação com essas duas disciplinas. I-Verdade e psicologismo Há uma outra comparação igualmente relevante para esclarecer a visão de Frege sobre a natureza da lógica, que é aquela feita por ele entre esta disciplina de um lado, a física e a psicologia de outro. Aqui não é realçada a natureza normativa da lógica, mas antes a sua especificidade com relação às ciências empíricas de maneira geral, e em particular com relação à psicologia. O objetivo último do esforço científico é a verdade (NS 2), escreve Frege logo no início de seu texto póstumo Logik (datado pelos editores de seu Nachlass como tendo sido escrito entre 1879 e 1891). Frege pretende aqui demarcar algo que é essencial à ciência, e que a diferencia de outras formas não-científicas de atividade intelectual. Uma diferença essencial entre a atividade científica e uma atividade não-científica (como a arte, por exemplo), é a preocupação com a verdade. Frege se refere várias vezes ao que ele chama de domínio da verdade ( Gebiet der Wahrheit ) por oposição ao domínio da ficção ( Gebiet der Dichtung ). Estes domínios são, na verdade, dois contextos possíveis para o nosso interesse no conteúdo das sentenças. O domínio da verdade é descrito em Einleitung in die Logik (1906) como aquele no qual temos um comportamento científico (NS p. 209). Não é essencial a um ator que representa um papel no palco, por exemplo, um comportamento crítico com relação à verdade de suas asserções. O mesmo vale para quem aprecia o trabalho do ator: quem exige verdade das asserções feitas no palco não está entendendo a essência da atividade artística. Ou, para expandir o exemplo, quem levanta a questão da verdade ou falsidade a respeito de uma obra de ficção ou de um poema não está apreciando aquilo que esta obra tem de propriamente poético, mas está olhando para a mesma como algo que ela não é (assim como quem se preocupa com a composição mineral de uma escultura não está olhando para a mesma enquanto um trabalho de arte, mas sim enquanto um pedaço da natureza). Da mesma forma, quem não se pergunta pela verdade ou falsidade das asserções feitas por um biólogo em um encontro de cientistas não está tendo a atitude caracteristicamente científica: esta exige que, para toda asserção, seja colocada a questão de sua verdade ou falsidade. Isto é,
4 30 Marco Ruffino pelo menos em princípio a questão da verdade ou falsidade tem que ser levantada. Podemos até não saber se uma hipótese é verdadeira ou falsa, ou mesmo não pensar efetivamente se todos os (muitos) pressupostos de um trabalho científico são verdadeiros ou falsos. Trata-se aqui, é claro, de uma situação idealizada por Frege. Esta tarefa (levantar a questão da verdade ou falsidade de todas as asserções de uma teoria) seria talvez impossível para um único indivíduo, e só seria factível para uma comunidade inteira de cientistas, ao longo de muitos séculos. Mas qual seria a razão para Frege insistir na centralidade da noção de verdade para a ciência? Não estaria ele apenas afirmando um truísmo? Na realidade, não se trata apenas de um truísmo, e a razão para a insistência de Frege pode ser compreendida se considerarmos que um dos pontos centrais de seus esforços filosóficos é a argumentação contra o psicologismo, prevalente no meio científico e filosófico alemão na segunda metade do século XIX. E, de fato, a tese da centralidade da verdade na ciência e na lógica fornece a Frege a premissa fundamental de um argumento que funciona como uma espécie de reductio do psicologismo. Tal argumento aparece pelo menos em duas ocasiões em seus escritos. A primeira ocasião é o prefácio de Grundgesetze der Arithmetik (1893): Se os idealistas fossem pensar consistentemente, então eles considerariam a sentença Carlos Magno derrotou os saxões como sendo nem verdadeira e nem falsa, mas antes como uma sentença da ficção, da mesma maneira que consideramos a sentença Nessus carregou Djanira através de rio Euenus como sendo desse tipo. (1893 p. xxi) Tudo o que é necessário para completar a reductio é notar que há uma diferença fundamental entre as sentenças, a saber, a primeira, ao contrário da segunda, é verdadeira (ou falsa, dependendo do resultado de nossas pesquisas históricas), mas a segunda não é nem uma coisa nem outra. O segundo argumento ocorre em seu ensaio póstumo também intitulado Logik, mas escrito quatro anos depois (1897): Se o idealismo epistemológico fosse correto, então toda a ciência natural pertenceria ao domínio da ficção. Poder-se-ia tentar reformular todas as sentenças, de tal forma que elas seriam sobre representações [e não sobre aquilo que normalmente as tomamos como sendo]. Mas dessa maneira o seu sentido seria completamente transformado, surgiria uma ciência completamente diferente, e esta nova ciência seria um ramo da psicologia. (NS p. 141)
5 O verdadeiro, o bom e o belo em Frege 31 (Aqui nesta passagem, assim como em muitas outras ocasiões, Frege usa o termo idealismo como aproximadamente equivalente a psicologismo e solipsismo.) A psicologia busca descobrir as conexões existentes entre representações, e é claro que aqui há uma certa preocupação com a verdade, uma vez que há conexões entre representações que efetivamente existem, e outras que não existem. Mas, e este é o ponto de Frege na passagem, se o psicologismo estivesse correto, a ciência como um todo seria redutível à psicologia, e a questão sobre a verdade de uma proposição como A é a causa de B seria redutível à questão sobre a existência ou não de uma conexão regular entre as representações de A e de B em nossa psique. Resumindo, a tese da centralidade da noção de verdade para a ciência tem uma natureza antes de tudo pragmática, i.e., ele diz respeito àquilo que esperamos de nossas asserções em um determinado contexto, a saber, o contexto científico. E a insistência de Frege sobre este ponto tem, em meu entender, uma função argumentativa, que é a de fornecer uma premissa adequada para um argumento contra o psicologismo na ciência. Vale ressaltar que até aqui falamos de ciência em geral. No caso da lógica, em particular, o argumento acima vale da mesma maneira: se a verdade não é uma preocupação fundamental, então não há como diferenciar lógica de psicologia. No entanto, há uma razão adicional para a insistência na centralidade da noção de verdade na lógica que não encontramos no caso da ciência empírica, a saber, a centralidade da noção de verdade é a única alternativa compatível com a natureza normativa da lógica. Esta natureza normativa não existe na ciência empírica, e é, portanto, uma forma segura de distinguir a lógica da psicologia. O contraste entre a lógica e a psicologia era o mais premente para Frege, e ele ocorre desde muito cedo em seus escritos. No primeiro ensaio Logik ( ), encontramos uma comparação entre a lógica e outras ciências: Os objetos da lógica são, portanto, não perceptíveis pelos sentidos, e neste aspecto são similares àqueles da psicologia, e contrastam com os das ciências naturais [...] No entanto, existe uma separação muito nítida entre estas ciências, e esta separação é indicada pela palavra verdadeiro. A psicologia tem, como qualquer outra ciência, a ver com a verdade, na medida em que ela tem como objetivo a conquista de verdades; mas ela não considera a propriedade verdadeiro em seus objetos como a física tem em vista as propriedades pesado, quente, etc., em seus objetos. Isto a lógica faz. Não seria incorreto dizer que as leis lógicas nada mais são que um desenvolvimento do conteúdo da palavra verdadeiro. Quem não compreender o significado desta palavra em toda a sua peculiaridade não pode tampouco ter clareza sobre a tarefa da lógica. (NS p. 3)
6 32 Marco Ruffino Pode-se observar, de passagem, que os exemplos das demais ciências que estão sendo comparadas com a lógica nesta passagem (isto é, física e psicologia) não parecem ter sido escolhidos por acaso. A física é a ciência mais geral possível das entidades concretas. A psicologia é a ciência mais geral possível das entidades do mundo mental, portanto não concreto (talvez possamos considerar as representações privadas como localizadas no tempo, mas não no espaço). Este contraste coloca a lógica em uma terceira posição, como a ciência mais geral possível das entidades que pertencem a um terceiro tipo de realidade que não é nem concreta, e nem mental. Mas talvez o ponto mais importante desta passagem seja a observação de que cada uma destas ciências olha para seus respectivos objetos tendo uma propriedade fundamental em vista, de tal forma que uma entidade que não tenha esta propriedade não faz parte do campo de interesse desta ciência. Os objetos da física têm algumas propriedades essenciais, a saber, peso, temperatura, etc. Tais propriedades são indissociáveis das coisas que interessam à física, e uma entidade que não possuir peso, temperatura, etc., não está dentro do campo de interesse desta ciência. 3 Por exemplo, uma entidade de meu mundo subjetivo, como o desejo de que faça sol amanhã, não tem estas propriedades e, assim sendo, não tem interesse para a física. Pode-se dizer então, parafraseando Frege, que a física nada mais é que o desdobrar do conteúdo das palavras pesado, quente, etc. Da mesma maneira, pertencer ao mundo mental subjetivo é uma propriedade essencial dos objetos de interesse da psicologia (desejos, impressões, associações, etc.), e a psicologia poderia ser entendida como um desdobramento do conteúdo das palavras mental e subjetivo. Uma entidade que não apresente estas propriedades, por exemplo, uma peça musical, considerada em si mesma, independente das sensações e associações que ela evoque, não tem propriamente interesse para a psicologia. Da mesma maneira, a característica essencial dos objetos fundamentais relevantes à lógica (juízos, proposições, pensamentos) é o fato de ter um valor de verdade. Algo que não tenha valor de verdade (e.g., uma representação subjetiva) não cai dentro do campo de interesse da lógica. Podemos entender assim por que foi dito antes que todas as ciências, inclusive a psicologia, têm uma preocupação com a verdade, uma vez que querem produzir juízos verdadeiros, mas nenhuma delas tem a mesma preocupação central com a verdade que a lógica tem, uma 3 A física atual certamente tem outras propriedades fundamentais em vista que aquelas aqui mencionadas por Frege no final do séc. XIX. Este detalhe não afeta aquilo que é essencial à tese de Frege.
7 O verdadeiro, o bom e o belo em Frege 33 vez que só para esta ser veritativamente valorável é a propriedade essencial que caracteriza os objetos de seu estudo. 4 Correspondendo a esta restrição do campo de relevância da lógica àquilo que tem um valor de verdade, Frege também sugere, por vezes, uma restrição da noção de pensamento apenas ao sentido daquelas sentenças que são verdadeiras ou falsas. Ele se refere, por vezes, ao sentido de sentenças que não são nem verdadeiras nem falsas como pseudo-pensamentos ( Scheingedanke ). Por exemplo, no segundo ensaio Logik (1897), ele diz: Ao invés de ficção poderíamos dizer também pseudo-pensamentos [...] As asserções na ficção não devem ser levadas a sério: elas são apenas pseudoasserções. Da mesma forma, os pensamentos não devem ser levados a sério como na ciência: eles são apenas pseudo-pensamentos. [...] A lógica não tem que se ocupar dos pseudo-pensamentos, da mesma forma que o físico que quer pesquisar as tempestades, não se ocupará das tempestades que ocorrem no palco. Na discussão que se segue quando falarmos de pensamento, deve-se entender os pensamentos no sentido próprio, aqueles que são verdadeiros ou falsos. (NS pp.141-2) No texto póstumo Aufzeichnungen für Ludwig Darmstaedter (1919) encontramos a mesma restrição de pensamentos apenas àquilo que é verdadeiro ou falso: A particularidade de minha concepção de lógica é primeiro indicada pelo fato de eu colocar o conteúdo da palavra verdadeiro na posição mais elevada, e depois também pelo fato de eu introduzir em seguida os pensamentos como sendo aquilo sobre o que pode-se perguntar pela verdade ou falsidade. (NS p. 273) A restrição da lógica apenas ao que é verdadeiro ou falso exclui do campo de relevância da mesma muito daquilo que hoje tomaríamos como sendo relevante. Por exemplo, a inferência expressa por se todo hobbit é baixo, e Frodo é um hobbit, então Frodo é baixo não faria parte do campo da lógica para Frege, uma vez que o que temos como premissas e como conclusão são 4 Em Der Gedanke (1919), que é um texto bastante posterior, encontramos ainda esta preocupação fundamental em tornar clara a distinção entre lógica e psicologia, e a centralidade da noção de verdade como sendo a forma mais efetiva de marcar esta distinção: A fim de evitar qualquer mal-entendido e não deixar desaparecer a fronteira entre a lógica e a psicologia, atribuo à lógica a tarefa de encontrar as leis do ser verdadeiro, e não as leis do tomar por verdadeiro ou do pensar. Nas leis do verdadeiros temos um desdobramento do significado da palavra verdadeiro. (KS p. 343)
8 34 Marco Ruffino sentenças que não são nem verdadeiras nem falsas para ele (ou seja, o que ele chamaria de pseudo-pensamentos ). Warren Goldfarb (2001) realçou uma importante diferença entre a concepção Fregeana da lógica e a concepção contemporânea, fortemente influenciada pelo paradigma modelo-teórico de Tarski e de Quine. Enquanto a lógica contemporânea, assim como a lógica anterior a Frege, tende a se fixar nas formas das sentenças e inferências, a lógica de Frege é pensada como uma lógica de conteúdos. Mais precisamente, como uma lógica de conteúdos verdadeiros. Uma descrição particularmente clara da concepção contemporânea da lógica pode ser vista na seguinte passagem do manual introdutório de Allwood, Andersson e Dahl (1977): A validade e a verdade lógicas são formais, algo que é freqüentemente interpretado como significando que validade e verdade lógicas dependem da forma (estrutura) de uma sentença ou de um argumento ao invés de depender do que a sentença trata. Por causa disto, as inferências (verdades) lógicas podem ser consideradas válidas (verdadeiras) independentemente de como seja o mundo. (1977 p. 18) Esta concepção da lógica, muito difundida nos dias de hoje, não é compartilhada por Frege. Ele diz em várias passagens que o propósito de seu formalismo não é a representação de formas vazias, mas sim de conteúdos judicáveis. Para ele a necessidade e a validade lógica não têm a ver propriamente com a forma, mas sim com os conteúdos, isto é, a relação de conseqüência existe entre os conteúdos verdadeiros ou falsos, e uma proposição é uma verdade lógica em virtude daquilo que ela descreve. Uma proposição lógica é verdadeira porque ela descreve um aspecto da realidade, isto é, como o mundo é em seus aspectos mais fundamentais. Em alguns momentos, Frege parece fazer uma restrição ainda mais forte, e exigir que a lógica seja restrita apenas à inferência de conteúdos verdadeiros a partir de conteúdos verdadeiros. Por exemplo, em seu primeiro ensaio Logik (1879/1891) Frege diz que a lógica se ocupa apenas com as regras que justificam a inferência de juízos verdadeiros a partir de outros juízos verdadeiros (NS p. 3). Neste sentido, uma inferência como a expressa por Se pedras voam e Lula é pedra, então Lula voa, que é um objeto genuíno da investigação lógica contemporânea, não faria parte do campo de estudo da lógica para Frege, uma vez que temos como premissas e conclusão sentenças falsas. 5 5 Podemos aqui fazer uma observação marginal a respeito de uma polêmica relativa à datação do texto póstumo 17 Kernsätze der Logik. Entre as teses fundamentais de sua lógica, Frege lista a seguinte: A sentença Leo Sachse é um homem é a expressão de um pensamento apenas quando Leo Sachse designa [bezeichnet] alguma coisa (NS p. 190). Este texto foi datado pelos edito-
9 O verdadeiro, o bom e o belo em Frege 35 II-Lógica, ética e estética como disciplinas normativas A idéia de que a lógica é uma disciplina normativa e, portanto, valorativa não é original nem de Frege nem do neo-kantismo. O paralelo entre a lógica e a ética já pode ser encontrado em Kant, por exemplo, no manual de seu curso de lógica (anotado por Jäsche) no seguinte comentário: De fato, alguns lógicos pressupõem princípios psicológicos na Lógica. Mas introduzir princípios deste tipo na Lógica é precisamente tão ilícito quanto derivar a Moral a partir da vida. Se tirássemos os princípios a partir da psicologia, isto é, das observações sobre nosso entendimento, veríamos apenas como o pensamento procede e como ele é sob uma variedade de obstáculos e de condições subjetivas, e isto nos levaria ao conhecimento de leis apenas contingentes. Na Lógica, no entanto, a busca não é pelas regras contingentes, mas pelas regras necessárias, não de como pensamos, mas de como devemos pensar. (Logik, A 7) Kant não inclui a estética no paralelo com a lógica devido às peculiaridades que esta disciplina tem, segundo a sua visão: Porque deve ser considerada uma ciência a priori ou uma doutrina para um cânon do uso do intelecto ou do uso da razão, a Lógica distingue-se essencialmente da estética, que como mera crítica do gosto, não possui um cânon (lei), mas somente uma norma, um modelo ou um prumo para um mero juízo de apreciação, que consiste no consenso geral. (Logik, A 8) res do Nachlass de Frege como sendo de 1906, baseado em uma nota de Heinrich Scholz (que foi o primeiro editor do Nachlass na Universidade de Münster). No entanto, o comentário acima parece ignorar a distinção feita em 1891 entre o sentido e a referência, uma vez que, de acordo com esta distinção, ainda que Leo Sachse não tivesse referente, a sentença careceria de referência, mas poderia ter um sentido. Por esta razão, alguns comentadores de Frege (como Gottfried Gabriel) foram levados a afirmar que a datação do texto pelo editores é imprecisa, e que o mesmo somente poderia ter sido escrito antes do aparecimento da distinção entre o sentido e a referência (portanto, antes de 1891). No entanto, se se tem em conta esta restrição feita por Frege do campo da lógica às sentenças que têm valor de verdade, e a sua observação de que apenas estas expressam pensamentos (observação esta feita depois de 1891), e se também levarmos em conta que o texto em questão pretende expressar as máximas fundamentais da lógica, então temos que concluir que o comentário poderia sim ter sido produzido depois de 1891 (ou, pelo menos, que ele é consistente com outras coisas que Frege diz depois de 1891). 6 Isto, na verdade, não é muito claro. Talvez alguém pudesse argumentar aqui que há outras disciplinas valorativas, como a filosofia da religião, que estuda o fenômeno da fé, e tem por
10 36 Marco Ruffino Embora haja efetivamente esta sugestão de uma natureza normativa da lógica, encontramos também em Kant comentários no sentido contrário, isto é, a lógica teria uma natureza não apenas normativa, mas também algo descritiva na medida em que ela é uma explicitação de regras que são constitutivas de (e normalmente usadas por) nosso entendimento. No mesmo prefácio da Logik ele compara o uso implícito que o entendimento faz da lógica com o uso implícito que fazemos da gramática: falamos uma língua empregando corretamente a sua gramática, sem, no entanto, estar conscientes da mesma (Logik A 2). Ou seja, nosso entendimento já opera segundo as regras da lógica, e a função desta última enquanto ciência é tornar explícito aquilo que já usamos implicitamente em nossos raciocínios. Em Frege vemos uma preocupação maior em realçar esta natureza normativa da lógica por contraste com a psicologia: a lógica não está necessariamente implícita na forma como efetivamente raciocinamos. A forma como efetivamente raciocinamos é determinada por leis psicológicas, e com estas a lógica nada tem a ver. Outra diferença importante é que, para Kant, a lógica parece se ocupar apenas e tão somente com a forma dos raciocínios, desprovidas de qualquer conteúdo específico. Para Frege, ao contrário, a lógica lida, como vimos, com conteúdos judicáveis. Ao longo de sua obra, Frege comparou a lógica com a ética e com a estética em quatro ocasiões. A primeira comparação pode ter ocorrido bem cedo, uma vez que aparece no seu texto póstumo Logik (1879/1891). Contrastando a lógica com a psicologia, Frege diz: A lógica tem um parentesco mais próximo com a ética. Para esta tem a propriedade bom um significado [Bedeutung] parecido com o significado que a palavra verdadeiro tem para aquela. Ainda que nossas ações e esforços possam ser todos explicados como determinados causalmente e psicologicamente, nem todas merecem ser chamadas de boas. Aqui também pode-se falar de justificação, e aqui também não encontramos a justificação simplesmente no relato do que aconteceu e nem na demonstração de que teve que acontecer assim e de nenhum outro modo. Pois vale o seguinte: tudo compreender significa tudo perdoar; mas apenas se pode perdoar aquilo que se considera como não sendo bom. (NS p. 4) O paralelo entre lógica e ética aqui traçado tem a ver com a diferenciação clássica entre gênese e a justificação: a psicologia (e possivelmente outras ciências) estaria encarregada de explicar uma ação como causalmente determinada, mas esta explicação não pode valer como justificação desta ação. Perdoar uma ação por entendê-la como causalmente determinada já pressupõe,
11 O verdadeiro, o bom e o belo em Frege 37 segundo Frege, considerá-la como sendo má. A ética, ao contrário, se ocupa da justificação desta ação. Ao que parece, o paralelo pode ser estendido à lógica: compreender o processo pelo qual alguém é levado a raciocinar de uma maneira incorreta já pressupõe a consideração de que existe a maneira correta, da qual este alguém foi desviado por força de uma cadeia de eventos mentais. O ponto central desta primeira comparação é, portanto, o realce da natureza normativa da lógica, por oposição à psicologia. A segunda comparação ocorre no segundo manuscrito Logik (1897): Ao entrarmos em uma ciência, é imperativo termos uma idéia pelo menos provisória de sua essência. Queremos ver um objetivo final, em direção ao qual devemos direcionar nossos esforços, um alvo que dê a direção na qual devemos pesquisar. Para a lógica a palavra verdadeiro pode cumprir este papel de tornar este objetivo explícito, da mesma maneira que a palavra bom para a ética e belo para a estética. [...] Assim como a ética, pode-se chamar a lógica de uma ciência normativa. Como devo pensar, para alcançar o objetivo, isto é, a verdade? (NS p. 139) Algo novo aqui com relação à comparação anterior é que, primeiro, além do aspecto normativo da lógica, temos agora uma concepção teleológica da mesma, isto é, a lógica é vista não apenas como uma teoria abstrata das leis do verdadeiro, mas também como uma disciplina cujo propósito é nos levar a um fim ou alvo. Segundo, a verdade é aqui apresentada não apenas como o objeto de estudo da lógica, mas também como este próprio fim a ser atingido. Como Evnine notou (2003, pp ), aqui o paralelo com a ética e a estética emerge de maneira mais clara: a ética não apenas tem o bem como objeto teórico de estudo, mas deve também nos ajudar a atingir o bem, que é a sua finalidade máxima. Da mesma maneira, a estética enquanto ciência especulativa sobre o belo também tem por finalidade produzir o belo.temos aqui uma espécie de identidade entre o objeto de estudo de uma disciplina, e a sua finalidade. Isto é algo especialíssimo, e não parece ocorrer em nenhuma outra ciência a não ser estas três. 6 Um contraste com a física ou com a biologia pode nos ajudar a entender este aspecto especial da lógica, ética e estética. A física pode ser vista, segundo Frege, como um desdobramento das leis do calor e do peso, assim como a biologia poderia ser vista, seguindo a mesma metáfora, finalidade também a própria fé. Eu não entrarei aqui em uma discussão mais aprofundada deste tópico. 7 Esta comparação entre os termos verdadeiro e belo, desfavorável à lógica, parece tomar como pressuposto uma certa interpretação dos juízos morais onde o predicado bom tem efetivamente
12 38 Marco Ruffino como um desdobramento das leis dos organismos vivos, mas não faz sentido dizer que a finalidade da física é o calor ou peso, e nem faz sentido dizer que a finalidade da biologia é o ser vivo enquanto tal. Neste caso a lógica, na visão Fregeana, não é vista como uma mera especulação teórica, mas também como uma ciência com uma dimensão prática em um certo sentido, na medida em que nos ajuda a atingir um objetivo. A terceira (e mais problemática) comparação aparece no também póstumo Meine grundlegenden logischen Einsichten (1915). Frege está considerando as conseqüências do fato de P e P é verdadeiro (onde P é a expressão de um pensamento) terem o mesmo conteúdo: A palavra verdadeiro não traz [...] nenhuma contribuição essencial ao pensamento. Quando afirmo é verdade que a água do mar é salgada estou afirmando o mesmo que quando afirmo a água do mar é salgada. Aqui deve-se reconhecer que a afirmação não está na palavra verdade, mas sim na força assertórica com a qual a sentença é proferida. [...] Mas exatamente por isso é que esta palavra parece adequada para indicar o que é essencial na lógica. Qualquer outra palavra que designasse propriedade seria menos adequada devido ao seu sentido especial. Assim a palavra verdadeiro parece transformar em possível o impossível, a saber, faz parecer que aquilo que corresponde à força assertórica contribui para o pensamento. E esta tentativa, embora frustrada, ou melhor, exatamente porque ela é frustrada, indica a essência da lógica, e esta parece, de acordo com isso, essencialmente diferente da essência da ética e da estética. Pois a palavra belo indica de fato a essência da estética, assim como a palavra bom indica a essência da ética, enquanto a palavra verdadeiro é efetivamente apenas uma tentativa frustrada de indicar a essência da lógica, uma vez que aquilo que de fato está em jogo não está, de maneira alguma, na palavra verdadeiro, mas sim na força assertórica com a qual a sentença é afirmada. (NS pp ) Esta passagem oferece alguma dificuldade de interpretação, uma vez que aqui, ao contrário das comparações anteriores, não encontramos um paralelo, e sim um contraste da lógica com as outras disciplinas normativas. Antes tínhamos a expressão verdadeiro indicando, sem nenhuma restrição, a direção ou objetivo da lógica. Mas agora esta expressão é apresentada como uma tentativa frustrada ( missglückten Versuch ) de indicar tal direção, e quem de fato indicaria tal direção não seria uma expressão propriamente dita, mas sim a força assertórica que adicionamos a sentenças. Como sabemos, a força assertórica nada mais é que a aprovação ou assentimento de quem contempla um pensamento. Nenhuma expressão como eu aprovo ou eu creio que é
13 O verdadeiro, o bom e o belo em Frege 39 verdade que pode substituí-la, uma vez que uma sentença contendo estas expressões pode também ser pronunciada sem a força assertórica (por exemplo, por um ator no palco). Qual a razão para esta mudança? E como interpretar o contraste? Evnine (2003) discute esta passagem, e sugere uma interpretação segundo a qual a lógica, para Frege, seria uma ciência que lidaria primariamente com a força assertórica. É claro que esta interpretação teria que explicar o fato de teoremas da lógica poderem ser expressos sem a força assertórica (bastando, por exemplo, no formalismo de Frege, tomar o seu conteúdo, sem o traço vertical de juízo que os precede). Mas, como lembra Evnine, valores de verdade são incorporados ao conteúdo destes mesmos teoremas (o que é um efeito da incorporação do traço horizontal dentro no conteúdo e da adoção do símbolo de identidade como equivalência material entre sentenças), e isto deveria ser lido, de acordo com esta interpretação, como uma tentativa frustrada de transportar para dentro dos teoremas aquilo que só pode estar fora, isto é, a força assertórica. Tal solução parece estranha. Em primeiro lugar, não está claro o que seria uma ciência da força assertórica. (Talvez algo como uma teoria de atos de fala?) Além disso, para Frege, os conteúdos expressos em teoremas da lógica são verdadeiros independentemente de terem sido asseridos em qualquer momento por qualquer ser pensante, ao passo que a força assertórica só existe quando um juízo é efetivamente emitido por alguém. Finalmente, aquilo que corresponde à força assertórica em sua linguagem simbólica é o traço vertical de asserção; mas seria estranho dizer que as Grundgesetze der Arithmetik, por exemplo, são um desdobramento do conteúdo do traço de asserção. Em uma coletânea recente de artigos sobre a concepção de verdade de Frege (editada por Dirk Greimann) encontramos também duas interpretações desta passagem. A primeira é a do próprio Greimann, e é parecida com a de Evnine. Para Greimann, Frege estaria endossando nesta passagem aquilo que ele chama de uma teoria assertórica da verdade ( Behauptungstheorie der Wahrheit ). Na descrição de Greimann, esta teoria assertórica seria a doutrina de que a verdade é aquilo que é expresso na linguagem natural através da forma da sentença assertórica (Greimann 2003, p. 72). Não fica muito claro aqui, no entanto, o que poderia ser uma teoria nestes moldes. A força assertórica expressa o nosso assentimento, ou nossa opinião de que o conteúdo ao qual ela é associada é verdadeiro. Não está claro se uma teoria assertórica da verdade seria, no final das contas, uma teoria sobre o nosso assentimento. A segunda interpretação é a de Gabriel (2003), de acordo com a qual, para Frege, o termo verdadeiro seria um termo categorial e, da mesma forma
14 40 Marco Ruffino que outros termos categoriais como objeto e função, nada acrescentaria ao ser predicado adequadamente de um objeto. Isto explicaria o fato de ele nada dizer, embora ele aponte algo (a direção da lógica). Teríamos aqui, segundo Gabriel, um paralelo com a tese Wittgensteineana de que a lógica nada diz, mas pode mostrar algo. A dificuldade aqui é ver porque, se esta de fato era a intenção de Frege, este aspecto do predicado verdadeiro seria esclarecido por contraste com os predicados bom da ética e belo da estética, isto é, seria difícil ver qual o ponto do paralelo. Outra dificuldade desta interpretação seria o status do termo falso : seria ele, igualmente, um termo categorial? Talvez uma explicação mais simples e que exigiria uma revisão menos dramática da visão de Frege sobre a verdade seja a seguinte: o que Frege está aqui constatando é simplesmente uma dificuldade em se explicitar o objeto de estudo da lógica utilizando-se da linguagem natural. Dificuldades análogas foram por ele apontadas em outras ocasiões, e atribuídas a barreiras gramaticais quase intransponíveis. Um exemplo clássico é o chamado paradoxo do conceito cavalo (discutido no ensaio Über Begriff und Gegenstand, de 1892). O paradoxo surge da seguinte consideração: em investigações lógicas, temos a necessidade de falar de conceitos, isto é, de predicar algo dos mesmos. Mas ao tentar falar sobre um conceito em uma forma gramaticalmente correta, devemos colocá-lo na posição de sujeito gramatical, quase sempre precedido pelo artigo definido (como quando dizemos O conceito cavalo está subordinado ao conceito mamífero ), transformando-o assim em algo que ele não é, a saber, um objeto (o que seria indicado pela presença do artigo definido). Aqui a dificuldade está em se falar, na linguagem natural, de uma entidade fundamental da lógica, preservando a identidade da mesma, pois ao formularmos algo sobre esta entidade, acabamos falando de algo que não é a mesma. Algo análogo ocorreria quando tentamos descrever a essência da lógica como capturada pela palavra verdadeiro da linguagem natural, e isto é o que estaria sendo apontado, em minha opinião, na passagem acima. A lógica é, como Frege reitera em várias passagens, um desdobramento do conteúdo da palavra verdadeiro. Mas, como vimos, o termo verdadeiro nada acrescenta a um pensamento P, uma vez que P e P é verdadeiro dizem a mesma coisa. O termo verdadeiro da linguagem natural tem assim um sentido completamente inócuo (embora, como Frege saliente, ele não é sem sentido, pois do contrário, a sentença P é verdadeiro teria que ser também sem sentido). Os predicados bom e belo, ao contrário, expressam propriedades reais, uma vez que a sua atribuição a uma ação ou objeto adiciona alguma informação efetiva sobre o mesmo. Por exemplo, se digo simplesmente Bush mentiu sobre a existência de armas no Iraque ou Nesta peça musical temos tal e tal
15 O verdadeiro, o bom e o belo em Frege 41 seqüência harmônica, o que temos aqui é simplesmente o relato de uma ação e de uma estrutura musical, respectivamente. Mas quando digo Bush mentiu sobre a existência de armas no Iraque e isso não é bom ou Nesta peça musical temos tal e tal seqüência harmônica e isto é belo, temos não apenas relatos, mas a atribuições de uma propriedade ética a esta ação e estética a esta peça respectivamente, que não estão implícitas na simples descrição das mesmas. Ou seja, diferentemente da ética e da estética, a lógica lida com um predicado que nada acrescenta aos objetos aos quais ele é atribuído. Quem acrescenta algo a estes objetos não é este predicado, mas antes a força assertórica com a qual estes objetos (isto é, conteúdos judicáveis) são proferidos. Isto não significa, no entanto, que a força assertórica seja ela mesma o conceito de verdade que a lógica procura elucidar. Força assertórica não é um conceito, nem um objeto, mas apenas a expressão de nosso assentimento. Portanto a palavra verdadeiro é muito especial, porque ela tem uma referência (a saber, o valor de verdade correspondente), e tem também um sentido, mas seu sentido dá uma contribuição completamente inócua às sentenças onde ela é adicionada. 7 A dificuldade então está no fato de a essência da lógica parecer ser indicada por um predicado da linguagem natural cujo sentido é completamente neutro, ao contrário dos predicados fundamentais da ética e da estética, que não são neutros. Esta dificuldade seria eliminada, no entanto, se tivéssemos um dispositivo, em uma linguagem lógica, para expressar aquilo que verdadeiro quer expressar na linguagem natural, e que não fosse inócuo. Tal dispositivo existe, no entanto, na linguagem lógica de Frege. Trata-se do traço horizontal. Como sabemos, o traço horizontal é uma função que associa a um conteúdo verdadeiro o valor verdadeiro, e a qualquer outro conteúdo o valor falso. Ou seja, o traço horizontal pode ser interpretado como o correlato de isto é verdadeiro. Nem a sua referência, nem o seu sentido são inócuos, uma vez que a colocação do mesmo diante de um objeto que não é um valor de verdade nos leva ao falso. A interpretação esboçada acima não é, obviamente, a única possível. Mas a interpretação mais radical, sugerida por Evnine e por Greimann (isto é, a de que a lógica teria, na visão de Frege, a força assertórica como objeto fundaum conteúdo. Mas, como sabemos, isto não é consensual, e é na verdade objeto de disputa na metaética. Algumas teorias morais (como o emotivismo de Ayer) consideram o predicado como uma mera expressão de nosso sentimento de aprovação de uma ação, mas este sentimento não é em si substituível por nenhuma expressão lingüística. Teríamos aqui algo análogo ao predicado verdadeiro de Frege.
16 42 Marco Ruffino mental) fica um pouco prejudicada primeiro pelo fato de este texto póstumo (que é a única evidência em favor desta tese) nunca ter sido publicado (e nem parecer ter sido produzido com tal intenção) e, segundo, pelo fato de Frege ter voltado em um texto posterior (que comentarei a seguir), este sim publicado, à idéia de que a lógica lida com as leis do verdadeiro, sem a qualificação aqui feita de que a força assertórica é o seu verdadeiro objeto de estudo. Ao longo de sua obra, Frege chegou a abandonar a idéia de que valores de verdade são objetos (ou, pelo menos, esta idéia não aparece mais, nem implícita nem explicitamente, em seus escritos posteriores à descoberta do paradoxo de Russell). No entanto, ele nunca abandonou a sua idéia de que verdade é um valor, e de que este valor mostra à lógica a sua finalidade última, da mesma forma que o bem o faz à ética e o belo à estética. A última comparação neste sentido ocorre em Der Gedanke, de 1919 (NS p. 342), seis anos antes de sua morte: Assim como a palavra belo indica a direção da estética, e a palavra bom a direção da ética, da mesma maneira a palavra verdadeiro indica a direção da lógica. De fato, todas as ciências têm a verdade como objetivo; mas a lógica se relaciona ainda de uma maneira muito especial com a mesma. [...] Descobrir verdades é tarefa de todas as ciência; à lógica cabe a descoberta das leis do ser verdadeiro. (KS 342) Aqui temos a retomada de alguns pontos feitos nas comparações anteriores, e parece que estamos diante de uma mera repetição daquilo que foi defendido ao longo de sua obra. No entanto, se confrontarmos esta passagem com uma tese que é defendida ao longo do texto de Frege, então um possível contraste entre a lógica e as demais disciplinas normativas poderá emergir. Alguns parágrafos depois da passagem citada, Frege apresenta pela primeira vez seu famoso argumento em favor da tese de que a noção de verdade não é definível. Isto é, qualquer tentativa de definição de verdade acaba, segundo ele, pressupondo esta mesma noção sendo, portanto, circular. Ou seja, o predicado verdadeiro que indica a direção da lógica na citação acima, é um predicado primitivo, que não pode ser analisado em termos de alguma noção mais fundamental. Isto pode indicar uma nova peculiaridade da lógica com relação à ética e à estética, dependendo da teoria moral ou teoria do belo particular com que estamos lidando. Pois para algumas teorias éticas, o predicado bom é de fato analisável, por exemplo, em termos de prazer e dor, ou em termos de felicidade. O mesmo vale para o predicado belo : diferentemente do verdadeiro, ele pode eventualmente ser analisável. Esta observação, no entanto, é
17 O verdadeiro, o bom e o belo em Frege 43 pouco conclusiva, uma vez que não temos uma indicação mais substancial de qual é a concepção metaética ou metaestética que Frege está adotando (embora muito provavelmente ele esteja se baseando no realismo ético aqui, uma vez que ele falou do bom como atribuindo uma propriedade a ações sem ter feito nenhuma qualificação). Podemos fazer uma última observação antes de concluir. Um exame mais detalhado da dimensão valorativa de verdade em Frege parece sugerir que ele está operando de fato com (pelo menos) duas noções de valor, e não apenas com uma (embora ele não faça uma distinção entre as duas). Em Über Sinn und Bedeutung (1892), encontramos uma das conotações da idéia do valor de pensamentos associados ao fato de serem verdadeiros ou falsos: O pensamento perde valor para nós quando reconhecemos que uma de suas partes não tem uma referência. Somos assim justificados ao não nos contentarmos com o sentido de uma sentença, mas também nos perguntarmos pela sua referência. Mas por que queremos que um nome próprio tenha não apenas um sentido, mas também uma referência? Por que não basta o pensamento? Porque, e na medida em que estamos preocupados com seu valor de verdade [...] É o esforço pela verdade, portanto, que nos leva do sentido para a referência. (KS, p. 149; grifo meu) A idéia aqui é que pensamentos têm um valor para nós na medida em que são verdadeiros ou falsos. Ou seja, possuir um valor parece estar subordinado à nossa atitude científica ou aos nossos interesses. Trata-se aqui de uma noção etnocêntrica de valor, o valor do pensamento para nós. No entanto, sabemos também que para Frege um pensamento é verdadeiro ou falso eternamente, independente de ser reconhecido como tal por quem quer que seja (e mesmo independentemente de ter sido apreendido ou pensado em algum momento). Ou seja, o pensamento tem, absolutamente, um valor de verdade independentemente da importância que ele venha a ter, ou da atitude que tenhamos frente ao mesmo. Assim, parece que temos de fato duas noções de valor diferentes em Frege no que diz respeito à verdade: uma noção que poderíamos talvez chamar de pragmática ou etnocêntrica, e outra noção que talvez poderíamos chamar de lógica, que nada tem a ver com nossas expectativas ou atitude, mas que é uma propriedade objetiva e eterna dos pensamentos. Em outras palavras: pensamentos têm um valor de verdade objetivo, independente de nossa atitude frente aos mesmos. Mas, além disso, podemos olhar para um pensamento tendo um ou outro tipo de expectativa (atitude científica, ou não-científica), e então o pensamento passa a ter um valor para nós que é, de certa maneira, independente daquele que ele tem objetivamente. Em
18 44 Marco Ruffino sua argumentação que acompanha a introdução de valores de verdade como referência de sentenças Frege parece jogar com estas duas noções de valor, e passa de uma para a outra como se fossem a mesma. Mas estas são noções claramente diferentes. Referências Bibliográficas Allwood, J., Andersson, L., Dahl, Ö.: Logic in Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press. Evnine, S.: Frege on Truth, Beauty and Goodness, em Ruffino, M. (ed.), Logic, Truth and Arithmetic. Essays on Gottlob Frege. Volume especial de Manuscrito, Campinas: CLE, pp Frege, G.: Grundgesetze der Arithmetik, Vol. I, Jena: Pohle. Frege, G.: Kleine Schriften (KS KS), 2a. Edição, editado por Angelelli, I., Hildesheim: Georg Olms Verlag. Frege, G.: Nachgelassene Schriften (NS NS), 2a. edição, editado por Hermes, H., Kambartel, F., Kaulbach, F., Hamburg: Felix Meiner Verlag. Gabriel, G.: Frege als Neukantianer, Kant-Studien 77, pp Gabriel, G.: Wahrheit, Wert und Wahrheitswert. Freges Anerkennungstheorie der Wahrheit em Greimann, D. (ed.), Das Wahre und das Falsche. Studien zu Freges Auffassung von Wahrheit, Hildesheim: Olms Verlag, pp Goldfarb, W.: Frege s Conception of Logic, em Floyd, J., e Shieh, S. (eds.), Future Past: Reflections on the History and Nature of Analytic Philosophy, New York: Oxford University Press, PP Greimann, D.: Freges Grundverständnis von Wahrheit, em Greimann, D. (ed.), Das Wahre und das Falsche. Studien zu Freges Auffassung von Wahrheit, Hildesheim: Olms Verlag, pp Kant, I.: Immanuel Kants Logik, ein Handbuch zu Vorlesungen (Logik), editado por Gottlob Benjamin Jäsche, Königsberg: Friedrich Nicolovius.
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura
 O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
A EPISTEMOLOGIA E SUA NATURALIZAÇÃO 1 RESUMO
 A EPISTEMOLOGIA E SUA NATURALIZAÇÃO 1 SILVA, Kariane Marques da 1 Trabalho de Pesquisa FIPE-UFSM Curso de Bacharelado Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil E-mail:
A EPISTEMOLOGIA E SUA NATURALIZAÇÃO 1 SILVA, Kariane Marques da 1 Trabalho de Pesquisa FIPE-UFSM Curso de Bacharelado Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil E-mail:
A CARACTERIZAÇÃO DA LÓGICA PELA FORÇA ASSERTÓRICA EM FREGE. RESPOSTA A MARCO RUFFINO
 CDD: 193 A CARACTERIZAÇÃO DA LÓGICA PELA FORÇA ASSERTÓRICA EM FREGE. RESPOSTA A MARCO RUFFINO Departamento de Filosofia Universidade Federal Fluminense Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, Bloco
CDD: 193 A CARACTERIZAÇÃO DA LÓGICA PELA FORÇA ASSERTÓRICA EM FREGE. RESPOSTA A MARCO RUFFINO Departamento de Filosofia Universidade Federal Fluminense Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, Bloco
OPERADORES MODAIS (NA INTERFACE LÓGICA E LINGUAGEM NATURAL)
 OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein
 Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein NOME DO AUTOR: Priscilla da Veiga BORGES; André da Silva PORTO. UNIDADE ACADÊMICA: Universidade Federal de
Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein NOME DO AUTOR: Priscilla da Veiga BORGES; André da Silva PORTO. UNIDADE ACADÊMICA: Universidade Federal de
LÓGICA I. André Pontes
 LÓGICA I André Pontes 1. Conceitos fundamentais O que é a Lógica? A LÓGICA ENQUANTO DISCIPLINA Estudo das leis de preservação da verdade. [Frege; O Pensamento] Estudo das formas válidas de argumentos.
LÓGICA I André Pontes 1. Conceitos fundamentais O que é a Lógica? A LÓGICA ENQUANTO DISCIPLINA Estudo das leis de preservação da verdade. [Frege; O Pensamento] Estudo das formas válidas de argumentos.
O papel do conceito de verdade no julgar: Kant e Frege
 O papel do conceito de verdade no julgar: Kant e Frege [The role of the concept of truth in judgment: Kant and Frege] Dirk Greimann * Universidade Federal Fluminense (Niterói, RJ, Brasil) I. De acordo
O papel do conceito de verdade no julgar: Kant e Frege [The role of the concept of truth in judgment: Kant and Frege] Dirk Greimann * Universidade Federal Fluminense (Niterói, RJ, Brasil) I. De acordo
COPYRIGHT TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - SABER E FÉ
 Aviso importante! Esta matéria é uma propriedade intelectual de uso exclusivo e particular do aluno da Saber e Fé, sendo proibida a reprodução total ou parcial deste conteúdo, exceto em breves citações
Aviso importante! Esta matéria é uma propriedade intelectual de uso exclusivo e particular do aluno da Saber e Fé, sendo proibida a reprodução total ou parcial deste conteúdo, exceto em breves citações
A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações
 A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações Marcio Tadeu Girotti * RESUMO Nosso objetivo consiste em apresentar a interpretação de Michelle
A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações Marcio Tadeu Girotti * RESUMO Nosso objetivo consiste em apresentar a interpretação de Michelle
SENTIDOS E PROPRIEDADES 1. Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2
 Abstracta 1:1 pp. 40 51, 2004 SENTIDOS E PROPRIEDADES 1 Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2 Abstract: This article proposes an interpretation of the sense/reference distinction, especially regarding predicates.
Abstracta 1:1 pp. 40 51, 2004 SENTIDOS E PROPRIEDADES 1 Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2 Abstract: This article proposes an interpretation of the sense/reference distinction, especially regarding predicates.
Completude diz-se em Vários Sentidos
 Completeness can be said in Several Meanings Edelcio Gonçalves de Souza Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) edelcio@pucsp.br Resumo: A partir de um raciocínio equivocado acerca do significado
Completeness can be said in Several Meanings Edelcio Gonçalves de Souza Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) edelcio@pucsp.br Resumo: A partir de um raciocínio equivocado acerca do significado
fragmentos dos diálogos categorias e obras da exortativas interpretação aristóteles introdução, tradução e notas ricardo santos tradução ( universidad
 fragmentos dos diálogos categorias e obras da exortativas interpretação aristóteles introdução, tradução e notas ricardo santos tradução ( universidade e textos introdutórios de lisboa) antónio de castro
fragmentos dos diálogos categorias e obras da exortativas interpretação aristóteles introdução, tradução e notas ricardo santos tradução ( universidade e textos introdutórios de lisboa) antónio de castro
Negação em Logical Forms.
 Negação em Logical Forms 125 Oswaldo Chateaubriand 1 Negação em Logical Forms Negação em Logical Forms. Oswaldo Chateaubriand Resumo Neste artigo enumero e discuto brevemente algumas teses centrais de
Negação em Logical Forms 125 Oswaldo Chateaubriand 1 Negação em Logical Forms Negação em Logical Forms. Oswaldo Chateaubriand Resumo Neste artigo enumero e discuto brevemente algumas teses centrais de
Immanuel Kant Traduzido por Fabian Scholze Domingues e Gerson Roberto Neumann
 Do sentido interno Immanuel Kant Traduzido por Fabian Scholze Domingues e Gerson Roberto Neumann 1 Breve introdução ao Fragmento de Leningrado, de Immanuel Kant (Por Fabian Scholze Domingues) A presente
Do sentido interno Immanuel Kant Traduzido por Fabian Scholze Domingues e Gerson Roberto Neumann 1 Breve introdução ao Fragmento de Leningrado, de Immanuel Kant (Por Fabian Scholze Domingues) A presente
As tendências contemporâneas no ensino de Matemática e na pesquisa em Educação Matemática: questões para o debate i
 As tendências contemporâneas no ensino de Matemática e na pesquisa em Educação Matemática: questões para o debate i José Dilson Beserra Cavalcanti ii INTRODUÇÃO A finalidade do presente trabalho é apresentar
As tendências contemporâneas no ensino de Matemática e na pesquisa em Educação Matemática: questões para o debate i José Dilson Beserra Cavalcanti ii INTRODUÇÃO A finalidade do presente trabalho é apresentar
A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA
 MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen
 1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
INTRODUÇÃO A LÓGICA. Prof. André Aparecido da Silva Disponível em:
 INTRODUÇÃO A LÓGICA Prof. André Aparecido da Silva Disponível em: http://www.oxnar.com.br/aulas 1 CIENCIA E LÓGICA RACIOCINIO LÓGICO NOTAÇÃO POSICIONAL PRINCIPIOS DA LÓGICA CONECTIVOS LÓGICOS REGRAS DE
INTRODUÇÃO A LÓGICA Prof. André Aparecido da Silva Disponível em: http://www.oxnar.com.br/aulas 1 CIENCIA E LÓGICA RACIOCINIO LÓGICO NOTAÇÃO POSICIONAL PRINCIPIOS DA LÓGICA CONECTIVOS LÓGICOS REGRAS DE
Lógica Proposicional Parte 2
 Lógica Proposicional Parte 2 Como vimos na aula passada, podemos usar os operadores lógicos para combinar afirmações criando, assim, novas afirmações. Com o que vimos, já podemos combinar afirmações conhecidas
Lógica Proposicional Parte 2 Como vimos na aula passada, podemos usar os operadores lógicos para combinar afirmações criando, assim, novas afirmações. Com o que vimos, já podemos combinar afirmações conhecidas
A construção do objeto nas Ciências Sociais: formulando problemas e hipóteses de pesquisa. - Ruptura e construção => inerentes à produção científica;
 A construção do objeto nas Ciências Sociais: formulando problemas e hipóteses de pesquisa Como transformar um interesse vago e confuso por um tópico de pesquisa em operações científicas práticas? 1. Construção
A construção do objeto nas Ciências Sociais: formulando problemas e hipóteses de pesquisa Como transformar um interesse vago e confuso por um tópico de pesquisa em operações científicas práticas? 1. Construção
BuscaLegis.ccj.ufsc.br
 BuscaLegis.ccj.ufsc.br Hermenêutica jurídica Maria Luiza Quaresma Tonelli* Hermenêutica é um vocábulo derivado do grego hermeneuein, comumente tida como filosofia da interpretação. Muitos autores associam
BuscaLegis.ccj.ufsc.br Hermenêutica jurídica Maria Luiza Quaresma Tonelli* Hermenêutica é um vocábulo derivado do grego hermeneuein, comumente tida como filosofia da interpretação. Muitos autores associam
TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant ( )
 TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant (1724-1804) Obras de destaque da Filosofia Kantiana Epistemologia - Crítica da Razão Pura (1781) Prolegômenos e a toda a Metafísica Futura (1783) Ética - Crítica da
TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant (1724-1804) Obras de destaque da Filosofia Kantiana Epistemologia - Crítica da Razão Pura (1781) Prolegômenos e a toda a Metafísica Futura (1783) Ética - Crítica da
5 Conclusão. ontologicamente distinto.
 5 Conclusão Considerando a força dos três argumentos anti-materialistas defendidos por Chalmers e a possibilidade de doutrinas alternativas não materialistas, devemos definitivamente abandonar o materialismo?
5 Conclusão Considerando a força dos três argumentos anti-materialistas defendidos por Chalmers e a possibilidade de doutrinas alternativas não materialistas, devemos definitivamente abandonar o materialismo?
FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS
 FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO - 36 Esperava-se que o estudante estabelecesse a distinção entre verdade e validade e descrevesse suas respectivas aplicações. Item
FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO - 36 Esperava-se que o estudante estabelecesse a distinção entre verdade e validade e descrevesse suas respectivas aplicações. Item
1. Quanto às afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA : I O direito é autônomo, enquanto a moral é heterônoma.
 P á g i n a 1 PROVA DAS DISCIPLINAS CORRELATAS TEORIA GERAL DO DIREITO 1. Quanto às afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA : I O direito é autônomo, enquanto a moral é heterônoma. II O valor jurídico
P á g i n a 1 PROVA DAS DISCIPLINAS CORRELATAS TEORIA GERAL DO DIREITO 1. Quanto às afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA : I O direito é autônomo, enquanto a moral é heterônoma. II O valor jurídico
Construindo uma tese científica: pesquisa e argumentação
 1 1. Artigo Tema: Ensino de argumentação filosófica Construindo uma tese científica: pesquisa e argumentação Gabriel Goldmeier Conhecimento: crença verdadeira corretamente justificada A Teoria do Conhecimento
1 1. Artigo Tema: Ensino de argumentação filosófica Construindo uma tese científica: pesquisa e argumentação Gabriel Goldmeier Conhecimento: crença verdadeira corretamente justificada A Teoria do Conhecimento
INDUÇÃO ULTRAFORTE: EPISTEMOLOGIA DO SUBJETIVO
 INDUÇÃO ULTRAFORTE: EPISTEMOLOGIA DO SUBJETIVO Felipe Sobreira Abrahão Doutorando, HCTE UFRJ E-mail: felipesabrahao@gmail.com 1. INTRODUÇÃO A problemática do raciocínio indutivo é abordada pelos pensadores
INDUÇÃO ULTRAFORTE: EPISTEMOLOGIA DO SUBJETIVO Felipe Sobreira Abrahão Doutorando, HCTE UFRJ E-mail: felipesabrahao@gmail.com 1. INTRODUÇÃO A problemática do raciocínio indutivo é abordada pelos pensadores
TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO. Professor Marlos Pires Gonçalves
 TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 1 DISSERTAR é um ato que desenvolvemos todos os dias, quando: procuramos justificativas: para a elevação dos preços; para o aumento da violência; para os descasos com a
TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 1 DISSERTAR é um ato que desenvolvemos todos os dias, quando: procuramos justificativas: para a elevação dos preços; para o aumento da violência; para os descasos com a
Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis
 77 Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis Renato Mendes Rocha 1 mendesrocha@gmail.com Resumo: O discurso a respeito dos Mundos Possíveis pode ser uma ferramenta bastante
77 Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis Renato Mendes Rocha 1 mendesrocha@gmail.com Resumo: O discurso a respeito dos Mundos Possíveis pode ser uma ferramenta bastante
Introdução à Lógica Proposicional Sintaxe
 Bacharelado em Ciência e Tecnologia BC&T Introdução à Lógica Proposicional Sintaxe PASSOS PARA O ESTUDO DE LÓGICA Prof a Maria das Graças Marietto graca.marietto@ufabc.edu.br 2 ESTUDO DE LÓGICA O estudo
Bacharelado em Ciência e Tecnologia BC&T Introdução à Lógica Proposicional Sintaxe PASSOS PARA O ESTUDO DE LÓGICA Prof a Maria das Graças Marietto graca.marietto@ufabc.edu.br 2 ESTUDO DE LÓGICA O estudo
Expandindo o Vocabulário. Tópicos Adicionais. Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto. 12 de junho de 2019
 Material Teórico - Módulo de INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA Expandindo o Vocabulário Tópicos Adicionais Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto 12 de junho de 2019
Material Teórico - Módulo de INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA Expandindo o Vocabulário Tópicos Adicionais Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto 12 de junho de 2019
Departamento de Geografia. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo. Iniciação à Pesquisa em Geografia I
 Departamento de Geografia Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Universidade de São Paulo Iniciação à Pesquisa em Geografia I Método e Hipótese Prof. Dr. Fernando Nadal Junqueira Villela Método
Departamento de Geografia Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Universidade de São Paulo Iniciação à Pesquisa em Geografia I Método e Hipótese Prof. Dr. Fernando Nadal Junqueira Villela Método
Pressuposição Antecedentes históricos
 A suposta natureza pressuposicional dos performativos Pressuposição Antecedentes históricos Luiz Arthur Pagani 1 1 Frege sentido sem referência (acomodação) [1, p. 137]: A sentença Ulisses profundamente
A suposta natureza pressuposicional dos performativos Pressuposição Antecedentes históricos Luiz Arthur Pagani 1 1 Frege sentido sem referência (acomodação) [1, p. 137]: A sentença Ulisses profundamente
SOBRE OS CONCEITOS DE REGRA E CRENÇA PRESENTES NOS ESCRITOS TARDIOS DE WITTGENSTEIN 1. INTRODUÇÃO
 SOBRE OS CONCEITOS DE REGRA E CRENÇA PRESENTES NOS ESCRITOS TARDIOS DE WITTGENSTEIN MATHEUS DE LIMA RUI 1 ; EDUARDO FERREIRA DAS NEVES FILHO 2 1 Universidade Federal de Pelotas / Filosofia MATHEUS.LRUI@GMAIL.COM
SOBRE OS CONCEITOS DE REGRA E CRENÇA PRESENTES NOS ESCRITOS TARDIOS DE WITTGENSTEIN MATHEUS DE LIMA RUI 1 ; EDUARDO FERREIRA DAS NEVES FILHO 2 1 Universidade Federal de Pelotas / Filosofia MATHEUS.LRUI@GMAIL.COM
Lógica e Computação. Uma Perspectiva Histórica
 Lógica e Computação Uma Perspectiva Histórica Alfio Martini Facin - PUCRS A Lógica na Cultura Helênica A Lógica foi considerada na cultura clássica e medieval como um instrumento indispensável ao pensamento
Lógica e Computação Uma Perspectiva Histórica Alfio Martini Facin - PUCRS A Lógica na Cultura Helênica A Lógica foi considerada na cultura clássica e medieval como um instrumento indispensável ao pensamento
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
 EMENTAS DO CURSO DE FILOSOFIA Currículo Novo (a partir de 2010/1) NÍVEL I HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA Reflexão acerca da transição do pensamento mítico ao filosófico. Estudo de problemas, conceitos e
EMENTAS DO CURSO DE FILOSOFIA Currículo Novo (a partir de 2010/1) NÍVEL I HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA Reflexão acerca da transição do pensamento mítico ao filosófico. Estudo de problemas, conceitos e
Revista Filosofia Capital ISSN Vol. 1, Edição 1, Ano SOBRE A ARTE. Graça Castell
 72 SOBRE A ARTE Graça Castell graca.castell@bol.com.br Brasília-DF 2006 73 SOBRE A ARTE Resumo Graça Castell 1 graca.castell@bol.com.br Este é um pequeno comentário a respeito da Arte, seu significado,
72 SOBRE A ARTE Graça Castell graca.castell@bol.com.br Brasília-DF 2006 73 SOBRE A ARTE Resumo Graça Castell 1 graca.castell@bol.com.br Este é um pequeno comentário a respeito da Arte, seu significado,
Lógica. Abílio Rodrigues. FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho.
 Lógica Abílio Rodrigues FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho São Paulo 2011 09 Lógica 01-08.indd 3 4/29/11 2:15 PM 1. Verdade, validade e forma lógica
Lógica Abílio Rodrigues FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho São Paulo 2011 09 Lógica 01-08.indd 3 4/29/11 2:15 PM 1. Verdade, validade e forma lógica
ÉTICA AULA 3 PROF. IGOR ASSAF MENDES
 ÉTICA AULA 3 PROF. IGOR ASSAF MENDES LUDWIG WITTGENSTEIN Texto 2 LUDWIG WITTGENSTEIN 1889-1951 Estudou o significado conceitos filosóficos através da análise lógica da natureza das proposições da linguagem.
ÉTICA AULA 3 PROF. IGOR ASSAF MENDES LUDWIG WITTGENSTEIN Texto 2 LUDWIG WITTGENSTEIN 1889-1951 Estudou o significado conceitos filosóficos através da análise lógica da natureza das proposições da linguagem.
A Crítica de Frege a Kant e o Problema da Generalidade da Lógica
 54 A Crítica de Frege a Kant e o Problema da Generalidade da Lógica Marco Ruffino Universidade Federal do Rio de Janeiro ruffino@gmx.net Abstract: In this paper I discuss Frege's and Kant's conception
54 A Crítica de Frege a Kant e o Problema da Generalidade da Lógica Marco Ruffino Universidade Federal do Rio de Janeiro ruffino@gmx.net Abstract: In this paper I discuss Frege's and Kant's conception
Escola Secundária 2-3 de Clara de Resende COD COD
 CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO (Aprovados em Conselho Pedagógico de 27 de outubro de 2015) No caso específico da disciplina de FILOSOFIA, do 10º ano de escolaridade, a avaliação incidirá ao nível do
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO (Aprovados em Conselho Pedagógico de 27 de outubro de 2015) No caso específico da disciplina de FILOSOFIA, do 10º ano de escolaridade, a avaliação incidirá ao nível do
O Positivismo de Augusto Comte. Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior
 O Positivismo de Augusto Comte Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior Augusto Comte (1798-1857). Um dos pais fundadores da Sociologia. Obras principais: Curso de Filosofia Positiva. 6 volumes. (1830-1842).
O Positivismo de Augusto Comte Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior Augusto Comte (1798-1857). Um dos pais fundadores da Sociologia. Obras principais: Curso de Filosofia Positiva. 6 volumes. (1830-1842).
I. Iniciação à atividade filosófica Abordagem introdutória à Filosofia e ao filosofar... 13
 Índice 1. Competências essenciais do aluno... 4 2. Como estudar filosofia... 5 3. Como ler, analisar e explicar um texto filosófico... 7 4. Como preparar-se para um teste... 10 5. Como desenvolver um trabalho
Índice 1. Competências essenciais do aluno... 4 2. Como estudar filosofia... 5 3. Como ler, analisar e explicar um texto filosófico... 7 4. Como preparar-se para um teste... 10 5. Como desenvolver um trabalho
Probabilidade combinatória
 Capítulo 5 Probabilidade combinatória 51 Eventos e probabilidades A teoria da probabilidade é uma das áreas mais importantes da matemática do ponto de vista de aplicações Neste livro, não tentamos introduzir
Capítulo 5 Probabilidade combinatória 51 Eventos e probabilidades A teoria da probabilidade é uma das áreas mais importantes da matemática do ponto de vista de aplicações Neste livro, não tentamos introduzir
Capítulo O objeto deste livro
 Capítulo 1 Introdução 1.1 O objeto deste livro Podemos dizer que a Geometria, como ciência abstrata, surgiu na Antiguidade a partir das intuições acerca do espaço, principalmente do estudo da Astronomia.
Capítulo 1 Introdução 1.1 O objeto deste livro Podemos dizer que a Geometria, como ciência abstrata, surgiu na Antiguidade a partir das intuições acerca do espaço, principalmente do estudo da Astronomia.
Matemática Computacional. Introdução
 Matemática Computacional Introdução 1 Definição A Lógica tem, por objeto de estudo, as leis gerais do pensamento, e as formas de aplicar essas leis corretamente na investigação da verdade. 2 Origem Aristóteles
Matemática Computacional Introdução 1 Definição A Lógica tem, por objeto de estudo, as leis gerais do pensamento, e as formas de aplicar essas leis corretamente na investigação da verdade. 2 Origem Aristóteles
A Linguagem dos Teoremas - Parte II. Tópicos Adicionais. Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto
 Material Teórico - Módulo de INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA A Linguagem dos Teoremas - Parte II Tópicos Adicionais Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto 12 de maio
Material Teórico - Módulo de INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA A Linguagem dos Teoremas - Parte II Tópicos Adicionais Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto 12 de maio
I g o r H e r o s o M a t h e u s P i c u s s a
 Filosofia da Ciência Realidade Axioma Empirismo Realismo cientifico Instrumentalismo I g o r H e r o s o M a t h e u s P i c u s s a Definição Filosofia da ciência é a área que estuda os fundamentos e
Filosofia da Ciência Realidade Axioma Empirismo Realismo cientifico Instrumentalismo I g o r H e r o s o M a t h e u s P i c u s s a Definição Filosofia da ciência é a área que estuda os fundamentos e
O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura
 O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura Jean Carlos Demboski * A questão moral em Immanuel Kant é referência para compreender as mudanças ocorridas
O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura Jean Carlos Demboski * A questão moral em Immanuel Kant é referência para compreender as mudanças ocorridas
Raciocínio Lógico Matemático
 Raciocínio Lógico Matemático Cap. 4 - Implicação Lógica Implicação Lógica Antes de iniciar a leitura deste capítulo, verifique se de fato os capítulos anteriores ficaram claros e retome os tópicos abordados
Raciocínio Lógico Matemático Cap. 4 - Implicação Lógica Implicação Lógica Antes de iniciar a leitura deste capítulo, verifique se de fato os capítulos anteriores ficaram claros e retome os tópicos abordados
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER
 RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
SERGIO LEVI FERNANDES DE SOUZA. Principais mudanças da revolução copernicana e as antinomias da razão pura.
 SERGIO LEVI FERNANDES DE SOUZA Principais mudanças da revolução copernicana e as antinomias da razão pura. Santo André 2014 INTRODUÇÃO Nunca um sistema de pensamento dominou tanto uma época como a filosofia
SERGIO LEVI FERNANDES DE SOUZA Principais mudanças da revolução copernicana e as antinomias da razão pura. Santo André 2014 INTRODUÇÃO Nunca um sistema de pensamento dominou tanto uma época como a filosofia
e a intencionalidade da consciência na Fenomenologia
 Consciência transcendental e a intencionalidade da consciência na Fenomenologia do Direito André R. C. Fontes* A noção de consciência na Filosofia emerge nas obras contemporâneas e sofre limites internos
Consciência transcendental e a intencionalidade da consciência na Fenomenologia do Direito André R. C. Fontes* A noção de consciência na Filosofia emerge nas obras contemporâneas e sofre limites internos
Teoria do conhecimento de David Hume
 Hume e o empirismo radical Premissas gerais empiristas de David Hume ( que partilha com os outros empiristas ) Convicções pessoais de David Hume: Negação das ideias inatas A mente é uma tábua rasa/folha
Hume e o empirismo radical Premissas gerais empiristas de David Hume ( que partilha com os outros empiristas ) Convicções pessoais de David Hume: Negação das ideias inatas A mente é uma tábua rasa/folha
A LÓGICA EPISTÊMICA DE HINTIKKA E A DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE CONHECIMENTO. Resumo
 A LÓGICA EPISTÊMICA DE HINTIKKA E A DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE CONHECIMENTO Autor: Stanley Kreiter Bezerra Medeiros Departamento de Filosofia UFRN Resumo Em 1962, Jaako Hintikka publicou Knowledge and Belief:
A LÓGICA EPISTÊMICA DE HINTIKKA E A DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE CONHECIMENTO Autor: Stanley Kreiter Bezerra Medeiros Departamento de Filosofia UFRN Resumo Em 1962, Jaako Hintikka publicou Knowledge and Belief:
Estudaremos o papel da razão e do conhecimento na filosofia de Immanuel Kant; Hegel e o idealismo alemão.
 Estudaremos o papel da razão e do conhecimento na filosofia de Immanuel Kant; Hegel e o idealismo alemão. Kant e a crítica da razão Nós s e as coisas Se todo ser humano nascesse com a mesma visão que você
Estudaremos o papel da razão e do conhecimento na filosofia de Immanuel Kant; Hegel e o idealismo alemão. Kant e a crítica da razão Nós s e as coisas Se todo ser humano nascesse com a mesma visão que você
Pensamento e Linguagem: observações a partir de Donald Davidson. No nosso dia a dia nos comunicamos uns com os outros com sucesso na
 Pensamento e Linguagem: observações a partir de Donald Davidson Marcelo Fischborn 1 No nosso dia a dia nos comunicamos uns com os outros com sucesso na maior parte das vezes. Pergunto a alguém que horas
Pensamento e Linguagem: observações a partir de Donald Davidson Marcelo Fischborn 1 No nosso dia a dia nos comunicamos uns com os outros com sucesso na maior parte das vezes. Pergunto a alguém que horas
8 A L B E R T E I N S T E I N
 7 PREFÁCIO Este livro pretende dar uma idéia, a mais exata possível, da Teoria da Relatividade àqueles que, de um ponto de vista geral científico e filosófico, se interessam pela teoria mas não dominam
7 PREFÁCIO Este livro pretende dar uma idéia, a mais exata possível, da Teoria da Relatividade àqueles que, de um ponto de vista geral científico e filosófico, se interessam pela teoria mas não dominam
Teoria do Conhecimento:
 Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02
 PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02 2 A EPISTEMOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO Ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. Como podemos conhecer
PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02 2 A EPISTEMOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO Ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. Como podemos conhecer
Volume 2 Fascículo 2 Filosofia Unidade 3
 Atividade extra Volume 2 Fascículo 2 Filosofia Unidade 3 Questão 1 A ideia de que, pela Ciência e pela técnica, o homem se converterá em senhor e possuidor da natureza está presente no pensamento do filósofo
Atividade extra Volume 2 Fascículo 2 Filosofia Unidade 3 Questão 1 A ideia de que, pela Ciência e pela técnica, o homem se converterá em senhor e possuidor da natureza está presente no pensamento do filósofo
constituímos o mundo, mais especificamente, é a relação de referência, entendida como remissão das palavras às coisas que estabelece uma íntima
 1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões
 Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões Questão nº 1 - Resposta B Justificativa: O amante do mito é de certo modo também um filósofo, uma vez que o mito se compõe de maravilhas
Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões Questão nº 1 - Resposta B Justificativa: O amante do mito é de certo modo também um filósofo, uma vez que o mito se compõe de maravilhas
BuscaLegis.ccj.ufsc.br
 BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
DEUS: CONCEITO NÃO-DISTRIBUTIVO DE SEGUNDA ORDEM?
 DEUS: CONCEITO NÃO-DISTRIBUTIVO DE SEGUNDA ORDEM? Edgar Marques UERJ/CNPq Abstract: In this paper I argue against Guido Imaguire s attempt of solving the christian mistery of the trinity by considering
DEUS: CONCEITO NÃO-DISTRIBUTIVO DE SEGUNDA ORDEM? Edgar Marques UERJ/CNPq Abstract: In this paper I argue against Guido Imaguire s attempt of solving the christian mistery of the trinity by considering
Lógica e Raciocínio. Introdução. Universidade da Madeira.
 Lógica e Raciocínio Universidade da Madeira http://dme.uma.pt/edu/ler/ Introdução 1 Lógica... é a ciência que estuda os princípios e aproximações para estabelecer a validez da inferência e demonstração:
Lógica e Raciocínio Universidade da Madeira http://dme.uma.pt/edu/ler/ Introdução 1 Lógica... é a ciência que estuda os princípios e aproximações para estabelecer a validez da inferência e demonstração:
Introdução aos Métodos de Prova
 Introdução aos Métodos de Prova Renata de Freitas e Petrucio Viana IME-UFF, Niterói/RJ II Colóquio de Matemática da Região Sul UEL, Londrina/PR 24 a 28 de abril 2012 Bem vindos ao Minicurso de Métodos
Introdução aos Métodos de Prova Renata de Freitas e Petrucio Viana IME-UFF, Niterói/RJ II Colóquio de Matemática da Região Sul UEL, Londrina/PR 24 a 28 de abril 2012 Bem vindos ao Minicurso de Métodos
Unidade II ADMINISTRAÇÃO. Prof. José Junior
 Unidade II ADMINISTRAÇÃO INTERDISCIPLINAR Prof. José Junior Decisão multicritério Quando alguém toma uma decisão com base em um único critério, por exemplo, preço, a decisão é fácil de tomar. Quando os
Unidade II ADMINISTRAÇÃO INTERDISCIPLINAR Prof. José Junior Decisão multicritério Quando alguém toma uma decisão com base em um único critério, por exemplo, preço, a decisão é fácil de tomar. Quando os
Exemplos de frases e expressões que não são proposições:
 Matemática Discreta ESTiG\IPB Lógica: Argumentos pg 1 Lógica: ramo da Filosofia que nos permite distinguir bons de maus argumentos, com o objectivo de produzirmos conclusões verdadeiras a partir de crenças
Matemática Discreta ESTiG\IPB Lógica: Argumentos pg 1 Lógica: ramo da Filosofia que nos permite distinguir bons de maus argumentos, com o objectivo de produzirmos conclusões verdadeiras a partir de crenças
INTRODUÇÃO 12.º ANO ENSINO SECUNDÁRIO FILOSOFIA A APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS
 APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS 12.º ANO ENSINO SECUNDÁRIO FILOSOFIA A INTRODUÇÃO A disciplina de Filosofia A, que se constitui como uma opção da formação específica dos cursos
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS 12.º ANO ENSINO SECUNDÁRIO FILOSOFIA A INTRODUÇÃO A disciplina de Filosofia A, que se constitui como uma opção da formação específica dos cursos
Lógica Matemática. Definição. Origem. Introdução
 Lógica Matemática Introdução 1 Definição A Lógica tem, por objeto de estudo, as leis gerais do pensamento, e as formas de aplicar essas leis corretamente na investigação da verdade. 2 Origem Aristóteles
Lógica Matemática Introdução 1 Definição A Lógica tem, por objeto de estudo, as leis gerais do pensamento, e as formas de aplicar essas leis corretamente na investigação da verdade. 2 Origem Aristóteles
Prova Escrita de Filosofia VERSÃO º Ano de Escolaridade. Prova 714/1.ª Fase. Entrelinha 1,5, sem figuras nem imagens, texto alinhado à esquerda
 EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho Prova Escrita de Filosofia 11.º Ano de Escolaridade Prova 714/1.ª Fase 14 Páginas Entrelinha 1,5, sem figuras nem imagens, texto
EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho Prova Escrita de Filosofia 11.º Ano de Escolaridade Prova 714/1.ª Fase 14 Páginas Entrelinha 1,5, sem figuras nem imagens, texto
O modo de organização do discurso argumentativo
 O modo de organização do discurso argumentativo Texto dissertativo e texto argumentativo Dissertativo discurso explicativo. O objetivo é explicar. Argumentativo visa persuadir ou convencer um auditório
O modo de organização do discurso argumentativo Texto dissertativo e texto argumentativo Dissertativo discurso explicativo. O objetivo é explicar. Argumentativo visa persuadir ou convencer um auditório
Linguagem, Teoria do Discurso e Regras
 Linguagem, Teoria do Discurso e Regras FMP FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FACULDADE DE DIREITO LINGUAGEM, TEORIA DO DISCURSO E REGRAS DA ARGUMENTAÇÃO PRÁTICA OS JOGOS DE LINGUAGEM (SPRACHSPIELEN)
Linguagem, Teoria do Discurso e Regras FMP FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FACULDADE DE DIREITO LINGUAGEM, TEORIA DO DISCURSO E REGRAS DA ARGUMENTAÇÃO PRÁTICA OS JOGOS DE LINGUAGEM (SPRACHSPIELEN)
Introdução. Eduardo Ramos Coimbra de Souza
 Introdução Eduardo Ramos Coimbra de Souza SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros SOUZA, ERC. Introdução. In: Schopenhauer e os conhecimentos intuitivo e abstrato: uma teoria sobre as representações
Introdução Eduardo Ramos Coimbra de Souza SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros SOUZA, ERC. Introdução. In: Schopenhauer e os conhecimentos intuitivo e abstrato: uma teoria sobre as representações
Filosofia 10º Ano Ano letivo de 2015/2016 PLANIFICAÇÃO
 I Iniciação à Atividade Filosófica 1. Abordagem introdutória à filosofia e ao filosofar PERCURSOS 10.º ANO Competências a desenvolver/objectivos a concretizar Recursos Estratégias Gestão 1.1. O que é a
I Iniciação à Atividade Filosófica 1. Abordagem introdutória à filosofia e ao filosofar PERCURSOS 10.º ANO Competências a desenvolver/objectivos a concretizar Recursos Estratégias Gestão 1.1. O que é a
Método e Metodologia Conceitos de método e seus princípios
 Conceitos de método e seus princípios Caminho pelo qual se chega a determinado resultado... É fator de segurança. Seleção de técnicas para uma ação científica... Forma de proceder ao longo de um caminho
Conceitos de método e seus princípios Caminho pelo qual se chega a determinado resultado... É fator de segurança. Seleção de técnicas para uma ação científica... Forma de proceder ao longo de um caminho
Neste artigo, a título de sugestão de abordagem do tema, apresentamos exemplos de explicitação e utilização de algumas dessas regras.
 Somo Gilda de La Roque Palis e Iaci Malta PUC - RJ Em sua autobiografia, Carl Gustav Jung 1, um dos grandes pensadores da Psicanálise, lembrando de seus tempos de colégio, diz:... o que mais me irritava
Somo Gilda de La Roque Palis e Iaci Malta PUC - RJ Em sua autobiografia, Carl Gustav Jung 1, um dos grandes pensadores da Psicanálise, lembrando de seus tempos de colégio, diz:... o que mais me irritava
A Estética é uma especialidade filosófica que visa investigar a essência da beleza e as bases da arte. Ela procura compreender as emoções, idéias e
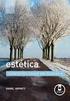 A Estética A Estética é uma especialidade filosófica que visa investigar a essência da beleza e as bases da arte. Ela procura compreender as emoções, idéias e juízos que são despertados ao observar uma
A Estética A Estética é uma especialidade filosófica que visa investigar a essência da beleza e as bases da arte. Ela procura compreender as emoções, idéias e juízos que são despertados ao observar uma
Introdução ao pensamento de Marx 1
 Introdução ao pensamento de Marx 1 I. Nenhum pensador teve mais influência que Marx, e nenhum foi tão mal compreendido. Ele é um filósofo desconhecido. Muitos motivos fizeram com que seu pensamento filosófico
Introdução ao pensamento de Marx 1 I. Nenhum pensador teve mais influência que Marx, e nenhum foi tão mal compreendido. Ele é um filósofo desconhecido. Muitos motivos fizeram com que seu pensamento filosófico
KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA. Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense
 KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense marcos_giusti@uol.com.br Resumo: A crítica kantiana à metafísica, diferentemente do que exprimem
KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense marcos_giusti@uol.com.br Resumo: A crítica kantiana à metafísica, diferentemente do que exprimem
Kant e o Princípio Supremo da Moralidade
 Kant e o Princípio Supremo da Moralidade ÉTICA II - 2017 16.03.2018 Hélio Lima LEITE, Flamarion T. 10 Lições sobre Kant. Petrópolis: Vozes, 2013 O Sistema kantiano Estética Transcendental Experiência Lógica
Kant e o Princípio Supremo da Moralidade ÉTICA II - 2017 16.03.2018 Hélio Lima LEITE, Flamarion T. 10 Lições sobre Kant. Petrópolis: Vozes, 2013 O Sistema kantiano Estética Transcendental Experiência Lógica
DUTRA, Luiz Henrique de A. Epistemologia da Aprendizagem. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2000, 136pp. (Coleção o que você precisa aprender sobre...
 Resenhas 323 DUTRA, Luiz Henrique de A. Epistemologia da Aprendizagem. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2000, 136pp. (Coleção o que você precisa aprender sobre... ) Como reconhece o próprio autor, o livro
Resenhas 323 DUTRA, Luiz Henrique de A. Epistemologia da Aprendizagem. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2000, 136pp. (Coleção o que você precisa aprender sobre... ) Como reconhece o próprio autor, o livro
2 A Concepção Moral de Kant e o Conceito de Boa Vontade
 O PRINCÍPIO MORAL NA ÉTICA KANTIANA: UMA INTRODUÇÃO Jaqueline Peglow Flavia Carvalho Chagas Universidade Federal de Pelotas 1 Introdução O presente trabalho tem como propósito analisar a proposta de Immanuel
O PRINCÍPIO MORAL NA ÉTICA KANTIANA: UMA INTRODUÇÃO Jaqueline Peglow Flavia Carvalho Chagas Universidade Federal de Pelotas 1 Introdução O presente trabalho tem como propósito analisar a proposta de Immanuel
Plano de Atividades Pós-Doutorado
 Plano de Atividades Pós-Doutorado O presente projeto de pesquisa tem a proposta de três bolsas de pósdoutorados, para candidatos selecionados com base em uma chamada internacional, de modo a desenvolverem
Plano de Atividades Pós-Doutorado O presente projeto de pesquisa tem a proposta de três bolsas de pósdoutorados, para candidatos selecionados com base em uma chamada internacional, de modo a desenvolverem
CONCEITOS DE ALGORITMOS
 CONCEITOS DE ALGORITMOS Fundamentos da Programação de Computadores - 3ª Ed. 2012 Editora Prentice Hall ISBN 9788564574168 Ana Fernanda Gomes Ascênsio Edilene Aparecida Veneruchi de Campos Algoritmos são
CONCEITOS DE ALGORITMOS Fundamentos da Programação de Computadores - 3ª Ed. 2012 Editora Prentice Hall ISBN 9788564574168 Ana Fernanda Gomes Ascênsio Edilene Aparecida Veneruchi de Campos Algoritmos são
Os Teoremas da Incompletude de Gödel Uma Introdução Informal
 Os Teoremas da Incompletude de Gödel Uma Introdução Informal Daniel Durante Pereira Alves Os Teoremas de Gödel Qualquer formalização da aritmética de primeira ordem (de Peano - AP) através de qualquer
Os Teoremas da Incompletude de Gödel Uma Introdução Informal Daniel Durante Pereira Alves Os Teoremas de Gödel Qualquer formalização da aritmética de primeira ordem (de Peano - AP) através de qualquer
LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA
 AULA 9 PG 1 Este material é parte integrante da disciplina Linguagem e Argumentação Jurídica oferecido pela UNINOVE. O acesso às atividades, as leituras interativas, os exercícios, chats, fóruns de discussão
AULA 9 PG 1 Este material é parte integrante da disciplina Linguagem e Argumentação Jurídica oferecido pela UNINOVE. O acesso às atividades, as leituras interativas, os exercícios, chats, fóruns de discussão
Escrita da Monografia
 Escrita da Monografia SCC5921 Metodologia de Pesquisa em Visualização e Imagens Prof. Fernando V. Paulovich http://www.icmc.usp.br/~paulovic paulovic@icmc.usp.br Instituto de Ciências Matemáticas e de
Escrita da Monografia SCC5921 Metodologia de Pesquisa em Visualização e Imagens Prof. Fernando V. Paulovich http://www.icmc.usp.br/~paulovic paulovic@icmc.usp.br Instituto de Ciências Matemáticas e de
Protótipos Textuais A argumentação Ana Luísa Costa (org.)
 Protótipos Textuais A argumentação Sequência argumentativa Esquema tripartido (Ducrot: 1973) A passagem das premissas à conclusão, ou a uma tese nova, é feita através de diversas operações argumentativas
Protótipos Textuais A argumentação Sequência argumentativa Esquema tripartido (Ducrot: 1973) A passagem das premissas à conclusão, ou a uma tese nova, é feita através de diversas operações argumentativas
A LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. Bruno Senoski do Prado (PIBIC), Marciano Adilio Spica (Orientador),
 A LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. Bruno Senoski do Prado (PIBIC), Marciano Adilio Spica (Orientador), e-mail: marciano.spica@gmail.com Universidade Estadual do Centro-Oeste, Setor de Ciências Humanas,
A LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. Bruno Senoski do Prado (PIBIC), Marciano Adilio Spica (Orientador), e-mail: marciano.spica@gmail.com Universidade Estadual do Centro-Oeste, Setor de Ciências Humanas,
Elementos Básicos da Linguagem Visual
 Composição e Projeto Gráfico aula 2 Elementos Básicos da Linguagem Visual 1 Há elementos básicos que podem ser apreendidos e compreendidos por todos os estudiosos dos meios de comunicação visual e que
Composição e Projeto Gráfico aula 2 Elementos Básicos da Linguagem Visual 1 Há elementos básicos que podem ser apreendidos e compreendidos por todos os estudiosos dos meios de comunicação visual e que
Aula 6: Dedução Natural
 Lógica para Computação Primeiro Semestre, 2015 DAINF-UTFPR Aula 6: Dedução Natural Prof. Ricardo Dutra da Silva Em busca de uma forma de dedução mais próxima do que uma pessoa costuma fazer, foi criado
Lógica para Computação Primeiro Semestre, 2015 DAINF-UTFPR Aula 6: Dedução Natural Prof. Ricardo Dutra da Silva Em busca de uma forma de dedução mais próxima do que uma pessoa costuma fazer, foi criado
MURCHO, Desidério A natureza da filosofia e o seu ensino. Lisboa: Plátano, 2002, (Coleção Aula Prática), 102 p.
 MURCHO, Desidério A natureza da filosofia e o seu ensino. Lisboa: Plátano, 2002, (Coleção Aula Prática), 102 p. O autor. Licenciou-se em filosofia pela Universidade de Lisboa. É um dos diretores da Sociedade
MURCHO, Desidério A natureza da filosofia e o seu ensino. Lisboa: Plátano, 2002, (Coleção Aula Prática), 102 p. O autor. Licenciou-se em filosofia pela Universidade de Lisboa. É um dos diretores da Sociedade
Nota sobre a Filosofia e o Espírito Critico
 Nota sobre a Filosofia e o Espírito Critico Alberto Cupani (*) Constitui um fenômeno freqüente na vida intelectual contemporânea a defesa da filosofia em nome da necessidade de cultivar o espirito critico
Nota sobre a Filosofia e o Espírito Critico Alberto Cupani (*) Constitui um fenômeno freqüente na vida intelectual contemporânea a defesa da filosofia em nome da necessidade de cultivar o espirito critico
Programa de Leitura do Verão 2017 Escolas Públicas de Framingham 6ª - 8ª. séries
 Programa de Leitura do Verão 2017 Escolas Públicas de Framingham 6ª - 8ª. séries Programa de Leitura do Verão foi designado para promover o prazer pela leitura, expor os estudantes a gêneros literários
Programa de Leitura do Verão 2017 Escolas Públicas de Framingham 6ª - 8ª. séries Programa de Leitura do Verão foi designado para promover o prazer pela leitura, expor os estudantes a gêneros literários
Indução e filosofia da ciência 1
 O equilíbrio dos indícios Indução e filosofia da ciência 1 Stephen Law Algumas das questões mais centrais e importantes colocadas por filósofos da ciência dizem respeito ao problema da confirmação. Os
O equilíbrio dos indícios Indução e filosofia da ciência 1 Stephen Law Algumas das questões mais centrais e importantes colocadas por filósofos da ciência dizem respeito ao problema da confirmação. Os
Capacidades de leitura e aprendizagem nas diversas disciplinas
 Capacidades de leitura e aprendizagem nas diversas disciplinas A leitura, como comentamos em outro artigo, é instrumento indispensável para toda e qualquer aprendizagem. Ao usar esse instrumento, é preciso
Capacidades de leitura e aprendizagem nas diversas disciplinas A leitura, como comentamos em outro artigo, é instrumento indispensável para toda e qualquer aprendizagem. Ao usar esse instrumento, é preciso
