RESENHA DE LIVROS. volume 4 número
|
|
|
- Kevin Eduardo Santiago Bacelar
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 sistema a que ela pertence. O A. não recusa esta tese, pois não recusa a aplicação da noção de verdade em filosofia. Ele apenas pondera que não devemos aplicá-la em história da filosofia (p. 623). Contrariamente ao filósofo, o historiador da filosofia trata de teses filosóficas e não de verdades filosóficas. É por essa razão que o historiador move-se internamente a um complexo de teses ou de conceitos próprios a um determinado sistema filosófico. Na verdade, com essas afirmações o A. está retomando discussões anteriores tidas com C. Panaccio e H. Pasqua sobre o relativismo em filosofia. Dizer, como parece ter pretendido o A., que o sentido de uma tese somente pode ser determinado internamente a um sistema, implica a impossibilidade da prática do historiador. Visando evitar este perigo, o A. opta por uma noção mais fraca de relativismo. O historiador da filosofia não deve negar a continuidade semântica entre o que foi afirmado pelo autor medieval X e o enunciado p apresentado como tendo sido afirmado por X. Essa continuidade é mesmo pressuposta por uma atividade cujo objetivo é compreender do que trata um determinado enunciado e que busca reconstruir a sua gênese. Como apêndice, Marc Geoffroy propõe uma nova tradução de duas versões árabes da Quaestio 1.11a de Alexandre de Afrodísia sobre a natureza do universal e de três seções (I, 5 ; V, 1-2) da Metafísica do Sifâ de Avicenne. Alfredo C. Storck CHARLES KAHN, Sobre o Verbo Grego Ser e o Conceito de Ser. Núcleo de Estudos de Filosofia Antiga (Depto. de Filosofia da PUC-Rio), Rio de Janeiro, Tradução de Maura Iglésias e outros. 227 páginas. 148 Haveria, no registro ordinário, pré-filosófico da língua grega, alguma peculiaridade no uso do verbo ser que se revelasse fundamental e imprescindível para a compreensão da ontologia dos filósofos clássicos? E, no caso em que houvesse, ela determinaria uma natureza intrinsecamente limitada e mesmo paroquial de tal ontologia, que, diante desse quadro, seria assim incapaz de validar suas pretensões fora de seu domínio original? Essa é a questão sobre a qual se debruçou, durante anos, Charles Kahn, tendo inclusive dedicado-lhe um livro inteiro, The Verb Be in Ancient Greek, O volume que o Núcleo de Estudos de Filosofia Antiga da PUC-RJ nos apresenta, porém, consiste numa série de artigos, inteligentemente dispostos
2 RESENHA DE LIVROS em ordem cronológica, pelos quais se desenha um notável itinerário, em que podemos acompanhar o aprimoramento progressivo das formulações e resoluções propostas por Kahn. O desafio inicial de Charles Kahn foi defender a ontologia grega contra adversários severos de diferentes tipos: os que negavam qualquer validade universal à ontologia grega clássica dado o seu enraizamento numa língua particular (o relativismo lingüístico e a gramática profunda, p , ), e os que a acusavam e talvez ainda a acusem de deslizes falaciosos entre diferentes acepções do verbo ser, as quais ou nem sequer teriam sido percebidas em sua mútua diversidade, ou teriam sido subrepticiamente ignoradas em favor de preconceitos filosóficos duvidosos (certa tradição da filosofia analítica, p. 37, 160). Kahn inicialmente parece ter se preocupado com alguns problemas específicos de filologia histórica e com algumas objeções filosóficas mais peculiares. De um lado, tratava-se de argumentar, contra Stuart Mill e certa tradição ligada ao positivismo lógico, que a ontologia grega em geral não comete, no próprio ato de seu surgimento, uma falácia simplória na confusão entre os usos existencial e copulativo do verbo (p. 3-4, 37, 160, 205). De outro lado, do ponto de vista da filologia histórica, tratava-se de argumentar contra a tese de Meillet e Brugman, assumida pela ortodoxia tradicional (p. 44-5, 156-9), segundo a qual o valor existencial do verbo ser seria historicamente o seu sentido mais primitivo, ao passo que a noção abstrata de cópula teria surgido apenas tardiamente, com conseqüente abandono do sentido concreto original. Mas essas duas linhas de argumentação se encontram num terceiro centro de interesse: mostrar que a ausência de um termo especial para designar o conceito de existência de modo algum pode ser acusada como causa das pretensas falácias que se imputam aos antigos (p ). Finalmente, talvez a grande questão de Kahn possa ser vista como um desenvolvimento natural de uma preocupação presente já no primeiro artigo ( O Verbo Grego >Ser= e o Conceito de Ser, 1966), a saber, mostrar que não há uma correspondência um-a-um entre distinções gramaticais e distinções semânticas (p. 4-5): isto é, uma mesma construção gramatical poderia ou até mesmo deveria comportar uma diversidade de funções lógicas, assim como uma mesma função lógica poderia ser expressa em mais de um tipo de construção sintática. A língua grega de fato dispunha de um mesmo e único verbo B o einai B para o desempenho de diversas funções lógico-lingüísticas. Sob o pressuposto de que tais funções deveriam ser rigorosamente distinguidas e mesmo separadas (inclusive por uma notação absolutamente unívoca), poder-seia talvez imputar confusão aos filósofos gregos. No entanto, longe de ser vista como lamentável fonte de embaraço ou de falácias simplórias, essa situação da língua grega ordinária é concebida por Kahn como uma notável vantagem: dispondo de um único e mesmo verbo com ocorrências sobredeterminadas, a ontologia grega teria adquirido força justamente por articular de imediato questões que se tornam desarticuladas na posteridade. A questão da existência, assim como a teoria da proposição, nasceriam para os gregos já (e unicamente) sob a forma da questão sobre os volume 4 149
3 150 princípios do conhecimento verdadeiro. E uma das razões disso seria o fato de que, na língua grega ordinária, o verbo ser teria como significado primitivo um valor veritativo capaz de incluir, de um só golpe, um desdobramento copulativo e uma dimensão existencial. O valor mais básico e imediato do verbo ser se encontraria nas construções absolutas em que seu conteúdo lexical poderia ser traduzido como é verdade, é o caso ; no entanto, essas construções absolutas com sentido veritativo poderiam (ou deveriam) ser facilmente desdobradas em construções predicativas nas quais estaria incluída a postulação de que existe a coisa a respeito da qual se pretende afirmar algo verdadeiro. E isto porque o sujeito dessas construções absolutas, não obstante ser gramaticalmente simples, seria sempre um fato complexo, analisável numa proposição com a forma predicativa habitual (cf. p ). Já no primeiro artigo ( Sobre o verbo grego ser e o conceito de ser, 1966) Kahn articula com admirável força essa tese central, que irá recebendo sucessivamente maior precisão e apuro. Kahn afirma que o objeto da ontologia grega, o ente, é concebido primeiramente como objeto do discurso e do conhecimento verdadeiro (p. 26): aquilo que é verdade, aquilo que é o caso. Mas, de acordo com o uso sobredeterminado do verbo a partir do sentido veritativo mais primitivo, to on, ao invés de designar apenas coisas simples, designaria também de maneira geral fatos com estrutura proposicional (p. 26), isto é, fatos complexos cuja existência, longe de ser analisada de maneira abstrata como simples ato de existir, seria imediatamente concebida como uma conexão de determinações, exprimível na fórmula predicativa S é P. Dentro desse quadro, a pergunta inicial da ontologia grega seria: como a realidade deve ser, para que o conhecimento e o discurso verdadeiro (ou falso) sejam possíveis? (p. 102). Viriam ainda completar esse painel duas características do verbo ser exploradas sobretudo (mas não exclusivamente) por Platão, a saber: o seu aspecto estático-durativo, em contraste com o verbo gignesthai ( tornar-se, vir a ser ) e certa nuança de seu aspecto veritativo, enriquecido pelo contraste com phainesthai ( parece ser o caso ). Parte fundamental da estratégia de Kahn, assim, consiste em mostrar que o conceito de existência, tal como formulado pela reflexão dos medievais e incorporado na tradição da filosofia ocidental, não se apresentou para os gregos como um tópico relevante para a investigação filosófica. Kahn dedica um artigo inteiro a essa questão ( Por que a existência não emerge como um conceito distinto na filosofia grega?, 1976). Apenas com o advento da sofística emergiria na Grécia antiga uma preocupação com a noção abstrata de existência (p ). Não sucede, porém, que os gregos tenham ignorado totalmente tal noção: pelo contrário, eles a conheceram (como testemunham as reflexões de Aristóteles sobre o bode-cervo em A. Po. II-7), mas, entretanto, não a problematizaram de maneira isolada como um tópico central para a filosofia. A questão imediata e central para os gregos nunca foi se isto existe, mas sim como isto existe sendo precisamente aquilo que é?. Pois o uso existencial do verbo, longe de isolar uma noção abstrata
4 RESENHA DE LIVROS de mero ato de existir, estaria sempre prenhe de cópula incompleta (p. 113, 141), no sentido de que ele sempre suporia um fato complexo que já comportaria implicitamente uma estrutura proposicional, na medida em que a descrição ou definição estrita desse fato só poderia ser feita mediante uma formulação predicativa S é P. Nessa perspectiva, pode-se dizer que a noção de existência é absorvida nos diversos modos de predicação: existir é sempre ser algo determinado. E essa observação, que Kahn introduz inicialmente a respeito de Aristóteles (p. 103), seria válida a fortiori também para os filósofos antigos em geral (p. 96), ao menos quanto à sua intuição de fundo; pois, ainda que a formulação consciente e advertida de uma tábua de categorias (ou modos de predicação) se deva a Aristóteles, é inegável que muito antes dele a ontologia grega já teria concebido que existir é sempre ser sendo um F (cf. p. 206). A ontologia grega, assim, dispunha dos recursos próprios para estabelecer, como questão central desde sua origem, o mesmo problema que ocupa o centro das atenções no Tractatus de Wittgenstein: como o mundo deve ser estruturado de modo a serem possíveis a linguagem lógica e científica? (p. 102). E com o primado do sentido veritativo (segundo o qual to on seria o objeto aberto ao conhecimento e ao discurso proposicional) e a absorção da noção de existência dentro do sentido mais essencial de ser um F, não haveria lugar, na ontologia grega, para o ceticismo da dúvida hiperbólica de Descartes, nem para o argumento ontológico de Anselmo. Pois, ao não permitir a discriminação da existência como mais um predicado entre outros (p ), a ontologia grega, em sua própria origem, teria antecipado a observação crítica de Kant a respeito da impossibilidade de se conceber a existência como um predicado ordinário, bem como o ponto de vista de Frege, para quem o operador existencial ( x) dependeria parasitariamente da forma sentencial primária Fx e seria apenas um conceito de segunda ordem (p. 34). Mas é em outro artigo ( Alguns usos filosóficos do verbo ser em Platão, 1981), creio, que Kahn alcança a formulação mais madura de sua tese: alguns usos (filosóficos) do verbo ser em Platão (mas não só em Platão...) seriam sobredeterminados, no sentido de que várias leituras gramaticais de uma única ocorrência são não apenas possíveis, mas às vezes exigidas para a plena compreensão do texto (p. 108) 1. A tese de Kahn é a seguinte: alguns usos do verbo na construção absoluta, ao invés de poderem ser interpretados estritamente como (i) pura asserção de existência ou como (ii) cópula incompleta (como se estivesse implícito um signo de lacuna ), devem ser interpretados como um (iii) sentido veritativo, mas um sentido veritativo que internamente se desdobra ou se analisa em um volume 4 (1) Kahn chama de subdeterminado o uso do verbo em que várias leituras gramaticais seriam indiferentemente possíveis, ao passo que sobredeterminado seria o uso do verbo que exige várias leituras gramaticais simultâneas. 151
5 152 sentido copulativo (elíptico, incompleto) e em um sentido existencial. Isto quer dizer: uma mesma ocorrência do verbo deveria necessariamente ser entendida (sob pena de nos escapar inteiramente a inteligibilidade do texto) como ao mesmo tempo veritativa, copulativa e existencial. Como veritativa por que o verbo teria um conteúdo lexicalmente traduzível como é assim, é o caso. Mas também como copulativa, na medida em que aquilo sobre o que versa a pretensão de verdade seria uma complexão de fatos, ou uma atribuição elíptica, exprimível sob a forma proposicional padrão. Enfim, como uma ocorrência também existencial, visto que a pretensão de verdade envolveria a postulação de existência do sujeito do qual se afirmam os atributos. Essa sobredeterminação do verbo garantiria uma perfeita e natural tradutibilidade entre construções absolutas com valor veritativo e construções explicitamente copulativas, e em ambas o valor existencial estaria implícito (p. 122, nota 18, p. 133). Parece, no entanto, haver uma incoerência na trajetória de Kahn. De um lado, pois, os artigos em que se desenvolve com maior apuro a tese da sobredeterminação concordam inteiramente com a concepção defendida desde o primeiro artigo: o valor veritativo encontrar-se-ia na base de todos os usos e sentidos do verbo, de modo que o conceito de existência, que se presumia como mais primitivo do ponto de vista da filologia histórica, não teria senão um estatuto parasitário, dependente do sentido veritativo-copulativo. De outro lado, porém, Kahn propala, no segundo artigo ( Sobre a Teoria do verbo Ser, 1973), uma pequena revolução copernicana (p. 45, cf. p. 158): reinstalar a cópula no centro dos usos de einai, relegando aos sentidos existencial e veritativo o caráter parasitário de operadores sentenciais que incidem sobre sentenças primitivas articuladas segundo o padrão copulativo. E essa tese é retomada na Retrospectiva de 1986, em que Kahn volta a ressaltar (p ) que a cópula seria mais fundamental do que os usos veritativo e existencial. Parece, assim, haver uma pequena oscilação de Kahn quanto a essa problemática. Essa incoerência, no entanto, não é senão aparente: trata-se de perspectivas diversas, mas perfeitamente compatíveis entre si. O artigo de 1973 e a Retrospectiva de 1986 procuram discriminar qual seria o sentido mais básico do verbo ser de um ponto de vista mais estritamente lingüístico e, além do mais, eles denominam de uso veritativo estritamente a ocorrência do verbo em construções absolutas similares ao inglês Tell it as it is. Sob esse ponto de vista, pois, assume-se como elemento mais primitivo a função copulativa do verbo, sem a qual não poderiam ser compreendidos os usos existencial e veritativo, os quais, assim, assumiriam a figura de operadores sentenciais que incidem sobre a sentença copulativa já num segundo nível. No entanto, a perspectiva dos demais artigos é ligeiramente diversa. Observe-se que em Ser em Parmênides e Platão, o último da série (1988), Kahn fala em padrão predicativoveritativo (p. 199) como centro de organização dos significados filosóficos de einai. Assim, quando mencionam o valor veritativo do verbo, estes artigos não mais visam estritamente a construção absoluta que deveria ser traduzida lexicalmente como é o caso, é assim, pois se trata
6 RESENHA DE LIVROS antes da pretensão de verdade que está implícita em toda frase declarativa (p. 108). E Kahn ressalta: essa função do verbo... não é uma noção tão claramente definida quanto a construção veritativa (p. 108, grifos nossos). O que está em questão aqui é a necessidade de ler, dentro da própria construção copulativa, o operador sentencial veritativo. Kahn não pretende voltar atrás em sua revolução copernicana. É justamente a cópula que se apresenta, imediatamente, como uma função lógica na qual estariam implícitas a pretensão de verdade e a postulação de existência, que poderiam ser explicitadas por operadores sentenciais incidindo sobre a proposição inicial. E Kahn agora se pronuncia em termos de padrão predicativo-veritativo apenas porque a sobredeterminação lhe permite ver um valor copulativo-veritativo em qualquer ocorrência do verbo, mesmo naquelas cuja gramática de superfície exibe uma construção absoluta. A base para a articulação mais sutil dessa tese encontra-se justamente num dos textos em que Aristóteles analisa a função veritativa do verbo ser : pois em Metafísica V-7, ao afirmar que a proposição Sócrates é músico equivale a é verdade que >Sócrates é músico=, longe de introduzir alguma idiossincrasia no manejo do verbo ser, Aristóteles estaria efetuando tão apenas uma constatação trivial a respeito da sobredeterminação de toda e qualquer sentença declarativa na forma proposicional (p. 110). Mas certos detalhes da tese de Kahn ainda permanecem insatisfatórios. Kahn entende que o uso veritativo se desdobra, de modo natural e não falacioso (p. 122, nota 18), no uso existencial mais a cópula incompleta ou elíptica. A conseqüência disso seria uma convertibilidade natural B e igualmente não falaciosa B entre construções absolutas S é com valor veritativo (nas quais poderíamos ler a cópula incompleta) e construções explicitamente copulativas S é P, nas quais estaria implícita uma pretensão de verdade. Mas a maneira pela qual Kahn entende a gramática filosófica na convertibilidade dessas frases ainda deixa a desejar. Embora admita que o uso veritativo possa se desdobrar num esquema sentencial de forma é (p. 202), Kahn parece entender a sobredeterminação de frases do tipo S é como se (i) houvesse uma cópula elíptica, cujo predicado deveria ser explicitado, e como se (ii) a postulação de existência incidisse estritamente sobre o sujeito dessa cópula incompleta. Assim, a frase inicial S é deveria ser reescrita mais ou menos como é verdade que S é P, e que S existe. Isso, no entanto, é insatisfatório. Por um lado, é inegável que construções absolutas com sentido veritativo podem se desdobrar naturalmente em fórmulas predicativas com uma postulação de existência implícita. No entanto, não há nenhuma necessidade de entender que, na construção absoluta inicial, estaria ainda implícito o predicado a ser expresso na sentença copulativa. Tampouco há razão para restringir a postulação de existência apenas ao sujeito da proposição explicitamente articulada, que é o mesmo sujeito da construção absoluta inicial. Ainda que uma leitura tal como proposta por Kahn seja possível em vários contextos, cremos haver sobejamente outros contextos que pedem uma análise mais refinada. volume 4 153
7 Nos textos de Platão e Aristóteles, é comum encontrarmos frases com a forma da construção veritativa S é. No entanto, para desdobrarmos esse uso veritativo em uma cópula na qual esteja imanente uma pretensão de verdade e uma postulação de existência, não precisamos supor um predicado elíptico. Não precisamos ler a construção absoluta como uma cópula incompleta, como se S é fosse uma abreviação elíptica de S é P. Pelo contrário, devemos desarticular o sujeito da construção inicial, analisando-o nos seus elementos: o S deve ser redescrito como algo do tipo xy. De modo que a afirmação inicial S é, sendo equivalente a xy é, pode ser naturalmente desdobrada em uma sentença copulativa, x é y, sem nenhuma necessidade de se imaginar predicados elípticos. A conseqüência disso é que o valor existencial implícito na construção absoluta inicial tampouco se restringe ao sujeito S tomado em sua simplicidade, como se a frase S é devesse ser lida como um uso veritativo que ao mesmo tempo postulasse a existência de um sujeito para predicação ulterior B queremos dizer, como se o é fosse aquilo que Kahn chama de operador da frase existencial, isto é, o x tomado previamente ao Fx (p. 172). Pelo contrário, a postulação de existência, ao incidir sobre S, não incide estritamente sobre uma coisa apta a ulteriormente receber predicados, mas incide já sobre um fato complexo, cuja existência poderia ser analisada sob a forma proposicional. Assim, na medida em que o sujeito S equivale semanticamente a um complexo xy, a construção absoluta inicial S é pode ser naturalmente rescrita na fórmula copulativa padrão, x é y, sem a necessidade de supor um predicado implícito, e deve ser lida como uma pretensão de existência que internamente se desdobra numa estrutura predicativa: S é seria equivalente a existe um S que é xy, ou melhor dizendo, existe um S, porque x é y 2. É justamente este padrão de análise que se deve ter em conta diante de diversos textos aristotélicos. No livro Gamma da Metafísica, por exemplo, as formulações do princípio da não contradição variam indiferentemente entre uma construção absoluta e outra copulativa. De um lado, temos a construção absoluta [ d naton] t aÿt eçnai kaà mæ eçnai (1006a 1; cf. 1009a 11-12, 1011b 26): é impossível que o mesmo seja (verdadeiro) e ao mesmo tempo não seja (verdadeiro), ou é impossível que [ S é e S não é ]. Mas, ora, se compreendemos que t aÿt, fazendo as vezes do sujeito S da construção absoluta, deve ser concebido como um complexo analisável em dois elementos, podemos 154 (2) Uma análise semelhante a esta é proposta por Mohan Matthen em Greek Ontology and the Is of Truth Phronesis vol. 28, n1. 2, 1983, p Julgamos que o artigo de Matthen devidamente retifica certos itens insatisfatórios na proposta geral de Kahn.
8 RESENHA DE LIVROS reescrever o enunciado acima na fórmula predicativa padrão, que é inclusive a formulação consagrada do PNC: t aÿt ma ÿp rcein te kaà mæ ÿp rcein d naton t aÿt (1005b 19-20), ou seja: é impossível que o mesmo (predicado) seja atribuído e não seja atribuído ao mesmo tempo ao mesmo (sujeito). Nessa perspectiva, vemos que t aÿt na construção absoluta equivale a algum fato complexo xy (por exemplo, auto = Sócrates sentado), no qual não há ainda nenhuma articulação lógica implícita, e sobre o qual incide a asserção enfática do é, a qual ao mesmo tempo afirma que existe o fato xy e que o fato xy é o caso 3. Mas dizer que Sócrates sentado é (o caso) equivale a dizer que Sócrates está sentado, ou dizer que é verdade que Sócrates está sentado. Essa maneira de compreender a construção veritativa absoluta, longe de se restringir a um mero detalhe de filologia, revela-se decisiva para a compreensão de alguns pontos fundamentais da filosofia aristotélica. Aristóteles afirma que, para alguns entes, perguntar se existe equivale a perguntar por que. Essa equivalência à primeira vista paradoxal torna-se perfeitamente inteligível se supomos que aquilo sobre cuja existência se indaga consiste num fato complexo A (por exemplo, trovão ou eclipse), de modo que perguntar pela existência desse fato consiste em perguntar se estão juntos os elementos que compõem esse fato complexo, ou seja, se há alguma causa pela qual esses elementos se apresentam juntos de maneira a existir o fato complexo A 4. Assim, Aristóteles pode afirmar que, para certos itens, redunda no mesmo perguntar o que é e por que é 5, assim como redunda no mesmo procurar obter uma definição completa de sua qüididade e procurar especificar a causa pela qual A existe sendo precisamente o que é 6. Aparentemente, Aristóteles restringiria esse tipo de análise a fatos manifestamente complexos, que poderiam ser analisados por uma predicação inter-categorial B os exemplos recorrentes são trovão = estrondo nas nuvens (1041a 24-26), ou roupa = homem branco (1029b 27-8). Mas não é o caso. O livro Z da Metafísica se encerra com o propósito deliberado de aplicar este tipo de análise, ainda que sob severas restrições, também à ousia: para investigar o por que de uma substância, devemos desarticulá-la nos seus elementos constituintes (ver VII 7, 1041a 32-b 3). volume 4 3. O próprio Kahn observa essa gramática nos enunciados aristotélicos do PNC, em Sobre a Terminologia para Cópula e Existência (p. 70). No entanto, Kahn não leva sua análise às últimas conseqüências: ele concebe que a tradutibilidade entre a cópula e o uso veritativo na construção absoluta depende do acréscimo de um predicado que não estaria explícito nesta última. 4. Analíticos Posteriores II 2, 90a Analíticos Posteriores II 2, 90a 14-15; ver também II 8, 93a 3-4, e Metafísica VII 17, 1041a O capítulo II 8 dos Analíticos Posteriores dedica especial atenção a essa problemática. 155
9 É nesse ponto, justamente, que sentimos pelo fato de Kahn não ter explorado mais detalhadamente o verbo ser nos textos aristotélicos. Kahn sugere (p. 135) que a ousia, como nominalização do verbo einai, poderia exprimir a estrutura proposicional do pensamento, em que se coadunariam as funções de predicar (atribuir a algo alguma propriedade), asserir (pretender que essa atribuição seja verdadeira) e referir a algo (postular a existência de algo). Mas Kahn tem em mente textos de Platão, e não de Aristóteles. Não obstante, há certamente muito a trilhar no caminho indicado por Kahn B justamente para uma compreensão da ousia aristotélica como exemplo primeiro e privilegiado do ente. Lucas Angioni 156
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura
 O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen
 1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
A ciência deveria valorizar a pesquisa experimental, visando proporcionar resultados objetivos para o homem.
 FRANCIS BACON Ocupou cargos políticos importantes no reino britânico; Um dos fundadores do método indutivo de investigação científica; Saber é poder ; A ciência é um instrumento prático de controle da
FRANCIS BACON Ocupou cargos políticos importantes no reino britânico; Um dos fundadores do método indutivo de investigação científica; Saber é poder ; A ciência é um instrumento prático de controle da
constituímos o mundo, mais especificamente, é a relação de referência, entendida como remissão das palavras às coisas que estabelece uma íntima
 1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
CRÍTICA DE HEIDEGGER A DESCARTES
 CRÍTICA DE HEIDEGGER A DESCARTES Guilherme Devequi Quintilhano Orientador: Prof. Dr. Eder Soares Santos RESUMO Nesta comunicação será apresentada uma crítica de Martin Heidegger, filósofo contemporâneo,
CRÍTICA DE HEIDEGGER A DESCARTES Guilherme Devequi Quintilhano Orientador: Prof. Dr. Eder Soares Santos RESUMO Nesta comunicação será apresentada uma crítica de Martin Heidegger, filósofo contemporâneo,
A REVOLUÇÃO CARTESIANA. Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV.
 A REVOLUÇÃO CARTESIANA Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV. Descartes (1596-1650) foi educado por jesuítas. Ele iniciou a filosofia moderna com um
A REVOLUÇÃO CARTESIANA Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV. Descartes (1596-1650) foi educado por jesuítas. Ele iniciou a filosofia moderna com um
COLÉGIO SHALOM ENSINO MEDIO 1 ANO - filosofia. Profº: TONHÃO Disciplina: FILOSOFIA Aluno (a):. No.
 COLÉGIO SHALOM ENSINO MEDIO 1 ANO - filosofia 65 Profº: TONHÃO Disciplina: FILOSOFIA Aluno (a):. No. ROTEIRO DE RECUERAÇÃO ANUAL 2016 Data: / / FILOSOFIA 1º Ano do Ensino Médio 1º. O recuperando deverá
COLÉGIO SHALOM ENSINO MEDIO 1 ANO - filosofia 65 Profº: TONHÃO Disciplina: FILOSOFIA Aluno (a):. No. ROTEIRO DE RECUERAÇÃO ANUAL 2016 Data: / / FILOSOFIA 1º Ano do Ensino Médio 1º. O recuperando deverá
Resumo de Filosofia. Preposição frase declarativa com um certo valor de verdade
 Resumo de Filosofia Capítulo I Argumentação e Lógica Formal Validade e Verdade O que é um argumento? Um argumento é um conjunto de proposições em que se pretende justificar ou defender uma delas, a conclusão,
Resumo de Filosofia Capítulo I Argumentação e Lógica Formal Validade e Verdade O que é um argumento? Um argumento é um conjunto de proposições em que se pretende justificar ou defender uma delas, a conclusão,
LÓGICA I. André Pontes
 LÓGICA I André Pontes 1. Conceitos fundamentais O que é a Lógica? A LÓGICA ENQUANTO DISCIPLINA Estudo das leis de preservação da verdade. [Frege; O Pensamento] Estudo das formas válidas de argumentos.
LÓGICA I André Pontes 1. Conceitos fundamentais O que é a Lógica? A LÓGICA ENQUANTO DISCIPLINA Estudo das leis de preservação da verdade. [Frege; O Pensamento] Estudo das formas válidas de argumentos.
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1
 NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis
 77 Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis Renato Mendes Rocha 1 mendesrocha@gmail.com Resumo: O discurso a respeito dos Mundos Possíveis pode ser uma ferramenta bastante
77 Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis Renato Mendes Rocha 1 mendesrocha@gmail.com Resumo: O discurso a respeito dos Mundos Possíveis pode ser uma ferramenta bastante
Expressões e enunciados
 Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 2 Expressões e enunciados Sumário 1 Expressões e enunciados 2 1.1 Observações................................ 2 1.2 Exercício resolvido............................
Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 2 Expressões e enunciados Sumário 1 Expressões e enunciados 2 1.1 Observações................................ 2 1.2 Exercício resolvido............................
CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA. Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon.
 CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA Artur Bezzi Gunther Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon. 1. Duração: 02 horas e 15 minutos. 2. Recursos didáticos:
CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA Artur Bezzi Gunther Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon. 1. Duração: 02 horas e 15 minutos. 2. Recursos didáticos:
Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight
 Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight Antigo sistema de escrita usado em Creta (por volta do século IV A.C.) Abraão Carvalho 1 O conceito do que se convencionou pela
Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight Antigo sistema de escrita usado em Creta (por volta do século IV A.C.) Abraão Carvalho 1 O conceito do que se convencionou pela
8 A L B E R T E I N S T E I N
 7 PREFÁCIO Este livro pretende dar uma idéia, a mais exata possível, da Teoria da Relatividade àqueles que, de um ponto de vista geral científico e filosófico, se interessam pela teoria mas não dominam
7 PREFÁCIO Este livro pretende dar uma idéia, a mais exata possível, da Teoria da Relatividade àqueles que, de um ponto de vista geral científico e filosófico, se interessam pela teoria mas não dominam
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: A FUNÇÃO SOCIAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR
 PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: A FUNÇÃO SOCIAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BATILANI, Italo GASPARIN, João Luiz RESUMO Este trabalho apresenta elementos que indicam a função social da educação escolar na pedagogia
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: A FUNÇÃO SOCIAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BATILANI, Italo GASPARIN, João Luiz RESUMO Este trabalho apresenta elementos que indicam a função social da educação escolar na pedagogia
METODOLOGIA DO TRABALHO ACADÊMICO 1
 METODOLOGIA DO TRABALHO ACADÊMICO 1 A Redação Quando se fala em redação, em geral se associa a uma composição literária ou a uma dissertação de tese. No primeiro caso, relaciona-se a um trabalho fantasioso;
METODOLOGIA DO TRABALHO ACADÊMICO 1 A Redação Quando se fala em redação, em geral se associa a uma composição literária ou a uma dissertação de tese. No primeiro caso, relaciona-se a um trabalho fantasioso;
1ª Fase PROVA OBJETIVA FILOSOFIA DO DIREITO
 1ª Fase PROVA OBJETIVA FILOSOFIA DO DIREITO P á g i n a 1 QUESTÃO 1 - Admitindo que a história da filosofia é uma sucessão de paradigmas, a ordem cronológica correta da sucessão dos paradigmas na história
1ª Fase PROVA OBJETIVA FILOSOFIA DO DIREITO P á g i n a 1 QUESTÃO 1 - Admitindo que a história da filosofia é uma sucessão de paradigmas, a ordem cronológica correta da sucessão dos paradigmas na história
AULA FILOSOFIA. O realismo aristotélico
 AULA FILOSOFIA O realismo aristotélico DEFINIÇÃO O realismo aristotélico representa, na Grécia antiga, ao lado das filosofias de Sócrates e Platão, uma reação ao discurso dos sofistas e uma tentativa de
AULA FILOSOFIA O realismo aristotélico DEFINIÇÃO O realismo aristotélico representa, na Grécia antiga, ao lado das filosofias de Sócrates e Platão, uma reação ao discurso dos sofistas e uma tentativa de
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Relatório Perfil Curricular
 PERÍODO: 1º FL211- HISTORIA DA FILOSOFIA ANTIGA 1 OBRIG 60 0 60 4.0 Fórmula: FL233 FL233- HISTORIA DA FILOSOFIA ANTIGA FL252- INICIACAO A PESQUISA FILOSOFICA OBRIG 60 0 60 4.0 A PESQUISA: SUA CARACTERIZAÇÃO;
PERÍODO: 1º FL211- HISTORIA DA FILOSOFIA ANTIGA 1 OBRIG 60 0 60 4.0 Fórmula: FL233 FL233- HISTORIA DA FILOSOFIA ANTIGA FL252- INICIACAO A PESQUISA FILOSOFICA OBRIG 60 0 60 4.0 A PESQUISA: SUA CARACTERIZAÇÃO;
Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos. Na folha de respostas, indique de forma legível a versão da prova (Versão 1 ou Versão 2).
 EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Filosofia 11.º Ano de Escolaridade Prova 714/2.ª Fase 8 Páginas Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30
EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Filosofia 11.º Ano de Escolaridade Prova 714/2.ª Fase 8 Páginas Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30
TEORIA DA LINGUAGEM O REALISMO - NORMAN GEISLER. vivendopelapalavra.com. Revisão e diagramação por: Helio Clemente
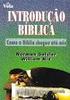 TEORIA DA LINGUAGEM O REALISMO - NORMAN GEISLER vivendopelapalavra.com Revisão e diagramação por: Helio Clemente REALISMO: UMA ALTERNATIVA AO ESSENCIALISMO E AO CONVENCIONALISMO A visão convencionalista
TEORIA DA LINGUAGEM O REALISMO - NORMAN GEISLER vivendopelapalavra.com Revisão e diagramação por: Helio Clemente REALISMO: UMA ALTERNATIVA AO ESSENCIALISMO E AO CONVENCIONALISMO A visão convencionalista
Indiscernibilidade de Idênticos. Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de idênticos
 Indiscernibilidade de Idênticos Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de Consideremos agora o caso das atitudes proposicionais, das construções epistémicas e psicológicas, e perguntemo-nos se é
Indiscernibilidade de Idênticos Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de Consideremos agora o caso das atitudes proposicionais, das construções epistémicas e psicológicas, e perguntemo-nos se é
Lógica: Quadrado lógico:
 Lógica: 1. Silogismo aristotélico: Podemos encara um conceito de dois pontos de vista: Extensão a extensão é um conjunto de objectos que o conceito considerado pode designar ou aos quais ele se pode aplicar
Lógica: 1. Silogismo aristotélico: Podemos encara um conceito de dois pontos de vista: Extensão a extensão é um conjunto de objectos que o conceito considerado pode designar ou aos quais ele se pode aplicar
Introdução ao pensamento de Marx 1
 Introdução ao pensamento de Marx 1 I. Nenhum pensador teve mais influência que Marx, e nenhum foi tão mal compreendido. Ele é um filósofo desconhecido. Muitos motivos fizeram com que seu pensamento filosófico
Introdução ao pensamento de Marx 1 I. Nenhum pensador teve mais influência que Marx, e nenhum foi tão mal compreendido. Ele é um filósofo desconhecido. Muitos motivos fizeram com que seu pensamento filosófico
Mundos sucientes e tempo, aula 2 de Aulas Informais de Semântica Formal (Bach 1987) Luiz Arthur Pagani
 Mundos sucientes e tempo, aula 2 de Aulas Informais de Semântica Formal (Bach 1987) Luiz Arthur Pagani 1 Que tipo de estrutura de modelos é apropriada ou adequada para as línguas naturais? (p. 15) gramática
Mundos sucientes e tempo, aula 2 de Aulas Informais de Semântica Formal (Bach 1987) Luiz Arthur Pagani 1 Que tipo de estrutura de modelos é apropriada ou adequada para as línguas naturais? (p. 15) gramática
Cálculo proposicional
 O estudo da lógica é a análise de métodos de raciocínio. No estudo desses métodos, a lógica esta interessada principalmente na forma e não no conteúdo dos argumentos. Lógica: conhecimento das formas gerais
O estudo da lógica é a análise de métodos de raciocínio. No estudo desses métodos, a lógica esta interessada principalmente na forma e não no conteúdo dos argumentos. Lógica: conhecimento das formas gerais
Lógica Proposicional
 Lógica Proposicional Lógica Computacional Carlos Bacelar Almeida Departmento de Informática Universidade do Minho 2007/2008 Carlos Bacelar Almeida, DIUM LÓGICA PROPOSICIONAL- LÓGICA COMPUTACIONAL 1/28
Lógica Proposicional Lógica Computacional Carlos Bacelar Almeida Departmento de Informática Universidade do Minho 2007/2008 Carlos Bacelar Almeida, DIUM LÓGICA PROPOSICIONAL- LÓGICA COMPUTACIONAL 1/28
A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS
 A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS O que é a metafísica? É a investigação das causas primeiras de todas as coisas existentes e estuda o ser enquanto ser. É a ciência que serve de fundamento para
A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS O que é a metafísica? É a investigação das causas primeiras de todas as coisas existentes e estuda o ser enquanto ser. É a ciência que serve de fundamento para
Vimos que a todo o argumento corresponde uma estrutura. Por exemplo ao argumento. Se a Lua é cúbica, então os humanos voam.
 Matemática Discreta ESTiG\IPB 2012/13 Cap1 Lógica pg 10 Lógica formal (continuação) Vamos a partir de agora falar de lógica formal, em particular da Lógica Proposicional e da Lógica de Predicados. Todos
Matemática Discreta ESTiG\IPB 2012/13 Cap1 Lógica pg 10 Lógica formal (continuação) Vamos a partir de agora falar de lógica formal, em particular da Lógica Proposicional e da Lógica de Predicados. Todos
O que é Realidade? 3 - Modelos Mentais (Johnson-Laird) Modelos mentais. Modelos mentais. Regra de ouro. Modelos mentais
 O que é Realidade? 3 - Modelos Mentais (Johnson-Laird) A fenômenos B imagem de A (observações Estágio Curricular Supervisionado em Física II D causas? (nãoobserváveis) REALIDADE Leis, Teorias, Princípios
O que é Realidade? 3 - Modelos Mentais (Johnson-Laird) A fenômenos B imagem de A (observações Estágio Curricular Supervisionado em Física II D causas? (nãoobserváveis) REALIDADE Leis, Teorias, Princípios
A RECUSA DE UMA RELAÇÃO DE DETERMINAÇÃO NAS INVESTIGAÇÕES FILOSÓFICAS
 A RECUSA DE UMA RELAÇÃO DE DETERMINAÇÃO NAS INVESTIGAÇÕES FILOSÓFICAS Raphaela Silva de Oliveira Universidade Ferderal de São Paulo Mestranda Resumo: Pretendo expor panoramicamente, a partir da apresentação
A RECUSA DE UMA RELAÇÃO DE DETERMINAÇÃO NAS INVESTIGAÇÕES FILOSÓFICAS Raphaela Silva de Oliveira Universidade Ferderal de São Paulo Mestranda Resumo: Pretendo expor panoramicamente, a partir da apresentação
INE5403 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA DISCRETA
 INE5403 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA DISCRETA PARA A COMPUTAÇÃO PROF. DANIEL S. FREITAS UFSC - CTC - INE Prof. Daniel S. Freitas - UFSC/CTC/INE/2007 p.1/59 1 - LÓGICA E MÉTODOS DE PROVA 1.1) Lógica Proposicional
INE5403 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA DISCRETA PARA A COMPUTAÇÃO PROF. DANIEL S. FREITAS UFSC - CTC - INE Prof. Daniel S. Freitas - UFSC/CTC/INE/2007 p.1/59 1 - LÓGICA E MÉTODOS DE PROVA 1.1) Lógica Proposicional
Teoria do Conhecimento:
 Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
Palavras-Chave: Filosofia da Linguagem. Significado. Uso. Wittgenstein.
 SIGNIFICADO E USO NO TRACTATUS Igor Gonçalves de Jesus 1 Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar o que Wittgenstein, em sua primeira fase de pensamento, mais especificamente em seu Tractatus
SIGNIFICADO E USO NO TRACTATUS Igor Gonçalves de Jesus 1 Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar o que Wittgenstein, em sua primeira fase de pensamento, mais especificamente em seu Tractatus
Autor: Francisco Cubal Disponibilizado apenas para Resumos.tk
 Conceito e Finalidade da Lógica Existem variados conceitos do que é a Lógica. Conceitos: A lógica é o estudo das inferências ou argumentos válidos. A lógica é o estudo do que conta como uma boa razão para
Conceito e Finalidade da Lógica Existem variados conceitos do que é a Lógica. Conceitos: A lógica é o estudo das inferências ou argumentos válidos. A lógica é o estudo do que conta como uma boa razão para
A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA
 MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
Palavras-chave: Aristóteles; Significar algo uno; Significar de algo uno; Predicação
 Breve análise da diferença entre significar algo uno e o significar de algo uno no livro Gama da Metafísica de Aristóteles Thiago Oliveira Unicamp/Pós-graduação IFCH Capes RESUMO O presente trabalho pretende
Breve análise da diferença entre significar algo uno e o significar de algo uno no livro Gama da Metafísica de Aristóteles Thiago Oliveira Unicamp/Pós-graduação IFCH Capes RESUMO O presente trabalho pretende
WITTGENSTEIN E A NOÇÃO MINIMALISTA DA VERDADE 1. INTRODUÇÃO
 WITTGENSTEIN E A NOÇÃO MINIMALISTA DA VERDADE PEREIRA, Julio Henrique Carvalho ; DO CARMO, Juliano Santos Universidade Federal de Pelotas juliohenrique-pereira@hotmail.com Universidade Federal de Pelotas
WITTGENSTEIN E A NOÇÃO MINIMALISTA DA VERDADE PEREIRA, Julio Henrique Carvalho ; DO CARMO, Juliano Santos Universidade Federal de Pelotas juliohenrique-pereira@hotmail.com Universidade Federal de Pelotas
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010
 NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010 12 Daniel José Crocoli * A obra Sobre ética apresenta as diferentes formas de se pensar a dimensão ética, fazendo
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010 12 Daniel José Crocoli * A obra Sobre ética apresenta as diferentes formas de se pensar a dimensão ética, fazendo
DEUS: CONCEITO NÃO-DISTRIBUTIVO DE SEGUNDA ORDEM?
 DEUS: CONCEITO NÃO-DISTRIBUTIVO DE SEGUNDA ORDEM? Edgar Marques UERJ/CNPq Abstract: In this paper I argue against Guido Imaguire s attempt of solving the christian mistery of the trinity by considering
DEUS: CONCEITO NÃO-DISTRIBUTIVO DE SEGUNDA ORDEM? Edgar Marques UERJ/CNPq Abstract: In this paper I argue against Guido Imaguire s attempt of solving the christian mistery of the trinity by considering
Lógica Proposicional Parte 2
 Lógica Proposicional Parte 2 Como vimos na aula passada, podemos usar os operadores lógicos para combinar afirmações criando, assim, novas afirmações. Com o que vimos, já podemos combinar afirmações conhecidas
Lógica Proposicional Parte 2 Como vimos na aula passada, podemos usar os operadores lógicos para combinar afirmações criando, assim, novas afirmações. Com o que vimos, já podemos combinar afirmações conhecidas
MURCHO, Desidério - Essencialismo naturalizado. Coimbra: Angelus Novus, Ltd., 2002, 100 p.
 MURCHO, Desidério - Essencialismo naturalizado. Coimbra: Angelus Novus, Ltd., 2002, 100 p. I Desidério Murcho não é desconhecido no Brasil. Foi tema de comunicação apresentada no Congresso de Filosofia
MURCHO, Desidério - Essencialismo naturalizado. Coimbra: Angelus Novus, Ltd., 2002, 100 p. I Desidério Murcho não é desconhecido no Brasil. Foi tema de comunicação apresentada no Congresso de Filosofia
OPERADORES MODAIS (NA INTERFACE LÓGICA E LINGUAGEM NATURAL)
 OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
RESENHA. LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp.
 RESENHA LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp. Pedro Merlussi 1 Eis aqui mais ou menos o que a academia brasileira parece pensar acerca da metafísica nos dias
RESENHA LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp. Pedro Merlussi 1 Eis aqui mais ou menos o que a academia brasileira parece pensar acerca da metafísica nos dias
Lógica Computacional
 Lógica Computacional Consequência Tautológica e Lógica em Frases Quantificadas Leis de de Morgan Separação de Quantificadores Consequências Analíticas e Método Axiomático 3 Novembro 2016 Lógica Computacional
Lógica Computacional Consequência Tautológica e Lógica em Frases Quantificadas Leis de de Morgan Separação de Quantificadores Consequências Analíticas e Método Axiomático 3 Novembro 2016 Lógica Computacional
Capítulo O objeto deste livro
 Capítulo 1 Introdução 1.1 O objeto deste livro Podemos dizer que a Geometria, como ciência abstrata, surgiu na Antiguidade a partir das intuições acerca do espaço, principalmente do estudo da Astronomia.
Capítulo 1 Introdução 1.1 O objeto deste livro Podemos dizer que a Geometria, como ciência abstrata, surgiu na Antiguidade a partir das intuições acerca do espaço, principalmente do estudo da Astronomia.
A REDAÇÃO NO ENEM INSTITUTO SANTA LUZIA COMPONENTE CURRICULAR: REDAÇÃO PROFESSOR: EDUARDO BELMONTE 2º ANO ENSINO MÉDIO
 A REDAÇÃO NO ENEM INSTITUTO SANTA LUZIA COMPONENTE CURRICULAR: REDAÇÃO PROFESSOR: EDUARDO BELMONTE 2º ANO ENSINO MÉDIO FATOS SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO Todas as redações desenvolvidas no ENEM são avaliadas;
A REDAÇÃO NO ENEM INSTITUTO SANTA LUZIA COMPONENTE CURRICULAR: REDAÇÃO PROFESSOR: EDUARDO BELMONTE 2º ANO ENSINO MÉDIO FATOS SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO Todas as redações desenvolvidas no ENEM são avaliadas;
Negação em Logical Forms.
 Negação em Logical Forms 125 Oswaldo Chateaubriand 1 Negação em Logical Forms Negação em Logical Forms. Oswaldo Chateaubriand Resumo Neste artigo enumero e discuto brevemente algumas teses centrais de
Negação em Logical Forms 125 Oswaldo Chateaubriand 1 Negação em Logical Forms Negação em Logical Forms. Oswaldo Chateaubriand Resumo Neste artigo enumero e discuto brevemente algumas teses centrais de
Disciplina: Filosofia Série: 10 Unidade: Primeira Content Area: Philosophy Grade 10 Quarter I
 Disciplina: Filosofia Série: 10 Unidade: Primeira Content Area: Philosophy Grade 10 Quarter I 1.1 1.2 1.3 Conhecimento filosófico, religioso, científico e senso comum. Filosofia e lógica. Milagre Grego.
Disciplina: Filosofia Série: 10 Unidade: Primeira Content Area: Philosophy Grade 10 Quarter I 1.1 1.2 1.3 Conhecimento filosófico, religioso, científico e senso comum. Filosofia e lógica. Milagre Grego.
26/08/2013. Gnosiologia e Epistemologia. Prof. Msc Ayala Liberato Braga GNOSIOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO GNOSIOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO
 Gnosiologia e Epistemologia Prof. Msc Ayala Liberato Braga Conhecimento filosófico investigar a coerência lógica das ideias com o que o homem interpreta o mundo e constrói sua própria realidade. Para a
Gnosiologia e Epistemologia Prof. Msc Ayala Liberato Braga Conhecimento filosófico investigar a coerência lógica das ideias com o que o homem interpreta o mundo e constrói sua própria realidade. Para a
Prova Escrita de Filosofia VERSÃO º Ano de Escolaridade. Prova 714/1.ª Fase. Entrelinha 1,5, sem figuras nem imagens, texto alinhado à esquerda
 EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho Prova Escrita de Filosofia 11.º Ano de Escolaridade Prova 714/1.ª Fase 14 Páginas Entrelinha 1,5, sem figuras nem imagens, texto
EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho Prova Escrita de Filosofia 11.º Ano de Escolaridade Prova 714/1.ª Fase 14 Páginas Entrelinha 1,5, sem figuras nem imagens, texto
Filosofia COTAÇÕES GRUPO I GRUPO II GRUPO III. Teste Intermédio de Filosofia. Teste Intermédio. Duração do Teste: 90 minutos
 Teste Intermédio de Filosofia Teste Intermédio Filosofia Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março 1. 2. COTAÇÕES GRUPO I 1.1.... 10 pontos
Teste Intermédio de Filosofia Teste Intermédio Filosofia Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março 1. 2. COTAÇÕES GRUPO I 1.1.... 10 pontos
A Importância da Lógica para o Ensino da Matemática
 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte FANAT - Departamento de Informática Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi Curso de Sistemas de Informação A Importância da Lógica para o Ensino
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte FANAT - Departamento de Informática Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi Curso de Sistemas de Informação A Importância da Lógica para o Ensino
Conceito de Moral. O conceito de moral está intimamente relacionado com a noção de valor
 Ética e Moral Conceito de Moral Normas Morais e normas jurídicas Conceito de Ética Macroética e Ética aplicada Vídeo: Direitos e responsabilidades Teoria Exercícios Conceito de Moral A palavra Moral deriva
Ética e Moral Conceito de Moral Normas Morais e normas jurídicas Conceito de Ética Macroética e Ética aplicada Vídeo: Direitos e responsabilidades Teoria Exercícios Conceito de Moral A palavra Moral deriva
RELAÇÕES%DE%PRESSUPOSIÇÃO%E%ACARRETAMENTO%NA%COMPREENSÃO% DE%TEXTOS% PRESUPPOSITION%AND%ENTAILMENT%RELATIONS%IN%TEXT% COMPREHENSION%
 RELAÇÕESDEPRESSUPOSIÇÃOEACARRETAMENTONACOMPREENSÃO DETEXTOS PRESUPPOSITIONANDENTAILMENTRELATIONSINTEXT COMPREHENSION KarinaHufdosReis 1 RESUMO: Partindo das definições de pressuposição e acarretamento,
RELAÇÕESDEPRESSUPOSIÇÃOEACARRETAMENTONACOMPREENSÃO DETEXTOS PRESUPPOSITIONANDENTAILMENTRELATIONSINTEXT COMPREHENSION KarinaHufdosReis 1 RESUMO: Partindo das definições de pressuposição e acarretamento,
Aluno(a): Código: 2 Rua T-53 Qd. 92 Lt. 10/11 nº 1356 Setor Bueno Dada a função f(x) =, determine:
 luno(a): Código: Série: 1ª Turma: Data: / / x 2 03. Dada a função f(x) =, determine: x 2 4 a) o domínio da função f. 01. O conjunto = {1, 2, 3, 4, 5} foi representado duas vezes, na forma de diagrama,
luno(a): Código: Série: 1ª Turma: Data: / / x 2 03. Dada a função f(x) =, determine: x 2 4 a) o domínio da função f. 01. O conjunto = {1, 2, 3, 4, 5} foi representado duas vezes, na forma de diagrama,
ÍNDICE. Bibliografia CRES-FIL11 Ideias de Ler
 ÍNDICE 1. Introdução... 5 2. Competências essenciais do aluno... 6 3. Como ler um texto... 7 4. Como ler uma pergunta... 8 5. Como fazer um trabalho... 9 6. Conteúdos/Temas 11.º Ano... 11 III Racionalidade
ÍNDICE 1. Introdução... 5 2. Competências essenciais do aluno... 6 3. Como ler um texto... 7 4. Como ler uma pergunta... 8 5. Como fazer um trabalho... 9 6. Conteúdos/Temas 11.º Ano... 11 III Racionalidade
Proposições e argumentos. Proposições tem de ter as seguintes características:
 Ser uma frase declarativa (afirmativa ou negativa) Ter sentido Proposições e argumentos Proposições tem de ter as seguintes características: Ter um valor de verdade( ser verdadeira ou falsa) possível determinável
Ser uma frase declarativa (afirmativa ou negativa) Ter sentido Proposições e argumentos Proposições tem de ter as seguintes características: Ter um valor de verdade( ser verdadeira ou falsa) possível determinável
Filosofia (aula 9) Dimmy Chaar Prof. de Filosofia. SAE
 Filosofia (aula 9) Prof. de Filosofia SAE leodcc@hotmail.com Lógica O problema lógico, embora para alguns possa parecer artificial, impõe-se por si. Ele surge logo que se nota que alguns conhecimentos
Filosofia (aula 9) Prof. de Filosofia SAE leodcc@hotmail.com Lógica O problema lógico, embora para alguns possa parecer artificial, impõe-se por si. Ele surge logo que se nota que alguns conhecimentos
Campos Sales (CE),
 UNIERSIDADE REGIONAL DO CARIRI URCA PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO PROGRAD UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CAMPOS SALES CAMPI CARIRI OESTE DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DISCIPLINA: Tópicos de Matemática SEMESTRE:
UNIERSIDADE REGIONAL DO CARIRI URCA PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO PROGRAD UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CAMPOS SALES CAMPI CARIRI OESTE DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DISCIPLINA: Tópicos de Matemática SEMESTRE:
Resumo: A grande maioria dos dilemas filosóficos, só
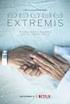 Filosofia Clínica e Exames Categoriais Contribuições de Ryle para a Filosofia Clínica, em especial para os exames Categoriais. Vera Lucia Laporta Analista junguiana e Especialista em Formação em Filosofia
Filosofia Clínica e Exames Categoriais Contribuições de Ryle para a Filosofia Clínica, em especial para os exames Categoriais. Vera Lucia Laporta Analista junguiana e Especialista em Formação em Filosofia
APONTAMENTOS ACERCA DA NOÇÃO DE SER NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA DE KANT. Edegar Fronza Junior. Introdução
 APONTAMENTOS ACERCA DA NOÇÃO DE SER NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA DE KANT Edegar Fronza Junior Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal analisar e discutir a noção de ser na Crítica da Razão Pura
APONTAMENTOS ACERCA DA NOÇÃO DE SER NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA DE KANT Edegar Fronza Junior Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal analisar e discutir a noção de ser na Crítica da Razão Pura
Conclusão. positivo, respectivamente, à primeira e à terceira questões. A terceira questão, por sua vez, pressupõe uma resposta positiva à primeira.
 Conclusão Procuramos, ao longo deste trabalho, responder às seguintes perguntas sobre negação e propriedades negadas 1 : (i) É legítima a distinção entre negação predicativa e negação proposicional? (ii)
Conclusão Procuramos, ao longo deste trabalho, responder às seguintes perguntas sobre negação e propriedades negadas 1 : (i) É legítima a distinção entre negação predicativa e negação proposicional? (ii)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS- GRADUAÇÃO COORDENAÇÃO GERAL DE PESQUISA INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA - ICV
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS- GRADUAÇÃO COORDENAÇÃO GERAL DE PESQUISA INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA - ICV RESUMO EXPANDIDO (2009-2010) A ÉTICA NA FORMAÇÃO DOS PEDAGOGOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS- GRADUAÇÃO COORDENAÇÃO GERAL DE PESQUISA INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA - ICV RESUMO EXPANDIDO (2009-2010) A ÉTICA NA FORMAÇÃO DOS PEDAGOGOS
Lógica Matemática UNIDADE I. Professora: M.Sc. Juciara do Nascimento César
 Lógica Matemática UNIDADE I Professora: M.Sc. Juciara do Nascimento César 1 A Lógica na Cultura Helênica A Lógica foi considerada na cultura clássica e medieval como um instrumento indispensável ao pensamento
Lógica Matemática UNIDADE I Professora: M.Sc. Juciara do Nascimento César 1 A Lógica na Cultura Helênica A Lógica foi considerada na cultura clássica e medieval como um instrumento indispensável ao pensamento
DISCIPLINA: Psicologia B CÓDIGO DA PROVA: 340
 DISCIPLINA: Psicologia B CÓDIGO DA PROVA: 340 CICLO: Secundário ANO DE ESCOLARIDADE: 12º 1. Introdução O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à frequência
DISCIPLINA: Psicologia B CÓDIGO DA PROVA: 340 CICLO: Secundário ANO DE ESCOLARIDADE: 12º 1. Introdução O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à frequência
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE. O que é Ciência?
 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE O que é Ciência? O QUE É CIÊNCIA? 1 Conhecimento sistematizado como campo de estudo. 2 Observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo de fenômenos
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE O que é Ciência? O QUE É CIÊNCIA? 1 Conhecimento sistematizado como campo de estudo. 2 Observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo de fenômenos
FILOSOFIA COMENTÁRIO DA PROVA DE FILOSOFIA
 COMENTÁRIO DA PROVA DE FILOSOFIA Mais uma vez a UFPR oferece aos alunos uma prova exigente e bem elaborada, com perguntas formuladas com esmero e citações muito pertinentes. A prova de filosofia da UFPR
COMENTÁRIO DA PROVA DE FILOSOFIA Mais uma vez a UFPR oferece aos alunos uma prova exigente e bem elaborada, com perguntas formuladas com esmero e citações muito pertinentes. A prova de filosofia da UFPR
1. Quanto às afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA : I O direito é autônomo, enquanto a moral é heterônoma.
 P á g i n a 1 PROVA DAS DISCIPLINAS CORRELATAS TEORIA GERAL DO DIREITO 1. Quanto às afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA : I O direito é autônomo, enquanto a moral é heterônoma. II O valor jurídico
P á g i n a 1 PROVA DAS DISCIPLINAS CORRELATAS TEORIA GERAL DO DIREITO 1. Quanto às afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA : I O direito é autônomo, enquanto a moral é heterônoma. II O valor jurídico
LISTA DE CONTEÚDOS PARA RECUPERAÇÃO FINAL Professor: Airton José Müller Componente Curricular: Filosofia
 LISTA DE CONTEÚDOS PARA RECUPERAÇÃO FINAL - 2015 Professor: Airton José Müller Componente Curricular: Filosofia 7º Ano Filósofos Clássicos. A filosofia clássica. Sócrates de Atenas: o poder das perguntas
LISTA DE CONTEÚDOS PARA RECUPERAÇÃO FINAL - 2015 Professor: Airton José Müller Componente Curricular: Filosofia 7º Ano Filósofos Clássicos. A filosofia clássica. Sócrates de Atenas: o poder das perguntas
FUNDAMENTOS DE LÓGICA E ALGORITMOS
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAMENTOS DE LÓGICA E ALGORITMOS AULA 01 Docente: Éberton da Silva Marinho e-mail: ebertonsm@gmail.com 27/05/2016 SUMÁRIO Introdução
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAMENTOS DE LÓGICA E ALGORITMOS AULA 01 Docente: Éberton da Silva Marinho e-mail: ebertonsm@gmail.com 27/05/2016 SUMÁRIO Introdução
Agenealogia dos Estudos Culturais é objeto de dissenso
 Cinqüentenário de um discurso cultural fundador WILLIAMS, R. Culture and society 1780-1950. [Londres, Longman, 1958]. Cultura e sociedade. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1969. Agenealogia dos Estudos
Cinqüentenário de um discurso cultural fundador WILLIAMS, R. Culture and society 1780-1950. [Londres, Longman, 1958]. Cultura e sociedade. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1969. Agenealogia dos Estudos
19/05/2017 DOUGLAS LÉO RACIOCÍNIO LÓGICO
 DOUGLAS LÉO RACIOCÍNIO LÓGICO 1. (VUNESP PERITO CRIMINAL PC-SP 2014) Das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. a) Ser um perito criminal ou não ser? Que dúvida!
DOUGLAS LÉO RACIOCÍNIO LÓGICO 1. (VUNESP PERITO CRIMINAL PC-SP 2014) Das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. a) Ser um perito criminal ou não ser? Que dúvida!
2012 COTAÇÕES. Prova Escrita de Filosofia. 11.º Ano de Escolaridade. Prova 714/1.ª Fase. Critérios de Classificação GRUPO I GRUPO II GRUPO III
 EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Filosofia.º Ano de Escolaridade Prova 74/.ª Fase Critérios de Classificação Páginas 202 COTAÇÕES GRUPO I....
EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Filosofia.º Ano de Escolaridade Prova 74/.ª Fase Critérios de Classificação Páginas 202 COTAÇÕES GRUPO I....
Interpretações, cap. 8 de Introdução à Lógica (Mortari 2001) Luiz Arthur Pagani
 Interpretações, cap. 8 de Introdução à Lógica (Mortari 2001) Luiz Arthur Pagani 1 1 Signicado e verdade condições para verdadeiro ou falso: Como um argumento é (intuitivamente) válido se não é possível
Interpretações, cap. 8 de Introdução à Lógica (Mortari 2001) Luiz Arthur Pagani 1 1 Signicado e verdade condições para verdadeiro ou falso: Como um argumento é (intuitivamente) válido se não é possível
5 Conclusão. ontologicamente distinto.
 5 Conclusão Considerando a força dos três argumentos anti-materialistas defendidos por Chalmers e a possibilidade de doutrinas alternativas não materialistas, devemos definitivamente abandonar o materialismo?
5 Conclusão Considerando a força dos três argumentos anti-materialistas defendidos por Chalmers e a possibilidade de doutrinas alternativas não materialistas, devemos definitivamente abandonar o materialismo?
1 TEORIA DOS CONJUNTOS
 1 TEORIA DOS CONJUNTOS Definição de Conjunto: um conjunto é uma coleção de zero ou mais objetos distintos, chamados elementos do conjunto, os quais não possuem qualquer ordem associada. Em outras palavras,
1 TEORIA DOS CONJUNTOS Definição de Conjunto: um conjunto é uma coleção de zero ou mais objetos distintos, chamados elementos do conjunto, os quais não possuem qualquer ordem associada. Em outras palavras,
SENTIDOS E PROPRIEDADES 1. Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2
 Abstracta 1:1 pp. 40 51, 2004 SENTIDOS E PROPRIEDADES 1 Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2 Abstract: This article proposes an interpretation of the sense/reference distinction, especially regarding predicates.
Abstracta 1:1 pp. 40 51, 2004 SENTIDOS E PROPRIEDADES 1 Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2 Abstract: This article proposes an interpretation of the sense/reference distinction, especially regarding predicates.
Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.
 EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho Prova Escrita de Filosofia 11.º Ano de Escolaridade Prova 714/1.ª Fase 8 Páginas Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30
EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho Prova Escrita de Filosofia 11.º Ano de Escolaridade Prova 714/1.ª Fase 8 Páginas Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30
EMENTÁRIO DO CURSO DE FILOSOFIA FAM
 1 FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE MARIANA Rodovia dos Inconfidentes, km 108-35420-000 Mariana MG - Fone: 31 3558 1439 / 3557 1220 Credenciada pelo MEC pela Portaria nº 2.486, de 12 de setembro de 2003 EMENTÁRIO
1 FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE MARIANA Rodovia dos Inconfidentes, km 108-35420-000 Mariana MG - Fone: 31 3558 1439 / 3557 1220 Credenciada pelo MEC pela Portaria nº 2.486, de 12 de setembro de 2003 EMENTÁRIO
INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA FILOSOFIA MAIO 2017 Prova: 161
 INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA FILOSOFIA MAIO 2017 Prova: 161 Escrita 10.º e 11.º de Escolaridade (Portaria n.º 207/2008, de 25 de Fevereiro - Cursos Tecnológicos de informática; Contabilidade
INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA FILOSOFIA MAIO 2017 Prova: 161 Escrita 10.º e 11.º de Escolaridade (Portaria n.º 207/2008, de 25 de Fevereiro - Cursos Tecnológicos de informática; Contabilidade
MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA REDAÇÃO DETALHAMENTO POR COMPETÊNCIA FUVEST
 MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA REDAÇÃO DETALHAMENTO POR COMPETÊNCIA FUVEST C1- Desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo-argumentativo (Peso 4) Aqui são avaliados se o aluno cumpriu todos
MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA REDAÇÃO DETALHAMENTO POR COMPETÊNCIA FUVEST C1- Desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo-argumentativo (Peso 4) Aqui são avaliados se o aluno cumpriu todos
Versão 1. Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
 Teste Intermédio de Filosofia Versão 1 Teste Intermédio Filosofia Versão 1 Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Na folha de respostas,
Teste Intermédio de Filosofia Versão 1 Teste Intermédio Filosofia Versão 1 Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Na folha de respostas,
Filosofia da Comunicação:
 MÍLOVIC, Míroslav. Filosofia da Comunicação: Para uma crítica da Modernidade. Tradução do manuscrito em inglês por Verrah Chamma. Brasília: Plano Editora, 2002, 310 p. Paulo Roberto Andrade de Almeida
MÍLOVIC, Míroslav. Filosofia da Comunicação: Para uma crítica da Modernidade. Tradução do manuscrito em inglês por Verrah Chamma. Brasília: Plano Editora, 2002, 310 p. Paulo Roberto Andrade de Almeida
Unidade 2: História da Filosofia. Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes
 Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes Períodos Históricos da Filosofia Filosofia Grega ou Antiga (Séc. VI a.c. ao VI d.c.) Filosofia Patrística (Séc. I ao VII) Filosofia
Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes Períodos Históricos da Filosofia Filosofia Grega ou Antiga (Séc. VI a.c. ao VI d.c.) Filosofia Patrística (Séc. I ao VII) Filosofia
edelman 7/9/05 15:22 Página 19 CAPÍTULO 1 A Mente do Homem COMPLETANDO O PROGRAMA DE DARWIN
 edelman 7/9/05 15:22 Página 19 CAPÍTULO 1 A Mente do Homem COMPLETANDO O PROGRAMA DE DARWIN Em 1869, Charles Darwin exasperou-se com o seu amigo Alfred Wallace, co-fundador da teoria da evolução. Tinham
edelman 7/9/05 15:22 Página 19 CAPÍTULO 1 A Mente do Homem COMPLETANDO O PROGRAMA DE DARWIN Em 1869, Charles Darwin exasperou-se com o seu amigo Alfred Wallace, co-fundador da teoria da evolução. Tinham
Não considerada: 0 pontos Precário: 40 pontos Insuficiente: 80 pontos Mediano: 120 pontos Bom: 160 pontos Ótimo: 200 pontos
 Competências ENEM Antes de relacionarmos as cinco competências do ENEM, esclarecemos que a prova de redação vale 1000 pontos no total (dividindo esse valor entre os 5 aspectos, cada um deles tem peso de
Competências ENEM Antes de relacionarmos as cinco competências do ENEM, esclarecemos que a prova de redação vale 1000 pontos no total (dividindo esse valor entre os 5 aspectos, cada um deles tem peso de
FILOSOFIA BREVE PANORAMA GERAL FILOSOFIA ANTIGA
 FILOSOFIA BREVE PANORAMA GERAL FILOSOFIA ANTIGA SOBRE FILOSOFIA DEFINIÇÃO TRADICIONAL (segundo a perspectiva ocidental) TEOLOGIA CIÊNCIA certezas dúvidas Bertrand Russell (1872-1970) utiliza seus temas
FILOSOFIA BREVE PANORAMA GERAL FILOSOFIA ANTIGA SOBRE FILOSOFIA DEFINIÇÃO TRADICIONAL (segundo a perspectiva ocidental) TEOLOGIA CIÊNCIA certezas dúvidas Bertrand Russell (1872-1970) utiliza seus temas
Angioni, Lucas. As Noções Aristotélicas de Substância e Essência. (Editora Unicamp 2008), ISBN , 415 pp.
 Angioni, Lucas. As Noções Aristotélicas de Substância e Essência. (Editora Unicamp 2008), ISBN 978-85-268-0816-4, 415 pp. Raphael Zillig (UFPR) Reconstituir o sentido de um texto filosófico antigo exige,
Angioni, Lucas. As Noções Aristotélicas de Substância e Essência. (Editora Unicamp 2008), ISBN 978-85-268-0816-4, 415 pp. Raphael Zillig (UFPR) Reconstituir o sentido de um texto filosófico antigo exige,
Pensamento e linguagem
 Pensamento e linguagem Função da linguagem Comunicar o pensamento É universal (há situações que nem todos sabem fazer), mas todos se comunicam Comunicação verbal Transmissão da informação Características
Pensamento e linguagem Função da linguagem Comunicar o pensamento É universal (há situações que nem todos sabem fazer), mas todos se comunicam Comunicação verbal Transmissão da informação Características
ÍNDICE. Lição 8 Conceitos Fundamentais da Teoria dos Conjuntos 49. Representação Simbólica dos Conceitos Fundamentais da Teoria dos
 ÍNDICE Prefácio PARTE I LÓGICA ARISTOTÉLICA Lição 1 Introdução. Lógica Aristotélica: Noções Básicas 9 Lição 2 O Quadrado da Oposição 15 Lição 3 Conversão, Obversão e Contraposição 21 Lição 4 A Teoria do
ÍNDICE Prefácio PARTE I LÓGICA ARISTOTÉLICA Lição 1 Introdução. Lógica Aristotélica: Noções Básicas 9 Lição 2 O Quadrado da Oposição 15 Lição 3 Conversão, Obversão e Contraposição 21 Lição 4 A Teoria do
O atual rei da França é calvo
 FILOSOFIA ANALÍTICA E FILOSOFIA CLÍNICA: ONDE ELAS SE ENCONTRAM? 1 Mariluze Ferreira de Andrade e Silva Departamento de Filosofia e Métodos UFSJ Laboratório de Lógica e Epistemologia UFSJ A Linguagem como
FILOSOFIA ANALÍTICA E FILOSOFIA CLÍNICA: ONDE ELAS SE ENCONTRAM? 1 Mariluze Ferreira de Andrade e Silva Departamento de Filosofia e Métodos UFSJ Laboratório de Lógica e Epistemologia UFSJ A Linguagem como
BuscaLegis.ccj.ufsc.br
 BuscaLegis.ccj.ufsc.br Interpretação constitucional Luiz Carlos Saldanha Rodrigues Junior * Como citar este artigo: JUNIOR, Luiz Carlos Saldanha Rodrigues. Interpretação constitucional. Disponível em http://www.iuspedia.com.br
BuscaLegis.ccj.ufsc.br Interpretação constitucional Luiz Carlos Saldanha Rodrigues Junior * Como citar este artigo: JUNIOR, Luiz Carlos Saldanha Rodrigues. Interpretação constitucional. Disponível em http://www.iuspedia.com.br
POR QUE ENSINAR GRAMÁTICA
 POR QUE ENSINAR GRAMÁTICA José Fernandes Vilela (UFMG) Quando se indaga por que ensinar teoria gramatical, está-se, na verdade, indagando para que ensiná-la. Ou seja, estão-se buscando, em linguagem pedagógica,
POR QUE ENSINAR GRAMÁTICA José Fernandes Vilela (UFMG) Quando se indaga por que ensinar teoria gramatical, está-se, na verdade, indagando para que ensiná-la. Ou seja, estão-se buscando, em linguagem pedagógica,
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA CONCURSO PÚBLICO DE SÃO MATEUS RESPOSTA AO RECURSO DA PROVA OBJETIVA
 CONCURSO PÚBLICO DE SÃO MATEUS CARGO: Fonoaudiólogo S 43 QUESTÃO NÚMERO: 03 Embora a candidata não tenha apresentado fundamentação teórica, para dar origem ao presente recurso, esta Banca informa que a
CONCURSO PÚBLICO DE SÃO MATEUS CARGO: Fonoaudiólogo S 43 QUESTÃO NÚMERO: 03 Embora a candidata não tenha apresentado fundamentação teórica, para dar origem ao presente recurso, esta Banca informa que a
Um alfabeto é um conjunto de símbolos indivisíveis de qualquer natureza. Um alfabeto é geralmente denotado pela letra grega Σ.
 Linguagens O conceito de linguagem engloba uma variedade de categorias distintas de linguagens: linguagens naturais, linguagens de programação, linguagens matemáticas, etc. Uma definição geral de linguagem
Linguagens O conceito de linguagem engloba uma variedade de categorias distintas de linguagens: linguagens naturais, linguagens de programação, linguagens matemáticas, etc. Uma definição geral de linguagem
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER
 RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM
 CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM CURSO DE DIREITO 1º BIMESTRE 2º SEMESTRE A/B LINGUAGEM JURÍDICA II - PROF. OSVALDO O TEXTO JURÍDICO E SUAS PRINCIPAIS PROPRIEDADES COESÃO REFERENCIAL, RECORRENCIAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM CURSO DE DIREITO 1º BIMESTRE 2º SEMESTRE A/B LINGUAGEM JURÍDICA II - PROF. OSVALDO O TEXTO JURÍDICO E SUAS PRINCIPAIS PROPRIEDADES COESÃO REFERENCIAL, RECORRENCIAL
Searle: Intencionalidade
 Searle: Intencionalidade Referências: Searle, John, The background of meaning, in Searle, J., Kiefer, F., and Bierwisch, M. (eds.), Speech Act Theory and Pragmatics, Dordrecht, Reidel, 1980, pp 221-232.
Searle: Intencionalidade Referências: Searle, John, The background of meaning, in Searle, J., Kiefer, F., and Bierwisch, M. (eds.), Speech Act Theory and Pragmatics, Dordrecht, Reidel, 1980, pp 221-232.
