Utilização de Flutuadores em Aulas de Natação para Crianças: Estudo Interventivo
|
|
|
- Marcos Campos Tavares
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Motricidade Edições Desafio Singular 2016, vol. 12, n. 2, pp Utilização de Flutuadores em Aulas de Natação para Crianças: Estudo Interventivo Flotation Devices in Swimming Lessons for Children: an Interventionist Study Rossane Trindade Wizer 1*, Cassio de Miranda Meira Junior 2, Flávio Antônio de Souza Castro 1 ARTIGO ORIGINAL ORIGINAL ARTICLE RESUMO Objetivou-se analisar a influência da utilização de flutuadores colocados nos braços sobre a aquisição de habilidades aquáticas em crianças (mediana da idade, em meses, de 40 ± 4.1). Elas foram divididas em dois grupos: aulas de natação com flutuadores (CFlut, n = 8) e sem flutuadores (SFlut, n = 9) e avaliadas com a Escala de Erbaugh de desempenho motor aquático, pré e pós-intervenção de oito semanas. Relatórios descritivos foram redigidos com informações sobre comportamento das crianças ao longo da intervenção e dificuldades encontradas pelo professor. Em relação à análise geral das tarefas, os grupos não apresentaram diferenças, no entanto, o grupo SFlut apresentou melhores resultados nas tarefas de deslocamento e saltos. A ausência de flutuadores pode ter gerado melhor percepção das forças que atuam na água. Palavras-chave: adaptação, habilidades aquáticas, ensino, aprendizagem ABSTRACT It was aimed to analyze the influence of arms floats devices use in the acquisition of aquatic skills in children (median of age, in months, 40 ± 4.1). They were divided in two groups: swimming classes with floats (CFlut, n = 8) and without floats (SFlut, n = 9). They were evaluated by Erbaugh Scale of aquatic motor performance, pre and post-intervention of eight weeks. Descriptive reports were made with information about children behavior during the intervention period and difficulties encountered by the teacher. No differences were found between groups when compared for the overall analysis of the tasks; however the SFlut group had better results in the shifts and jumps into the water tasks. The floats absence may have generated better understanding of the forces in the water. Keywords: adaptation, aquatic abilities, teaching, learning. Artigo recebido a ; Aceite a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Educação Física, Porto Alegre, Brasil 2 Universidade de São Paulo Escola de Artes, Ciências e Humanidades, São Paulo, Brasil * Autor correspondente: UFRGS, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança. Rua Felizardo, 750, Jardim Botânico, Porto Alegre, RS, Brasil. rossanew@hotmail.com
2 98 RT Wizer, FAS Castro, CMM Junior INTRODUÇÃO Quando uma criança inicia atividades no meio aquático, um dos desafios colocados, tanto pela criança, quanto pelo professor, é o da flutuação (Parker, Blanksby, & Quek, 1999). Esta questão, quando as aulas são realizadas em lugares onde a criança não alcança o fundo, está intimamente relacionada à segurança durante as aulas. Uma possibilidade de recurso pedagógico, relativo à segurança, é a utilização de flutuadores de braços (Figura 1) que, ao serem inflados, permitem a flutuação da criança. Figura 1. Crianças participantes deste estudo com os flutuadores de braços/braçadeiras. Barbosa (2004)e Gama e Carracedo (2010) defendem o uso de materiais auxiliares à flutuação no início da aprendizagem, por oferecerem segurança ao aprendiz, além de tornar o meio mais atrativo para o aluno iniciante, que apresenta, nessa fase, poucas possibilidades de relação com o meio líquido. Já Xavier-Filho e Manoel (2002) salientam que flutuadores podem, até mesmo, atrasar a aquisição da estabilidade postural no meio líquido, isso porque esses materiais dificultariam a consciencialização da flutuação, ao adiar a necessidade e a motivação dos aprendizes em conquistar o equilíbrio relacionado à flutuação no meio aquático. Assim, o problema referente à flutuação que deveria ser sanado, na verdade é apenas protelado. De modo específico, durante o processo de aprendizagem das habilidades aquáticas básicas, a criança depara-se com um meio cujas características físicas são distintas daquele em que vive. Deste modo, o estudo da aquisição e do desenvolvimento de habilidades aquáticas deve considerar as características do meio, já que estas influenciam, sobremaneira, o modo como nos relacionamos com a água, especialmente a criança em desenvolvimento. O meio líquido é mais denso e viscoso que o ar, o que acarreta maior arrasto, em relação ao ar, e considerável valor de impulso (Castro & Loss, 2010). Além disso, a posição básica do corpo para os deslocamentos é próxima à horizontal. As características do meio líquido acabam por gerar habilidades que são exclusivas desse ambiente, por exemplo, a flutuação (Castro & Loss, 2010). No contexto das aulas de natação, percebe-se que a utilização de flutuadores durante o processo de ensino das habilidades aquáticas ainda é considerada um problema, ou seja, um tema gerador de controvérsias (Fernandes & Costa, 2006; Parker et al., 1999). Professores de natação, com frequência, se apoiam apenas em experiências do quotidiano para sustentar a sua intervenção pedagógica, de modo que a qualidade do ensino da natação torna-se comprometida. Isso ocorre porque há pouca base teórica que sustente a prática profissional em relação à utilização de flutuadores. Ao constatar essa demanda relativa ao ensino da natação, a seguinte questão foi elaborada: como os flutuadores influenciam o processo de aquisição das habilidades aquáticas? A importância dessa questão ganha sustentação quando se percebe que esse tema é pouco discutido com base em resultados de pesquisas pedagógicas e interventivas (Lobo da Costa, 2010). Um exemplo dos poucos estudos de caráter interventivo relacionado ao uso dos flutuadores é o de Parker, Blanksby, e Quek (1999), entretanto a maioria da literatura disponível sobre o tema corresponde a livrostextos como o de Catteau e Garoff (1990), ou ainda artigos de revisão como os de Xavier-Filho e Manoel (2002)e de Barbosa (2004). Observando essas limitações, optou-se por realizar um estudo com caráter eminentemente prático, no próprio ambiente de aula, com o propósito de tornar mais próxima possível a situação de pesquisa do mundo real da prática pedagógica. Segundo Tani, Dantas, e Manoel (2008), pesquisas com essa característica enquadram-se no âmbito da pedagogia da natação e apresentam, como principal função, oferecer soluções aos problemas advindos da prática. Assim, a presente pesquisa objetiva
3 Uso de flutuadores em aulas de natação 99 verificar a influência do uso sistemático e regular de flutuadores colocados nos braços (braçadeiras) sobre o processo de aquisição das habilidades aquáticas em crianças de três anos de idade, a fim de melhor instrumentalizar professores na escolha de suas estratégias pedagógicas durante as atividades de ensino/aprendizagem no meio aquático para crianças. Acredita-se que o uso dos flutuadores/braçadeiras favorece o processo de aquisição das habilidades aquáticas, já que aumenta as possibilidades de movimento da criança que não possui experiência na água e, ainda, possibilita, desde o princípio, a relação autônoma da criança com o meio. MÉTODO Participantes Participaram deste estudo 17 crianças, com mediana de idade de 40 ± 4.1 meses, que se inscreveram em aulas de natação específicas para esta pesquisa. Após selecionados, os participantes foram divididos em dois grupos, com base na idade, em meses. O procedimento consistia em equiparar as crianças pela idade e dividi-las entre os dois grupos, de modo que duas crianças com igual idade eram colocadas em grupos diferentes. Buscou-se, com esse procedimento, compor os grupos de maneira homogênea. Do grupo com flutuadores (CFlut) participaram oito crianças (mediana da idade, em meses, de 37.5 ± 3.6), cujas aulas foram ministradas com o auxílio de flutuadores. O grupo sem flutuadores (SFlut) foi composto de nove crianças (mediana da idade, em meses, de 44 ± 3.9), cujas aulas foram ministradas sem o auxílio de flutuadores. Ressalta-se que houve perda amostral após o início da intervenção, o que gerou o diferente número de participantes nos grupos. As crianças selecionadas para o estudo não possuíam experiência prévia em aulas de natação, pois nunca haviam realizado nenhuma aula até então. Segundo os pais, os seus filhos gostavam de brincar na água. A maioria delas, 11 entre as 17, entrava em contato com o meio aquático algumas vezes e, entre os ambientes aquáticos mais frequentados, estavam a banheira, a piscina e o mar. O tamanho amostral foi definido de acordo com a viabilidade do estudo, levando-se em conta: (1) segurança nas aulas, (2) dados de estudos prévios (Donaldson, Blanksby, & Heard, 2010) e (3) número mínimo de participantes que possibilitasse tratamento estatístico. Para que, ao final da intervenção, continuassem a fazer parte do estudo, as crianças deveriam ter 70% de frequência, ou seja, estar presente em 11 das 16 aulas que foram oferecidas (no grupo CFlut, duas crianças estiveram presentes em 11 aulas, duas em 12, duas em 13, uma em 14 e uma em 15 aulas; no grupo SFlut, três crianças estiveram presentes em 11 aulas, uma em 13, uma em 14, uma em 15 e três em 16 aulas). Informações sobre experiências prévias dos participantes foram obtidas por meio de questionário respondido pelos pais em reunião prévia ao início dos testes. A reunião foi realizada com o objetivo de esclarecer dúvidas relacionadas à pesquisa, após, o termo de consentimento livre e esclarecido foi entregue aos pais que demonstraram interesse em participar da pesquisa. O estudo foi conduzido de acordo com os preceitos éticos definidos pela declaração de Helsínquia para pesquisas com seres humanos. Além disso, esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade onde o estudo foi realizado (número ). Instrumentos Para coletar os dados e as informações foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos. Dados quantitativos foram obtidos por meio da Escala de Erbaugh (Erbaugh, 1981), de natureza ordinal, criada com o objetivo de avaliar o desempenho aquático de crianças pré-escolares e composta por 68 itens divididos em seis categorias/tarefas (1 - apanhar objetos no fundo da piscina, 2 - deslocamento ventral, 3 - pernadas, 4 - deslocamento dorsal, 5 - entrada na piscina e 6 - mergulhos partindo da borda). As tarefas representam habilidades aquáticas e os itens de cada tarefa são organizados pela ordem de dificuldade, início com tarefas simples e evolução para tarefas mais complexas (Erbaugh, 1978). Antes da avaliação pré-intervenção, a escala foi analisada individualmente e em conjunto pelos
4 100 RT Wizer, FAS Castro, CMM Junior avaliadores. Este instrumento foi previamente estudado em relação à reprodutibilidade e validade (Bradley, Parker, & Blanksby, 1996; Erbaugh, 1978). Para complementar os dados, relatórios descritivos foram redigidos com base na observação de cada aula. Segundo Gaya (2008), o modelo observacional permite que a coleta seja realizada em ambientes de ensino sem interferir na dinâmica dos participantes, além de possibilitar a observação de acontecimentos inesperados. Dos relatórios constaram dados relativos: (1) aos aspectos emocionais apresentados pelas crianças durante as aulas, (2) aos avanços no comportamento aquático da turma e (3) às dificuldades encontradas pelo professor-pesquisador. Esses dados foram utilizados para complementar os resultados da Escala de Erbaugh (1981) e dar suporte à discussão. Procedimentos A primeira avaliação aconteceu antes do início da intervenção (pré-intervenção) e a segunda avaliação ocorreu após o término da intervenção (pós-intervenção). Três avaliadores (professorapesquisadora e um professor, ambos formados em Educação Física e uma estagiária, estudante do mesmo curso) aplicaram o teste nos dois momentos. A piscina utilizada possui 6 m 16 m 1.40 m, com água aquecida à, aproximadamente 31ºC (entre 30 e 32ºC). Durante as avaliações, um avaliador ficou dentro da piscina para explicar e solicitar às crianças o cumprimento das tarefas. Outro avaliador ficou responsável por operar uma câmera de vídeo digital para gravação das tarefas, para posterior análise. As imagens obtidas foram analisadas por três observadores que atuaram de maneira independente com o objetivo de pontuar de acordo com a Escala de Erbaugh (1981). Quando dois ou três avaliadores pontuavam igualmente, o valor era considerado o correto. Não houve discordância entre os três avaliadores. O programa de intervenção foi constituído por 16 aulas distribuídas em oito semanas, cada semana com duas aulas de 30 minutos. As aulas dos dois grupos apresentavam os mesmos objetivos e conteúdos e foram semelhantes nos métodos, para impedir que estes aspectos se tornassem fator interveniente nos resultados. Três redutores de profundidade, de aproximadamente 1 m 1 m, foram utilizados durante as aulas em ambos os grupos para garantir segurança às crianças. Estes redutores permitiram que as crianças ficassem em pé enquanto aguardavam os colegas que estavam sendo auxiliados pelos professores durante os deslocamentos e atividades fora dos redutores. Foram utilizados para fins recreativos materiais como: arcos, espaguetes, materiais de E.V.A. e brinquedos que afundavam. A diferença entre os grupos foi a utilização de braçadeiras flutuadoras durante a intervenção. Enquanto um grupo participava das aulas sem nenhum auxílio à flutuação, o outro grupo fez uso desse material. No entanto, para que tivessem em igualdade de condições, as crianças do grupo CFlut não utilizaram flutuadores nos braços (braçadeiras) durante o teste pré-intervenção e pósintervenção. Quando solicitado pelo teste, foram utilizados espaguetes para o deslocamento das crianças de ambos os grupos. Ou seja, os testes da Escala de Erbaugh (Erbaugh, 1981) foram realizados, para ambos os grupos, sem braçadeiras. Análise estatística A estatística descritiva deste estudo, devido ao (1) tamanho amostral, às (2) características do instrumento de avaliação e às (3) distribuições não paramétricas das respostas (testadas com teste de Shapiro-Wilk), foi para dados nãoparamétricos: mediana, desvio-padrão e valores mínimos e máximos. A estatística inferencial adotada, devido às características já citadas, foi composta pelo teste de Wilcoxon para comparação intra-grupos e teste U de Mann- Whitney para comparação inter-grupos nos dados obtidos de idade e da Escala de Erbaugh. Os procedimentos estatísticos foram realizados no programa SPSS v e o nível de significância adotado foi de 0.05.
5 Uso de flutuadores em aulas de natação 101 RESULTADOS Em relação à idade, os grupos apresentaram resultados estatisticamente similares. A Tabela 1 mostra os dados relacionados à idade dos participantes. Tabela 1 Mediana, desvios padrão e valores mínimos e máximos de ambos os grupos em relação à idade das crianças, em meses, no início do estudo Grupos Idade CFlut (n = 8) 37.5 ± 3.6 (36 46) SFlut (n = 9) 44 ± 3.9 (36 47) Comparação entre as idades: U = 19.5; p = A tarefa 1 corresponde à habilidade de pegar objetos no fundo da piscina. Para essa tarefa, os grupos CFlut e SFlut apresentaram melhorias do pré para o pós-intervenção (Z= 2.23; p= 0.02 para o grupo CFlut e Z= 2.71; p= para o grupo SFlut). Quando comparados, os grupos apresentaram resultados similares nos períodos pré (U= 32.5; p= 0.61) e pós-intervenção (U= 27.5; p= 0.38). A Tabela 2 apresenta os resultados da Tarefa 1 (pegar objetos no fundo da piscina). Tabela 2 Mediana e valores mínimos e máximos de ambos os grupos durante pré e pós- intervenção para a tarefa de pegar objetos no fundo da piscina. Pré-intervenção Pós-intervenção Grupos/tarefa Pegar objetos no fundo da piscina CFlut (n = 8) 1 (0 1) 2.5 (1 4) SFlut (n = 9) 1 (0 1) 2 (1 2) Três tarefas compõem a habilidade de deslocamento. São elas: deslocamento em decúbito ventral (tarefa 2), movimento de pernas (tarefa 3) e deslocamento em decúbito dorsal (tarefa 4). Em relação às habilidades de deslocamento, o grupo CFlut apresentou melhorias nas habilidades de deslocar-se em decúbito ventral (Z= 2.53; p= 0.01) e movimento de pernas (Z= 2.37; p= 0.01). No entanto, não apresentou melhorias nas habilidades de deslocar-se em decúbito dorsal (Z= 1.26; p= 0.08). O grupo SFlut apresentou melhorias nas três habilidades relacionadas ao deslocamento (deslocar-se na posição de decúbito ventral, Z= 2.67; p< 0.001; realizar movimento de pernas, Z= 2.55; p= 0.01; deslocar-se em decúbito dorsal, Z= 2.68; p= 0.007). Quando comparados na pré-intervenção, os grupos apresentaram resultados similares na tarefa de deslocar-se em decúbito dorsal (U= 25.0; p= 0.25), no entanto, apresentaram diferenças nas tarefas de deslocar-se em decúbito ventral (U= 14.0; p= 0.02) e movimento de pernas (U= 15.0; p= 0.03), com o grupo CFlut obtendo melhores resultados. Já em relação aos resultados da pós-intervenção, os grupos apresentaram resultados similares nas três tarefas (U= 25.5; p= 0.27 para a habilidade de deslocar-se em decúbito ventral; U= 25.5; p= 0.13 para o movimento de pernas e U= 31.0; p= 0.62 na habilidade de deslocar-se em decúbito dorsal). A Tabela 3 demonstra os resultados das tarefas referentes aos deslocamentos. Tabela 3 Mediana e valores mínimos e máximos de ambos os grupos durante pré- e pós-intervenção para as tarefas que compõem os deslocamentos: decúbito ventral (2), movimento de pernas (3), decúbito dorsal (4). Pré intervenção Pós intervenção Grupos/tarefa Deslocamento em decúbito ventral CFlut (n = 8) 3 (2 3) 6.5 (3 11) SFlut (n = 9) 2 (0 3) 6 (3 7) Movimento de pernas CFlut (n = 8) 2 (todos os valores iguais a 2) 4.5 (2 13) SFlut (n = 9) 2 (1 2) 3 (2 5) Deslocamento em decúbito dorsal CFlut (n = 8) 2 (2 3) 4 (2 10) SFlut (n = 9) 2 (1 3) 4 (3 7) As tarefas 5 e 6 correspondem à entrada na piscina e mergulhos com partida da borda, respectivamente. As crianças do grupo CFlut não apresentaram melhorias do pré para o pós-intervenção na tarefa de entrar na piscina (Z= 1.26; p= 0.2), já o grupo SFlut apresentou melhorias (Z= 2.103; p.= 0.03). Na tarefa de mergulhar partindo da borda, os dois grupos não apresentaram melhorias do pré para o pós-intervenção (Z= 1.73; p= 0.08 para o grupo CFlut e Z= 1.00; p= 0.31 para o grupo SFlut). Em ambas as tarefas os grupos demonstraram resultados similares nos dois momentos avaliativos (U= 34.0; p= 0.84 no pré-intervenção e U= 35.5; p.= 0.96 no pós-intervenção na Tarefa 5 e U= 36.0; p= 1 no
6 102 RT Wizer, FAS Castro, CMM Junior pré-intervenção e U= 26.5; p= 0.21 no pósintervenção na Tarefa 6 - Tabela 4). Tabela 4 Mediana e valores mínimos e máximos de ambos os grupos durante pré e pós-intervenção para as tarefas de entrada na piscina (5) e mergulhos (6). Pré intervenção Pós intervenção Grupos/tarefa Entrada na piscina CFlut (n = 8) 3.5 (1 6) 7 (1 15) SFlut (n = 9) 4 (1 9) 6 (2 12) Mergulhos CFlut (n = 8) 0 (todos os valores iguais a 0) 0 (0 1) SFlut (n = 9) 0 (todos os valores iguais a 0) 0 (0 1) Em relação à soma da pontuação das tarefas, ambos os grupos apresentaram melhorias significativas (Z= 2.20; p= 0.02 para o grupo CFlut e Z= 2.66; p= para o grupo SFlut) e, ainda, ambos os grupos foram similares nos dois momentos de avaliação (U= 16.5; p= 0.06 no pré-intervenção e U= 27.0; p= 0.38 no pósintervenção - Tabela 5). Tabela 5 Mediana e valores mínimos e máximos de ambos os grupos durante pré e pós-intervenção para a soma dos valores das tarefas. Grupo Total pré-intervenção Total pós-intervenção CFlut (n = 8) 11.5 (8 15) 24.5 (12 54) SFlut (n = 9) 9 (7 18) 24 (12 31) DISCUSSÃO A utilização de flutuadores como recurso em aulas de natação é controversa, por isso este estudo teve como objetivo verificar a influência do uso sistemático e regular de flutuadores/braçadeiras sobre o processo de aquisição das habilidades aquáticas em crianças de três anos de idade. Os resultados encontrados no presente estudo não demonstraram diferenças entre as duas estratégias de ensino quando os grupos foram comparados em relação à soma das seis tarefas, resultado que é suportado pelos achados de Parker et al. (1999), sobre a evolução do processo de aprendizagem do nadar, com e sem materiais auxiliares à flutuação e ao deslocamento entre crianças de 7 anos de idade. Entretanto, diferenças no presente estudo foram encontradas quando as tarefas representativas das habilidades aquáticas foram analisadas separadamente, com melhores resultados para as crianças que não utilizaram as braçadeiras. Primeiramente, com relação às atividades que envolviam mergulho até o fundo da piscina (tarefa 1), tais como buscar materiais na base do redutor ou em locais mais profundos como o chão da piscina, professores tiveram que auxiliar as crianças do grupo CFlut na execução dessas atividades, durante as aulas, não durante os testes, empurrando-as até a base do redutor, já que o uso do material dificultou a submersão até o fundo da piscina. No entanto, mergulhos na superfície foram realizados independentemente do auxílio dos professores. Em ambos os grupos, o medo foi a dificuldade a ser superada pelas crianças, quanto a isso é importante citar os relatórios descritivos redigidos no início do período interventivo:...algumas crianças ainda parecem tensas e embora permaneçam na aula sem problemas, estão rígidos ao deslocarem-se com os professores de um redutor ao outro e também ao se comunicarem com os colegas (registro 2 grupo com flutuadores). Os alunos ainda preferem ficar próximos a borda, talvez porque este local deixe-os mais seguros, pois os que preferem estar próximos a borda, geralmente são aqueles que ainda estão mais inseguros em relação ao meio liquido (registro 6 - grupo sem flutuadores). Apesar disso, o medo foi superado pelas crianças, afirmação justificada pelos resultados positivos encontrados em ambos os grupos quando da comparação entre o pré e o pósintervenção. O uso dos flutuadores é defendido por Langerdorfer (1987) e Gama e Carracedo (2010) por diminuir os níveis de insegurança da criança. Assim, esperava-se que as crianças que faziam uso desse material apresentassem resultados superiores em relação ao processo de aprendizagem dos mergulhos, entretanto a ação dos flutuadores não parece ter gerado influência nessa situação, já que em ambos os grupos os resultados se mostraram similares. Os resultados apresentados pelos grupos nas habilidades de deslocar-se em decúbito ventral
7 Uso de flutuadores em aulas de natação 103 (tarefa 2) e realizar movimento de pernas (tarefa 3) foram similares provavelmente devido à semelhança entre as habilidades testadas. Ambas envolviam deslocamentos na posição de decúbito ventral, a diferença é que na primeira foi observado também o movimento de braços. No entanto, segundo a concepção analítica para o ensino da natação (Catteau & Garoff, 1990), os braços são pouco utilizados para gerar propulsão no período inicial de aprendizagem, em função da exigência que o movimento simultâneo, de braços e pernas, impõe aos indivíduos iniciantes. Dessa forma, o teste prevê a utilização de braços na habilidade de deslocar-se em decúbito ventral a partir do quarto estágio de aprendizagem, o qual consiste em deslocar-se com auxílio de material (espaguete) por uma distância de 60 à 90 cm. Remadas subaquáticas, sem efeito propulsivo caracterizam o movimento dos braços. As pernas realizam movimentos similares ao pedalar da bicicleta, fornecendo pouco efeito propulsivo. A cabeça é mantida acima da linha da água e o corpo em posição vertical (estágio 4 deslocar-se em decúbito ventral Escala de Erbaugh, 1981). Nos estágios um e dois da habilidade de deslocar-se em decúbito ventral (tarefa 2), o movimento de braços não aparece como recurso propulsivo apresentado pela criança. Nesses estágios, elas se utilizam apenas do movimento das pernas. No terceiro estágio dessa habilidade o movimento de braços pode ou não aparecer. Portanto, as duas habilidades possuem estágios semelhantes no período inicial. Em relação à diferença encontrada entre os grupos no período pré-intervenção (grupo CFlut melhor que grupo SFlut) nas habilidades de deslocar-se em decúbito ventral (tarefa 2) e movimento de pernas (tarefa 3), tomou-se o cuidado, na seleção dos participantes, para que as crianças não tivessem experiência prévia no meio líquido com o objetivo de reduzir as possibilidades de diferença inicial entre os grupos. Porém, sabe-se que o desenvolvimento do indivíduo é dependente de diversos fatores, como experiências adquiridas, motivação e maturação do sistema nervoso central (Parker et al., 1999). Esses fatores podem explicar as diferenças entre os indivíduos antes da intervenção. A análise dos resultados do pós-intervenção, aliada aos resultados do pré-intervenção, sugere melhor aproveitamento das aulas por parte do grupo SFlut na habilidade de deslocar-se em decúbito ventral (tarefa 2), além disso, os resultados em relação ao deslocar-se em decúbito dorsal (tarefa 4) indicam que o grupo CFlut iniciou a intervenção em um nível de habilidade acima do grupo SFlut e, no período pós intervenção, o Grupo CFlut atingiu nível de habilidade abaixo do nível atingido pelo Grupo SFlut. Dessa forma, constata-se que a evolução alcançada pelo grupo SFlut foi, mais uma vez, maior do que a evolução alcançada pelo grupo CFlut. Uma explicação para esse resultado pode estar relacionada à dificuldade de assumir a posição horizontal com o uso dos flutuadores (Catteau & Garoff, 1990; Xavier-Filho & Manoel, 2002). Isso ocorre porque o uso de braçadeiras diminui ainda mais a densidade da parte superior do corpo em relação aos membros inferiores, o que gera um desalinhamento entre centro de massa e centro de impulso. Essa situação, em relação ao corpo na água, gera (1) momento de força para baixo (peso dos membros inferiores) e (2) momento de força para cima (impulso sobre os flutuadores), que, em conjunto, acarretam em maior dificuldade para assumir a posição horizontal (Castro & Loss, 2010). As crianças do grupo CFlut passavam longos períodos da aula em deslocamento e, apesar de haver intervenções constantes dos professores para que mantivessem cabeça e orelhas dentro da água nas posições de decúbito dorsal e ventral, as crianças distraíam-se e retornavam a cabeça para uma posição mais alta em relação à superfície da água. A utilização dos flutuadores permitiu às crianças desse grupo manter o corpo na superfície da água, embora em uma posição mais verticalizada, ou seja, proporcionou uma falsa flutuação. A posição verticalizada do corpo pode ter dificultado o desenvolvimento das habilidades de deslocamento, em que a flutuação é aspecto fundamental. Os resultados da presente pesquisa são corroborados pelos achados de
8 104 RT Wizer, FAS Castro, CMM Junior Parker et al. (1999), os quais encontraram que o uso dos flutuadores desencadeou o aprendizado precoce dos nados, antes mesmo de as crianças conquistarem a independência no meio líquido. Catteau e Garoff (1990) também salientam que materiais facilitadores da flutuação podem atrasar o processo de conscencialização da flutuação. Parker et al. (1999) ressaltam ainda o excesso de confiança gerado pelos flutuadores, que foi igualmente observado no presente estudo, sendo exemplificado através do trecho a seguir de um dos registros de aula: Foi relatado por uma professora que duas crianças do grupo CFlut, ao estarem sentadas na borda para entrar na piscina, não se deram conta que estavam sem os flutuadores nos braços e se atiraram em direção a água. Rapidamente a professora viu e tratou logo de segurá-las. No entanto, foi discutido entre os professores que a utilização dos flutuadores durante as aulas causa uma falsa sensação de segurança na água, segurança que só existe em função de estarem com as boias e que isso pode ser perigoso quando estas crianças tiverem acesso a outros ambientes com piscina (registro 6). Assim, este material potencializa os efeitos do meio sobre o corpo, restringindo o número de dificuldades que o indivíduo terá que vencer no período inicial da adaptação, entretanto é necessário esclarecer que a flutuação, nesse primeiro momento da aprendizagem, está condicionada ao uso dos flutuadores, por isso Parker et al. (1999) advertem sobre a necessidade de futuras pesquisas discutirem por quanto tempo os flutuadores devem ser utilizados sem que haja prejuízos para o processo de aprendizagem. Durante a intervenção notou-se o comportamento diferenciado assumido pelos grupos em relação à flutuação e aos deslocamentos. Possivelmente, houve diferenças em relação à percepção das forças existentes no meio líquido, e, no caso do grupo CFlut, esta situação parece ter dificultado a aprendizagem de algumas habilidades. Diversos autores (Costa et al., 2012; Freudenheim, Gama, & Carracedo, 2009; Xavier-Filho & Manoel, 2002) ressaltam a importância do período de adaptação na aquisição de habilidades mais complexas. Vale destacar que às crianças do grupo CFlut foram oferecidas experiências de adaptação ao meio líquido da mesma forma que foram oferecidas ao grupo SFlut. Ocorreu que a condição imposta ao grupo SFlut possibilitou maior entendimento da necessidade desse tipo de atividade, enquanto a condição oferecida ao grupo CFlut possibilitou deslocamentos pela piscina sem a intervenção direta do professor e sem a adequada percepção das forças atuantes no meio líquido. Castro e Loss (2010) salientam que a posição corporal verticalizada aumenta as forças de arrasto atuantes sobre o corpo em movimento na água. Para melhorar o deslocamento no meio aquático é importante minimizar as forças resistivas. Umas das maneiras de se fazer isso é diminuir a área corporal do indivíduo projetada no meio, em deslocamento, mantendo o corpo mais próximo da posição horizontal. Quando isso não é possível, como no caso do uso dos flutuadores, o indivíduo enfrentará dificuldades para deslocar-se no meio líquido. É possível que a condição imposta ao grupo CFlut tenha provocado dificuldades também nos processos de aprendizagem das habilidades de mergulho e respiração, que são necessárias à tarefa de entrada na água (tarefa 5). Essas habilidades requerem que a criança se sinta confortável ao contato do rosto com o meio líquido, pois no momento em que se impulsiona e entra na água, inevitavelmente, a água entrará em contato com a face. Se a criança não tiver vivenciado com motivação e engajamento o período de adaptação, terá dificuldade em enfrentar tais situações. Costa et al. (2012) compararam o processo de aprendizagem das habilidades aquáticas em duas situações distintas, piscina rasa e piscina funda. Professores de piscina funda evidenciaram maior preocupação em garantir a autonomia propulsiva na água, já os professores de piscina rasa tinham como prioridade o controle respiratório e os deslizes. Os autores concluíram que o grupo que praticou aulas em piscina rasa demonstrou melhor competência aquática que o grupo de crianças que praticou aulas em piscina funda. Os
9 Uso de flutuadores em aulas de natação 105 resultados de Costa et al. (2012) corroboram os resultados do presente estudo, já que em ambos, os grupos que apresentaram maiores níveis de competência aquática foram aqueles que apresentaram maior engajamento em habilidades próprias do período de adaptação. Para Freudenheim, Gama, e Carracedo (2003), o período de adaptação ao meio líquido é importante para a conquista de estabilidade postural, autonomia motora e afetivo-social e adaptação dos órgãos sensoriais. Em outras palavras, esse período corresponde à preparação para o aprendizado de habilidades mais complexas. Em relação à habilidade de mergulhar de cabeça na água (tarefa 6), Freudenheim et al. (2003) defendem que deva ser enfatizada em um segundo momento, período de aprendizagem que as autoras denominam de fase de combinação de movimentos fundamentais. No período anterior, chamado de período de movimentos fundamentais, deve-se priorizar a variedade de experiências em relação aos saltos da borda. As experiências adquiridas no primeiro momento darão suporte para a aquisição dessa habilidade em níveis mais complexos. Como os participantes do estudo não tinham experiência no meio líquido, eles vivenciaram uma gama de experiências em relação aos saltos, para que, posteriormente, os saltos de cabeça passassem a fazer parte dos planos de aula, e isso só ocorreu a partir da décima aula. Embora o grupo SFlut tenha demonstrado melhor aproveitamento em algumas habilidades ao final do período interventivo, é importante considerar a utilidade dos flutuadores no processo de aquisição das habilidades aquáticas em crianças que sentem medo da água. A água possui propriedades físicas que exigem completa reorganização dos sistemas para garantir o controle do meio e o uso de flutuadores é capaz de minimizar as dificuldades encontradas pelo indivíduo que desconhece as características do meio. Além disso, Langendorfer (1987), Gama e Carracedo (2010) e Pečaver et al. (2014) defendem que o uso de materiais torna o meio líquido mais atrativo, motivando a participação de crianças em aulas de natação. Parker et al. (1999) salientam que o uso dos flutuadores garante segurança e possibilita maior independência da criança em relação ao professor, quando este precisa dar atenção às outras crianças. A motivação gerada pelo uso dos flutuadores fica evidente nesse trecho de um dos registros de aula: Talvez para algumas crianças possa ser frustrante sentir-se incapaz de movimentar-se livremente no meio liquido e em relação a esse aspecto a possibilidade de movimentar-se independentemente de auxilio humano, mas apenas com a utilização de equipamentos auxiliares na flutuação seja um aspecto motivador da aprendizagem. (registro 1). Embora o uso dos flutuadores, no presente estudo, tenha proporcionado benefícios aos aspectos psicoafetivos do desenvolvimento, também atrasou a conscientização da flutuação por parte dos aprendizes, dificultando o pleno desenvolvimento motor e cognitivo das habilidades aquáticas. Deste modo, a hipótese formulada para este estudo (uso dos flutuadores favorece o processo de aquisição das habilidades aquáticas) foi parcialmente confirmada, ao passo que ambos os grupos apresentaram evolução na aprendizagem, independente do uso de flutuadores. Porém, o grupo que não usou flutuadores apresentou melhores resultados nas tarefas de deslocamento e saltos, possivelmente pela aquisição de maior independência aquática. CONCLUSÕES O grupo sem flutuadores apresentou melhores resultados nas habilidades de deslocamento ventral, pernadas, deslocamento dorsal e saltos, embora essas diferenças não se tenham refletido na pontuação geral. Supõe-se que a ausência de flutuadores tenha possibilitado melhor percepção das forças atuantes no meio líquido. Mesmo assim, o uso de flutuadores não deve ser condenado no ensino da natação, mas considerado um material pedagógico auxiliar para momentos específicos do plano de ensino, já que contribui para minimizar dificuldades emocionais encontradas na relação de alunos iniciantes com o meio líquido. Talvez uma alternativa coerente para potencializar o processo de aquisição de habilidades aquáticas seria avaliar
10 106 RT Wizer, FAS Castro, CMM Junior a utilização ao longo do tempo das duas estratégias de ensino, ou seja, utilizar materiais auxiliares à flutuação em apenas alguns momentos específicos da aula, alternando com momentos sem a utilização de materiais. Estes momentos de uso de flutuadores poderiam ser aqueles em que há maior número de crianças envolvidas nas atividades e durante os quais se deseja maior exploração do meio pelos alunos. Agradecimentos: Nada a declarar Conflito de Interesses: Nada a declarar. Financiamento: Nada a declarar REFERÊNCIAS Barbosa, T. B. (2004). Ensino da natação: vantagens e desvantagens da utilização dos materiais auxiliares na adaptação ao meio aquático. Em Atas do XXVII Congresso Técnico-Científico da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. Lisboa: APTN. Bradley, S. M., Parker, H. E., & Blanksby, B. A. (1996). Learning Front-Crawl Swimming by Daily or Weekly Lesson Schedules. Pediatric Exercise Science, 8(1), Castro, F. A. S., & Loss, J. F. (2010). Forças no meio líquido. Em P. H. L. Costa (Ed.), Natação e atividades aquáticas: subsídios para o ensino (pp ). Barueri: Manole. Catteau, R., & Garoff, G. (1990). O ensino da natação (3. a ed.). São Paulo: Manole. Costa, A. M., Marinho, D. A., Rocha, H., Silva, A. J., Barbosa, T. M., Ferreira, S. S., & Martins, M. (2012). Deep and shallow water effects on developing preschoolers aquatic skills. Journal of Human Kinetics, 32, Donaldson, M., Blanksby, B., & Heard, N. (2010). Progress in precursor skills and front crawl swimming in children with and without developmental coordination disorder. International Journal of Aquatic Research and Education, 4, Erbaugh, S. J. (1978). Assessment of swimming performance of preschool children. Perceptual and Motor Skills, 47(3 Pt 2), Erbaugh, S. J. (1981). The development of swimming skills of preschool children over a one and onehalf year period (Tese de Doutoramento). University of Wisconsin, Madison. Fernandes, J. R. P., & Costa, P. H. L. D. (2006). Pedagogia da natação: um mergulho para além dos quatro estilos. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, 20(1), Freudenheim, A. M., Gama, R. I. R. de B., & Carracedo, V. A. (2009). Fundamentos para a elaboração de programas de ensino do nadar para crianças. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 2(2), Gama, R. I. R. B., & Carracedo, V. (2010). Estratégias de ensino do nadar para crianças: o desenvolvimento de aspectos motores, cognitivos e afetivossociais. Em P. H. L. Costa (Ed.), Natação e atividades aquáticas: subsídios para o ensino (pp ). Barueri: Manole. Gaya, A. (2008). Desenhos metodológicos V: delineamentos do tipo ex post facto. Em A. Gaya & D. Garlipp (Eds.), Ciências do Movimento Humano: introdução à metodologia da pesquisa (pp ). Porto Alegre: Artmed. Langerdorfer, S. (1987). Children s movement in the water: A developmental and environmental perspective. Children s Environments Quarterly, 4(2), Lobo da Costa, P. H. (2010). Pedagogia da natação: uma revisão sistemática preliminar. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 9(Suppl 1), Parker, H. E., Blanksby, B. A., & Quek, K. L. (1999). Learning to Swim Using Buoyancy Aides. Pediatric Exercise Science, 11(4), Pečaver, A., Pungeršek, M., Videmšek, M., Karpljuk, D., Štihec, J., & Meško, M. (2014, Fevereiro 14). Analysis of Didactic Approaches to Teaching Young Children to Swim. Obtido de Tani, G., Dantas, E., & Manoel. (2008). Ensinoaprendizagem de habilidades motoras: um campo de pesquisa de síntese e integração de conhecimentos. Em G. Tani (Ed.), Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento (pp ). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. Xavier-Filho, E., & Manoel, E. J. (2002). Desenvolvimento do comportamento motor aquático: implicações para a pedagogia da natação. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, 10(2), Todo o conteúdo da revista Motricidade está licenciado sob a Creative Commons, exceto quando especificado em contrário e nos conteúdos retirados de outras fontes bibliográficas.
Concordância intra e inter-observador de protocolo de avaliação de habilidades aquáticas de crianças
 Artigo Original Concordância intra e inter-observador de protocolo de avaliação de habilidades aquáticas de crianças Within and between observer agreement in a protocol for aquatic skills assessment in
Artigo Original Concordância intra e inter-observador de protocolo de avaliação de habilidades aquáticas de crianças Within and between observer agreement in a protocol for aquatic skills assessment in
Adapação ao meio aquático: Conceitos para a iniciação a atividades aquáticas
 Adapação ao meio aquático: Conceitos para a iniciação a atividades aquáticas O que significa adaptação ao meio liquídio (aquático): Fase preparatória para aprendizagem seguinte, deve proporcionar relação
Adapação ao meio aquático: Conceitos para a iniciação a atividades aquáticas O que significa adaptação ao meio liquídio (aquático): Fase preparatória para aprendizagem seguinte, deve proporcionar relação
UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
 Área Temática: Sociedade Saúde e Esporte Título da Ação: AQUISIÇÃO DA COMPETÊNCIA AQUÁTICA EM ESCOLARES: UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA Área Temática: Saúde e Esporte Coordenador da Ação: Prof. Dr. Ernani
Área Temática: Sociedade Saúde e Esporte Título da Ação: AQUISIÇÃO DA COMPETÊNCIA AQUÁTICA EM ESCOLARES: UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA Área Temática: Saúde e Esporte Coordenador da Ação: Prof. Dr. Ernani
Prova Avaliativa Natação
 Nome: Data: / / Prova Avaliativa Natação 1- De acordo com o material, informe quais são os aspectos principais trabalhados na natação infantil? A - Desenvolver habilidades de salvamento; B - Desenvolvimento
Nome: Data: / / Prova Avaliativa Natação 1- De acordo com o material, informe quais são os aspectos principais trabalhados na natação infantil? A - Desenvolver habilidades de salvamento; B - Desenvolvimento
Universidade Estadual de Londrina
 Universidade Estadual de Londrina CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
Universidade Estadual de Londrina CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
MATEMÁTICA ATRAENTE: A APLICAÇÃO DE JOGOS COMO INSTRUMENTO DO PIBID NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA
 MATEMÁTICA ATRAENTE: A APLICAÇÃO DE JOGOS COMO INSTRUMENTO DO PIBID NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA Camila Sampaio Nogueira camila.snog@hotmail.com Maria Aparecida Galdino de Souza cindysouza@hotmail.com Luiza
MATEMÁTICA ATRAENTE: A APLICAÇÃO DE JOGOS COMO INSTRUMENTO DO PIBID NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA Camila Sampaio Nogueira camila.snog@hotmail.com Maria Aparecida Galdino de Souza cindysouza@hotmail.com Luiza
ASPECTOS TÉCNICOS DO NADO CRAWL
 ASPECTOS TÉCNICOS DO NADO CRAWL MÉTODOS DE ENSINO OBJETIVOS É indispensável que o professor apresente recursos didáticos, e contemplados nos métodos de ensino. Assim o professor conduz a aprendizagem com
ASPECTOS TÉCNICOS DO NADO CRAWL MÉTODOS DE ENSINO OBJETIVOS É indispensável que o professor apresente recursos didáticos, e contemplados nos métodos de ensino. Assim o professor conduz a aprendizagem com
Velocidade e aceleração durante um ciclo de braçadas no nado peito.
 Física da Natação Anderson Johnson Licenciatura i em Física - UFRJ Orientador Carlos Eduardo Aguiar IF - UFRJ Introdução / Objetivos Apresentamos uma coletânea de tópicos de Física presentes na prática
Física da Natação Anderson Johnson Licenciatura i em Física - UFRJ Orientador Carlos Eduardo Aguiar IF - UFRJ Introdução / Objetivos Apresentamos uma coletânea de tópicos de Física presentes na prática
AULA 10 Questão de pesquisa e amostragem
 1 AULA 10 Questão de pesquisa e amostragem Ernesto F. L. Amaral 03 de setembro de 2010 Metodologia (DCP 033) Fonte: Flick, Uwe. 2009. Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed. pp.33-42 & 43-55.
1 AULA 10 Questão de pesquisa e amostragem Ernesto F. L. Amaral 03 de setembro de 2010 Metodologia (DCP 033) Fonte: Flick, Uwe. 2009. Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed. pp.33-42 & 43-55.
ANOVA - parte I Conceitos Básicos
 ANOVA - parte I Conceitos Básicos Erica Castilho Rodrigues 9 de Agosto de 2011 Referências: Noções de Probabilidade e Estatística - Pedroso e Lima (Capítulo 11). Textos avulsos. Introdução 3 Introdução
ANOVA - parte I Conceitos Básicos Erica Castilho Rodrigues 9 de Agosto de 2011 Referências: Noções de Probabilidade e Estatística - Pedroso e Lima (Capítulo 11). Textos avulsos. Introdução 3 Introdução
Efeitos do programa da pliometria de contraste sobre os valores de impulsão horizontal nos jogadores de tênis de campo
 Texto de apoio ao curso de Especialização Atividade física adaptada e saúde Prof. Dr. Luzimar Teixeira Efeitos do programa da pliometria de contraste sobre os valores de impulsão horizontal nos jogadores
Texto de apoio ao curso de Especialização Atividade física adaptada e saúde Prof. Dr. Luzimar Teixeira Efeitos do programa da pliometria de contraste sobre os valores de impulsão horizontal nos jogadores
IMPORTÂNCIA DA BIOMECÂNICA PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: OBSERVANDO UMA BRINCADEIRA INFANTIL *
 IMPORTÂNCIA DA BIOMECÂNICA PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: OBSERVANDO UMA BRINCADEIRA INFANTIL * IVAN SILVEIRA DE AVELAR, ** REGINA QUEIROZ SILVA, ** TAÍSSA RAMALHO,** ADRIANO SERRANO ** E MARCUS
IMPORTÂNCIA DA BIOMECÂNICA PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: OBSERVANDO UMA BRINCADEIRA INFANTIL * IVAN SILVEIRA DE AVELAR, ** REGINA QUEIROZ SILVA, ** TAÍSSA RAMALHO,** ADRIANO SERRANO ** E MARCUS
Palavras chave: trabalho colaborativo, desenvolvimento profissional, articulação curricular, tarefas de investigação e exploração.
 RESUMO Esta investigação, tem como objectivo perceber como é que o trabalho colaborativo pode ajudar a melhorar as práticas lectivas dos professores, favorecendo a articulação curricular entre ciclos na
RESUMO Esta investigação, tem como objectivo perceber como é que o trabalho colaborativo pode ajudar a melhorar as práticas lectivas dos professores, favorecendo a articulação curricular entre ciclos na
UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA. Programa da Unidade Curricular METODOLOGIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA II Ano Lectivo 2013/2014
 Programa da Unidade Curricular METODOLOGIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA II Ano Lectivo 2013/2014 1. Unidade Orgânica Ciências Humanas e Sociais (1º Ciclo) 2. Curso Motricidade Humana 3. Ciclo de Estudos 1º 4.
Programa da Unidade Curricular METODOLOGIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA II Ano Lectivo 2013/2014 1. Unidade Orgânica Ciências Humanas e Sociais (1º Ciclo) 2. Curso Motricidade Humana 3. Ciclo de Estudos 1º 4.
ARTIGO ORIGINAL FATORES QUE INFLUENCIAM NO PROCESSO DE INICIAÇÃO AO APRENDIZADO DA NATAÇÃO PARA ADULTOS. RESUMO
 1 ARTIGO ORIGINAL FATORES QUE INFLUENCIAM NO PROCESSO DE INICIAÇÃO AO APRENDIZADO DA NATAÇÃO PARA ADULTOS. ANA MARIA MACHADO ROSSI¹ CRISTINA PEREIRA DUARTE¹ LUCIANA BARRETO ALVARENGA CARNEIRO¹ LUDMILA
1 ARTIGO ORIGINAL FATORES QUE INFLUENCIAM NO PROCESSO DE INICIAÇÃO AO APRENDIZADO DA NATAÇÃO PARA ADULTOS. ANA MARIA MACHADO ROSSI¹ CRISTINA PEREIRA DUARTE¹ LUCIANA BARRETO ALVARENGA CARNEIRO¹ LUDMILA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO
 CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ESTRUTURA DE TRABALHO Os CCEB atendem a comunidade escolar no contra turno com oficinas diversificadas que atendem os alunos da faixa etária de 6 à 12 anos que estudam
CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ESTRUTURA DE TRABALHO Os CCEB atendem a comunidade escolar no contra turno com oficinas diversificadas que atendem os alunos da faixa etária de 6 à 12 anos que estudam
AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA O ENSINO DA NATAÇÃO NO PROJETO DE EXTENSÃO ESCOLA DA BOLA
 ISSN 2238-9113 ÁREA TEMÁTICA: ( ) COMUNICAÇÃO ( ) CULTURA ( ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA ( ) EDUCAÇÃO ( ) MEIO AMBIENTE ( X) SAÚDE ( ) TRABALHO ( ) TECNOLOGIA AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA
ISSN 2238-9113 ÁREA TEMÁTICA: ( ) COMUNICAÇÃO ( ) CULTURA ( ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA ( ) EDUCAÇÃO ( ) MEIO AMBIENTE ( X) SAÚDE ( ) TRABALHO ( ) TECNOLOGIA AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA
Piscina Olímpica. Piscina curta 10/04/2015. Prof. Esp. Dagnou Pessoa de Moura (Dog)
 Prof. Esp. Dagnou Pessoa de Moura (Dog) Piscina Olímpica Comprimento:50 metros Largura: 25 metros Número de raias: 8 Largura das raias: 2,5 metros Temperatura da água: 25 C a 28 C Intensidade da luz: >1500
Prof. Esp. Dagnou Pessoa de Moura (Dog) Piscina Olímpica Comprimento:50 metros Largura: 25 metros Número de raias: 8 Largura das raias: 2,5 metros Temperatura da água: 25 C a 28 C Intensidade da luz: >1500
Relatório da IES ENADE 2012 EXAME NACIONAL DE DESEMEPNHO DOS ESTUDANTES PITANGA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE
 Relatório da IES ENADE 2012 EXAME NACIONAL DE DESEMEPNHO DOS ESTUDANTES PITANGA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais G O V E R N O F E D E R A L
Relatório da IES ENADE 2012 EXAME NACIONAL DE DESEMEPNHO DOS ESTUDANTES PITANGA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais G O V E R N O F E D E R A L
Relatório da IES ENADE 2012 EXAME NACIONAL DE DESEMEPNHO DOS ESTUDANTES CHOPINZINHO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE
 Relatório da IES ENADE 2012 EXAME NACIONAL DE DESEMEPNHO DOS ESTUDANTES CHOPINZINHO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais G O V E R N O F E D E R
Relatório da IES ENADE 2012 EXAME NACIONAL DE DESEMEPNHO DOS ESTUDANTES CHOPINZINHO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais G O V E R N O F E D E R
REGULAMENTO ESPECÍFICO DE NATAÇÃO
 REGULAMENTO ESPECÍFICO DE NATAÇÃO Índice 1. Introdução... 3 2. Calendarização... 3 3. Escalões Etários... 3 4. Competições... 3 4.1. Quadro de provas... 3 4.2. Inscrição... 5 4.3. Classificação... 5 4.4.
REGULAMENTO ESPECÍFICO DE NATAÇÃO Índice 1. Introdução... 3 2. Calendarização... 3 3. Escalões Etários... 3 4. Competições... 3 4.1. Quadro de provas... 3 4.2. Inscrição... 5 4.3. Classificação... 5 4.4.
Relatório da IES ENADE 2012 EXAME NACIONAL DE DESEMEPNHO DOS ESTUDANTES FLORIANÓPOLIS UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
 Relatório da IES ENADE 2012 EXAME NACIONAL DE DESEMEPNHO DOS ESTUDANTES FLORIANÓPOLIS UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais G O V E R N O F E D E
Relatório da IES ENADE 2012 EXAME NACIONAL DE DESEMEPNHO DOS ESTUDANTES FLORIANÓPOLIS UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais G O V E R N O F E D E
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE HABILIDADES AUDITIVAS E METALINGUISTICAS DE CRIANÇAS DE CINCO ANOS COM E SEM PRÁTICA MUSICAL INTRODUÇÃO
 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE HABILIDADES AUDITIVAS E METALINGUISTICAS DE CRIANÇAS DE CINCO ANOS COM E SEM PRÁTICA MUSICAL Palavras-chave: percepção auditiva, linguagem infantil, música INTRODUÇÃO O desenvolvimento
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE HABILIDADES AUDITIVAS E METALINGUISTICAS DE CRIANÇAS DE CINCO ANOS COM E SEM PRÁTICA MUSICAL Palavras-chave: percepção auditiva, linguagem infantil, música INTRODUÇÃO O desenvolvimento
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
 UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS SÓCIO- ECONÔMICAS E HUMANAS DE ANÁPOLIS CURSO DE PEDAGOGIA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO REGULAMENTO Anápolis, 2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE UNIVERSITÁRIA
UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS SÓCIO- ECONÔMICAS E HUMANAS DE ANÁPOLIS CURSO DE PEDAGOGIA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO REGULAMENTO Anápolis, 2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE UNIVERSITÁRIA
ENADE 2010 ENADE. Relatório da IES EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES
 ENADE EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES ENADE 2010 Relatório da IES INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE NATAL G Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
ENADE EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES ENADE 2010 Relatório da IES INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE NATAL G Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
PSICOMOTRICIDADE E EDUCAÇÃO FÍSICA ALIADAS À MELHORA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
 PSICOMOTRICIDADE E EDUCAÇÃO FÍSICA ALIADAS À MELHORA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL PATRÍCIA ESPÍNDOLA MOTA VENÂNCIO 2 JAIRO TEIXEIRA JUNIOR ROBERTA MENDES FERNANDES VIVIANE LEMOS SILVA FERNANDES CRISTINA
PSICOMOTRICIDADE E EDUCAÇÃO FÍSICA ALIADAS À MELHORA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL PATRÍCIA ESPÍNDOLA MOTA VENÂNCIO 2 JAIRO TEIXEIRA JUNIOR ROBERTA MENDES FERNANDES VIVIANE LEMOS SILVA FERNANDES CRISTINA
O PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA A PRÁTICA DAS CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 2017
 O PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA A PRÁTICA DAS CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 2017 Inscrições vão até 12 de fevereiro/17. Vagas limitadas. CONTEÚDO Introdução a abordagem de aprendizagem por projetos investigativos;
O PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA A PRÁTICA DAS CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 2017 Inscrições vão até 12 de fevereiro/17. Vagas limitadas. CONTEÚDO Introdução a abordagem de aprendizagem por projetos investigativos;
A CRIANÇA, OS CONCEITOS TEMPORAIS E A PRÁTICA EDUCATIVA: COMO OCORRE ESSA RELAÇÃO?
 1 A CRIANÇA, OS CONCEITOS TEMPORAIS E A PRÁTICA EDUCATIVA: COMO OCORRE ESSA AÇÃO? Aluna: Jéssica Castro Nogueira (Pibic 2012) Aluna: Karla da Silva Martins (Pibic 2013) Orientadora: Zena Eisenberg Que
1 A CRIANÇA, OS CONCEITOS TEMPORAIS E A PRÁTICA EDUCATIVA: COMO OCORRE ESSA AÇÃO? Aluna: Jéssica Castro Nogueira (Pibic 2012) Aluna: Karla da Silva Martins (Pibic 2013) Orientadora: Zena Eisenberg Que
CAPÍTULO VI- CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
 CAPITULO VI CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES Neste capítulo iremos apresentar as conclusões do presente estudo, tendo também em conta os resultados e a respectiva discussão, descritas no capítulo
CAPITULO VI CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES Neste capítulo iremos apresentar as conclusões do presente estudo, tendo também em conta os resultados e a respectiva discussão, descritas no capítulo
MODELO DE PARECER DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Autora : Simone Helen Drumond (92) /
 MODELO DE PARECER DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Autora : Simone Helen Drumond simone_drumond@hotmail.com (92) 8808-2372 / 8813-9525 MODELO DE PARECER DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
MODELO DE PARECER DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Autora : Simone Helen Drumond simone_drumond@hotmail.com (92) 8808-2372 / 8813-9525 MODELO DE PARECER DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
Métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa para Ciência da Computação
 Métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa para Ciência da Computação Jacques Wainer Gabriel de Barros Paranhos da Costa Gabriel Dias Cantareira Metodologia de pesquisa científica em Ciências da Computação
Métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa para Ciência da Computação Jacques Wainer Gabriel de Barros Paranhos da Costa Gabriel Dias Cantareira Metodologia de pesquisa científica em Ciências da Computação
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) REGIMENTO E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) REGIMENTO E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 1. INTRODUÇÃO O TCC consiste do trabalho de conclusão de curso sobre uma pesquisa direcionada para as básicas e aplicadas
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) REGIMENTO E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 1. INTRODUÇÃO O TCC consiste do trabalho de conclusão de curso sobre uma pesquisa direcionada para as básicas e aplicadas
Pesquisa Científica. Atividade da Aula Passada... Pesquisa Científica. Pesquisa Científica...
 Atividade da Aula Passada... Qual a relação entre Conhecimento, Ciência e Metodologia? Qual a relação do Conhecimento Empírico com a Ciência? Com base na sua experiência de vida, seu empirismo, existe
Atividade da Aula Passada... Qual a relação entre Conhecimento, Ciência e Metodologia? Qual a relação do Conhecimento Empírico com a Ciência? Com base na sua experiência de vida, seu empirismo, existe
Estratégias de Observação na Investigação Sobre Práticas de Ensino e Avaliação de Docentes do Ensino Superior
 Estratégias de Observação na Investigação Sobre Práticas de Ensino e Avaliação de Docentes do Ensino Superior Domingos Fernandes University of Lisboa Institute of Education dfernandes@ie.ulisboa.pt Sumário
Estratégias de Observação na Investigação Sobre Práticas de Ensino e Avaliação de Docentes do Ensino Superior Domingos Fernandes University of Lisboa Institute of Education dfernandes@ie.ulisboa.pt Sumário
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA Vanessa Martins Hidd Santos NOVAFAPI INTRODUÇÃO A avaliação institucional constitui objeto de preocupação e análise na NOVAFAPI, desde sua fundação quando
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA Vanessa Martins Hidd Santos NOVAFAPI INTRODUÇÃO A avaliação institucional constitui objeto de preocupação e análise na NOVAFAPI, desde sua fundação quando
Resultados da Pesquisa do Programa Internacional
 Resultados da Pesquisa do Programa Internacional Ano Acadêmico de / Conclusões Finais O resultado geral da pesquisa foi muito favorável, com apenas algumas áreas de melhoria. Porém, a equipe de liderança
Resultados da Pesquisa do Programa Internacional Ano Acadêmico de / Conclusões Finais O resultado geral da pesquisa foi muito favorável, com apenas algumas áreas de melhoria. Porém, a equipe de liderança
A MONITORIA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
 A MONITORIA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM Andre Reuel Vieira Gomes (Bolsista); Karla Katiuscia Nóbrega de Almeida (Professor Coordenador/Orientador) Centro de Ciências Sociais Aplicadas
A MONITORIA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM Andre Reuel Vieira Gomes (Bolsista); Karla Katiuscia Nóbrega de Almeida (Professor Coordenador/Orientador) Centro de Ciências Sociais Aplicadas
ENSINO MÉDIO INOVADOR: AS EXPERIÊNCIAS NA COMPREENSÃO DA BIOLOGIA
 ENSINO MÉDIO INOVADOR: AS EXPERIÊNCIAS NA COMPREENSÃO DA BIOLOGIA Adiene Silva Araújo Universidade de Pernambuco - UPE adienearaujo@hotmail.com 1- Introdução A Biologia como ciência, ao longo da história
ENSINO MÉDIO INOVADOR: AS EXPERIÊNCIAS NA COMPREENSÃO DA BIOLOGIA Adiene Silva Araújo Universidade de Pernambuco - UPE adienearaujo@hotmail.com 1- Introdução A Biologia como ciência, ao longo da história
VMSIMULADOS QUESTÕES DE PROVAS DE CONCURSOS PÚBLICOS CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS CE EA FP PE PP 1
 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS CE EA FP PE PP WWW.VMSIMULADOS.COM.BR 1 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS CURRÍCULO ESCOLAR ENSINOAPRENDIZAGEM FORMAÇÃO DO PROFESSOR PLANEJAMENTO ESCOLAR PROJETO PEDAGÓGICO CURRÍCULO
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS CE EA FP PE PP WWW.VMSIMULADOS.COM.BR 1 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS CURRÍCULO ESCOLAR ENSINOAPRENDIZAGEM FORMAÇÃO DO PROFESSOR PLANEJAMENTO ESCOLAR PROJETO PEDAGÓGICO CURRÍCULO
ENADE Relatório da IES INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE MOSSORÓ
 ENADE 2011 Relatório da IES G Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE MOSSORÓ O V E R N O F E D E R A L PAÍS RICO
ENADE 2011 Relatório da IES G Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE MOSSORÓ O V E R N O F E D E R A L PAÍS RICO
Aprendizagem de Alunos do 5º Ano sobre Escalas Representadas em Gráficos. Betânia Evangelista e Gilda Guimarães
 Aprendizagem de Alunos do 5º Ano sobre Escalas Representadas em Gráficos Betânia Evangelista e Gilda Guimarães Recursos Estatísticos e Avanços Tecnológicos Segundo os autores Ponte, Brocardo e Oliveira
Aprendizagem de Alunos do 5º Ano sobre Escalas Representadas em Gráficos Betânia Evangelista e Gilda Guimarães Recursos Estatísticos e Avanços Tecnológicos Segundo os autores Ponte, Brocardo e Oliveira
3 Metodologia Tipo de Pesquisa
 3 Metodologia 3.1. Tipo de Pesquisa Para a classificação desta pesquisa foi adotada a taxonomia proposta por Vergara (2000). Segundo esta classificação, as pesquisas podem ser classificadas quanto aos
3 Metodologia 3.1. Tipo de Pesquisa Para a classificação desta pesquisa foi adotada a taxonomia proposta por Vergara (2000). Segundo esta classificação, as pesquisas podem ser classificadas quanto aos
PALAVRAS-CHAVE: crescimento e desenvolvimento. pré-escolar. enfermagem.
 DESENVOLVIMENTO INFANTIL: AVALIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE Maria do Socorro Távora de Aquino¹, Evair Barreto da Silva 2 Flávia Paula Magalhães Monteiro 3 Pedro Raul Saraiva Rabelo
DESENVOLVIMENTO INFANTIL: AVALIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE Maria do Socorro Távora de Aquino¹, Evair Barreto da Silva 2 Flávia Paula Magalhães Monteiro 3 Pedro Raul Saraiva Rabelo
PREPARAÇÃO DE PROJETOS, FORMAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO
 PREPARAÇÃO DE PROJETOS, FORMAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO Profª. Ms. Fabiana Chinalia FACULDADES COC 11 e 12 de maio http://verainfedu.files.wordpress.com/2008/10/legal1.gif Vamos conversar um pouco sobre
PREPARAÇÃO DE PROJETOS, FORMAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO Profª. Ms. Fabiana Chinalia FACULDADES COC 11 e 12 de maio http://verainfedu.files.wordpress.com/2008/10/legal1.gif Vamos conversar um pouco sobre
CONSELHO DE CLASSE: O ANO TODO E AGORA EM ESPECIAL NO FINAL DO ANO LETIVO
 TEXTO 2 http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2310-6.pdf acesso em http://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_de_classe 09 de outubro de 2014 CONSELHO DE CLASSE: O ANO TODO E AGORA EM ESPECIAL
TEXTO 2 http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2310-6.pdf acesso em http://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_de_classe 09 de outubro de 2014 CONSELHO DE CLASSE: O ANO TODO E AGORA EM ESPECIAL
Estatística. Professor Jair Vieira Silva Júnior.
 Estatística Professor Jair Vieira Silva Júnior Ementa da Disciplina Estatística descritiva; Interpretação de gráficos e tabelas; Amostras, representação de dados amostrais e medidas descritivas de uma
Estatística Professor Jair Vieira Silva Júnior Ementa da Disciplina Estatística descritiva; Interpretação de gráficos e tabelas; Amostras, representação de dados amostrais e medidas descritivas de uma
Departamento: Educação Física Unidade: Faculdade de Educação Física. Código: Vigência: 2011 Carga Horária: 90 Período: 1
 Departamento: Educação Física Unidade: Faculdade de Educação Física Curso: Licenciatura Grade Curricular Disciplina: Metodologia de ensino e pesquisa em natação Código: Vigência: 2011 Carga Horária: 90
Departamento: Educação Física Unidade: Faculdade de Educação Física Curso: Licenciatura Grade Curricular Disciplina: Metodologia de ensino e pesquisa em natação Código: Vigência: 2011 Carga Horária: 90
A pesquisa foi classificada de acordo com a taxionomia utilizada por Vergara (1997), qualificando-a quanto aos fins e aos meios.
 4 Metodologia 4.1 Tipo de pesquisa A pesquisa foi classificada de acordo com a taxionomia utilizada por Vergara (1997), qualificando-a quanto aos fins e aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa pode ser
4 Metodologia 4.1 Tipo de pesquisa A pesquisa foi classificada de acordo com a taxionomia utilizada por Vergara (1997), qualificando-a quanto aos fins e aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa pode ser
RESOLUÇÃO Nº 40/2010, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010, DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 37130-00 Alfenas - MG RESOLUÇÃO Nº 40/2010, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010, DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 37130-00 Alfenas - MG RESOLUÇÃO Nº 40/2010, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010, DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA
"ANTROPOMETRIA DA POSTURA SENTADA - A MEDIÇÃO DAS CINCO VARIÁVEIS DE POSICIONAMENTO"
 "ANTROPOMETRIA DA POSTURA SENTADA - A MEDIÇÃO DAS CINCO VARIÁVEIS DE POSICIONAMENTO" LAERTE MATIAS a RESUMO Utilizando um equipamento básico que permitiu a regulagem de vinco variáveis que são responsáveis
"ANTROPOMETRIA DA POSTURA SENTADA - A MEDIÇÃO DAS CINCO VARIÁVEIS DE POSICIONAMENTO" LAERTE MATIAS a RESUMO Utilizando um equipamento básico que permitiu a regulagem de vinco variáveis que são responsáveis
A natação como um dos conteúdos aplicados na Educação Física Escolar no Ensino Fundamental I e II nas escolas particulares do Distrito Federal
 A natação como um dos conteúdos aplicados na Educação Física Escolar no Ensino Fundamental I e II nas escolas particulares do Distrito Federal RESUMO Cateliane Isabela Menezes Nilza Martinovic Este estudo
A natação como um dos conteúdos aplicados na Educação Física Escolar no Ensino Fundamental I e II nas escolas particulares do Distrito Federal RESUMO Cateliane Isabela Menezes Nilza Martinovic Este estudo
ESCALA DE CONCEPÇÕES ACERCA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO ESPECIAL E SUA APLICAÇÃO EM PESQUISA
 ESCALA DE CONCEPÇÕES ACERCA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO ESPECIAL E SUA APLICAÇÃO EM PESQUISA Carla Cristina Marinho Sadao Omote Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP, campus de Marília Eixo Temático:
ESCALA DE CONCEPÇÕES ACERCA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO ESPECIAL E SUA APLICAÇÃO EM PESQUISA Carla Cristina Marinho Sadao Omote Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP, campus de Marília Eixo Temático:
A CONSTRUÇÃO DA RETA REAL POR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CONSIDERANDO A METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA: ALGUMAS REFLEXÕES1 1
 A CONSTRUÇÃO DA RETA REAL POR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CONSIDERANDO A METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA: ALGUMAS REFLEXÕES1 1 Paula Maria Dos Santos Pedry 2, Sandra Beatriz Neuckamp 3, Andréia De Fátima
A CONSTRUÇÃO DA RETA REAL POR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CONSIDERANDO A METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA: ALGUMAS REFLEXÕES1 1 Paula Maria Dos Santos Pedry 2, Sandra Beatriz Neuckamp 3, Andréia De Fátima
PLANO DE DISCIPLINA DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
 NOME: EDUCAÇÃO FÍSICA II PLANO DE DISCIPLINA DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO ANO: 2º CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 120 H/A 100 H/R DOCENTE RESPONSÁVEL: ANA
NOME: EDUCAÇÃO FÍSICA II PLANO DE DISCIPLINA DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO ANO: 2º CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 120 H/A 100 H/R DOCENTE RESPONSÁVEL: ANA
ATIVIDADE LÚDICA "CRUZADA DOS PROTOZOÁRIOS": UMA ALTERNATIVA DIDÁTICA NO ENSINO DE BIOLOGIA.
 ATIVIDADE LÚDICA "CRUZADA DOS PROTOZOÁRIOS": UMA ALTERNATIVA DIDÁTICA NO ENSINO DE BIOLOGIA. Maykon Rodrigues de Barros Moura¹; Ana Valéria Costa da Cruz²; Patrícia da Silva Sousa³; Renata Silva Santos
ATIVIDADE LÚDICA "CRUZADA DOS PROTOZOÁRIOS": UMA ALTERNATIVA DIDÁTICA NO ENSINO DE BIOLOGIA. Maykon Rodrigues de Barros Moura¹; Ana Valéria Costa da Cruz²; Patrícia da Silva Sousa³; Renata Silva Santos
TOMADA DE DECISÃO NO FUTEBOL: A INFLUÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE BUSCA VISUAL SOBRE O TEMPO DE DECISÃO
 180 TOMADA DE DECISÃO NO FUTEBOL: A INFLUÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE BUSCA VISUAL SOBRE O TEMPO DE DECISÃO João Vítor de Assis/ NUPEF-UFV Guilherme Machado/ NUPEF-UFV Felippe Cardoso/ NUPEF-UFV Israel Teoldo/
180 TOMADA DE DECISÃO NO FUTEBOL: A INFLUÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE BUSCA VISUAL SOBRE O TEMPO DE DECISÃO João Vítor de Assis/ NUPEF-UFV Guilherme Machado/ NUPEF-UFV Felippe Cardoso/ NUPEF-UFV Israel Teoldo/
O ANO DE NASCIMENTO DETERMINA A ESCOLHA DO ESTATUTO POSICIONAL EM JOGADORES DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS DE BASE?
 980 O ANO DE NASCIMENTO DETERMINA A ESCOLHA DO ESTATUTO POSICIONAL EM JOGADORES DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS DE BASE? Felipe Ruy Dambroz - NUPEF/UFV João Vítor de Assis - NUPEF/UFV Israel Teoldo da Costa
980 O ANO DE NASCIMENTO DETERMINA A ESCOLHA DO ESTATUTO POSICIONAL EM JOGADORES DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS DE BASE? Felipe Ruy Dambroz - NUPEF/UFV João Vítor de Assis - NUPEF/UFV Israel Teoldo da Costa
6. Análise dos Resultados
 87 6. Análise dos Resultados Os dados coletados através da Avaliação Ergonômica: avaliação observacional da sala de informática, do RULA, dos Questionários e da Avaliação Postural Computadorizada aponta
87 6. Análise dos Resultados Os dados coletados através da Avaliação Ergonômica: avaliação observacional da sala de informática, do RULA, dos Questionários e da Avaliação Postural Computadorizada aponta
A FORMAÇÃO DOCENTE, SUAS FRAGILIDADES E DESAFIOS
 A FORMAÇÃO DOCENTE, SUAS FRAGILIDADES E DESAFIOS Introdução Fernanda Oliveira Costa Gomes Pontifícia Universidade Católica de São Paulo fernanda.ocg@terra.com.br Este artigo apresenta parte de uma pesquisa
A FORMAÇÃO DOCENTE, SUAS FRAGILIDADES E DESAFIOS Introdução Fernanda Oliveira Costa Gomes Pontifícia Universidade Católica de São Paulo fernanda.ocg@terra.com.br Este artigo apresenta parte de uma pesquisa
3 Metodologia de pesquisa
 3 Metodologia de pesquisa Esta pesquisa foi concebida com o intuito de identificar como a interação entre o gerenciamento de projetos e o planejamento estratégico estava ocorrendo nas empresas do grupo
3 Metodologia de pesquisa Esta pesquisa foi concebida com o intuito de identificar como a interação entre o gerenciamento de projetos e o planejamento estratégico estava ocorrendo nas empresas do grupo
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - CHOPINZINHO
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - CHOPINZINHO Apresentação O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) constitui-se em um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - CHOPINZINHO Apresentação O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) constitui-se em um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
PLANO DE ENSINO PROJETO PEDAGÓGICO Carga Horária Semestral: 40 Semestre do Curso: 7º
 PLANO DE ENSINO PROJETO PEDAGÓGICO 2010 Curso: Pedagogia Disciplina: Gestão Escolar IV Carga Horária Semestral: 40 Semestre do Curso: 7º 1 - Ementa (sumário, resumo) Dimensões da participação: política,
PLANO DE ENSINO PROJETO PEDAGÓGICO 2010 Curso: Pedagogia Disciplina: Gestão Escolar IV Carga Horária Semestral: 40 Semestre do Curso: 7º 1 - Ementa (sumário, resumo) Dimensões da participação: política,
7.1 Contribuições para a teoria de administração de empresas
 7 Conclusões Esta tese teve por objetivo propor e testar um modelo analítico que identificasse como os mecanismos de controle e as dimensões da confiança em relacionamentos interorganizacionais influenciam
7 Conclusões Esta tese teve por objetivo propor e testar um modelo analítico que identificasse como os mecanismos de controle e as dimensões da confiança em relacionamentos interorganizacionais influenciam
REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO. Licenciatura EM educação básica intercultural TÍTULO I DA CARACTERIZAÇÃO
 REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO Licenciatura EM educação básica intercultural TÍTULO I DA CARACTERIZAÇÃO Artigo 1º - O Estágio Supervisionado de que trata este regulamento refere-se à formação de
REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO Licenciatura EM educação básica intercultural TÍTULO I DA CARACTERIZAÇÃO Artigo 1º - O Estágio Supervisionado de que trata este regulamento refere-se à formação de
A Estatística é aplicada como auxílio nas tomadas de decisão diante de incertezas para justificar cientificamente as decisões
 A IMPORTÂNCIA DA ESTATÍSTICA A Estatística é aplicada como auxílio nas tomadas de decisão diante de incertezas para justificar cientificamente as decisões Governo Indústria Ciências Econômicas, sociais,
A IMPORTÂNCIA DA ESTATÍSTICA A Estatística é aplicada como auxílio nas tomadas de decisão diante de incertezas para justificar cientificamente as decisões Governo Indústria Ciências Econômicas, sociais,
DADOS DO PROJETO. VINCULAÇÃO CONFORME SUBITEM 1.2 Disciplina: Processamento da Informação (BCM )
 DADOS DO PROJETO TÍTULO DO PROJETO Recursos e estratégias metacognitivas para apoiar a construção do pensamento lógico. VINCULAÇÃO CONFORME SUBITEM 1.2 Disciplina: Processamento da Informação (BCM0505-15)
DADOS DO PROJETO TÍTULO DO PROJETO Recursos e estratégias metacognitivas para apoiar a construção do pensamento lógico. VINCULAÇÃO CONFORME SUBITEM 1.2 Disciplina: Processamento da Informação (BCM0505-15)
CUBO MÁGICO: uma estratégia pedagógica utilizada nas aulas de matemática 1
 CUBO MÁGICO: uma estratégia pedagógica utilizada nas aulas de matemática 1 Renata Cleiton Piacesi Corrêa 2 ; Vitoria Cardoso Batista 3 INTRODUÇÃO O ensinar e aprender a matemática nas salas de aula da
CUBO MÁGICO: uma estratégia pedagógica utilizada nas aulas de matemática 1 Renata Cleiton Piacesi Corrêa 2 ; Vitoria Cardoso Batista 3 INTRODUÇÃO O ensinar e aprender a matemática nas salas de aula da
Pesquisa Científica. Pesquisa Científica. Classificação das Pesquisas... Pesquisa Científica... Interpretar resultados. Realizar a pesquisa
 Pesquisa Científica Pesquisa Científica! Procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento.! É um
Pesquisa Científica Pesquisa Científica! Procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento.! É um
Plano de Seminários TC I Prof. Marcos Procópio
 Plano de Seminários TC I 2016.1 Prof. Marcos Procópio Os 4 tipos de conhecimento. 1. Quais são? 2. Quais são suas respectivas importâncias para a vida social? 3. Dê exemplos. O que é e o que faz a ciência.
Plano de Seminários TC I 2016.1 Prof. Marcos Procópio Os 4 tipos de conhecimento. 1. Quais são? 2. Quais são suas respectivas importâncias para a vida social? 3. Dê exemplos. O que é e o que faz a ciência.
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - BRASILIA
 ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - BRASILIA Apresentação O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) constitui-se em um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - BRASILIA Apresentação O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) constitui-se em um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)
1.1 Os temas e as questões de pesquisa. Introdução
 1 Introdução Um estudo de doutorado é, a meu ver, um caso de amor, e em minha vida sempre houve duas grandes paixões imagens e palavras. Escolhi iniciar minha tese com o poema apresentado na epígrafe porque
1 Introdução Um estudo de doutorado é, a meu ver, um caso de amor, e em minha vida sempre houve duas grandes paixões imagens e palavras. Escolhi iniciar minha tese com o poema apresentado na epígrafe porque
ELABORAÇÃO DE VÍDEOS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA COMO ATIVIDADE ESCOLAR NO ENSINO BÁSICO. Ricardo Ferreira Paraizo *
 1 ELABORAÇÃO DE VÍDEOS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA COMO ATIVIDADE ESCOLAR NO ENSINO BÁSICO Ricardo Ferreira Paraizo * * Professor de Matemática do Ensino Médio na CEDAF Florestal e Doutorando em Educação para
1 ELABORAÇÃO DE VÍDEOS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA COMO ATIVIDADE ESCOLAR NO ENSINO BÁSICO Ricardo Ferreira Paraizo * * Professor de Matemática do Ensino Médio na CEDAF Florestal e Doutorando em Educação para
EXEMPLO. Prova de Aferição de Expressões Físico-Motoras Prova 28 2.º Ano de Escolaridade Critérios de Classificação.
 Prova de Aferição de Expressões Físico-Motoras Prova 28 2.º Ano de Escolaridade 17 Decreto-Lei n.º 17/16, de 4 de abril Critérios de Classificação 5 Páginas Prova 28 CC Página 1/ 5 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Prova de Aferição de Expressões Físico-Motoras Prova 28 2.º Ano de Escolaridade 17 Decreto-Lei n.º 17/16, de 4 de abril Critérios de Classificação 5 Páginas Prova 28 CC Página 1/ 5 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
METODOLOGIA Participantes Procedimentos Instrumentos
 COMPROMETIMENTO PSICOPATOLÓGICO DA MEMÓRIA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: UMA ANÁLISE DE TRÊS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA INTRODUÇÃO Luiz Andrade Neto - UFPB luizneto_jp@hotmail.com
COMPROMETIMENTO PSICOPATOLÓGICO DA MEMÓRIA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: UMA ANÁLISE DE TRÊS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA INTRODUÇÃO Luiz Andrade Neto - UFPB luizneto_jp@hotmail.com
O DESENVOLVIMENTO MOTOR E AS IMPLICAÇÕES DA DESNUTRIÇÃO: UM ESTUDO COMPARATIVO DE CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 4 A 5 ANOS
 O DESENVOLVIMENTO MOTOR E AS IMPLICAÇÕES DA DESNUTRIÇÃO: UM ESTUDO COMPARATIVO DE CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 4 A 5 ANOS CHRYSTIANE VASCONCELOS DE ANDRADE TOSCANO JORGE LOPES CAVALCANTE NETO ALESSANDRA
O DESENVOLVIMENTO MOTOR E AS IMPLICAÇÕES DA DESNUTRIÇÃO: UM ESTUDO COMPARATIVO DE CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 4 A 5 ANOS CHRYSTIANE VASCONCELOS DE ANDRADE TOSCANO JORGE LOPES CAVALCANTE NETO ALESSANDRA
Prova Brasil e o Ideb: quanto pesa essa pontuação para atingir a meta
 NOTA TÉCNICA N. 0011/2013 Brasília, 08 de março de 2013. ÁREA: Educação TÍTULO: Prova Brasil e o Ideb: quanto pesa essa pontuação para atingir a meta REFERÊNCIA: PORTARIA Nº 152, DE 31 DE MAIO DE 2012
NOTA TÉCNICA N. 0011/2013 Brasília, 08 de março de 2013. ÁREA: Educação TÍTULO: Prova Brasil e o Ideb: quanto pesa essa pontuação para atingir a meta REFERÊNCIA: PORTARIA Nº 152, DE 31 DE MAIO DE 2012
A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA A QUALIDADE DE VIDA DE UM GRUPO DE IDOSAS RESIDENTES NO CONJUNTO PAJUÇARA EM NATAL RN
 A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA A QUALIDADE DE VIDA DE UM GRUPO DE IDOSAS RESIDENTES NO CONJUNTO PAJUÇARA EM NATAL RN Manoel Rogério Freire da Silva roger12edufisi@hotmail.com Centro Universitário
A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA A QUALIDADE DE VIDA DE UM GRUPO DE IDOSAS RESIDENTES NO CONJUNTO PAJUÇARA EM NATAL RN Manoel Rogério Freire da Silva roger12edufisi@hotmail.com Centro Universitário
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO MESTRADO/DOUTORADO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO MESTRADO/DOUTORADO PLANO DE ENSINO 1. DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO MOTOR EFI
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO MESTRADO/DOUTORADO PLANO DE ENSINO 1. DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO MOTOR EFI
Atividades Aquáticas: Grandezas Físicas com Atuação no Meio Líquido
 Atividades Aquáticas: Grandezas Físicas com Atuação no Meio Líquido Sendo a natação um esporte praticado em meio diferente daquele no qual normalmente o homem vive, torna-se necessário lembrar algumas
Atividades Aquáticas: Grandezas Físicas com Atuação no Meio Líquido Sendo a natação um esporte praticado em meio diferente daquele no qual normalmente o homem vive, torna-se necessário lembrar algumas
REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ARTES VISUAIS LICENCIATURA CAPÍTULO I DAS CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS
 CURSO DE ARTES VISUAIS LICENCIATURA REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ARTES VISUAIS LICENCIATURA CAPÍTULO I DAS CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade
CURSO DE ARTES VISUAIS LICENCIATURA REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ARTES VISUAIS LICENCIATURA CAPÍTULO I DAS CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade
AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS. A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos
 AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos fundamentais da concepção atual de aprendizagem. Esta participação deve, porém, ser orientada tendo
AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos fundamentais da concepção atual de aprendizagem. Esta participação deve, porém, ser orientada tendo
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM MATEMÁTICA
 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM MATEMÁTICA Como funciona o Estágio no curso de matemática? O Curso de Licenciatura em Matemática atende também a essa determinação, pois integra em seu currículo as disciplinas Prática
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM MATEMÁTICA Como funciona o Estágio no curso de matemática? O Curso de Licenciatura em Matemática atende também a essa determinação, pois integra em seu currículo as disciplinas Prática
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Michele Tiecher Bassani
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA Michele Tiecher Bassani ADAPTAÇÃO AO MEIO LÍQUIDO COM E SEM A UTILIZAÇÃO DE FLUTUADORES Porto Alegre 2013 2 Michele Tiecher Bassani ADAPTAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA Michele Tiecher Bassani ADAPTAÇÃO AO MEIO LÍQUIDO COM E SEM A UTILIZAÇÃO DE FLUTUADORES Porto Alegre 2013 2 Michele Tiecher Bassani ADAPTAÇÃO
A Pedagogia da Aventura
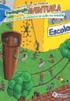 A Pedagogia da Aventura Os PCN s destacam a cultura corporal de movimento, explicitando a intenção de trabalhar com as práticas: Jogos Lutas Atividades Rítmicas e Danças Esportes Ginástica Como produções
A Pedagogia da Aventura Os PCN s destacam a cultura corporal de movimento, explicitando a intenção de trabalhar com as práticas: Jogos Lutas Atividades Rítmicas e Danças Esportes Ginástica Como produções
GINCANA AMBIENTAL: método de ensino-aprendizagem para o Ensino Fundamental RESUMO
 GINCANA AMBIENTAL: método de ensino-aprendizagem para o Ensino Fundamental 1 Bruna A. ARAÚJO; 2 Bruno L.R. MELO; 3 José N. NETO; 4 Elisa C. ROCHA; 5 Leda M.SILVA RESUMO Jogos educativos, como Gincanas,
GINCANA AMBIENTAL: método de ensino-aprendizagem para o Ensino Fundamental 1 Bruna A. ARAÚJO; 2 Bruno L.R. MELO; 3 José N. NETO; 4 Elisa C. ROCHA; 5 Leda M.SILVA RESUMO Jogos educativos, como Gincanas,
Escolha dos testes INTRODUÇÃO À BIOESTATÍSTICA QUANTIFICAÇÃO DOS GRUPOS DO ESTUDO PESQUISA INFERÊNCIA ESTATÍSTICA TESTE DE HIPÓTESES E
 Escolha dos testes INTRODUÇÃO À BIOESTATÍSTICA Determinada a pergunta/ hipótese Recolhidos os dados Análise descritiva = Estatística descritiva QUAIS TESTES ESTATÍSTICOS DEVEM SER REALIZADOS?? PROFESSORA:
Escolha dos testes INTRODUÇÃO À BIOESTATÍSTICA Determinada a pergunta/ hipótese Recolhidos os dados Análise descritiva = Estatística descritiva QUAIS TESTES ESTATÍSTICOS DEVEM SER REALIZADOS?? PROFESSORA:
A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA EM LIVROS DIDÁTICOS 1
 A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA EM LIVROS DIDÁTICOS 1 Maria Lucivânia Souza dos Santos Universidade Federal de Pernambuco lucivaniasousa1@gmail.com Edelweis José Tavares Barbosa Universidade Federal de Pernambuco
A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA EM LIVROS DIDÁTICOS 1 Maria Lucivânia Souza dos Santos Universidade Federal de Pernambuco lucivaniasousa1@gmail.com Edelweis José Tavares Barbosa Universidade Federal de Pernambuco
Trajetórias Educacionais no Brasil e o Novo Enem. Reynaldo Fernandes INEP/MEC
 Trajetórias Educacionais no Brasil e o Novo Enem Reynaldo Fernandes INEP/MEC São Paulo - SP - 2009 Sistema de Ensino Desenho Todo sistema educacional maduro se inicia com letramento e numeramento e finaliza
Trajetórias Educacionais no Brasil e o Novo Enem Reynaldo Fernandes INEP/MEC São Paulo - SP - 2009 Sistema de Ensino Desenho Todo sistema educacional maduro se inicia com letramento e numeramento e finaliza
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA - PETROLINA
 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA - PETROLINA Apresentação O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) constitui-se em um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA - PETROLINA Apresentação O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) constitui-se em um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
PLANO DE ENSINO PROJETO PEDAGÓGICO: 2010
 PLANO DE ENSINO PROJETO PEDAGÓGICO: 2010 Curso: Pedagogia Disciplina: Didática I Carga Horária Semestral: 40 horas Semestre do Curso: 4º 1 - Ementa (sumário, resumo) A Didática e os fundamentos educacionais
PLANO DE ENSINO PROJETO PEDAGÓGICO: 2010 Curso: Pedagogia Disciplina: Didática I Carga Horária Semestral: 40 horas Semestre do Curso: 4º 1 - Ementa (sumário, resumo) A Didática e os fundamentos educacionais
 Formação Pedagógica Inicial de Formadores Objetivos Gerais Este Curso, homologado pelo IEFP, visa dotar os participantes das técnicas, conhecimentos e competências necessárias á apresentação com sucesso
Formação Pedagógica Inicial de Formadores Objetivos Gerais Este Curso, homologado pelo IEFP, visa dotar os participantes das técnicas, conhecimentos e competências necessárias á apresentação com sucesso
PERCEPÇÃO DA ATITUDE AMBIENTAL DOS ALUNOS DO CEFET-UBERABA
 PERCEPÇÃO DA ATITUDE AMBIENTAL DOS ALUNOS DO CEFET-UBERABA FRAGA, D.F. 1 ; SILVA SOBRINHO, J.B.F. 1 ; SILVA, A.M. 2 ; ABDALA, V.L. 2 1 Estudante 6 módulo em Tecnologia em Gestão Ambiental no CEFET Uberaba
PERCEPÇÃO DA ATITUDE AMBIENTAL DOS ALUNOS DO CEFET-UBERABA FRAGA, D.F. 1 ; SILVA SOBRINHO, J.B.F. 1 ; SILVA, A.M. 2 ; ABDALA, V.L. 2 1 Estudante 6 módulo em Tecnologia em Gestão Ambiental no CEFET Uberaba
DESENVOLVIMENTO MOTOR DE BEBÊS NASCIDOS PRÉ- TERMO DE ACORDO COM O SEXO
 Introdução O nascimento prematuro é um problema de saúde pública mundial, e um dos mais significativos na perinatologia. Nasceram aproximadamente 12,87 milhões bebês prematuros no mundo, apenas em 2005,
Introdução O nascimento prematuro é um problema de saúde pública mundial, e um dos mais significativos na perinatologia. Nasceram aproximadamente 12,87 milhões bebês prematuros no mundo, apenas em 2005,
Termos livres retirados do texto representam o conteúdo do documento.
 Palavras-chave Termos livres retirados do texto representam o conteúdo do documento. Um bom critério para selecionar as palavras-chaves são os Vocabulários Controlados Termos organizados, segundo um método,
Palavras-chave Termos livres retirados do texto representam o conteúdo do documento. Um bom critério para selecionar as palavras-chaves são os Vocabulários Controlados Termos organizados, segundo um método,
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - IRATI
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - IRATI Apresentação O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) constitui-se em um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - IRATI Apresentação O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) constitui-se em um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)
ENADE Relatório da IES. Sinaes Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
 Sinaes Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior ENADE 2009 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Relatório da IES Faculdade de Nova Serrana no município: NOVA SERRANA SUMÁRIO Apresentação...
Sinaes Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior ENADE 2009 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Relatório da IES Faculdade de Nova Serrana no município: NOVA SERRANA SUMÁRIO Apresentação...
ANEXO V AO EDITAL CBMERJ Nº 001/2015 TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA E TESTE DE HABILIDADE ESPECÍFICA
 ANEXO V AO EDITAL CBMERJ Nº 001/2015 TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA E TESTE DE HABILIDADE ESPECÍFICA Os Teste de Capacidade Física e de Habilidade Específica têm o objetivo de selecionar os candidatos cuja
ANEXO V AO EDITAL CBMERJ Nº 001/2015 TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA E TESTE DE HABILIDADE ESPECÍFICA Os Teste de Capacidade Física e de Habilidade Específica têm o objetivo de selecionar os candidatos cuja
Parecer sobre os projetos de decretos-leis e projetos de resolução sobre a dimensão das turmas e o número máximo de turmas e níveis por professor
 1 Parecer sobre os projetos de decretos-leis e projetos de resolução sobre a dimensão das turmas e o número máximo de turmas e níveis por professor Projeto de Lei n.º 16/XIII/1.ª; Projeto de Lei n.º 148/XIII/1.ª;
1 Parecer sobre os projetos de decretos-leis e projetos de resolução sobre a dimensão das turmas e o número máximo de turmas e níveis por professor Projeto de Lei n.º 16/XIII/1.ª; Projeto de Lei n.º 148/XIII/1.ª;
