Nominalismo e Mundos Possíveis 1
|
|
|
- Luiz Henrique Palhares Ramires
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Nominalismo e Mundos Possíveis 1 Renato Mendes Rocha 2 PPGF/UFSC) Resumo: Essa comunicação possui dois objetivos. Em primeiro lugar, pretendo esboçar as diferentes alternativas teóricas contemporâneas que procuram responder ao conhecido problema dos universais. Para isso, apresentamos os nominalismos de predicados, classes, semelhanças e a teoria de tropos. Em segundo lugar, pretendo mostrar, inspirado no trabalho de David Lewis, como o nominalismo de classes, a noção de propriedade natural e uma teoria de mundos possíveis prometem resolver o problema em questão. Palavras-chave: Nominalismo, Mundos Possíveis, Propriedade Natural, Universal, David Lewis. 1 Introdução Este artigo corresponde a um desenvolvimento inicial do meu projeto de tese de doutorado. O objetivo inicial deste projeto é investigar a hipótese de que o realismo modal de Lewis sustenta-se a partir de uma visão nominalista sobre a estrutura do mundo. A mera justaposição das expressões realismo e nominalismo como partes de uma mesma teoria - tal como aparece em nossa hipótese - parece ser algo incoerente. Em outras palavras, esta aparente incoerência poderia ser explicada a partir da seguinte pergunta: tendo em vista que estas duas posições são, prima facie, opostas, como pode uma teoria realista ser fundamentada em bases nominalistas? Portanto, o objetivo deste artigo que reflete o estágio inicial de nossa pesquisa é esclarecer esta aparente incoerência e mostrar como o realismo modal 3 de Lewis se sustenta a partir de uma base nominalista. Para alcançar este objetivo o artigo foi dividido em cinco partes. Na primeira parte, apresentarei uma breve recapitulação do realismo modal de Lewis. Na segunda parte, apresentarei também de modo breve o problema dos universais, tal como ele é 1 Sou grato ao prof. Cezar Mortari pelas observações e correções na versão final deste texto. Também agradeço aos professores Guido Imaguire, Jaime Rebello e Valdetônio Pereira pelos comentários e questões levantadas após a apresentação deste trabalho no XV Encontro Nacional da ANPOF, em Curitiba. 2 para contato: mendesrocha@gmail.com 3 Talvez seja este o motivo pelo qual Lewis (1986, p. viii) tenha comentado no prefácio do seu livro que a expressão realismo modal não teria sido a melhor escolha para o nome de sua teoria, haja visto, que o termo realismo é filosoficamente carregada de significados que podem levar a confusão.
2 discutido por filósofos contemporâneos. Na terceira parte, a partir desta apresentação do problema dos universais, exponho a teoria dos universais de Armstrong, baseado em um realismo científico. Na quarta parte apresentarei as críticas de Lewis à teoria de Armstrong e por fim, na quinta parte mostrarei como Lewis promete resolver o problema dos universais valendo-se de um nominalismo de classes e da noção de propriedade natural. 2 Mundos Possíveis O realismo modal de Lewis é uma teoria filosófica que defende a existência de uma pluralidade de mundos e de indivíduos possíveis. É uma teoria sobre a realidade enquanto um todo - portanto, metafísica - que é formulada como o propósito de elucidar questões teórico-filosóficas. Uma das utilidades mais conhecidas desta teoria é a explicação que ela oferece para o discurso modal a partir de entidades não-modais. Esta explicação consiste em uma proposta de explicar as noções modais (como as de possibilidade e necessidade) a partir de entidades primitivas (portanto, não-redutíveis a outras entidades) que são os mundos possíveis. Para o realismo modal, uma proposição expressa por uma frase do tipo p é possível é verdadeira se, e somente se, em algum mundo possível, p for o caso; uma proposição expressa por uma frase do tipo p é necessário é verdadeira se, e somente se, em todos os mundos possíveis, p for o caso. Algumas propriedades importantes desta metafísica dos mundos possíveis são as seguintes: a) os mundos possíveis são causalmente isolados, ou seja, não é possível estabelecer qualquer tipo de relação causal entre dois mundos possíveis; b) ao menos uma parte deles são parcialmente concretos, na medida em que eles são da mesma natureza que o mundo real (o mundo atual), e considerando que o mundo real também é (parcialmente) concreto, os mundos possíveis não-atuais também seriam (parcialmente) concretos; e c) eles são plenos, no sentido de que para cada região do espaço lógico há um mundo possível que torna aquela possibilidade representada no espaço lógico verdadeira. A respeito do nominalismo pode-se considerar que há basicamente dois tipos de teorias nominalistas principais: aquelas que rejeitam as entidades abstratas e aquelas que rejeitam as entidades universais. Lewis defende um nominalismo do segundo tipo. Ainda que ele considere a distinção abstrato/concreto como algo impreciso e confuso, ele
3 não rejeitaria de todo modo as entidades abstratas, uma vez que assume que classes desempenham um papel importante em sua teoria. O nominalismo de que trataremos neste artigo é do segundo tipo. Este nominalismo constitui uma objeção às respostas realistas em relação a existência de universais. Para melhor compreender as posições relacionadas a este tipo de nominalismo, precisamos antes compreender o que consiste o conhecido problema dos universais. Este é o objetivo da próxima seção. 3 O problema dos universais Há algumas formas de referir ao problema em questão. Tradicionalmente é conhecido como o problema dos universais, mas esse não parece ser o modo mais adequado, haja vista o termo universais já faz parte de uma das respostas ao problema. Outra forma é referir ao problema das propriedades (Rodriguez-Pereyra, 2002; Murcho, 2012), pois, no fundo, a discussão seria a respeito da natureza das propriedades. Este é o modo adotado por Rodriguez-Pereyra que interpreta o problema como um problema sobre fazedores-de-verdade de frases que atribuem propriedades a particulares. Contudo, idem ao primeiro modo, o termo propriedade não parece ser adequado pois se compromete com um dos modos de se responder ao problema. Um modo que penso ser mais neutro e que evita estas antecipações é referir à questão como o problema Um-sobre-muitos, ou seja, como explicar que um tipo de entidade (o universal), pode estar inteiramente e simultaneamente presente em muitas instâncias de outro tipo de entidade (os particulares). A forma inversa desta expressão Muitos-sobre-um também é útil para descrever o problema. Nesta formulação o problema é entendido como explicar o fato de uma entidade (um particular) ser, ao mesmo tempo, instância de tantas outras entidades (muitos universais). Armstrong (1989, p. 13) prefere abordar o problema valendo-se da distinção peirciana type-token (tipo-espécime). O filósofo afirma que as respostas interessantes a este problema são aquelas capazes de responder a seguinte questão: O que distingue uma classe de espécimes (token) que delimita um tipo (type), das classes de espécimes (token) que não delimitam um tipo (type)?.
4 À primeira vista, parece um problema cercado de mistério e confusão. Vide a própria dificuldade encontrada ao se procurar apenas formular o problema. As diferentes formulações possíveis já nos indicam uma pluralidade de formas de tentar compreendê-lo. Sem mencionar ainda o fato de que há filósofos que o julgaram apenas como um pseudoproblema gerado pelo mau uso da linguagem. Contudo, acredito que se trata de um problema ontológico genuíno que está relacionado à filosofia da linguagem, mas não pode ser reduzido à filosofia da linguagem. Além disso, é um problema básico cuja solução estará ligada a outras áreas da filosofia, como a epistemologia e a filosofia da ciência, por exemplo, ao problema explicar a causalidade e o funcionamento das leis da natureza. Qualquer resposta satisfatória a este problema também é uma forma de caracterizar as categorias ontológicas que constituem a realidade, ou em outras palavras, em como podemos trinchar adequadamente a realidade em suas juntas. 4 Inicialmente, podemos nos aproximar desta pluralidade separando as teorias em dois tipos: as realistas e nominalistas (ou antirrealistas). 4 Realismos vs. Nominalismos Por um lado, filósofos realistas em relação aos universais (em suas diversas teorias) se comprometem com este tipo distinto de entidade (universal) que é caracterizado como algo que pode estar ao mesmo tempo inteiramente presente em diferentes entidades particulares. Há várias formas de realismos. Em síntese, há filósofos que: a) afirmam que universais são anteriores às coisas (ante res) neste caso admitem inclusive a existência de universais não-instanciados; b) universais existem nas coisas (in rebus) universais estão presentes apenas nas coisas, e não ao mesmo tempo em cada uma de suas instâncias. Platão e Aristóteles são exemplos de filósofos que podem ser considerados, cada um a seu modo, realistas em relação aos universais. Enquanto o primeiro defendia que os universais existem independentemente da realidade do mundo sensível, aceitando inclusive, universais que não possuem instância no mundo, o segundo defendia que atributos universais estavam presentes apenas em cada uma de suas instâncias. 4 how to carve reality in its joints.
5 Por outro lado, filósofos nominalistas acreditam que a postulação deste tipo adicional de entidade é supérfluo. Assim, procuram alternativas teóricas para explicar o fenômeno Um-sobre-muitos. Estas alternativas utilizam os tipos de entidades já existentes em uma determinada ontologia, buscando uma economia qualitativa. Dentre as teorias nominalistas mencionamos pelo menos as seguintes: a) o nominalismo de classes; b) o nominalismo de semelhanças, c) nominalismo de predicados; e d) a teoria de tropos. A seguir abordaremos resumidamente cada uma destas teorias mostrando que as duas primeiras podem ser entendidas como sendo apenas versões de uma mesma teoria; que a terceira é insuficiente para dar conta do problema; e que a quarta fornece mais problemas que soluções desejadas. 5 Iniciando pela última. Para explicar o problema Um-sobre-muitos a teoria de tropos postula a existência de um entidade particular abstrata existente para cada propriedade (ou característica) de uma entidade particular. Ou melhor, cada propriedade de um particular é uma entidade única e existente apenas naquele particular. Desse modo, se há uma sala com diversas cadeiras vermelhas, cada cadeira possui o seu próprio tropo de vermelho. Um particular então é, nada mais que um feixe de tropos. Nesse tipo de nominalismo, o que permite dizer que as cadeiras vermelhas de uma mesma sala são semelhantes é o fato de os seus tropos vermelhos serem semelhantes. Nesse caso a semelhança não se dá por meio de um universal, ela é tomada como uma relação primitiva. A vantagem da teoria de tropos é que ela parece eliminar o problema da localização múltipla dos universais, pois sendo cada tropo um particular, ele está presente unicamente em sua instância. Contudo, esta solução traz um problema maior que é a postulação de um tipo abundante de entidade que parece ser pouco desejável. Por exemplo, imagine um mundo possível contendo apenas dois particulares que se assemelham em algum aspecto. Para um teórico de tropos afirmar que estes particulares se assemelham, ele precisa postular quatro entidades, sendo cada par de um tipo: dois particulares concretos e dois particulares abstratos. As teorias realistas fazem o mesmo de modo mais econômico: postulam apenas dois particulares e um universal abstrato. O nominalismo de predicados afirma que a semelhança entre espécimes pode ser explicada a partir do fato de que a estas espécimes podemos aplicar o mesmo 5 Para uma abordagem mais detalhada a respeito de cada uma destas posições consultar os seguintes livros introdutórios: GARRET, B. (2008); CONEE, E. & SIDER, T. (2010); CARROL, J. & MARKOSIAN, N. (2010); MURCHO, D. (2012)
6 predicado. Em nosso exemplo anterior, dizemos que as cadeiras da nossa sala são todas de um mesmo tipo, pois o predicado ser vermelho pode ser aplicado a cada uma delas univocamente. Esta teoria também não nos parece uma teoria satisfatória pelo seguinte motivo: nem todo predicado pode ser automaticamente convertido em uma propriedade, ou universal. Exemplos: o predicado não pertencer a si mesmo, ou não ser uma instância de si mesmo. O nominalismo de classes procura explicar que para dois espécimes (tokens) fazerem parte de um mesmo tipo (type) basta que estes espécimes pertençam à uma mesma classe. Se a e b são membros da classe dos Fs é porque a e b ambos possuem a mesma propriedade F descrita pela classe dos Fs. Um problema neste tipo de nominalismo é que não há qualquer critério na teoria de classes que assegure que seus membros de uma classe precisem compartilhar alguma propriedade. As classes são formadas arbitrariamente. Por isso, utilizar classes para descrever o mundo não parece ser algo muito efetivo, pois elas são abundantes, arbitrárias e ontologicamente não-discriminatórias. Alguém pode formar uma classe com quaisquer dois objetos distintos sendo a única propriedade que estes objetos compartilham é a de pertencer aquela classe. O nominalismo de semelhanças também usa a noção de classes, contudo estabelece o seguinte critério adicional: dois objetos a e b pertencem a uma mesma classe F se, e somente se, eles se assemelham em algum aspecto. A relação de semelhança estabelece classes de semelhanças. Esta relação é introduzida como algo primitivo e, portanto, não analisável. A semelhança entre dois objetos emerge a partir da própria existência destes objetos, portanto, é intuitiva. Atribuições de semelhança não precisariam ser explicadas, elas são em algum sentido evidentes. Basta olhar para duas xícaras azuis e perceber que elas são semelhantes em alguns aspectos, seja no formato, cor, peso ou tamanho. No entanto, as duas teorias são próximas no sentido de que em uma a classe determina semelhança, em outra a semelhança determina uma classe. Um fato interessante a se notar nesta apresentação das variedades de nominalismos é que os nominalismo de classes e de semelhanças são teorias que se aproximam no sentido de que em uma a classe determina a semelhança, e em outra a semelhança determina uma classe. Portanto, estas duas teorias podem ser vistas como versões diferentes de uma mesma teoria. Este fato pode ser melhor compreendido se
7 considerarmos o nominalismo de classes em conjunto com a noção de propriedade natural. A ideia geral desta aproximação baseia-se no fato de que a relação de semelhança e a noção de propriedades naturais são interdefiníveis. Basicamente, uma propriedade natural é uma classe cujos elementos são de um modo representativo do todo da classe (Quinton, 1957, p. 36). Ou seja, classes de propriedades naturais parece ser um modo de introduzir a relação de semelhança em um nominalismo de classes. Então, uma classe formada a partir de uma relação de semelhança pode ser definido em termos de propriedade natural, e propriedade natural também poder ser definida em termos de classes de semelhanças. Um argumento a favor deste ponto é apresentado por D. Lewis (1983, p. 348) e segue-se assim, parafraseando-o. Considere uma relação poliádica primitiva x 1, x 2,...Ry 1, y 2 como uma definição de semelhança se, e somente se, x 1, x 2, compartilham uma propriedade natural e nenhum y 1, y 2, compartilham esta propriedade. Agora, considere outra relação poliádica primitiva N tal que Nx 1,x 2, se, e somente se, x 1, x 2 são membros de uma propriedade perfeitamente natural. Então podemos definir Nx 1,x 2 como y 1,y 2 (z, x 1,x 2 Ry 1,y 2 z=x 1 z=x 2 ). Uma classe natural poderia então ser definida como se segue: se x 1,x 2 são todos os seus membros, então Nx 1,x 2. Dada a interdefinibilidade entre as relações poliádicas N e R, cada uma poderia ser utilizada na definição anterior. A conclusão deste argumento é que o nominalismo de semelhanças e o nominalismo de classes (com propriedades naturais) são apenas versões diferentes de uma mesma teoria. A diferença seria apenas aparente e consistiria no seguinte: no nominalismo de semelhanças indivíduos são abordados de modo plural enquanto no nominalismo de classe classes são abordadas de um modo singular. Das quatro teorias apresentadas anteriormente, julgamos que a menos problemática e mais adequada para solucionar o problema é o nominalismo de classes usando uma definição de classe natural (Quinton) e considerando mundos possíveis (Lewis). Na seção seguinte veremos mais detalhes sobre esse modo de solucionar o problema. Em nosso caso, apresentaremos um tipo de nominalismo que recorre à existência de classes (matemática) e à uma teoria de mundos possíveis para substituir o papel dos universais. A primeira vista, parece ser um caminho inglório, pois estamos a trocar meia-dúzia por uma dúzia inteira, ao querer eliminar um tipo de entidade, substituindo-a por outras duas. A razão que nos justifica a essa troca reside no fato que
8 estamos substituindo uma entidade teoricamente desnecessária, por outras duas entidades necessárias que se admitidas em nossa ontologia terão lugar para desempenhar outros papéis. Haja visto que as classes já desempenham papel importante na matemática e os mundos possíveis tem sido amplamente utilizados em diversas áreas de filosofia analítica contemporânea. 5 Universais de Armstrong Antes de apresentar a solução que nos parece mais adequada ao problema, apresentarei uma diagrama baseado no que é apresentado por Armstrong (1989, p. 17) para caracterizar seis principais posições no debate. O diagrama é o seguinte: Particulares ordinários Tropos Classes Naturais A. Quinton / D. Lewis G.F. Stout Primitivas Nominalistas Semelhança H. Price / G. R.-Pereyra D. C. Willians Universais Platão, Aristóteles, Armstrong J. Cook Wilson Realistas Neste diagrama é interessante perceber a diversidade de posições existentes no debate em questão. Em princípio são seis posições que variam de acordo com a aceitação ou a rejeição de alguma destas entidades: universais, particulares abstratos (tropos), particulares concretos, classes e relação de semelhança. Armstrong desenvolveu uma robusta teoria realista acerca dos universais. O filósofo australiano considera que os universais são um tipo de categoria ontológica básica que seria suficiente para descrever as características mais gerais da realidade. Ele defende um tipo de Realismo Universal a posteriori, pois prefere deixar a tarefa de definir quais universais existem para a investigação empírica, preferencialmente, as ciências naturais. Assim, diferente de teorias realistas anteriores que defendem o carácter a priori dos universais, Armstrong considera que eles são definíveis a posteriori e portanto são entidades escassas. Nem tudo que alguém poderia acreditar ser um universal é de fato um universal. Este papel decisório cabe ao cientista e não ao filósofo. Contudo, Armstrong
9 estabelece alguns critérios para o universal. Por exemplo, ele defende que podem haver universais conjuntivos, mas não os disjuntivos ou os negativos. Além de universais, Armstrong admite particulares em sua ontologia. Particulares são as entidades que instanciam universais. Armstrong também admite a existência de um universais de ordens superiores. Por exemplo, um universal de segunda ordem instancia universais de primeira ordem, que por sua vez são instanciam particulares. Em grande medida, a teoria dos universais é aristotélica, uma vez que não admite existência de universais não-instanciados, ou seja os universais dependem de suas instâncias. Completando o quadro, Armstrong defende universais são entidades dotadas de múltipla localização espaciotemporal, ou seja, estão totalmente presente em cada uma instâncias. Uma consequência positiva desta teoria realista sobre universais é a definição de Lei da Natureza. Para Armstrong uma lei da natureza pode ser definida como uma relação de necessitação contingente entre universais. Esta relação pode ser expressa como algo do tipo N(F,G) em que N seria uma relação diádica de segunda ordem entre F e G, sendo cada um destes relata um universal de primeira ordem. A relação entre F e G é necessária, contudo o fato de esta relação se dar entre os universais F e G é contingente, poderia ter se dado entre universais diferentes, por exemplo F e G, por isso, se diz que N(F,G) é uma relação de necessitação contingente. 6 Lewis e um novo trabalho para os universais David Lewis (1983, p. 343) considera importante o papel desempenhado por universais. Segundo ele, qualquer ontologia deve ser capaz de explicar o fenômeno umsobre-muitos (universal-sobre-muitos-particulares). Apesar de não rejeitar explicitamente este tipo de entidade e afirmar um certo agnosticismo em relação a eles, Lewis procura mostrar que as razões que sustenta a teoria de Armstrong são pouco convincentes e que na verdade Armstrong transformou o problema inicial em um outro problema mais geral e aparentemente insolúvel que demandaria uma teoria geral da predicação (op. cit., p. 352). Um defensor dos universais demandaria não apenas acrescentar esse tipo de entidade à teoria de Lewis, mas substitui-la pelas entidades já assumidas (classes e propriedades). Contudo, apenas acrescentar esta nova entidade traria problema indesejáveis ao realismo
10 modal de Lewis, como por exemplo, admitir exceções ao isolamento causal entre mundos possíveis. Lewis sustenta que o papel desempenhado por universais pode ser explicado em sua ontologia generosa constituída por entidades meramente possíveis (possibilia). Nesta ontologia as propriedades são definidas como classes de possibilia. Ou seja, dizer que um determinado objeto possui uma propriedade é dizer que este objeto é membro de uma classe. Nesse sentido, as relações são classes arbitrárias de pares ordenados. Assim, podemos já esboçar algumas diferenças entre propriedades e universais. O primeiro aspecto diz respeito à instanciação. Enquanto universais estão inteiramente presente em cada uma de suas instâncias, as propriedades estão espalhadas; onde quer que haja uma instância há apenas um membro da classe que forma a propriedade. Para Armstrong, universais de um mundo devem se comprometer com pelo menos uma base mínima para caracterizar completamente este mundo. Candidatos a universais que não contribuem para esse propósito e os candidatos que são redundantes ficam de fora da teoria de Armstrong. Assim, Lewis apresenta segundo a caracterização de Armstrong a seguinte definição de universal: uma entidade (contraparte) não linguística de um vocabulário primitivo de uma linguagem que seja capaz de descrever o mundo exaustivamente. Para Lewis, uma propriedade é exatamente o oposto desta caracterização de universal mencionada no parágrafo anterior. Pois, qualquer classe de coisas pode determinar uma propriedade, e portanto, não pode descrever nada substancialmente sobre o mundo. Nesse sentido, as propriedades são imensamente abundantes e portanto, não são discriminatórias. Não podem ser utilizadas sozinhas para distinguir dois objetos, pois nesta concepção quaisquer dois objetos compartilham um número infinitamente grande de propriedades (pense, por exemplo, nas propriedades extrínsecas ou nas propriedades Cambridge ) e ao mesmo tempo não compartilham um número infinitamente grande de propriedades. Considerando esse aspecto, caso se queira que as propriedades representem o papel dos universais, deve-se fazer uma distinção entre pelos menos dois tipos de propriedades: as naturais e as não-naturais. As do primeiro tipo formam um grupo restrito de classes em relação ao segundo grupo. Segundo Quinton (1957, p. 36) as propriedades naturais seriam as classes cujos partes (elementos) seriam de um modo representativa do todo da classe. Lewis (1983, p. 346) afirma ainda que propriedades naturais seriam aquelas
11 cujo o fato de dois particulares a compartilharem torna estes particulares semelhantes, além disso devem ser relevantes para explicar poderes causais. Lewis reivindica que as propriedades naturais podem ser classificadas a partir de graus naturalidade de acordo com o unidade existente entre os elementos da classe. Sendo que o mais alto grau de naturalidade seria o das propriedades chamadas de perfeitamente naturais. Para complementar a distinção entre universais e propriedades uma metáfora conhecida nos é útil. É dito que os universais trincham a realidade em suas juntas, ou sejam, são capazes de fornecer um modo de se dividir e categorizar adequadamente a realidade. As propriedades também teriam este poder de trinchar a realidade em suas juntas, contudo ela o faria em qualquer outro ponto. Portanto, as propriedades se consideradas sozinhas podem trinchar a realidade em qualquer parte, indiscriminadamente. As propriedades naturais são introduzidas para reduzir os cortes desnecessários, um modo de procurar pelas melhores pontos ao se trinchar a realidade. Outro argumento oferecido por Armstrong a favor dos universais é que eles forneceriam a melhor semântica para frases como: a) O vermelho é mais parecido com o laranja do que com o azul ; b) O vermelho é indício de maturação, c) Humildade é uma virtude. etc. Lewis discorda e mostra que uma análise semântica a partir de propriedades também é possível e é satisfatória para frases deste tipo. O problema em analisar essas frases considerando universais é, seguindo a teoria de Armstrong, que não podemos saber se cores, maturação, virtude são universais genuínos e por isso elas precisariam ser parafraseadas para incluir os universais genuínos. Se há dois modos disponíveis para uma análise semântica, sendo que um deles oferece uma análise direta das frases e outro apenas por meio de uma paráfrase, parece ser razoável preferir o modo que oferece uma análise direta, tornando a paráfrase desnecessária. Lewis aponta algumas críticas severas ao trabalho de Armstrong. Sendo mais contundente a acusação de que Armstrong na verdade transformou o problema de explicar o fato mooreano (um fato óbvio) sobre universais em uma necessidade de ter uma análise geral sobre a predicação, e este problema demandaria uma solução que parece ser um muito maior que o problema inicial. 7 Considerações finais
12 Para concluir julgamos importante mencionar a análise metodológica que Lewis (1983) faz sobre o problema em questão. Ele afirma que há três tipos de respostas possíveis: 1) negar o problema; 2) explicar o problema a partir de uma análise ou; 3) explicar o problema aceitando que há relação primitiva e portanto não-analisável. A primeira opção parece ser ruim no sentido que passamos a negar um fato mooreano. Armstrong segue pelo segundo caminho e procura reduzir a sua explicação ao problema à uma análise geral da forma predicativa a possui a propriedade F. Lewis opta pelo terceiro modo. Consideramos esta terceira opção como uma solução de valor, pois admite que há um problema comum entre todas as alternativas ao problema (seja realistas ou antirrealistas). Qualquer solução envolve algum tipo de relação de regresso. Os realistas caem no regresso ao explicar relação de participação existente entre um universal e um particular. Nominalistas (seja de classes ou de semelhanças) também estão fadados ao regresso em algum momento, seja para explicar a relação de pertinência a uma classe, seja para explicar a relação de semelhança. Um exemplo deste regresso: como explicar que dois objetos vermelhos se assemelham? Postulando um universal. Como explicar que o universal se parece a cada um dos dois? Postulando uma relação de semelhança (ou participação) entre cada particular e o universal. Como explicar essa relação? Postulando outra relação? O mesmo se dá para o nominalismo de predicados ou a teoria de tropos. Parece-nos que alguma forma de regresso é inevitável entre as teorias atualmente disponíveis e é este problema já foi sabiamente apontado por Bertrand Russell em sua crítica às teorias nominalistas. Por fim, parece que nem mesmo as teorias universalistas podem evitar algum tipo de regresso. O melhor modo de evitar este regresso é aceitar que em algum ponto da análise esse regresso estaciona sobre alguma relação que seja primitiva e não analisável, por enquanto, a opção mais plausível para assumir este papel primitivo em uma ontologia é a relação de semelhança ou a noção de propriedade natural.
13 Referências bibliográficas ARMSTRONG, David. (1989) Universals: An Opinionated Introduction. Boulder, CO: Westview Press. CONEE, E. & SIDER, T. (2010); Enigmas da Existência. Lisboa: Bizâncio. CARROL, J. & MARKOSIAN, N. (2010); An introduction to Metaphysics. Cambridge Introductions to Philosophy. FIGUEIREDO, R. A. (2012) Atributos Não Instanciados. Dissertação - (Mestrado em filosofia) UFRJ, Rio de Janeiro, GARRET, B. (2008); Metafísica : conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: Artmed. LEWIS, David. (1983). New Work for a Theory of Universals. Australasian Journal of Philosophy Vol. 61, No. 4., pp DOI: (1986) On the plurality of Worlds. MURCHO, Desidério. (2012) Metafísica. In: Filosofia: uma introdução por disciplinas. Org. GALVÃO, Pedro. Lisboa: Edições 70. ROCHA, R. M. (2010) O Realismo Modal de David Lewis: uma opção pragmática. Dissertação (Mestrado em Filosofia) UFG, Goiânia, RODRIGUEZ-PEREYRA, Gonzalo. (2002) Resemblance Nominalism: a solution to the problem of Universals. OUP. (2000) What is the Problem of Universals? Mind, 2000, 109 (434), pp DOI: QUINTON, Anthony. Properties and Classes. Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 58 ( ), pp
Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis
 77 Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis Renato Mendes Rocha 1 mendesrocha@gmail.com Resumo: O discurso a respeito dos Mundos Possíveis pode ser uma ferramenta bastante
77 Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis Renato Mendes Rocha 1 mendesrocha@gmail.com Resumo: O discurso a respeito dos Mundos Possíveis pode ser uma ferramenta bastante
MUMFORD, STEPHEN. METAPHYSICS: A VERY SHORT INTRODUCTION. OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2012.
 MUMFORD, STEPHEN. METAPHYSICS: A VERY SHORT INTRODUCTION. OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2012. Renato Mendes Rocha Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina Bolsista CAPES Visitante
MUMFORD, STEPHEN. METAPHYSICS: A VERY SHORT INTRODUCTION. OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2012. Renato Mendes Rocha Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina Bolsista CAPES Visitante
O realismo dos universais The Realism of Universals
 54 Perspectiva Filoso fica, Recife, v. 1, n. 39, p.54-70, jan/jun 2013 O realismo dos universais The Realism of Universals Rodrigo Alexandre de Figueiredo 1 Resumo Busco aqui fazer uma breve introdução
54 Perspectiva Filoso fica, Recife, v. 1, n. 39, p.54-70, jan/jun 2013 O realismo dos universais The Realism of Universals Rodrigo Alexandre de Figueiredo 1 Resumo Busco aqui fazer uma breve introdução
UMA CARACTERIZAÇÃO DAS NOÇÕES DE PARTICULARES E UNIVERSAIS. Rodrigo Alexandre de Figueiredo
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LÓGICA E METAFÍSICA UMA CARACTERIZAÇÃO DAS NOÇÕES DE PARTICULARES E
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LÓGICA E METAFÍSICA UMA CARACTERIZAÇÃO DAS NOÇÕES DE PARTICULARES E
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO VALDETONIO PEREIRA DE ALENCAR. NOMINALISMO E TEORIA DE TROPOS: o estatuto das propriedades
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO VALDETONIO PEREIRA DE ALENCAR NOMINALISMO E TEORIA DE TROPOS: o estatuto das propriedades RIO DE JANEIRO 2015 VALDETONIO PEREIRA DE ALENCAR NOMINALISMO E TEORIA DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO VALDETONIO PEREIRA DE ALENCAR NOMINALISMO E TEORIA DE TROPOS: o estatuto das propriedades RIO DE JANEIRO 2015 VALDETONIO PEREIRA DE ALENCAR NOMINALISMO E TEORIA DE
UMA ANÁLISE DO NOMINALISMO DE AVESTRUZ A INQUIRY TO OSTRICH NOMINALISM
 https://doi.org/10.31977/grirfi.v18i2.917 Artigo recebido em 15/10/2018 Aprovado em 24/11/2018 UMA ANÁLISE DO NOMINALISMO DE AVESTRUZ Valdetonio Pereira de Alencar 1 Universidade Federal do Cariri (UFCA)
https://doi.org/10.31977/grirfi.v18i2.917 Artigo recebido em 15/10/2018 Aprovado em 24/11/2018 UMA ANÁLISE DO NOMINALISMO DE AVESTRUZ Valdetonio Pereira de Alencar 1 Universidade Federal do Cariri (UFCA)
DEUS: CONCEITO NÃO-DISTRIBUTIVO DE SEGUNDA ORDEM?
 DEUS: CONCEITO NÃO-DISTRIBUTIVO DE SEGUNDA ORDEM? Edgar Marques UERJ/CNPq Abstract: In this paper I argue against Guido Imaguire s attempt of solving the christian mistery of the trinity by considering
DEUS: CONCEITO NÃO-DISTRIBUTIVO DE SEGUNDA ORDEM? Edgar Marques UERJ/CNPq Abstract: In this paper I argue against Guido Imaguire s attempt of solving the christian mistery of the trinity by considering
FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS
 FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO - 36 Esperava-se que o estudante estabelecesse a distinção entre verdade e validade e descrevesse suas respectivas aplicações. Item
FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO - 36 Esperava-se que o estudante estabelecesse a distinção entre verdade e validade e descrevesse suas respectivas aplicações. Item
H. H. PRICE, PARADIGMAS E O PROBLEMA DOS UNIVERSAIS
 H. H. PRICE, PARADIGMAS E O PROBLEMA DOS UNIVERSAIS H. H. Price, Paradigms and the problem of universals Valdetonio Pereira de Alencar UFRJ/UFCA Resumo: Neste artigo, analiso o Nominalismo de Semelhança
H. H. PRICE, PARADIGMAS E O PROBLEMA DOS UNIVERSAIS H. H. Price, Paradigms and the problem of universals Valdetonio Pereira de Alencar UFRJ/UFCA Resumo: Neste artigo, analiso o Nominalismo de Semelhança
constituímos o mundo, mais especificamente, é a relação de referência, entendida como remissão das palavras às coisas que estabelece uma íntima
 1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
Atributos Não Instanciados
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LÓGICA E METAFÍSICA Rodrigo Alexandre de Figueiredo Atributos Não Instanciados
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LÓGICA E METAFÍSICA Rodrigo Alexandre de Figueiredo Atributos Não Instanciados
BuscaLegis.ccj.ufsc.br
 BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
RESENHA. LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp.
 RESENHA LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp. Pedro Merlussi 1 Eis aqui mais ou menos o que a academia brasileira parece pensar acerca da metafísica nos dias
RESENHA LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp. Pedro Merlussi 1 Eis aqui mais ou menos o que a academia brasileira parece pensar acerca da metafísica nos dias
PALAVRAS DE INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS /REDAÇÃO ENEM / VESTIBULAR /2016
 PALAVRAS DE INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS /REDAÇÃO ENEM / VESTIBULAR /2016 Lembre-se da estrutura básica da dissertação-argumentativa Introdução Desenvolvimento Conclusão Apresente o tema e o recorte
PALAVRAS DE INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS /REDAÇÃO ENEM / VESTIBULAR /2016 Lembre-se da estrutura básica da dissertação-argumentativa Introdução Desenvolvimento Conclusão Apresente o tema e o recorte
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EPISTEMOLOGIA E METAFÍSICA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EPISTEMOLOGIA E METAFÍSICA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO O PROBLEMA DOS UNIVERSAIS: O REGRESSO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EPISTEMOLOGIA E METAFÍSICA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO O PROBLEMA DOS UNIVERSAIS: O REGRESSO
PALAVRAS DE INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSIDERAÇÕES FINAIS /REDAÇÃO ENEM / VESTIBULAR /2018
 PALAVRAS DE INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSIDERAÇÕES FINAIS /REDAÇÃO ENEM / VESTIBULAR /2018 Lembre-se da estrutura básica da dissertação-argumentativa Introdução Desenvolvimento Conclusão Apresente
PALAVRAS DE INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSIDERAÇÕES FINAIS /REDAÇÃO ENEM / VESTIBULAR /2018 Lembre-se da estrutura básica da dissertação-argumentativa Introdução Desenvolvimento Conclusão Apresente
Conclusão. positivo, respectivamente, à primeira e à terceira questões. A terceira questão, por sua vez, pressupõe uma resposta positiva à primeira.
 Conclusão Procuramos, ao longo deste trabalho, responder às seguintes perguntas sobre negação e propriedades negadas 1 : (i) É legítima a distinção entre negação predicativa e negação proposicional? (ii)
Conclusão Procuramos, ao longo deste trabalho, responder às seguintes perguntas sobre negação e propriedades negadas 1 : (i) É legítima a distinção entre negação predicativa e negação proposicional? (ii)
CURSO METODOLOGIA ECONÔMICA. Professora Renata Lèbre La Rovere. Tutor: Guilherme Santos
 CURSO METODOLOGIA ECONÔMICA Professora Renata Lèbre La Rovere Tutor: Guilherme Santos Antecedentes da Metodologia Econômica John Stuart Mill (1836): conhecimento se desenvolve a partir de busca de propriedades
CURSO METODOLOGIA ECONÔMICA Professora Renata Lèbre La Rovere Tutor: Guilherme Santos Antecedentes da Metodologia Econômica John Stuart Mill (1836): conhecimento se desenvolve a partir de busca de propriedades
filosofia, 2, NORMORE, C. Some Aspects of Ockham s Logic, p. 34.
 Introdução Na Idade Média, a lógica foi concebida como a ciência da razão (scientia rationalis) ou como a ciência do discurso (scientia sermocinalis). Em geral, a primeira concepção distingue-se por identificar
Introdução Na Idade Média, a lógica foi concebida como a ciência da razão (scientia rationalis) ou como a ciência do discurso (scientia sermocinalis). Em geral, a primeira concepção distingue-se por identificar
MURCHO, Desidério - Essencialismo naturalizado. Coimbra: Angelus Novus, Ltd., 2002, 100 p.
 MURCHO, Desidério - Essencialismo naturalizado. Coimbra: Angelus Novus, Ltd., 2002, 100 p. I Desidério Murcho não é desconhecido no Brasil. Foi tema de comunicação apresentada no Congresso de Filosofia
MURCHO, Desidério - Essencialismo naturalizado. Coimbra: Angelus Novus, Ltd., 2002, 100 p. I Desidério Murcho não é desconhecido no Brasil. Foi tema de comunicação apresentada no Congresso de Filosofia
A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA
 MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
Lógica. Abílio Rodrigues. FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho.
 Lógica Abílio Rodrigues FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho São Paulo 2011 09 Lógica 01-08.indd 3 4/29/11 2:15 PM 1. Verdade, validade e forma lógica
Lógica Abílio Rodrigues FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho São Paulo 2011 09 Lógica 01-08.indd 3 4/29/11 2:15 PM 1. Verdade, validade e forma lógica
ÍNDICE. Lição 8 Conceitos Fundamentais da Teoria dos Conjuntos 49. Representação Simbólica dos Conceitos Fundamentais da Teoria dos
 ÍNDICE Prefácio PARTE I LÓGICA ARISTOTÉLICA Lição 1 Introdução. Lógica Aristotélica: Noções Básicas 9 Lição 2 O Quadrado da Oposição 15 Lição 3 Conversão, Obversão e Contraposição 21 Lição 4 A Teoria do
ÍNDICE Prefácio PARTE I LÓGICA ARISTOTÉLICA Lição 1 Introdução. Lógica Aristotélica: Noções Básicas 9 Lição 2 O Quadrado da Oposição 15 Lição 3 Conversão, Obversão e Contraposição 21 Lição 4 A Teoria do
A EPISTEMOLOGIA E SUA NATURALIZAÇÃO 1 RESUMO
 A EPISTEMOLOGIA E SUA NATURALIZAÇÃO 1 SILVA, Kariane Marques da 1 Trabalho de Pesquisa FIPE-UFSM Curso de Bacharelado Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil E-mail:
A EPISTEMOLOGIA E SUA NATURALIZAÇÃO 1 SILVA, Kariane Marques da 1 Trabalho de Pesquisa FIPE-UFSM Curso de Bacharelado Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil E-mail:
Lecionação da Filosofia da Religião a partir da Lógica, Metafísica e Epistemologia
 Lecionação da Filosofia da Religião a partir da Lógica, Metafísica e Epistemologia Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe v180713 Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe 1/23 Plano 1 Introdução 2 Problema de
Lecionação da Filosofia da Religião a partir da Lógica, Metafísica e Epistemologia Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe v180713 Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe 1/23 Plano 1 Introdução 2 Problema de
A elaboração de informações documentárias. Nair Yumiko Kobashi (partes da tese de doutorado, 1994)
 A elaboração de informações documentárias Nair Yumiko Kobashi (partes da tese de doutorado, 1994) Organização da Informação e Análise Documentária Análise documentária: disciplina de natureza metodológica.
A elaboração de informações documentárias Nair Yumiko Kobashi (partes da tese de doutorado, 1994) Organização da Informação e Análise Documentária Análise documentária: disciplina de natureza metodológica.
O que é a Indiscernibilidade de Idênticos
 O que é a Indiscernibilidade de Idênticos A nossa agenda é a seguinte Primeiro, formulamos a Lei da Indiscernibilidade de Idênticos e damos uma ideia do seu âmbito de aplicação Depois, distinguimos esse
O que é a Indiscernibilidade de Idênticos A nossa agenda é a seguinte Primeiro, formulamos a Lei da Indiscernibilidade de Idênticos e damos uma ideia do seu âmbito de aplicação Depois, distinguimos esse
Notas de Aula Aula 2, 2012/2
 Lógica para Ciência da Computação Notas de Aula Aula 2, 2012/2 Renata de Freitas & Petrucio Viana Departamento de Análise, IME UFF 23 de janeiro de 2013 Sumário 1 Conteúdo e objetivos 1 2 Legibilidade
Lógica para Ciência da Computação Notas de Aula Aula 2, 2012/2 Renata de Freitas & Petrucio Viana Departamento de Análise, IME UFF 23 de janeiro de 2013 Sumário 1 Conteúdo e objetivos 1 2 Legibilidade
Regressões ao Infinito em Metafísica João Branquinho Universidade de Lisboa
 Regressões ao Infinito em Metafísica João Branquinho Universidade de Lisboa O seminal livro de David Armstrong Nominalism and Realism (Armstrong 1978) contém uma das mais compreensivas discussões de argumentos
Regressões ao Infinito em Metafísica João Branquinho Universidade de Lisboa O seminal livro de David Armstrong Nominalism and Realism (Armstrong 1978) contém uma das mais compreensivas discussões de argumentos
Uma introdução ao Monismo Anômalo de Donald Davidson
 Uma introdução ao Monismo Anômalo de Donald Davidson Por Marcelo Fischborn http://fischborn.wordpress.com (Universidade Federal de Santa Maria, Outubro de 2010) REFERÊNCIAS: Davidson (1917 2003) DAVIDSON,
Uma introdução ao Monismo Anômalo de Donald Davidson Por Marcelo Fischborn http://fischborn.wordpress.com (Universidade Federal de Santa Maria, Outubro de 2010) REFERÊNCIAS: Davidson (1917 2003) DAVIDSON,
Lógica Proposicional
 Lógica Proposicional Lógica Computacional Carlos Bacelar Almeida Departmento de Informática Universidade do Minho 2007/2008 Carlos Bacelar Almeida, DIUM LÓGICA PROPOSICIONAL- LÓGICA COMPUTACIONAL 1/28
Lógica Proposicional Lógica Computacional Carlos Bacelar Almeida Departmento de Informática Universidade do Minho 2007/2008 Carlos Bacelar Almeida, DIUM LÓGICA PROPOSICIONAL- LÓGICA COMPUTACIONAL 1/28
COMO INTERPRETAR O RELATÓRIO DE PESQUISA COM OPINIÃO ESCRITA
 COMO INTERPRETAR O RELATÓRIO DE PESQUISA COM OPINIÃO ESCRITA Neste documento encontrará informação útil acerca do relatório de pesquisa com opinião escrita (RPOE) realizado após a conclusão do exame formal;
COMO INTERPRETAR O RELATÓRIO DE PESQUISA COM OPINIÃO ESCRITA Neste documento encontrará informação útil acerca do relatório de pesquisa com opinião escrita (RPOE) realizado após a conclusão do exame formal;
A REVOLUÇÃO CARTESIANA. Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV.
 A REVOLUÇÃO CARTESIANA Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV. Descartes (1596-1650) foi educado por jesuítas. Ele iniciou a filosofia moderna com um
A REVOLUÇÃO CARTESIANA Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV. Descartes (1596-1650) foi educado por jesuítas. Ele iniciou a filosofia moderna com um
Resenha / Critical Review
 Resenha / Critical Review por Ana Carolina da Costa e Fonseca * Oliver Michael; Barnes Colin. The new politcs of disablement (As novas olíticas da deficiência). Palgrave Macmillan, 2012. A primeira edição
Resenha / Critical Review por Ana Carolina da Costa e Fonseca * Oliver Michael; Barnes Colin. The new politcs of disablement (As novas olíticas da deficiência). Palgrave Macmillan, 2012. A primeira edição
TEORIA DA LINGUAGEM O REALISMO - NORMAN GEISLER. vivendopelapalavra.com. Revisão e diagramação por: Helio Clemente
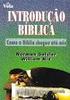 TEORIA DA LINGUAGEM O REALISMO - NORMAN GEISLER vivendopelapalavra.com Revisão e diagramação por: Helio Clemente REALISMO: UMA ALTERNATIVA AO ESSENCIALISMO E AO CONVENCIONALISMO A visão convencionalista
TEORIA DA LINGUAGEM O REALISMO - NORMAN GEISLER vivendopelapalavra.com Revisão e diagramação por: Helio Clemente REALISMO: UMA ALTERNATIVA AO ESSENCIALISMO E AO CONVENCIONALISMO A visão convencionalista
OPERADORES MODAIS (NA INTERFACE LÓGICA E LINGUAGEM NATURAL)
 OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
SERGIO LEVI FERNANDES DE SOUZA. Principais mudanças da revolução copernicana e as antinomias da razão pura.
 SERGIO LEVI FERNANDES DE SOUZA Principais mudanças da revolução copernicana e as antinomias da razão pura. Santo André 2014 INTRODUÇÃO Nunca um sistema de pensamento dominou tanto uma época como a filosofia
SERGIO LEVI FERNANDES DE SOUZA Principais mudanças da revolução copernicana e as antinomias da razão pura. Santo André 2014 INTRODUÇÃO Nunca um sistema de pensamento dominou tanto uma época como a filosofia
O que é uma convenção? (Lewis) Uma regularidade R na acção ou na acção e na crença é uma convenção numa população P se e somente se:
 Convenções Referências Burge, Tyler, On knowledge and convention, The Philosophical Review, 84 (2), 1975, pp 249-255. Chomsky, Noam, Rules and Representations, Oxford, Blackwell, 1980. Davidson, Donald,
Convenções Referências Burge, Tyler, On knowledge and convention, The Philosophical Review, 84 (2), 1975, pp 249-255. Chomsky, Noam, Rules and Representations, Oxford, Blackwell, 1980. Davidson, Donald,
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER
 RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações
 A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações Marcio Tadeu Girotti * RESUMO Nosso objetivo consiste em apresentar a interpretação de Michelle
A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações Marcio Tadeu Girotti * RESUMO Nosso objetivo consiste em apresentar a interpretação de Michelle
Epistemologia deriva de episteme, que significa "ciência", e Logia que significa "estudo", etimologia como "o estudo da ciência".
 Epistemologia deriva de episteme, que significa "ciência", e Logia que significa "estudo", etimologia como "o estudo da ciência". Epistemologia é a teoria do conhecimento, é a crítica, estudo ou tratado
Epistemologia deriva de episteme, que significa "ciência", e Logia que significa "estudo", etimologia como "o estudo da ciência". Epistemologia é a teoria do conhecimento, é a crítica, estudo ou tratado
A LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. Bruno Senoski do Prado (PIBIC), Marciano Adilio Spica (Orientador),
 A LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. Bruno Senoski do Prado (PIBIC), Marciano Adilio Spica (Orientador), e-mail: marciano.spica@gmail.com Universidade Estadual do Centro-Oeste, Setor de Ciências Humanas,
A LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. Bruno Senoski do Prado (PIBIC), Marciano Adilio Spica (Orientador), e-mail: marciano.spica@gmail.com Universidade Estadual do Centro-Oeste, Setor de Ciências Humanas,
Sobre o Artigo. Searle, John, R. (1980). Minds, brains and programs. Behavioral and Brain Sciences 3(3):
 Sobre o Artigo Searle, John, R. (1980). Minds, brains and programs. Behavioral and Brain Sciences 3(3): 417-457 Searle John Rogers Searle (Denven, 31 de julho de 1932) é um filósofo e escritor estadunidense,
Sobre o Artigo Searle, John, R. (1980). Minds, brains and programs. Behavioral and Brain Sciences 3(3): 417-457 Searle John Rogers Searle (Denven, 31 de julho de 1932) é um filósofo e escritor estadunidense,
The necessary and the possible de Michael Loux
 Filosofia Unisinos 12(3):280-286, sep/dec 2011 2011 by Unisinos doi: 10.4013/fsu.2011.123.07 Resenha LOUX, M. 2006. The necessary and the possible. In: M. LOUX, Metaphysics: A contemporary introduction.
Filosofia Unisinos 12(3):280-286, sep/dec 2011 2011 by Unisinos doi: 10.4013/fsu.2011.123.07 Resenha LOUX, M. 2006. The necessary and the possible. In: M. LOUX, Metaphysics: A contemporary introduction.
É POSSÍVEL CONCILIAR O
 É POSSÍVEL CONCILIAR O DUALISMO DE PROPRIEDADES COM O MATERIALISMO? UMA ABORDAGEM SOBRE DUAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES AO PROBLEMA MENTE-CORPO Filicio Mulinari Tercio Kill Resumo: O objetivo do artigo é explicitar
É POSSÍVEL CONCILIAR O DUALISMO DE PROPRIEDADES COM O MATERIALISMO? UMA ABORDAGEM SOBRE DUAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES AO PROBLEMA MENTE-CORPO Filicio Mulinari Tercio Kill Resumo: O objetivo do artigo é explicitar
AULA Nº 7 METODOLOGIA CIENTÍFICA ALGUNS TIPOS DE PESQUISAS E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS. Prof. MSc. Fernando Soares da Rocha Júnior
 AULA Nº 7 METODOLOGIA CIENTÍFICA ALGUNS TIPOS DE PESQUISAS E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Prof. MSc. Fernando Soares da Rocha Júnior 1 AGENDA DA AULA O que é uma pesquisa?; Pesquisa quanto à abordagem;
AULA Nº 7 METODOLOGIA CIENTÍFICA ALGUNS TIPOS DE PESQUISAS E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Prof. MSc. Fernando Soares da Rocha Júnior 1 AGENDA DA AULA O que é uma pesquisa?; Pesquisa quanto à abordagem;
A LÓGICA EPISTÊMICA DE HINTIKKA E A DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE CONHECIMENTO. Resumo
 A LÓGICA EPISTÊMICA DE HINTIKKA E A DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE CONHECIMENTO Autor: Stanley Kreiter Bezerra Medeiros Departamento de Filosofia UFRN Resumo Em 1962, Jaako Hintikka publicou Knowledge and Belief:
A LÓGICA EPISTÊMICA DE HINTIKKA E A DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE CONHECIMENTO Autor: Stanley Kreiter Bezerra Medeiros Departamento de Filosofia UFRN Resumo Em 1962, Jaako Hintikka publicou Knowledge and Belief:
Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica
 Propriedades Edição de 2014 do Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica 2012-2015 FCT Project PTDC/FIL-FIL/121209/2010 Editado por João Branquinho e Ricardo Santos ISBN: 978-989-8553-22-5
Propriedades Edição de 2014 do Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica 2012-2015 FCT Project PTDC/FIL-FIL/121209/2010 Editado por João Branquinho e Ricardo Santos ISBN: 978-989-8553-22-5
O que é o conhecimento?
 Disciplina: Filosofia Ano: 11º Ano letivo: 2012/2013 O que é o conhecimento? Texto de Apoio 1. Tipos de Conhecimento No quotidiano falamos de conhecimento, de crenças que estão fortemente apoiadas por
Disciplina: Filosofia Ano: 11º Ano letivo: 2012/2013 O que é o conhecimento? Texto de Apoio 1. Tipos de Conhecimento No quotidiano falamos de conhecimento, de crenças que estão fortemente apoiadas por
Pensamento e Linguagem: observações a partir de Donald Davidson. No nosso dia a dia nos comunicamos uns com os outros com sucesso na
 Pensamento e Linguagem: observações a partir de Donald Davidson Marcelo Fischborn 1 No nosso dia a dia nos comunicamos uns com os outros com sucesso na maior parte das vezes. Pergunto a alguém que horas
Pensamento e Linguagem: observações a partir de Donald Davidson Marcelo Fischborn 1 No nosso dia a dia nos comunicamos uns com os outros com sucesso na maior parte das vezes. Pergunto a alguém que horas
COMENTÁRIO SOBRE O CONCEITO DE SENTIMENTO NO MONISMO DE TRIPLO ASPECTO DE ALFREDO PEREIRA JR.
 COMENTÁRIO SOBRE O CONCEITO DE SENTIMENTO NO MONISMO DE TRIPLO ASPECTO DE ALFREDO PEREIRA JR. Cláudia Passos-Ferreira 1 Embora muito esforço já tenha sido dispendido na tentativa de resolver o problema
COMENTÁRIO SOBRE O CONCEITO DE SENTIMENTO NO MONISMO DE TRIPLO ASPECTO DE ALFREDO PEREIRA JR. Cláudia Passos-Ferreira 1 Embora muito esforço já tenha sido dispendido na tentativa de resolver o problema
CURSO METODOLOGIA ECONÔMICA. Professora Renata Lèbre La Rovere. Tutor: Guilherme Santos
 CURSO METODOLOGIA ECONÔMICA Professora Renata Lèbre La Rovere Tutor: Guilherme Santos Ementa da Disciplina Noções de Filosofia da Ciência: positivismo, Popper, Kuhn, Lakatos e tópicos de pesquisa recentes.
CURSO METODOLOGIA ECONÔMICA Professora Renata Lèbre La Rovere Tutor: Guilherme Santos Ementa da Disciplina Noções de Filosofia da Ciência: positivismo, Popper, Kuhn, Lakatos e tópicos de pesquisa recentes.
Nota sobre os Argumentos Modais. por João Branquinho
 Nota sobre os Argumentos Modais por João Branquinho Discutimos aqui diversos tipos de réplica aos chamados argumentos modais habitualmente aduzidos contra as teorias descritivistas do sentido e da referência
Nota sobre os Argumentos Modais por João Branquinho Discutimos aqui diversos tipos de réplica aos chamados argumentos modais habitualmente aduzidos contra as teorias descritivistas do sentido e da referência
Álgebra Linear Semana 01
 Álgebra Linear Semana 01 Diego Marcon 27 de Março de 2017 Conteúdo 1 Estrutura do Curso 1 2 Sistemas Lineares 1 3 Formas escalonadas e formas escalonadas reduzidas 4 4 Algoritmo de escalonamento 5 5 Existência
Álgebra Linear Semana 01 Diego Marcon 27 de Março de 2017 Conteúdo 1 Estrutura do Curso 1 2 Sistemas Lineares 1 3 Formas escalonadas e formas escalonadas reduzidas 4 4 Algoritmo de escalonamento 5 5 Existência
Metáfora. Companion to the Philosophy of Language, Oxford, Blackwell, 1998, pp
 Metáfora Referências: Aristóteles, Retórica, Lisboa, INCM, 2005. Black, Max, More about metaphor, in Ortony, Andrew (ed.), Metaphor and Thought (2 nd ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1993,
Metáfora Referências: Aristóteles, Retórica, Lisboa, INCM, 2005. Black, Max, More about metaphor, in Ortony, Andrew (ed.), Metaphor and Thought (2 nd ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1993,
SENTIDOS E PROPRIEDADES 1. Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2
 Abstracta 1:1 pp. 40 51, 2004 SENTIDOS E PROPRIEDADES 1 Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2 Abstract: This article proposes an interpretation of the sense/reference distinction, especially regarding predicates.
Abstracta 1:1 pp. 40 51, 2004 SENTIDOS E PROPRIEDADES 1 Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2 Abstract: This article proposes an interpretation of the sense/reference distinction, especially regarding predicates.
Grice: querer dizer. Projecto de Grice: explicar a significação em termos de intenções.
 Grice: querer dizer Referências: Grice, Paul, Meaning, in Studies in the Way of Words, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1989, pp 213-223. Schiffer, Stephen, Meaning, Oxford, Oxford University
Grice: querer dizer Referências: Grice, Paul, Meaning, in Studies in the Way of Words, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1989, pp 213-223. Schiffer, Stephen, Meaning, Oxford, Oxford University
Versão pdf da entrada URI: da edição de 2013 do FCT Project PTDC/FIL-FIL/121209/2010. Editado por João Branquinho e Ricardo Santos
 Versão pdf da entrada RegRessões ao InfInIto em metafísica URI: da edição de 2013 do compêndio em LInha de problemas de filosofia analítica 2012-2015 FCT Project PTDC/FIL-FIL/121209/2010 Editado por João
Versão pdf da entrada RegRessões ao InfInIto em metafísica URI: da edição de 2013 do compêndio em LInha de problemas de filosofia analítica 2012-2015 FCT Project PTDC/FIL-FIL/121209/2010 Editado por João
Um alfabeto é um conjunto de símbolos indivisíveis de qualquer natureza. Um alfabeto é geralmente denotado pela letra grega Σ.
 Linguagens O conceito de linguagem engloba uma variedade de categorias distintas de linguagens: linguagens naturais, linguagens de programação, linguagens matemáticas, etc. Uma definição geral de linguagem
Linguagens O conceito de linguagem engloba uma variedade de categorias distintas de linguagens: linguagens naturais, linguagens de programação, linguagens matemáticas, etc. Uma definição geral de linguagem
I g o r H e r o s o M a t h e u s P i c u s s a
 Filosofia da Ciência Realidade Axioma Empirismo Realismo cientifico Instrumentalismo I g o r H e r o s o M a t h e u s P i c u s s a Definição Filosofia da ciência é a área que estuda os fundamentos e
Filosofia da Ciência Realidade Axioma Empirismo Realismo cientifico Instrumentalismo I g o r H e r o s o M a t h e u s P i c u s s a Definição Filosofia da ciência é a área que estuda os fundamentos e
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ INSTITUTO DE CULTURA E ARTE DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA PROGRAMAA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ INSTITUTO DE CULTURA E ARTE DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA PROGRAMAA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA HENDRICK CORDEIRO MAIA E SILVA NOMINALISMOMO DE CATEGORIAS: TEORIA DAS FORMAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ INSTITUTO DE CULTURA E ARTE DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA PROGRAMAA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA HENDRICK CORDEIRO MAIA E SILVA NOMINALISMOMO DE CATEGORIAS: TEORIA DAS FORMAS
Parte da disciplina a cargo de Alberto Oliva
 Disciplina: Lógica I (FCM 700 /FCM 800) Docentes: Guido Imaguire /Alberto Oliva Horário: terça-feira, das 14:00h às 17:00h Tema: Lógica Parte da disciplina a cargo de Alberto Oliva 1) Programa Conhecimento:
Disciplina: Lógica I (FCM 700 /FCM 800) Docentes: Guido Imaguire /Alberto Oliva Horário: terça-feira, das 14:00h às 17:00h Tema: Lógica Parte da disciplina a cargo de Alberto Oliva 1) Programa Conhecimento:
CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA
 CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA O GRANDE RACIONALISMO O termo RACIONALISMO, no sentido geral, é empregado para designar a concepção de nada existe sem que haja uma razão para isso. Uma pessoa
CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA O GRANDE RACIONALISMO O termo RACIONALISMO, no sentido geral, é empregado para designar a concepção de nada existe sem que haja uma razão para isso. Uma pessoa
Cálculo Numérico. Santos Alberto Enriquez-Remigio FAMAT-UFU 2015
 Cálculo Numérico Santos Alberto Enriquez-Remigio FAMAT-UFU 2015 1 Capítulo 1 Solução numérica de equações não-lineares 1.1 Introdução Lembremos que todo problema matemático pode ser expresso na forma de
Cálculo Numérico Santos Alberto Enriquez-Remigio FAMAT-UFU 2015 1 Capítulo 1 Solução numérica de equações não-lineares 1.1 Introdução Lembremos que todo problema matemático pode ser expresso na forma de
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
 EMENTAS DO CURSO DE FILOSOFIA Currículo Novo (a partir de 2010/1) NÍVEL I HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA Reflexão acerca da transição do pensamento mítico ao filosófico. Estudo de problemas, conceitos e
EMENTAS DO CURSO DE FILOSOFIA Currículo Novo (a partir de 2010/1) NÍVEL I HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA Reflexão acerca da transição do pensamento mítico ao filosófico. Estudo de problemas, conceitos e
Filosofia COTAÇÕES GRUPO I GRUPO II GRUPO III. Teste Intermédio de Filosofia. Teste Intermédio. Duração do Teste: 90 minutos
 Teste Intermédio de Filosofia Teste Intermédio Filosofia Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março 1. 2. COTAÇÕES GRUPO I 1.1.... 10 pontos
Teste Intermédio de Filosofia Teste Intermédio Filosofia Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março 1. 2. COTAÇÕES GRUPO I 1.1.... 10 pontos
Calculo - Aula 1. Artur Soares
 Calculo - Aula 1 Artur Soares Irei resumir este curso em uma palavra: Praticidade. Iremos abordar tal assunto de forma que o aluno saia deste curso sabendo aplicar cálculo a uma questão e entender o que
Calculo - Aula 1 Artur Soares Irei resumir este curso em uma palavra: Praticidade. Iremos abordar tal assunto de forma que o aluno saia deste curso sabendo aplicar cálculo a uma questão e entender o que
Expressões e enunciados
 Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 2 Expressões e enunciados Sumário 1 Expressões e enunciados 2 1.1 Observações................................ 2 1.2 Exercício resolvido............................
Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 2 Expressões e enunciados Sumário 1 Expressões e enunciados 2 1.1 Observações................................ 2 1.2 Exercício resolvido............................
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA
 CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA Prof. Dra. Renata Cristina da Penha França E-mail: renataagropec@yahoo.com.br -Recife- 2015 MÉTODO Método, palavra que vem do
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA Prof. Dra. Renata Cristina da Penha França E-mail: renataagropec@yahoo.com.br -Recife- 2015 MÉTODO Método, palavra que vem do
Searle: Intencionalidade
 Searle: Intencionalidade Referências: Searle, John, The background of meaning, in Searle, J., Kiefer, F., and Bierwisch, M. (eds.), Speech Act Theory and Pragmatics, Dordrecht, Reidel, 1980, pp 221-232.
Searle: Intencionalidade Referências: Searle, John, The background of meaning, in Searle, J., Kiefer, F., and Bierwisch, M. (eds.), Speech Act Theory and Pragmatics, Dordrecht, Reidel, 1980, pp 221-232.
Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein
 Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein NOME DO AUTOR: Priscilla da Veiga BORGES; André da Silva PORTO. UNIDADE ACADÊMICA: Universidade Federal de
Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein NOME DO AUTOR: Priscilla da Veiga BORGES; André da Silva PORTO. UNIDADE ACADÊMICA: Universidade Federal de
Apresentação da noção de argumento válido como aquele em que a conclusão é uma consequência lógica das premissas tomadas em conjunto.
 FILOSOFIA Ano Letivo 2017/2018 PLANIFICAÇÃO ANUAL - 11.º Ano COMPETÊNCIAS/OBJETIVOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS RECURSOS TEMPO AVALIAÇÃO Problematização, conceptualização e argumentação. Análise metódica de
FILOSOFIA Ano Letivo 2017/2018 PLANIFICAÇÃO ANUAL - 11.º Ano COMPETÊNCIAS/OBJETIVOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS RECURSOS TEMPO AVALIAÇÃO Problematização, conceptualização e argumentação. Análise metódica de
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO MESTRADO EM DIREITO PÚBLICO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO MESTRADO EM DIREITO PÚBLICO LUCAS LOPES MENEZES FICHAMENTOS Como elaborar projetos de pesquisa (quatros primeiros capítulos) Antônio Carlos
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO MESTRADO EM DIREITO PÚBLICO LUCAS LOPES MENEZES FICHAMENTOS Como elaborar projetos de pesquisa (quatros primeiros capítulos) Antônio Carlos
FILOSOFIA: RESUMO DAS AULAS 4, 5 e 6
 FILOSOFIA: RESUMO DAS AULAS 4, 5 e 6 Antes de elaborar um resumo do conteúdo das AULAS 4, 5 e 6, é necessário entender o panorama geral dentro do qual as discussões destas aulas fazem sentido. Isto é,
FILOSOFIA: RESUMO DAS AULAS 4, 5 e 6 Antes de elaborar um resumo do conteúdo das AULAS 4, 5 e 6, é necessário entender o panorama geral dentro do qual as discussões destas aulas fazem sentido. Isto é,
teoria satisfaz, mas que ao mesmo tempo não apresentasse as limitações que ela possui, uma direção na qual um trabalho como o que realizamos poderia
 8 Conclusão Este trabalho se prestou à consecução de um objetivo bastante específico: o desenvolvimento de uma definição de verdade baseada nas intuições russellianas acerca desse conceito, que fosse materialmente
8 Conclusão Este trabalho se prestou à consecução de um objetivo bastante específico: o desenvolvimento de uma definição de verdade baseada nas intuições russellianas acerca desse conceito, que fosse materialmente
CURSO METODOLOGIA ECONÔMICA. Professora Renata Lèbre La Rovere. Tutor: Guilherme Santos
 CURSO METODOLOGIA ECONÔMICA Professora Renata Lèbre La Rovere Tutor: Guilherme Santos Kuhn concorda com Popper no que se refere à observação carregada de teoria Também concorda com Popper ao dizer que
CURSO METODOLOGIA ECONÔMICA Professora Renata Lèbre La Rovere Tutor: Guilherme Santos Kuhn concorda com Popper no que se refere à observação carregada de teoria Também concorda com Popper ao dizer que
Enunciados Quantificados Equivalentes
 Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 15 Enunciados Quantificados Equivalentes Sumário 1 Equivalência de enunciados quantificados 2 1.1 Observações................................
Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 15 Enunciados Quantificados Equivalentes Sumário 1 Equivalência de enunciados quantificados 2 1.1 Observações................................
Negação em Logical Forms.
 Negação em Logical Forms 125 Oswaldo Chateaubriand 1 Negação em Logical Forms Negação em Logical Forms. Oswaldo Chateaubriand Resumo Neste artigo enumero e discuto brevemente algumas teses centrais de
Negação em Logical Forms 125 Oswaldo Chateaubriand 1 Negação em Logical Forms Negação em Logical Forms. Oswaldo Chateaubriand Resumo Neste artigo enumero e discuto brevemente algumas teses centrais de
A Concepção da Verdade-como-Correspondência
 374 A Concepção da Verdade-como-Correspondência Renato Machado Pereira * RESUMO O artigo tem por finalidade descrever as características principais de uma teoria da verdadecomo-correspondência. Dizer apenas
374 A Concepção da Verdade-como-Correspondência Renato Machado Pereira * RESUMO O artigo tem por finalidade descrever as características principais de uma teoria da verdadecomo-correspondência. Dizer apenas
Grupo I Para cada uma das questões que se seguem assinala a opção correta
 Grupo I Para cada uma das questões que se seguem assinala a opção correta 1. A filosofia é: a) Um conjunto de opiniões importantes. b) Um estudo da mente humana. c) Uma atividade que se baseia no uso crítico
Grupo I Para cada uma das questões que se seguem assinala a opção correta 1. A filosofia é: a) Um conjunto de opiniões importantes. b) Um estudo da mente humana. c) Uma atividade que se baseia no uso crítico
PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02
 PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02 2 A EPISTEMOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO Ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. Como podemos conhecer
PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02 2 A EPISTEMOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO Ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. Como podemos conhecer
Procedimentos e Algorítmos Programas e Linguagens de Programação Tese de Church-Turing Formas de Representação de Linguagens
 Procedimentos e Algorítmos Programas e Linguagens de Programação Tese de Church-Turing Formas de Representação de Linguagens 1 Introdução Estudar computação do ponto de vista teórico é sinônimo de caracterizar
Procedimentos e Algorítmos Programas e Linguagens de Programação Tese de Church-Turing Formas de Representação de Linguagens 1 Introdução Estudar computação do ponto de vista teórico é sinônimo de caracterizar
COMO LER NOTAÇÃO LÓGICA
 COMO LER NOTAÇÃO LÓGICA DARREN BRIERTON TRADUÇÃO DE AISLAN ALVES BEZERRA Conectivos Proposicionais O primeiro conjunto de símbolos que introduzir-vos-ei são chamados de conectivos proposicionais porque
COMO LER NOTAÇÃO LÓGICA DARREN BRIERTON TRADUÇÃO DE AISLAN ALVES BEZERRA Conectivos Proposicionais O primeiro conjunto de símbolos que introduzir-vos-ei são chamados de conectivos proposicionais porque
ALBERTO MAGNO E TOMÁS DE AQUINO
 1 ALBERTO MAGNO E TOMÁS DE AQUINO A ESCOLÁSTICA E OS PRINCIPAIS REPRESENTANTES ALBERTO MAGNO TOMÁS DE AQUINO Buscaram provar a existência de Deus utilizando argumentos racionais. 2 A UNIDADE ENTRE A FÉ
1 ALBERTO MAGNO E TOMÁS DE AQUINO A ESCOLÁSTICA E OS PRINCIPAIS REPRESENTANTES ALBERTO MAGNO TOMÁS DE AQUINO Buscaram provar a existência de Deus utilizando argumentos racionais. 2 A UNIDADE ENTRE A FÉ
26/08/2013. Gnosiologia e Epistemologia. Prof. Msc Ayala Liberato Braga GNOSIOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO GNOSIOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO
 Gnosiologia e Epistemologia Prof. Msc Ayala Liberato Braga Conhecimento filosófico investigar a coerência lógica das ideias com o que o homem interpreta o mundo e constrói sua própria realidade. Para a
Gnosiologia e Epistemologia Prof. Msc Ayala Liberato Braga Conhecimento filosófico investigar a coerência lógica das ideias com o que o homem interpreta o mundo e constrói sua própria realidade. Para a
Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes PROVA GLOBAL DE INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 10º ANO ANO LECTIVO 2001/2002
 Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes PROVA GLOBAL DE INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 10º ANO ANO LECTIVO 2001/2002 Grupo I 1. Afirmar que a autonomia é uma das características da filosofia significa que A. A
Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes PROVA GLOBAL DE INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 10º ANO ANO LECTIVO 2001/2002 Grupo I 1. Afirmar que a autonomia é uma das características da filosofia significa que A. A
Pressuposição Antecedentes históricos
 A suposta natureza pressuposicional dos performativos Pressuposição Antecedentes históricos Luiz Arthur Pagani 1 1 Frege sentido sem referência (acomodação) [1, p. 137]: A sentença Ulisses profundamente
A suposta natureza pressuposicional dos performativos Pressuposição Antecedentes históricos Luiz Arthur Pagani 1 1 Frege sentido sem referência (acomodação) [1, p. 137]: A sentença Ulisses profundamente
Patriarcado de Lisboa JUAN AMBROSIO / PAULO PAIVA 1º SEMESTRE ANO LETIVO Instituto Diocesano da Formação Cristã
 TEMA DA SESSÃO 1. INTRODUÇÃO 2. OUSAR FAZER TEOLOGIA 3. O MÉTODO TEOLÓGICO 3.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 3.2. RITMO BINÁRIO 3.3. MAGISTÉRIO 3.4. A COMPREENSÃO DA PALAVRA 3.5. O TEÓLOGO 3.6. TEOLOGIA,MAGISTÉRIO,
TEMA DA SESSÃO 1. INTRODUÇÃO 2. OUSAR FAZER TEOLOGIA 3. O MÉTODO TEOLÓGICO 3.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 3.2. RITMO BINÁRIO 3.3. MAGISTÉRIO 3.4. A COMPREENSÃO DA PALAVRA 3.5. O TEÓLOGO 3.6. TEOLOGIA,MAGISTÉRIO,
Geometria e Experiência
 Geometria e Experiência Albert Einstein A matemática desfruta, entre as ciências, de um particular prestígio pela seguinte razão: suas proposições são de uma certeza absoluta e a salvo de qualquer contestação,
Geometria e Experiência Albert Einstein A matemática desfruta, entre as ciências, de um particular prestígio pela seguinte razão: suas proposições são de uma certeza absoluta e a salvo de qualquer contestação,
O MUNDO DA ARTE, DE ARTHUR C. DANTO, À LUZ DA TEORIA INSTITUCIONAL DA ARTE
 7º Seminário de Pesquisa em Artes da Faculdade de Artes do Paraná Anais Eletrônicos O MUNDO DA ARTE, DE ARTHUR C. DANTO, À LUZ DA TEORIA INSTITUCIONAL DA ARTE Cristiane Silveira 24 Universidade Federal
7º Seminário de Pesquisa em Artes da Faculdade de Artes do Paraná Anais Eletrônicos O MUNDO DA ARTE, DE ARTHUR C. DANTO, À LUZ DA TEORIA INSTITUCIONAL DA ARTE Cristiane Silveira 24 Universidade Federal
Alfabetização/ Letramento Codificação, decodificação, interpretação e aplicação
 Alfabetização/ Letramento Codificação, decodificação, interpretação e aplicação ALFABETIZAÇÃO E/OU LETRAMENTO? Dissociação entre o aprender a escrever e o usar a escrita Expressão letramento. E o que aconteceu
Alfabetização/ Letramento Codificação, decodificação, interpretação e aplicação ALFABETIZAÇÃO E/OU LETRAMENTO? Dissociação entre o aprender a escrever e o usar a escrita Expressão letramento. E o que aconteceu
ESTUDO INTRODUTÓRIO PARTE I DISCURSO E ARGUMENTAÇÃO
 Sumário ESTUDO INTRODUTÓRIO A TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO DE ALEXY E AS DUAS QUESTÕES FUNDAMENTAIS DA FILOSOFIA DO DIREITO Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno CAPÍTULO 1 UMA TEORIA DO DISCURSO PRÁTICO
Sumário ESTUDO INTRODUTÓRIO A TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO DE ALEXY E AS DUAS QUESTÕES FUNDAMENTAIS DA FILOSOFIA DO DIREITO Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno CAPÍTULO 1 UMA TEORIA DO DISCURSO PRÁTICO
1 Congruências e aritmética modular
 1 Congruências e aritmética modular Vamos considerar alguns exemplos de problemas sobre números inteiros como motivação para o que se segue. 1. O que podemos dizer sobre a imagem da função f : Z Z, f(x)
1 Congruências e aritmética modular Vamos considerar alguns exemplos de problemas sobre números inteiros como motivação para o que se segue. 1. O que podemos dizer sobre a imagem da função f : Z Z, f(x)
Eixo temático 1: Pesquisa em Pós-Graduação em Educação e Práticas Pedagógicas.
 1 Contribuições para o Ensino de Função: um panorama a partir de dissertações e teses sobre ensino e aprendizagem com modelagem matemática produzidas no Brasil João Pereira Viana Filho - joão-pvf@hotmail.com
1 Contribuições para o Ensino de Função: um panorama a partir de dissertações e teses sobre ensino e aprendizagem com modelagem matemática produzidas no Brasil João Pereira Viana Filho - joão-pvf@hotmail.com
O ficcionalismo na filosofia da matemática contemporânea
 O ficcionalismo na filosofia da matemática contemporânea 1. Resumo/ Abstract: Este trabalho pretende apresentar sumariamente a posição ficcionalista na filosofia da matemática contemporânea, bem como as
O ficcionalismo na filosofia da matemática contemporânea 1. Resumo/ Abstract: Este trabalho pretende apresentar sumariamente a posição ficcionalista na filosofia da matemática contemporânea, bem como as
