Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Psicologia Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica
|
|
|
- Gabriel Henrique Aldeia Philippi
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Psicologia Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica Manejo clínico nos estados limites: construindo caminhos Raquel Rubim del Giudice Monteiro 2011
2 2 UFRJ Manejo clínico nos estados limites: construindo caminhos Raquel Rubim del Giudice Monteiro Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica, Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Teoria Psicanalítica. Orientadora: Marta Rezende Cardoso Rio de Janeiro Fevereiro/2011
3 3 Manejo clínico nos estados limites: construindo caminhos Orientadora: Marta Rezende Cardoso Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica, Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, como parte dos requisitos à obtenção do título de Mestre em Teoria Psicanalítica. Aprovada por: Profa. Dra. Marta Rezende Cardoso Profa. Dra. Cláudia Amorim Garcia Profa. Dra. Maria Isabel Andrade Fortes Rio de Janeiro Fevereiro/2011
4 Monteiro, Raquel Rubim del Giudice Manejo clínico nos estados limites: construindo caminhos. Raquel Rubim del Giudice Monteiro. Rio de Janeiro: UFRJ/IP, f.; 29,7 cm Orientadora: Marta Rezende Cardoso Dissertação (Mestrado) UFRJ/IP/Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica, Referências Bibliográficas: f Estados limites. 2. Manejo clínico. 3. Construção. 4. Psicanálise. 5. Dissertação (Mestrado). I. Cardoso, Marta Rezende. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Instituto de Psicologia/ Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica. III. Título 4
5 5 Dedicatória A Marcos Monteiro, Pelo amor e por tornar tudo mais alegre, simples e prazeroso.
6 6 Agradecimentos A Marta Rezende Cardoso por ter confiado em meu trabalho, por sua orientação sempre atenta e precisa e, acima de tudo, pelo acolhimento e amizade durante todo o percurso do mestrado. Às professoras Cláudia Garcia e Isabel Fortes pelas valiosas contribuições no exame de qualificação. Aos professores das disciplinas cursadas durante o mestrado, pelos ensinamentos. À CAPES, pelo financiamento desta pesquisa. A Pedro Henrique Bernardes Rondon pelo atento e primoroso trabalho de revisão. A meus pacientes que com suas questões me interrogaram acerca do conhecimento psicanalítico, me conduzindo a este trabalho. A meus pais pelo amor incondicional, pelo exemplo e pelo incentivo para insistir em meus sonhos e, principalmente, por terem me ensinado a viver a vida de maneira criativa, alegre e leve. Meu pai, hoje, uma saudade. Minha mãe, uma presença acolhedora. A minhas irmãs, Beatriz e Roberta, grandes amigas, companheiras de todas as horas, que tanto me ensinam e me incentivam a ir além. A Marina e Leonardo, paixões da tia Quel, pelo amor e por nossas travessuras. A Marcos Monteiro, meu grande companheiro, pelo amor e incentivo constante e, principalmente, pela oportunidade de carregar, hoje, em meu ventre, o fruto do nosso amor. A Tatá, minha querida mãe preta, por toda sua dedicação e amor, e por ter, com sua simplicidade, me ensinado a ver e respeitar a grandeza de cada ser humano e, com isso, despertado o meu desejo de tentar compreendê-lo. A Camila Farias pela amizade, incentivo e ensinamentos de vida, tão especiais. A Patrícia e Diego pela amizade e incentivo ao longo do mestrado. A Lívia, grande companheira e amiga no decorrer do mestrado. A Gabriela Maldonado, pelas trocas e acima de tudo pela amizade. A Leandro, Macla e Ney pelas trocas e pela amizade. À minha família e amigos mineiros, de quem tanto sinto saudade, pelo amor e por, mesmo de longe, se fazerem sempre presentes, me apoiando e incentivando a ir além.
7 7 Resumo Manejo clínico nos estados limites: construindo caminhos Raquel Rubim del Giudice Monteiro Orientadora: Marta Rezende Cardoso Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica, Instituto de Psicologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Teoria Psicanalítica. A relação entre o eu e o outro constitui o cerne da problemática dos estados limites. A incapacidade de interiorizar o objeto, dentre outros fatores, faz com que o sujeito se encontre num estado de radical dependência ao outro, vivenciado, paradoxalmente, como intrusivo. Esse modo de relação tende a ser repetido na situação transferencial, exigindo do analista especial cuidado quanto ao seu manejo técnico. Suas intervenções não devem ser vivenciadas pelo paciente como invasivas, ao mesmo tempo, em que o analista deverá estar atento para ser por ele percebido como devidamente presente. O objetivo central desta dissertação é justamente refletir sobre a questão do manejo clínico no processo analítico dos estados limites. Visando dar conta desta problemática são elaboradas as noções de implicação e reserva do analista, assim como a dimensão de contratransferência, a qual possui grande relevo no atendimento desses casos. Partindo desses elementos, esta pesquisa vem promover o aprofundamento e o desdobramento da noção de construção em análise, visando sublinhar o fundamental papel que desempenha este instrumento na clínica dos estados limites. A noção de construção é articulada à de figurabilidade, com a intenção de demonstrar como o recurso da construção, no contexto clínico, pode ser considerado como processo de criação de uma forma para as marcas traumáticas, via por meio da qual se pretende abrir caminho para a sua representação.
8 8 Palavras-chaves: Estados limites Manejo clínico Construção Psicanálise Dissertação (Mestrado). Rio de Janeiro Fevereiro/2011
9 9 Abstract Clinical handling in borderline states: opening pathways Raquel Rubim del Giudice Monteiro Tutor: Marta Rezende Cardoso Abstract of the Dissertation presented to the Post-graduation Programme of Psychoanalytic Theory, Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, as a part of the requisite for obtaining the Master's Degree in Psychoanalytic Theory. The relationship between self and other is in the core of the problem of the borderline states. The inability to internalize the object, among other factors, sets the subject in a state of extreme dependence on the other, paradoxically experienced as intrusive. This mode of relationship tends to be repeated in the transference, requiring the analyst to be especially careful regarding its technical handling. Her interventions should not be experienced by the patient as intrusive, while in contrast she must be perceived as properly present. The aim of this research is to think about the issue of the clinical handling in the analytic process of the borderline states. Aiming at giving account of this problem we work through the concepts of "implication" and "reserve" of the analyst, as well as the countertransference dimension, very important in these cases therapy. Starting from these elements, this research tries to deepen and to develop the concept of construction in analysis, in order to emphasize the fundamental role this instrument plays in the clinic of borderline states. The notion of construction is articulated to that of representability, intending to demonstrate how the use of the construction, in the clinical setting, can be taken as a process of creating a form for traumatic traces, through which we intend to make way for their representation. Keywords: Borderline states Clinical handling Construction Psychoanalysis Dissertation (Master s Grade). Rio de Janeiro February/2011
10 10 É que um mundo todo vivo tem a força de um inferno. Clarice Lispector (A paixão segundo G.H.,1964/2009)
11 11 Sumário Introdução Capítulo I Estados limites: considerações iniciais I.1-Retorno do traumático na teoria freudiana: os limites da representação I.2- Trauma e apelo a defesas extremas nos estados limites I.3 - Os limites entre o eu e o outro nos estados limites Capítulo II O manejo clínico nos estados limites II.1 Questões sobre a técnica psicanalítica em Freud II.2 Contribuições de Ferenczi para a clínica dos estados limites II.3 Implicação e reserva do analista no atendimento dos estados limites II.4 Particularidades da contratransferência na análise dos estados limites Capítulo III Construção e figurabilidade na clínica dos estados limites III.1 A noção de construção em Freud III.2 Interpretação e construção: dispositivos diferentes, ou uma questão de estilo? III.3 Construção e manejo clínico dos estados limites III.3.1 A figurabilidade III.4 A figurabilidade e a clínica dos estados limites Capítulo IV Retomando a questão do manejo clínico nos estados limites a partir do caso Tristão IV.1 A fase do branco IV.2 A fase do vermelho Considerações finais Referências bibliográficas
12 Introdução A técnica psicanalítica volta-se fundamentalmente para a singularidade do sujeito buscando, através de uma relação intersubjetiva, apreender as vicissitudes psíquicas de cada um. Tal técnica procede do entrelaçamento entre a metapsicologia, a psicopatologia e o método clínico psicanalítico. Assim, não há como se constituir uma técnica de tratamento universal e normativa, o que a torna, de certa forma, variável, com a presença de matizes, desde que respeitem as exigências teórico-clínicas fundamentais da Psicanálise. Essa especificidade da técnica analítica exige constante reflexão acerca do manejo clínico e dos obstáculos com os quais nos deparamos no decorrer do processo analítico. Uma das genialidades de Freud, ao longo de todo o seu percurso, encontra-se no fato de ele ter enfrentado os obstáculos com os quais se deparava no âmbito clínico, não como fracasso dos métodos que empreendia, mas como questões a serem resolvidas e elaboradas teoricamente ou seja, no registro conceitual, na tentativa de solucioná-los e de poder aprimorar a técnica, de modo a torná-la mais eficaz. Parece-nos que sempre foi esse o caminho privilegiado da indagação freudiana, em que era a partir dos impasses da clínica analítica que eram formulados os problemas cruciais para a construção teórica (BIRMAN, 1995, p. 32). Assim, em Freud o método de tratamento foi elaborado visando, em primeiro lugar, o atendimento de pacientes neuróticos nos quais o conflito psíquico se revela através do retorno do conteúdo recalcado. Ao longo dos anos, esse método foi se delineando através do aprimoramento de recursos que permitiam, no decorrer do processo analítico, a transformação de parte das representações inconscientes relativas ao conteúdo recalcado em representações conscientes. A técnica analítica, nos primórdios da psicanálise, advém do princípio de que o desejo inconsciente pode vir a ser reativado na relação transferencial, por meio de sua atualização nas cadeias associativas. A interpretação vindo, mediante deslocamento, remetê-lo à dimensão transferencial, tem o objetivo de possibilitar a elaboração desses traços infantis, estimulando sua repetição que, ligada à recordação, possibilita, a posteriori, a inclusão desses elementos (CARDOSO, 2006/2010).
13 13 Contudo, na metapsicologia freudiana, a reviravolta teórica operada em 1920 conduziu à construção do novo dualismo pulsional, sustentado na oposição entre pulsão de vida e pulsão de morte, e promovendo posteriormente a elaboração do segundo modelo de funcionamento do aparelho psíquico, alicerçado na oposição entre ego, id e superego. Essa reviravolta colocou em evidência, dentre outros, os limites da representação psíquica falha na capacidade de inscrição da força pulsional isto é, a presença, no psiquismo, de elementos que escapam à simbolização, ao campo da representação, elementos que não concernem ao conteúdo recalcado. Porém, após o tournant de 1920, Freud veio a se dedicar muito mais ao aprofundamento e aprimoramento da metapsicologia do que a uma nova reflexão sobre a técnica. E, segundo Cardoso, é flagrante, nesse período da obra freudiana, a presença de certo desequilíbrio: por um lado, a sua inegável riqueza e profundidade teórica; por outro lado, certa pobreza nos desenvolvimentos relativos à técnica, se comparados com a extensão e a densidade desse remanejamento metapsicológico (CARDOSO, 2006/2010, op. cit., p.49). Como sublinha a autora, temos nos deparado na clínica com significativa incidência de patologias tais como a anorexia, bulimia, adicções em geral, afecções psicossomáticas, cujas respostas são predominantemente ligadas ao registro do corpo e do ato. Isto indica, dentre outros aspectos, a precariedade no nível dos processos de representação psíquica, revelando a presença de uma dimensão traumática, dimensão de violência psíquica. Como mostram vários autores do cenário psicanalítico atual e várias dessas contribuições serão objeto de análise nesta pesquisa essas patologias podem ser consideradas como estados limites. Ao nos depararmos com essas situações clínicas, somos conduzidos, por exemplo, ao fenômeno da compulsão à repetição, fenômeno aliado a um estado, no sujeito, de fragilidade narcísica. Nesses casos, os recursos técnicos utilizados no tratamento das neuroses clássicas podem se revelar insuficientes, demandando um manejo especial. Então, nos vemos diante de um obstáculo que exige reflexão sobre os meandros que os estados limites trazem para a técnica analítica. Muitos autores têm se dedicado a esta reflexão e nos indicam a necessidade de, diante de tais pacientes, pensarmos uma técnica analítica que tenha um caráter mais criativo, elástico, tornando-a adequada à singularidade do modo de funcionamento psíquico desses sujeitos. Tendo em vista esse
14 14 contexto, o objetivo central de nossa dissertação é justamente refletir sobre a questão do manejo clínico no processo analítico dos estados limites. O interesse por este tema surgiu a partir da experiência vivida no consultório, durante os anos de 2001 a 2007, no atendimento de casos nos quais identificamos uma problemática concernente aos chamados estados limites. As dificuldades clínicas enfrentadas no manejo clínico desses pacientes nos conduziram a diversos questionamentos a respeito de sua organização psíquica e, principalmente, sobre a singularidade da técnica psicanalítica diante de tais patologias. O atendimento desses pacientes nos conduziu às seguintes questões: qual o lugar do analista nas situações em que o modo de funcionamento psíquico é característico dos estados limites? Como decodificar e tornar passíveis de um trabalho os elementos traumáticos que parecem estar na base da constituição psíquica desses sujeitos? Nesse sentido, a presente dissertação se configura como um meio de tentar elaborar essas questões. O roteiro que escolhemos segue, em linhas gerais, uma estrutura em que primeiramente discorreremos sobre alguns aspectos metapsicológicos sobre as especificidades do modo de funcionamento dos estados limites, com a finalidade de vir a melhor compreender, ulteriormente, o que torna o manejo clínico destas patologias complexo e distinto da análise clássica, dirigida, basicamente aos pacientes neuróticos. Nessas patologias supomos a presença de um modo singular de funcionamento psíquico que se fundamenta num traumático não estruturante, o qual aponta para uma violência psíquica radical que ultrapassa os limites de uma violência que seria constitutiva, subjetivante. Em conseqüência disso há, nesses sujeitos, uma fragilidade na constituição egoica, que é correlativa à incapacidade do aparelho psíquico de conter, elaborar e/ou recalcar o excessivo afluxo pulsional que incide sobre ele de forma abrupta e violenta. A relação entre o eu e o outro (interno/externo) constitui o cerne da problemática dos estados limites. Trata-se, nestas patologias, da impossibilidade de se representar a perda do objeto, e que seria resultante da precariedade da relação com o objeto primário, este não sendo efetivamente interiorizado. Como conseqüência disso, as fronteiras entre o eu e o outro não são delimitadas de forma consistente. A incapacidade de perder o objeto faz com que o sujeito se encontre numa radical dependência ao outro, e desencadeia uma relação paradoxal entre o eu e o outro. Este é vivenciado como
15 15 intrusivo, ameaçador, em razão da onipresença do objeto; é também vivenciado como absolutamente necessário, por sua inacessibilidade. No segundo capítulo, tentaremos mostrar que a relação de tipo paradoxal que o sujeito tende a estabelecer com o outro, que sublinhamos anteriormente, tenderá a ser repetida na relação transferencial, exigindo do analista extremo cuidado no seu manejo para que suas intervenções não sejam vivenciadas como intrusivas. Mas o analista deverá também ficar atento à necessidade de ser percebido como presente, pois a vivência de ausência pode remeter o analisando a um insuportável sentimento de desamparo. Para tal, nos deteremos em algumas contribuições de Freud e Ferenczi sobre a técnica analítica, as quais acreditamos que nos fornecerão subsídios para, posteriormente, refletirmos sobre a questão da implicação e da reserva do analista na clínica dos estados limites. Ainda neste capítulo vamos discorrer sobre a questão da contratransferência no tratamento de tais pacientes, já que nestes, esta parece apresentar maior amplitude que na análise dos pacientes neuróticos. Nesses casos o manejo da contratransferência revela-se, como tentaremos mostrar, fundamental. No terceiro capítulo, nos dedicaremos ao aprofundamento da questão da construção em análise, tendo como foco principal o papel deste instrumento na clínica dos estados limites. Na clínica de tais patologias nos vemos diante da necessidade de que o paciente venha a dar um sentido ao traumático, ao indizível, o que consiste na transcrição e ligação das marcas traumáticas, visando, assim, a integrá-las ao ego. Deste modo, o objetivo do tratamento analítico, nesse caso, difere do da neurose, pois não estamos diante da necessidade do sujeito de desvelar uma lembrança, um sentido, mas de construí-lo. Tal construção implica um processo de criação de novas formas, de ligação. Ou seja, a construção, como tentaremos mostrar, é uma via por meio da qual se pode vir a dar forma ao traumático, abrindo, assim, o caminho para a sua representação. Concluindo o nosso percurso, exploraremos no quarto capítulo o caso Tristão, relatado por Marianne Baudin (2002). A partir desse material vamos refletir acerca das considerações a respeito da singularidade do manejo clínico na clínica dos estados limites e, também, sobre alguns aspectos metapsicológicos sobre o funcionamento destas patologias, os quais apresentamos no decorrer da dissertação com a finalidade de elucidá-los melhor mediante a prática clínica.
16 16 O manejo clínico no tratamento dos estados limites é extremamente complexo e nos remete a diversos questionamentos e direções. Devido a isto, em nossa pesquisa não temos a pretensão de esgotar a discussão sobre este assunto. Diante desta constatação, após termos indicado os principais caminhos percorridos em nossa pesquisa de Mestrado, passemos, então, à apresentação do que pôde ser construído no decorrer de sua realização.
17 Capítulo I Estados limites: considerações iniciais Como sublinhamos na introdução, o objetivo de nossa pesquisa, ao longo do mestrado, teve como foco a reflexão acerca da singularidade da técnica psicanalítica no que tange ao tratamento dos estados limites. No entanto, neste primeiro capítulo, antes de nos dirigirmos às questões clínicas, abordaremos alguns aspectos metapsicológicos sobre as especificidades do modo de funcionamento destas patologias. Tal abordagem tem a finalidade de melhor compreendermos, posteriormente, o que torna seu manejo clínico complexo e distinto da análise clássica, dirigida basicamente aos pacientes neuróticos. Na clínica psicanalítica contemporânea observa-se o aumento significativo de pacientes anoréxicos, bulímicos, psicossomáticos, drogadictos, dentre outros, nos quais se percebe, de maneira significativa, a convocação do corpo e do ato, o que indica, como vamos mostrar, precariedade ao nível dos processos de representação psíquica. Diversos psicanalistas, como Green (1975/1988), Figueiredo (2008a), Cardoso (2004), têm reunido esses quadros clínicos, respeitada a peculiaridade de cada um, sob a designação de estados limites. Não obstante, ao percorrermos diversas considerações teóricas relativas a estas patologias, constatamos que tal denominação não é empregada de modo uniforme no meio psicanalítico, e que inúmeros termos distintos são utilizados para tentar circunscrever a problemática psíquica desses estados clínicos. Consideramos importante destacar que esses diferentes termos não significam apenas variações terminológicas, mas que cada qual comporta diferentes pontos de vista a respeito de um mesmo objeto de estudo, além de apontar, de forma particular, para diversas perspectivas quanto a estratégias de tratamento (VILLA & CARDOSO, 2004, p. 60). Devido a isso, nos vemos diante da necessidade de apresentar algumas distinções significativas referentes ao modo de conceber tais patologias, visando tornar clara a nossa maneira de compreendê-las. Visando situar algumas das diferentes concepções acerca das patologias limites, de forma sucinta, nos apoiamos nas considerações de Villa e Cardoso (Ibid.), que indicam que ao buscarmos sintetizar a grande variedade de concepções investigadas acerca dessas patologias, desembocamos em duas grandes correntes nas quais esse
18 18 conjunto de ideias, de alguma forma, encontra-se inserido (VILLA & CARDOSO, 2004, op. cit., p. 60): a corrente dominante na escola inglesa e a outra, bastante difundida entre os autores franceses. A corrente dominante na escola inglesa muitas vezes denomina as patologias limites utilizando o termo borderline. Esta denominação consiste na visão mais originária, no que tange aos estados limites, e surgiu diante da falta de um lugar próprio, onde enquadrar certos pacientes que não se configuravam de acordo com a classificação freudiana. Ou seja, eles pareciam se situar em uma região fronteiriça entre psicose, neurose e perversão, com traços das três, mas com elementos refratários a todas as inclusões fáceis e consensuais (FIGUEIREDO, 2008a, p. 78). Para esta corrente, tais patologias são consideradas como quadro clínico específico, com etiologia e sintomas particulares, o que, inclusive, justificaria a proposta de uma modalidade singular para o seu tratamento. Segundo grande parte dos representantes dessa escola, o paciente borderline possuiria uma estrutura própria, relativamente estável, devendo ser situado, no que diz respeito ao diagnóstico, na fronteira entre a neurose e a psicose (VILLA & CARDOSO, 2004, op. cit., p. 61). A outra corrente, bastante difundida entre os autores franceses, já se refere às patologias limites como estados ou situações limites. Esses autores consideram que os estados ou situações limite não configuram uma estrutura determinada; desse modo, as suas características poderiam se referir a mais de um quadro clínico. Para esses autores tais patologias não se configuram como uma psicopatologia específica, mas concernem a determinados aspectos da personalidade, ou a modalidades particulares de funcionamento psíquico. Conforme destacaram Villa e Cardoso (Ibid.), o próprio termo propõe que estados ou situações limites sinalizariam algo de transitório. Isso significa que essa forma de funcionamento psíquico não está necessariamente referida a algo fixo e estrutural, podendo fazer-se presente numa determinada fase de vida, sem persistir posteriormente (Id., ibid., p. 61). Gostaríamos de pontuar que nosso pensamento se alinha com o desta corrente que acabamos de apresentar. Contudo, Figueiredo (2008a, op. cit.) sublinha que, apesar das diferentes concepções a respeito das patologias limites, uma de suas características marcantes, reconhecida por todos os autores que ao longo dos anos vêm se dedicando a este tema,
19 19 sem exceção e, para ele, é das que melhor definem a dinâmica própria ao funcionamento psíquico nessas patologias, se refere: ao padrão oscilatório dos afetos, à questão da instabilidade, das flutuações, das oscilações, das mudanças bruscas, do que muitos descrevem como o vaivém dos humores e das reações, e que muitas vezes se confunde com uma psicose maníacodepressiva (FIGUEIREDO, 2008a, op. cit., p. 86). Esse padrão oscilatório ocorre, nesses casos, de maneira cíclica e pendular, isto é, o sujeito se encontra preso numa dinâmica oscilatória que se repete de modo compulsivo e intermitente: tudo ora está bom, ora está mau. Vale ressaltar que tal padrão sinaliza um modo de defesa mais primitivo e elementar, marcado pelo caráter disruptivo da compulsão à repetição. No decorrer deste capítulo tentaremos explicitar melhor esse padrão oscilatório. Segundo Figueiredo (Ibid.) outra característica marcante dos estados limites, que também é apontada por todos os autores que se dedicam à sua compreensão, é a falta de coesão, de integridade do ego, a qual sugere que algum problema sério ocorreu no processo de construção e investimento pulsional das fronteiras externas e internas do eu (Id., ibid., p. 89). Voltaremos, no decorrer deste capítulo, a esta relevante característica dos estados limites. No entanto, essa última característica nos leva a uma questão sobre a qual gostaríamos de refletir, brevemente: a própria denominação estados limites nos remete à questão das margens, das fronteiras, isto é, da definição dos limites internos e externos do aparelho psíquico, que consideramos estar associada à da relação com o outro (interno e externo), fundamental na configuração das fronteiras psíquicas. Somos então levados à seguinte questão: como conceber o limite psíquico entre o eu e o outro interno e externo? Tais limites seriam apenas uma linha divisória? Para tentar elucidar estas questões recorreremos, inicialmente, a uma passagem de Freud (1932a/1996) ressaltada por Green (1990) ao se referir às fronteiras entre as três instâncias psíquicas, ego, id e superego, que nos indica uma interessante maneira de conceber os limites psíquicos. Ao pensar nessa divisão da personalidade em um ego, um superego e um id, naturalmente, os senhores não terão imaginado fronteiras nítidas como as fronteiras delineadas na geografia política. Não podemos fazer justiça às características da mente por esquemas lineares como os de um desenho ou de uma pintura primitiva, mas de preferência por meio de áreas coloridas fundindo-se umas com as outras, segundo as apresentam artistas modernos. Depois de termos feito a separação, devemos permitir que
20 20 novamente se misture, conjuntamente, o que havíamos separado. Os senhores não devem julgar com demasiado rigor uma primeira tentativa de proporcionar uma representação gráfica de algo tão intangível como os processos psíquicos. É altamente provável que o desenvolvimento dessas divisões esteja sujeito a grandes variações em diferentes indivíduos; é possível que, no decurso do funcionamento real, elas possam mudar e passar por uma fase temporária de involução (FREUD, 1932a/1996, p. 83-4). Green destaca que esta passagem nos permite entender que o limite psíquico não é uma linha, mas um território de trocas, um território onde se produzem transformações (GREEN, 1990, p. 30). No que tange, ainda, a esta passagem do discurso freudiano, Villa e Cardoso (2004, op. cit.) corroboram e enriquecem essa formulação de Green (1990, op. cit.), ao destacar que Freud (1932a/1996, op. cit.) nos indica um modo especial de conceber os limites psíquicos, já que chama a nossa atenção para a presença de um espaço transicional nessa divisão intrapsíquica, campo pouco definido onde ambas as partes (divididas) aparecem representadas (VILLA & CARDOSO, 2004, op. cit., p. 63-4). Isto nos levaria a considerar os limites psíquicos não como uma simples barreira, uma linha divisória que separaria dois espaços impedindo a comunicação entre as duas partes, mas como um espaço fronteiriço, um espaço que se forma na divisão de dois territórios, isto é, como outro território, um terceiro espaço (Id., ibid.). Para melhor explicitar esta ideia de Villa e Cardoso (Ibid.) acerca dos limites psíquicos como um terceiro espaço, torna-se interessante, como as autoras indicam, nos determos, de maneira sucinta, em algumas considerações de Winnicott sobre este tema, mais especificamente no que este autor designou como espaço potencial ou área dos fenômenos transicionais. Winnicott (1951/1975) destacou que, no decorrer do desenvolvimento do bebê, muitas vezes podemos perceber a utilização de objetos externos que indicam o uso da primeira possessão que seja não eu (Id., ibid., p. 13), isto é, por um objeto externo a ele, indicando, também, a passagem da satisfação autoerótica para a satisfação por meio de um objeto externo. Ele denominou estes objetos objetos transicionais, e sublinhou que têm significado especial para o bebê por serem o símbolo da união da criança com a mãe (objeto primordial) e, devido a isto, poderiam funcionar como substituto da mãe durante a ausência desta. Assim, pelo menos provisoriamente poderiam amenizar a angústia do bebê ao se deparar com a ausência do objeto primário e, também, propiciar, ao longo do seu desenvolvimento, progressivamente, o afastamento deste objeto, ou
21 21 seja, a sua simbolização e apagamento. Porém, como o autor destacou, é importante considerarmos que não é o objeto, naturalmente, que é transicional. Ele representa a transição do bebê de um estado em que está fundido com a mãe para um estado em que está em relação com ela como algo externo (WINNICOTT, 1951/1975, op. cit., p. 30). Através desta citação podemos perceber que, como bem ressaltaram Villa e Cardoso, por meio da sua concepção dos objetos transicionais Winnicott estendeu a concepção de transição a todo espaço de circulação entre o eu e o outro, entre o subjetivo e o objetivo, e assim por diante (VILLA & CARDOSO, 2004, op. cit., p. 66-7). Para Winnicott (1951/1975, op. cit.) o objeto transicional torna-se relevante na constituição psíquica da criança devido ao seu caráter paradoxal, de ser e não ser, ao mesmo tempo, o objeto primordial: ele é o seio e não é o seio, ele é a mãe e não é a mãe. Tal objeto indica a existência, no psiquismo do bebê de uma área intermediária entre o subjetivo e aquilo que é objetivamente percebido (Id., ibid., p. 15). Isto é, a presença de um terceiro campo, o espaço potencial, área da experiência, nem só subjetiva, nem só objetiva, sendo ambas ao mesmo tempo e nenhuma das duas. É no espaço potencial, na área intermediária que, segundo Winnicott (Ibid.) se produzem os fenômenos transicionais. Este espaço instaura, então, o paradoxo, dentre outros, de presença e ausência, de proximidade e distância, por meio do qual podem emergir recursos da simbolização, isto é, a representação da ausência do objeto primordial. Vale ressaltar que foi a constatação deste espaço potencial por Winnicott que levou Green a considerar que o limite psíquico não é uma linha divisória, mas, é ele próprio, um território (GREEN, 1990, op. cit.). Green (Ibid.) nos ajuda a compreender melhor estas formulações de Winnicott no que tange aos limites psíquicos como um terceiro espaço, um espaço potencial. O autor situa que o objetivo da noção de limite é separar dois espaços. Sempre que dividimos um espaço em dois, contudo, concedendo a cada um desses espaços características contrárias, criamos um terceiro espaço na junção dos dois. Tal espaço contém em si atributos dos dois espaços que foram divididos, mas é marcado pela dimensão do paradoxo, já que é e não é nenhum dos dois espaços. Para o autor este terceiro espaço é a formação de compromisso resultante da divisão entre os dois espaços anteriores (Id, ibid., p. 31), o que o leva a considerá-lo como o espaço para as
22 22 trocas, as transformações psíquicas, isto é, este espaço fronteiriço pode ser considerado como zonas de elaboração psíquica (GREEN, 1990, op. cit.) Segundo Villa e Cardoso (2004, op. cit.), no que tange aos estados limites, não se trata de supormos apenas a presença de uma fragilidade nas fronteiras entre o eu e o outro interno e externo, já que isto poderia significar a redução destas a simples linhas divisórias. Nestas patologias, as autoras consideram que uma das principais marcas é a presença no sujeito de uma dificuldade na capacidade de transitar entre os diversos espaços fronteiriços que compõem o universo psíquico (Ibid., p. 67), o que decorre do fato de a relação com o outro apresentar-se afetada por uma dimensão intensamente ameaçadora. No que concerne à singularidade da dinâmica própria à formação e manutenção dos limites com o outro, com a alteridade, as autoras salientam que, ao pensarmos as fronteiras psíquicas como espaço potencial, podemos supor, nos estados limites, a precariedade e a estreiteza desse espaço fronteiriço, desse espaço de trânsito entre o eu e o outro, espaço de elaboração e de formação de compromisso (Loc. cit.). Isto nos remete ao campo do traumático, aos limites na capacidade de representação, isto é, à falha na capacidade de inscrição da força pulsional. Visando elucidar estes aspectos singulares da organização e do funcionamento dos estados limites que anunciamos até aqui, passaremos, a seguir, a dedicar especial atenção a algumas considerações teóricas que julgamos fundamentais para a melhor compreensão do complexo campo das patologias limites. Para tal, iremos explorar a noção de trauma, a noção de clivagem e a relação eu-outro, a partir de um ponto de vista intrapsíquico e também intersubjetivo. I.1-Retorno do traumático na teoria freudiana: os limites da representação Na teoria freudiana a questão do trauma, retomada por Freud em 1920, torna-se indissociável da questão da falha da capacidade de inscrição da força pulsional, aspecto que se refere à problemática dos limites da representação. A partir desta nova concepção sobre o traumático, encontramos subsídios para analisar aspectos essenciais dos chamados estados limites. Estes são marcados pela dimensão do traumático e delineiam
23 23 o seu modo de funcionamento psíquico a partir, dentre muitos outros fatores, de uma vivência traumática que inviabiliza a inscrição psíquica de certos elementos. Visando situar a questão do trauma, entendido como excesso pulsional, correlativo aos limites dos processos de representação, passamos, a seguir, a uma análise da noção de trauma em Freud, dando ênfase ao contexto da segunda teoria das pulsões, no qual situamos esse retorno do traumático que tem lugar no pensamento freudiano. Na metapsicologia freudiana, a reviravolta teórica operada em 1920 culmina na construção do novo dualismo pulsional, sustentado na oposição entre pulsão de vida e pulsão de morte. Esta mudança na teoria das pulsões veio a resultar, posteriormente, na elaboração do segundo modelo de funcionamento do aparelho psíquico, alicerçado na oposição entre ego, id e superego. Vale ressaltar que essas mudanças não constituem ruptura com a teoria até então existente, e sim um aprimoramento, como evolução e rearranjo teórico-clínico. Essas transformações recolocaram a questão do trauma no centro da teoria, promovendo, ao mesmo tempo, uma nova forma de concebê-lo. A partir desse momento, não se trata mais de considerar o traumático como sedução real sofrida pela criança por parte de um adulto, vindo, a posteriori, desencadear uma psiconeurose (concepção em vigor nos anos de 1895 a 1897, e então abandonada). No texto Além do princípio do prazer (1920/1996) Freud descreverá o trauma como excesso de excitação, de energia não ligada, capaz de romper o escudo protetor do aparelho psíquico. Frente ao traumático, o domínio do princípio de prazer é colocado fora de ação, pois o fluxo de excitação se apresenta além do tolerável, impedindo o processo de elaboração psíquica. O psiquismo se encontra, assim, incapaz de evitar a invasão devastadora das excitações, limitando-se a tentar contê-las. Freud atribui o trauma ao excessivo afluxo de excitações e ao despreparo do escudo protetor (ego) para lidar com essas excitações. Articulando esses dois aspectos, constata que o fator traumático está atrelado tanto à quantidade excessiva de excitação, quanto à impossibilidade do ego de a esta responder. Desse modo, o excesso de excitação não provém apenas do mundo exterior, mas também do interior do próprio sujeito (FREUD, 1920/1996, op. cit.).
24 24 Tal constatação levou Freud a dar-se conta da presença, no psiquismo, da ação da pulsão de morte, face destrutiva da pulsão, contrária ao trabalho de ligação, de representação. Isto o conduz a atestar a extensão psíquica do mecanismo da compulsão à repetição, relacionando-a com o excesso pulsional e, também, entendendo-a como princípio de funcionamento do aparelho psíquico mais primitivo e elementar que o princípio de prazer, no sentido de aquele visar à evacuação radical da tensão psíquica. A compulsão à repetição constitui um dos fios condutores desta virada teórica mudança desencadeada, principalmente, pelas inquietações e questionamentos de Freud no âmbito clínico e metapsicológico. A primeira vez em que ele se refere à expressão compulsão à repetição é no texto Recordar, repetir e elaborar (1914). Partindo de determinadas constatações clínicas, ele percebe nesse momento que nem tudo é passível de ser rememorado pelo paciente; o que não retorna como recordação tende a retornar como ato. Há o paciente que não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas o expressa pela atuação ou atua-o (acts it out). Ele o reproduz não como lembrança, mas como ação; repete-o sem, naturalmente, saber que o está repetindo (FREUD, 1914/1996, p. 165). Freud também aponta a compulsão à repetição como algo de que o paciente não teria como escapar. As constatações de Freud nesse texto parecem já sinalizar a presença, no psiquismo, de elementos que escapariam à rememoração. Podemos, então, considerar que ele já começava nesse momento a perceber que a compulsão à repetição não poderia ser limitada ao que concerne ao recalcado, a seu retorno. Deste modo, nas entrelinhas desse texto, há o anúncio de uma crise da rememoração, uma crise da representação. Diante da necessidade de tentar superar esta crise e de enquadrar a compulsão à repetição na primeira tópica psíquica, Freud tende ainda, nesse momento da obra, a associá-la a uma atuação referida ao conteúdo recalcado. Mas, de acordo com Birman (1995), mesmo que seja considerada como uma modalidade de rememoração (...) sob a forma de atos, não é certamente a mesma coisa rememorar por meio de atos e pela mediação de palavras. Foi esse reconhecimento que o discurso freudiano teve que realizar... Portanto, o que esse ensaio indica de forma crucial são os limites do processo de representação em análise e no psíquico, se abrindo, pois o discurso freudiano para a indagação fundamental sobre o que seria a atividade representativa em psicanálise (BIRMAN, 1995, p. 39). Na época em que este texto foi produzido, a metapsicologia vigente era fundamentada no modelo da Primeira Tópica, segundo o qual o aparelho psíquico se
25 25 divide em inconsciente, pré-consciente e consciente, sendo habitado por representações inconscientes e conscientes. Isto indica que tudo seria passível de ser rememorado, uma vez que estaria representado no âmbito psíquico. Até então, a repetição era considerada uma constante, referida a um passado que fora integrado ao sujeito partindo das fontes do recalcado. Cabe, portanto, nos dedicarmos, neste ponto, à apresentação de um pequeno histórico da noção de representação na obra de Freud, visando um melhor entendimento desse momento de passagem, e das implicações desse retorno do traumático na teoria, no que concerne à questão da representação e de seus limites na vida psíquica. A noção de representação aparece como conceito central desde muito cedo no discurso freudiano. No livro A interpretação dos sonhos (FREUD, 1900/1996) marco inaugural da psicanálise Freud apresenta o primeiro modelo de aparelho psíquico, formado, como mencionamos acima, pelos sistemas inconsciente, pré-consciente e consciente. Neste, as representações aparecem como sendo a matéria básica dos fenômenos psíquicos. Este primeiro modelo do aparelho psíquico é constituído por um sistema de traços mnêmicos, situados entre uma extremidade perceptiva e uma extremidade motora. Esses traços mnêmicos seriam resultantes da vivência de satisfação. Esta decorre do fato de o bebê estar despreparado para receber as excitações provenientes do mundo externo e para suprir as exigências oriundas das necessidades internas do organismo, tal como a fome, perturbadora do estado de repouso psíquico. Diante dessas necessidades, ocorre o aumento das excitações psíquicas, gerando tensão interna que só será eliminada caso seja realizada uma ação específica, capaz de suprir essa exigência. Contudo, frente à incapacidade do bebê de realizar a ação específica, esta só poderá ser realizada através do auxílio de um outro cuidador que, ao lhe fornecer aquilo de que ele necessita, suprime a tensão. A eliminação da tensão interna gerada pelo estado de necessidade é o que dá lugar à vivência de satisfação. Tal vivência de satisfação fica associada à imagem do objeto que realizou a ação específica, e também, à imagem do movimento que possibilitou a descarga da excitação. Em consequência dessa associação, que se estabelece quando o estado de necessidade se repete, surge de imediato um impulso que visa reinvestir a imagem mnêmica do objeto, reproduzindo a vivência de satisfação original. Este impulso
26 26 corresponde ao que Freud veio a considerar como desejo, sendo o reaparecimento da percepção do objeto, a realização alucinatória desse desejo. No entanto, o reinvestimento do traço mnêmico reativa a percepção do objeto sem que esta seja acompanhada de sua presença real. Deste modo, o que ocorre é uma alucinação do objeto, e a necessidade não vem a ser realmente suprida. Como o bebê não tem como distinguir entre o objeto alucinado e o objeto real, desencadeia-se o ato reflexo que visa à posse do objeto, sucedendo então a frustração. Os traços mnêmicos ou seja, as representações oriundas das vivências de satisfação encontram-se interligados e formam extensa cadeia de ideias e imagens associadas constituintes do mundo interno. Trata-se de um estoque de imagens ou representações de vivências que formam uma memória (HANNS, 1999). É através dessa malha de representações que se compõe o campo psíquico em que as manifestações dos impulsos psíquicos se movimentam. Freud destaca dois modos distintos de funcionamento do aparelho psíquico: processo primário e o secundário. As representações, matrizes decodificadoras e reguladora das excitações que chegam ao psiquismo, estão submetidas a esses modos de funcionamento. Assim, as excitações que chegam à esfera psíquica estão sujeitas às lógicas que regem as relações entre as representações em cada um desses processos. As representações inconscientes são regidas pelos mecanismos específicos do processo primário condensação e deslocamento em virtude do qual seu significado é dado por um jogo de relações com outras representações e grandezas de energia psíquica (ARNAO, 2008, p. 196). Elas não representam de modo unívoco a realidade do mundo exterior. Assim, há uma memória psíquica que constitui uma realidade psíquica distinta da realidade material. Desse modo, pode-se sustentar que a noção de representação, advinda do campo da filosofia e, nesta, as representações da mente se referem a e, por consequência, adquirem seu conteúdo a partir da realidade que representam (Id., ibid., p. 191) tem seu sentido alterado na metapsicologia freudiana. Se na filosofia tal noção é referida à realidade externa, na Psicanálise a posição é distinta, pois a representação não tem relação especular com o mundo exterior, mas está relacionada a uma realidade psíquica (ARNAO, 2008, op. cit.).
27 27 No modelo do aparelho psíquico que Freud apresenta na Primeira Tópica, o Princípio de Prazer princípio econômico que regula o funcionamento do aparelho psíquico na busca por tentar evitar e conter o desprazer, ou em prol de uma produção de prazer é considerado originário. Isto significa que desde sua origem o psiquismo estaria apto para articular as excitações psíquicas a objetos capazes de proporcionar satisfação. Isto equivaleria a dizer que as excitações pulsionais se derivariam imediatamente em seus representantes, encontrando, então, os lugares para os seus delegados no registro psíquico (BIRMAN, 1995, op. cit., p. 45). Portanto, de acordo com o primeiro modelo, todo o conteúdo psíquico encontra-se inscrito no psiquismo, fazendo parte da memória psíquica e passível de ser recordado. Nos textos metapsicológicos de 1915, tais como Pulsão e destinos da pulsão e O inconsciente, a indagação sobre a atividade representativa aparece como o pano de fundo de todas as elaborações de Freud. Em Pulsão e destinos da pulsão, Freud define a pulsão como um conceito-limite entre o psíquico e o somático, como o representante psíquico dos estímulos que provêm do interior do corpo e alcançam a psique, como medida da exigência de trabalho imposta ao psíquico em consequência de sua relação com o corpo (FREUD, 1915/2004, p. 148). Esta definição nos conduz a diversas constatações de mudanças nos pressupostos da metapsicologia freudiana. Nesta definição, a pulsão aparece como representante 1 psíquico das excitações oriundas do interior do corpo e, de acordo com o significado deste termo, representante se refere à ideia de substituto, implicando um estar correlacionado a, o que se revela distinto do significado de representação. A pulsão não é em si uma representação, mas sim um representante do estímulo endógeno. Ao se instaurar no âmbito psíquico, manifesta-se como tensão, exprimindo uma mensagem de sofrimento, ou um pedido de satisfação. Como sinaliza Arnao (2008, op. cit.), faz-se necessário insistir que a pulsão não consiste numa tradução dos estímulos endógenos no sentido especular, pois ao se 1 O substantivo Vertretung significa representar no sentido de estar no lugar de outro. Coloquialmente é utilizado para designar representantes políticos, comerciais, etc; traz, implícita, a ideia de autorização para agir em nome de um outro, assumindo o lugar deste e representando-o. Neste sentido, Hanns (1999, op. cit.) sinaliza que Freud também utiliza o termo de origem latina repräsentieren e o substantivo Repräsentanz que significa representante e, além do sentido descrito acima, pode ter o sentido de corresponder, estar correlacionado a (Ibid.).
28 28 instaurar no psiquismo, deles se diferencia, não mais compartilhando com eles, nem as propriedades, nem as leis dos estímulos. A pulsão é o representante psíquico das excitações endógenas não por meio de uma tradução que a torna representação daquilo que representa, mas sim pela força psíquica que a dita excitação acarreta. Representa sendo força, impulso, tendência. Na condição de força, faz-se presente por si mesmo e não por referência à outra coisa (ARNAO, 2008, op. cit., p. 196). Após sustentar que a pulsão é o representante psíquico das excitações endógenas, Freud segue nessa linha de argumentação destacando que ela atua como exigência de trabalho imposta ao psiquismo. Assim como a pulsão não é uma representação, ela se insere no psiquismo no registro quantitativo, como força (Drang) cuja finalidade é a satisfação, colocando ao aparelho psíquico a exigência de trabalhar para dominá-la, inserindo-a, assim, no registro qualitativo. Isto quer dizer que por meio dos objetos de satisfação esta força precisa ser submetida a um trabalho de ligação e simbolização para poder se inscrever, se representar, fazendo parte do circuito pulsional. A partir da definição freudiana da pulsão, os pressupostos da psicanálise sofreram mudanças, pois a representação, até então, era considerada a matéria básica dos fenômenos psíquicos, a pulsão tendo passado a ocupar este lugar. As representações deixaram de ser o sustentáculo central dos fenômenos psíquicos e este lugar passou a ser ocupado mais fundamentalmente pelas pulsões. No entanto, a dimensão de representação continua exercendo papel essencial na psicanálise, mas a sua significação passa a ser indissociável do conceito de pulsão. Se a força pulsional está na base dos fenômenos psíquicos, torna-se necessário considerar a existência primordial do aparelho psíquico no registro das intensidades. No artigo O inconsciente (1915a/1996) Freud nos diz que as representações de coisa, representações inconscientes, seriam o representante da pulsão no psiquismo e que através dele se tornaria apreensível. Isto porque a pulsão é apenas uma força e as representações, estando associadas a um conteúdo, estariam associadas a imagens. Assim Freud sinaliza, mais uma vez, que as pulsões estariam na base dos fenômenos psíquicos. No entanto, mesmo diante das constatações dos limites da representação no âmbito clínico e teórico, Freud manteve o primado do princípio de prazer, considerando que as excitações pulsionais seriam reguladas em circuitos de satisfação mediados por
29 29 objetos que eliminariam a tensão psíquica advinda de fontes somáticas. Apesar de considerar a pulsão como a matéria básica dos fenômenos psíquicos, ele continua a concebê-la como inscrita em um circuito organizado desde a origem do psiquismo e mantida no registro qualitativo, no campo das representações. Mas diante da constatação, em 1920 como já anunciamos anteriormente de que haveria uma força pulsional não representada no psiquismo, Freud vem propor um novo modelo para se pensar o dualismo pulsional, fundamentado doravante na oposição entre pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de morte é concebida como a face destrutiva da pulsão, contrária ao trabalho de ligação, de representação; uma força pulsional que se encontra sem representação, além do princípio de prazer visando restaurar um estado anterior de coisas (FREUD, 1920/1996, op. cit., p. 47), tendendo à redução total das excitações, à morte psíquica. A pulsão de vida engloba as pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação; ela se opõe à pulsão de morte por visar a ligação, o progresso e a criação de novas formas, e não a destruição. Assim, estaria buscando preservar a união e a vida Cabe, portanto, retomarmos a nossa análise do fenômeno da compulsão à repetição, sublinhando a sua extensão, tendo em vista os aportes da nova teoria das pulsões e sua incidência na questão dos limites da representação. O mecanismo da compulsão à repetição não se refere ao conteúdo recalcado; refere-se a um excesso pulsional que não está inscrito no aparelho psíquico. Isso se daria porque esse excesso pulsional se encontra apenas como marcas, impressões articuladas como signos de percepção, que ultrapassam as fronteiras deste princípio e são irredutíveis à dimensão do conflito psíquico. A compulsão à repetição deixa de ser compreendida dentro do esquema próprio ao sintoma neurótico, passando a fazer parte do circuito pulsional. O aparelho psíquico deixa de ser entendido como contendo apenas representações, e passa a abarcar também as marcas traumáticas. Assim, no artigo O ego e o id (1923/1996) Freud vem elaborar o segundo modelo de funcionamento do aparelho psíquico, alicerçado na oposição entre ego, id e superego. No modelo da Segunda Tópica, a pulsão é pensada como solo fundador do psiquismo. Freud define o Id como o polo pulsional do aparelho psíquico, declarando que nesta instância psíquica há apenas moções pulsionais, ou seja, a força pulsional se encontraria fora do campo das representações dominado pelo princípio de prazer
2. Considerações Freudianas para o estudo da Psicossomática 2.1 Conceito de Trauma em Freud
 16 2. Considerações Freudianas para o estudo da Psicossomática 2.1 Conceito de Trauma em Freud O conceito de trauma sempre esteve presente na obra de Freud, tão importante numa época em que o sexual era
16 2. Considerações Freudianas para o estudo da Psicossomática 2.1 Conceito de Trauma em Freud O conceito de trauma sempre esteve presente na obra de Freud, tão importante numa época em que o sexual era
INTRODUÇÃO - GENERALIDADES SOBRE AS ADICÇÕES
 SUMÁRIO PREFÁCIO - 11 INTRODUÇÃO - GENERALIDADES SOBRE AS ADICÇÕES DEFINIÇÃO E HISTÓRICO...14 OBSERVAÇÕES SOBRE O CONTEXTO SOCIAL E PSÍQUICO...19 A AMPLIDÃO DO FENÔMENO ADICTIVO...24 A ADICÇÃO VISTA PELOS
SUMÁRIO PREFÁCIO - 11 INTRODUÇÃO - GENERALIDADES SOBRE AS ADICÇÕES DEFINIÇÃO E HISTÓRICO...14 OBSERVAÇÕES SOBRE O CONTEXTO SOCIAL E PSÍQUICO...19 A AMPLIDÃO DO FENÔMENO ADICTIVO...24 A ADICÇÃO VISTA PELOS
Sándor Ferenczi: entre os limites da clínica e as experimentações técnicas
 Eduardo Cavalcanti de Medeiros Sándor Ferenczi: entre os limites da clínica e as experimentações técnicas Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de
Eduardo Cavalcanti de Medeiros Sándor Ferenczi: entre os limites da clínica e as experimentações técnicas Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de
FERNANDES, Maria Helena. Transtornos alimentares: anorexia e bulimia. São Paulo: Casa do Psicólogo, p. ISBN
 N FERNANDES, Maria Helena. Transtornos alimentares: anorexia e bulimia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 303p. ISBN 85-7396-465-0. o primoroso livro de Maria Helena Fernandes temos a oportunidade de
N FERNANDES, Maria Helena. Transtornos alimentares: anorexia e bulimia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 303p. ISBN 85-7396-465-0. o primoroso livro de Maria Helena Fernandes temos a oportunidade de
FREUD E LACAN NA CLÍNICA DE 2009
 FREUD E LACAN NA CLÍNICA DE 2009 APRESENTAÇÃO O Corpo de Formação em Psicanálise do Instituto da Psicanálise Lacaniana- IPLA trabalhará neste ano de 2009 a atualidade clínica dos quatro conceitos fundamentais
FREUD E LACAN NA CLÍNICA DE 2009 APRESENTAÇÃO O Corpo de Formação em Psicanálise do Instituto da Psicanálise Lacaniana- IPLA trabalhará neste ano de 2009 a atualidade clínica dos quatro conceitos fundamentais
A PULSÃO DE MORTE E AS PSICOPATOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS. sobre o tema ainda não se chegou a um consenso sobre a etiologia e os mecanismos psíquicos
 A PULSÃO DE MORTE E AS PSICOPATOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS Aldo Ivan Pereira Paiva As "Psicopatologias Contemporâneas, cujas patologias mais conhecidas são os distúrbios alimentares, a síndrome do pânico, os
A PULSÃO DE MORTE E AS PSICOPATOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS Aldo Ivan Pereira Paiva As "Psicopatologias Contemporâneas, cujas patologias mais conhecidas são os distúrbios alimentares, a síndrome do pânico, os
O MASOQUISMO E O PROBLEMA ECONÔMICO EM FREUD. Esse trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado, vinculada ao Programa de
 O MASOQUISMO E O PROBLEMA ECONÔMICO EM FREUD Mariana Rocha Lima Sonia Leite Esse trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado, vinculada ao Programa de Pós Graduação em Psicanálise da UERJ, cujo objetivo
O MASOQUISMO E O PROBLEMA ECONÔMICO EM FREUD Mariana Rocha Lima Sonia Leite Esse trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado, vinculada ao Programa de Pós Graduação em Psicanálise da UERJ, cujo objetivo
A RELAÇÃO EU/OUTRO NOS ESTADOS LIMITES: ASPECTOS TEÓRICOS E CLÍNICOS
 A RELAÇÃO EU/OUTRO NOS ESTADOS LIMITES: ASPECTOS TEÓRICOS E CLÍNICOS THE RELATIONSHIP SELF/OTHER IN BORDERLINE STATES: THEORETICAL AND CLINICAL FEATURES Raquel Rubim del Giudice Monteiro 1, Marta Rezende
A RELAÇÃO EU/OUTRO NOS ESTADOS LIMITES: ASPECTOS TEÓRICOS E CLÍNICOS THE RELATIONSHIP SELF/OTHER IN BORDERLINE STATES: THEORETICAL AND CLINICAL FEATURES Raquel Rubim del Giudice Monteiro 1, Marta Rezende
O NÃO LUGAR DAS NÃO NEUROSES NA SAÚDE MENTAL
 O NÃO LUGAR DAS NÃO NEUROSES NA SAÚDE MENTAL Letícia Tiemi Takuschi RESUMO: Percebe-se que existe nos equipamentos de saúde mental da rede pública uma dificuldade em diagnosticar e, por conseguinte, uma
O NÃO LUGAR DAS NÃO NEUROSES NA SAÚDE MENTAL Letícia Tiemi Takuschi RESUMO: Percebe-se que existe nos equipamentos de saúde mental da rede pública uma dificuldade em diagnosticar e, por conseguinte, uma
CLÍNICA, TRANSFERÊNCIA E O DESEJO DO ANALISTA 1 CLINIC, TRANSFERENCE AND DESIRE OF THE ANALYST. Fernanda Correa 2
 CLÍNICA, TRANSFERÊNCIA E O DESEJO DO ANALISTA 1 CLINIC, TRANSFERENCE AND DESIRE OF THE ANALYST Fernanda Correa 2 1 Monografia de Conclusão do Curso de Graduação em Psicologia 2 Aluna do Curso de Graduação
CLÍNICA, TRANSFERÊNCIA E O DESEJO DO ANALISTA 1 CLINIC, TRANSFERENCE AND DESIRE OF THE ANALYST Fernanda Correa 2 1 Monografia de Conclusão do Curso de Graduação em Psicologia 2 Aluna do Curso de Graduação
CEP CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS
 CEP CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS As pulsões e suas repetições. Luiz Augusto Mardegan Ciclo V - 4ª feira manhã São Paulo, maio de 2015. Neste trabalho do ciclo V apresentamos as análises de Freud sobre
CEP CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS As pulsões e suas repetições. Luiz Augusto Mardegan Ciclo V - 4ª feira manhã São Paulo, maio de 2015. Neste trabalho do ciclo V apresentamos as análises de Freud sobre
Quando o inominável se manifesta no corpo: a psicossomática psicanalítica no contexto das relações objetais
 Apresentação em pôster Quando o inominável se manifesta no corpo: a psicossomática psicanalítica no contexto das relações objetais Bruno Quintino de Oliveira¹; Issa Damous²; 1.Discente-pesquisador do Deptº
Apresentação em pôster Quando o inominável se manifesta no corpo: a psicossomática psicanalítica no contexto das relações objetais Bruno Quintino de Oliveira¹; Issa Damous²; 1.Discente-pesquisador do Deptº
52 TWEETS SOBRE A TRANSFERÊNCIA
 52 TWEETS SOBRE A TRANSFERÊNCIA S. Freud, J. Lacan, J-A Miller e J. Forbes dialogando sobre a transferência no tweetdeck A arte de escutar equivale a arte do bem-dizer. A relação de um a outro que se instaura
52 TWEETS SOBRE A TRANSFERÊNCIA S. Freud, J. Lacan, J-A Miller e J. Forbes dialogando sobre a transferência no tweetdeck A arte de escutar equivale a arte do bem-dizer. A relação de um a outro que se instaura
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIA PSICANALÍTICA Deptº de Psicologia / Fafich - UFMG
 1 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIA PSICANALÍTICA Deptº de Psicologia / Fafich - UFMG Disciplina: Conceitos Fundamentais A 1º sem. 2018 Ementa: O curso tem como principal objetivo o estudo de conceitos
1 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIA PSICANALÍTICA Deptº de Psicologia / Fafich - UFMG Disciplina: Conceitos Fundamentais A 1º sem. 2018 Ementa: O curso tem como principal objetivo o estudo de conceitos
Da sublimação à idealização: implicações psíquicas das transformações no mundo do trabalho
 1 Cecília Freire Martins Da sublimação à idealização: implicações psíquicas das transformações no mundo do trabalho Dissertação de Mestrado Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação
1 Cecília Freire Martins Da sublimação à idealização: implicações psíquicas das transformações no mundo do trabalho Dissertação de Mestrado Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação
Fundamentação teórica da Clínica de Psicologia da Unijuí
 DEBATE Fundamentação teórica da Clínica de Psicologia da Unijuí A Clínica surge do próprio projeto do curso de Psicologia. Este curso tem como base teórica fundamental as teorias psicanalítica e psicológica.
DEBATE Fundamentação teórica da Clínica de Psicologia da Unijuí A Clínica surge do próprio projeto do curso de Psicologia. Este curso tem como base teórica fundamental as teorias psicanalítica e psicológica.
Contribuições de Paul Federn para a clínica contemporânea. O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir alguns conceitos do psicanalista Paul
 Contribuições de Paul Federn para a clínica contemporânea. O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir alguns conceitos do psicanalista Paul Federn,, que parecem contribuir para uma maior compreensão
Contribuições de Paul Federn para a clínica contemporânea. O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir alguns conceitos do psicanalista Paul Federn,, que parecem contribuir para uma maior compreensão
CEP -CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS. Curso de Formação em Pasicanálise. Ciclo IV 3ª Noite
 CEP -CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS Curso de Formação em Pasicanálise Ciclo IV 3ª Noite O atravessamento da Psicanálise em meu cotidiano Nathália Miyuki Yamasaki 2014 Chego para análise e me ponho a
CEP -CENTRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS Curso de Formação em Pasicanálise Ciclo IV 3ª Noite O atravessamento da Psicanálise em meu cotidiano Nathália Miyuki Yamasaki 2014 Chego para análise e me ponho a
O DESENVOLVIMENTO HUMANO SOB A PERSPECTIVA DE BION E WINNICOTT
 O DESENVOLVIMENTO HUMANO SOB A PERSPECTIVA DE BION E WINNICOTT Carla Maria Lima Braga Inicio a minha fala agradecendo o convite e me sentindo honrada de poder estar aqui nesta mesa com o Prof. Rezende
O DESENVOLVIMENTO HUMANO SOB A PERSPECTIVA DE BION E WINNICOTT Carla Maria Lima Braga Inicio a minha fala agradecendo o convite e me sentindo honrada de poder estar aqui nesta mesa com o Prof. Rezende
Decio Tenenbaum
 Decio Tenenbaum decio@tenenbaum.com.br Fator biográfico comum: Patologia dos vínculos básicos ou Patologia diádica Papel do vínculo diádico: Estabelecimento do espaço de segurança para o desenvolvimento
Decio Tenenbaum decio@tenenbaum.com.br Fator biográfico comum: Patologia dos vínculos básicos ou Patologia diádica Papel do vínculo diádico: Estabelecimento do espaço de segurança para o desenvolvimento
a condição para o surgimento de um verdadeiro símbolo não é de natureza intelectual, mas afetiva. Ferenczi (1913) - Ontogenese dos Símbolos
 a condição para o surgimento de um verdadeiro símbolo não é de natureza intelectual, mas afetiva. Ferenczi (1913) - Ontogenese dos Símbolos APRESENTAÇÃO No mês de setembro deste ano de 2018 completaram-se
a condição para o surgimento de um verdadeiro símbolo não é de natureza intelectual, mas afetiva. Ferenczi (1913) - Ontogenese dos Símbolos APRESENTAÇÃO No mês de setembro deste ano de 2018 completaram-se
Curso de Atualização em Psicopatologia 7ª aula Decio Tenenbaum
 Curso de Atualização em Psicopatologia 7ª aula Decio Tenenbaum Centro de Medicina Psicossomática e Psicologia Médica do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro 6ª aula Psicopatologia
Curso de Atualização em Psicopatologia 7ª aula Decio Tenenbaum Centro de Medicina Psicossomática e Psicologia Médica do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro 6ª aula Psicopatologia
A ETIOLOGIA DAS PSICONEUROSES NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE: UM ESTUDO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE HISTERIA E NEUROSE OBSESSIVA,
 A ETIOLOGIA DAS PSICONEUROSES NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE: UM ESTUDO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE HISTERIA E NEUROSE OBSESSIVA, 1886-1897. Isabelle Maurutto Schoffen (PIC/CNPq-UEM), Helio Honda
A ETIOLOGIA DAS PSICONEUROSES NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE: UM ESTUDO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE HISTERIA E NEUROSE OBSESSIVA, 1886-1897. Isabelle Maurutto Schoffen (PIC/CNPq-UEM), Helio Honda
8. Referências bibliográficas
 8. Referências bibliográficas ABRAM, J. (2000). A Linguagem de Winnicott. Revinter, Rio de Janeiro. ANDRADE, V. M. (2003). Um diálogo entre a psicanálise e a neurociência. Casa do Psicólogo, São Paulo.
8. Referências bibliográficas ABRAM, J. (2000). A Linguagem de Winnicott. Revinter, Rio de Janeiro. ANDRADE, V. M. (2003). Um diálogo entre a psicanálise e a neurociência. Casa do Psicólogo, São Paulo.
O Conceito de Trauma e a Clínica dos Casos Difíceis : Reflexões a Partir das Contribuições de Ferenczi e Winnicott Descritores:
 O Conceito de Trauma e a Clínica dos Casos Difíceis : Reflexões a Partir das Contribuições de Ferenczi e Winnicott Oliveira, Nadja; Tafuri, Maria Izabel Descritores: Trauma; Clinica; Encuadre psicoanalitico;
O Conceito de Trauma e a Clínica dos Casos Difíceis : Reflexões a Partir das Contribuições de Ferenczi e Winnicott Oliveira, Nadja; Tafuri, Maria Izabel Descritores: Trauma; Clinica; Encuadre psicoanalitico;
Paula de Oliveira Carvalho. Uma investigação sobre a memória em Freud. Dissertação de Mestrado
 Paula de Oliveira Carvalho Uma investigação sobre a memória em Freud Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Departamento de Psicologia da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do grau
Paula de Oliveira Carvalho Uma investigação sobre a memória em Freud Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Departamento de Psicologia da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do grau
O Psicótico: aspectos da personalidade David Rosenfeld Sob a ótica da Teoria das Relações Objetais da Escola Inglesa de Psicanálise. Expandiu o entend
 A CLÍNICA DA PSICOSE Profª Ms Sandra Diamante Dezembro - 2013 1 O Psicótico: aspectos da personalidade David Rosenfeld Sob a ótica da Teoria das Relações Objetais da Escola Inglesa de Psicanálise. Expandiu
A CLÍNICA DA PSICOSE Profª Ms Sandra Diamante Dezembro - 2013 1 O Psicótico: aspectos da personalidade David Rosenfeld Sob a ótica da Teoria das Relações Objetais da Escola Inglesa de Psicanálise. Expandiu
PUC RIO. Ana Beatriz Favero. OS DESTINOS DA SEDUÇÃO EM PSICANÁLISE Estudo sobre a sedução em Freud, Ferenczi e Laplanche DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
 PUC RIO Ana Beatriz Favero OS DESTINOS DA SEDUÇÃO EM PSICANÁLISE Estudo sobre a sedução em Freud, Ferenczi e Laplanche DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Programa de Pós-Graduação em Psicologia
PUC RIO Ana Beatriz Favero OS DESTINOS DA SEDUÇÃO EM PSICANÁLISE Estudo sobre a sedução em Freud, Ferenczi e Laplanche DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Programa de Pós-Graduação em Psicologia
A contribuição winnicottiana à teoria do complexo de Édipo e suas implicações para a
 A contribuição winnicottiana à teoria do complexo de Édipo e suas implicações para a prática clínica. No interior de sua teoria geral, Winnicott redescreve o complexo de Édipo como uma fase tardia do processo
A contribuição winnicottiana à teoria do complexo de Édipo e suas implicações para a prática clínica. No interior de sua teoria geral, Winnicott redescreve o complexo de Édipo como uma fase tardia do processo
PROJETO EDUCAÇÃO SEM HOMOFOBIA SEXUALIDADE E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO
 PROJETO EDUCAÇÃO SEM HOMOFOBIA SEXUALIDADE E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO Débora Maria Gomes Silveira Universidade Federal de Minas Gerais Maio/ 2010 ESTUDO PSICANALÍTICO DA SEXUALIDADE BREVE HISTÓRICO Na
PROJETO EDUCAÇÃO SEM HOMOFOBIA SEXUALIDADE E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO Débora Maria Gomes Silveira Universidade Federal de Minas Gerais Maio/ 2010 ESTUDO PSICANALÍTICO DA SEXUALIDADE BREVE HISTÓRICO Na
Evolução genética e o desenvolvimento do psíquismo normal No iníco, o lactente encontra-se em um modo de fusão e de identificação a uma totalidade
 Estrutura Neurótica Evolução genética e o desenvolvimento do psíquismo normal No iníco, o lactente encontra-se em um modo de fusão e de identificação a uma totalidade fusional, em que não existe ainda
Estrutura Neurótica Evolução genética e o desenvolvimento do psíquismo normal No iníco, o lactente encontra-se em um modo de fusão e de identificação a uma totalidade fusional, em que não existe ainda
Profa. Dra. Adriana Cristina Ferreira Caldana
 Profa. Dra. Adriana Cristina Ferreira Caldana PALAVRAS-CHAVE Análise da Psique Humana Sonhos Fantasias Esquecimento Interioridade A obra de Sigmund Freud (1856-1939): BASEADA EM: EXPERIÊNCIAS PESSOAIS
Profa. Dra. Adriana Cristina Ferreira Caldana PALAVRAS-CHAVE Análise da Psique Humana Sonhos Fantasias Esquecimento Interioridade A obra de Sigmund Freud (1856-1939): BASEADA EM: EXPERIÊNCIAS PESSOAIS
Psicanálise: as emoções nas organizações
 Psicanálise: as emoções nas organizações Objetivo Apontar a importância das emoções no gerenciamento de pessoas Definir a teoria da psicanálise Descrever os niveis da vida mental Consciente Subconscinete
Psicanálise: as emoções nas organizações Objetivo Apontar a importância das emoções no gerenciamento de pessoas Definir a teoria da psicanálise Descrever os niveis da vida mental Consciente Subconscinete
O SINTOMA EM FREUD SOB UMA VISÃO PSICANALÍTICA NO HOSPITAL
 O SINTOMA EM FREUD SOB UMA VISÃO PSICANALÍTICA NO Resumo: HOSPITAL Cláudio Roberto Pereira Senos, Paula Land Curi, Paulo Roberto Mattos Para os que convivem no âmbito do hospital geral, o discurso médico
O SINTOMA EM FREUD SOB UMA VISÃO PSICANALÍTICA NO Resumo: HOSPITAL Cláudio Roberto Pereira Senos, Paula Land Curi, Paulo Roberto Mattos Para os que convivem no âmbito do hospital geral, o discurso médico
Psicanálise e Saúde Mental
 Psicanálise e Saúde Mental Pós-graduação Lato Sensu em Psicanálise e Saúde Mental Coordenação: Drª Aparecida Rosângela Silveira Duração: 15 meses Titulação: Especialista em Psicanálise e Saúde Mental Modalidade:
Psicanálise e Saúde Mental Pós-graduação Lato Sensu em Psicanálise e Saúde Mental Coordenação: Drª Aparecida Rosângela Silveira Duração: 15 meses Titulação: Especialista em Psicanálise e Saúde Mental Modalidade:
A Concepção de Trauma em Sigmund Freud e Sándor Ferenczi
 A Concepção de Trauma em Sigmund Freud e Sándor Ferenczi Fernanda Altermann Batista Email: fealtermann@hotmail.com Esse trabalho surgiu de pesquisa realizada no Laboratório de Epistemologia e Clínica Psicanalítica
A Concepção de Trauma em Sigmund Freud e Sándor Ferenczi Fernanda Altermann Batista Email: fealtermann@hotmail.com Esse trabalho surgiu de pesquisa realizada no Laboratório de Epistemologia e Clínica Psicanalítica
Entre o eu e o outro: espaços fronteiriços
 Entre o eu e o outro: espaços fronteiriços Entre o eu e o outro: espaços fronteiriços Cardoso, Marta Rezende; Garcia, Claudia Amorim. Curitiba: Juruá, 2010, 163 p. Maria Regina Maciel* O livro de Marta
Entre o eu e o outro: espaços fronteiriços Entre o eu e o outro: espaços fronteiriços Cardoso, Marta Rezende; Garcia, Claudia Amorim. Curitiba: Juruá, 2010, 163 p. Maria Regina Maciel* O livro de Marta
Psicanálise em Psicóticos
 Psicanálise em Psicóticos XIX Congresso Brasileiro de Psicanálise Recife, 2003 Dr. Decio Tenenbaum Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, Rio 2 End: decio@tenenbaum.com.br Processos Psicanalíticos
Psicanálise em Psicóticos XIX Congresso Brasileiro de Psicanálise Recife, 2003 Dr. Decio Tenenbaum Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, Rio 2 End: decio@tenenbaum.com.br Processos Psicanalíticos
Alguns resumos de trabalhos que serão apresentados na Jornada
 Boletim da Jornada nº 2 SOCIEDADE PSICANALÍTICA DO RECIFE XXII Jornada de Psicanálise da SPRPE XVIII Encontro de Psicanálise da Criança e do Adolescente 21, 22 e 23 de setembro Mar Hotel Recife-PE Tema:
Boletim da Jornada nº 2 SOCIEDADE PSICANALÍTICA DO RECIFE XXII Jornada de Psicanálise da SPRPE XVIII Encontro de Psicanálise da Criança e do Adolescente 21, 22 e 23 de setembro Mar Hotel Recife-PE Tema:
INTRODUÇÃO À PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA. Profa. Dra. Laura Carmilo granado
 INTRODUÇÃO À PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA Profa. Dra. Laura Carmilo granado Pathos Passividade, paixão e padecimento - padecimentos ou paixões próprios à alma (PEREIRA, 2000) Pathos na Grécia antiga Platão
INTRODUÇÃO À PSICOPATOLOGIA PSICANALÍTICA Profa. Dra. Laura Carmilo granado Pathos Passividade, paixão e padecimento - padecimentos ou paixões próprios à alma (PEREIRA, 2000) Pathos na Grécia antiga Platão
Mariana Ribeiro Marques. Afeto e sensorialidade no pensamento de B. Espinosa, S. Freud e D. W. Winnicott. Dissertação de Mestrado
 Mariana Ribeiro Marques Afeto e sensorialidade no pensamento de B. Espinosa, S. Freud e D. W. Winnicott Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre
Mariana Ribeiro Marques Afeto e sensorialidade no pensamento de B. Espinosa, S. Freud e D. W. Winnicott Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre
TRAUMA E PULSÃO EM PSICANÁLISE
 TRAUMA E PULSÃO EM PSICANÁLISE Aluno: Bruno Daemon Barbosa Orientador: Monah Winograd Introdução A teoria do trauma de Sándor Ferenczi e suas reformulações técnicas e teóricas na proposta terapêutica da
TRAUMA E PULSÃO EM PSICANÁLISE Aluno: Bruno Daemon Barbosa Orientador: Monah Winograd Introdução A teoria do trauma de Sándor Ferenczi e suas reformulações técnicas e teóricas na proposta terapêutica da
INTER-RELAÇÕES ENTRE INCONSCIENTE, AMOR E ÉTICA NA OBRA FREUDIANA
 INTER-RELAÇÕES ENTRE INCONSCIENTE, AMOR E ÉTICA NA OBRA FREUDIANA 2015 Lucas Ferreira Pedro dos Santos Psicólogo formado pela UFMG. Mestrando em Psicologia pela PUC-MG (Brasil) E-mail de contato: lucasfpsantos@gmail.com
INTER-RELAÇÕES ENTRE INCONSCIENTE, AMOR E ÉTICA NA OBRA FREUDIANA 2015 Lucas Ferreira Pedro dos Santos Psicólogo formado pela UFMG. Mestrando em Psicologia pela PUC-MG (Brasil) E-mail de contato: lucasfpsantos@gmail.com
Programa da Formação em Psicoterapia
 Programa da Formação em Psicoterapia Ano Programa de Formação de Especialidade em Psicoterapia Unidades Seminários Tópicos Programáticos Horas dos Módulos Desenvolvimento Pessoal do Psicoterapeuta > Construção
Programa da Formação em Psicoterapia Ano Programa de Formação de Especialidade em Psicoterapia Unidades Seminários Tópicos Programáticos Horas dos Módulos Desenvolvimento Pessoal do Psicoterapeuta > Construção
PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA CONTEMPORANEIDADE: UMA VISÃO PSICANALÍTICA
 O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA CONTEMPORANEIDADE: UMA VISÃO PSICANALÍTICA Flávia Angelo Verceze (Discente do Curso de Pós Graduação em Clínica Psicanalítica da UEL, Londrina PR, Brasil; Silvia Nogueira
O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA CONTEMPORANEIDADE: UMA VISÃO PSICANALÍTICA Flávia Angelo Verceze (Discente do Curso de Pós Graduação em Clínica Psicanalítica da UEL, Londrina PR, Brasil; Silvia Nogueira
A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE DA CRIANÇA: UMA REFLEXÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA 1
 A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE DA CRIANÇA: UMA REFLEXÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA 1 Sirlane de Jesus Damasceno Ramos Mestranda Programa de Pós-graduação Educação Cultura e Linguagem PPGEDUC/UFPA.
A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE DA CRIANÇA: UMA REFLEXÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA 1 Sirlane de Jesus Damasceno Ramos Mestranda Programa de Pós-graduação Educação Cultura e Linguagem PPGEDUC/UFPA.
Gabriela Maldonado. Um estudo sobre o conceito freudiano de pulsão de morte. Dissertação de Mestrado
 Gabriela Maldonado Um estudo sobre o conceito freudiano de pulsão de morte Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-graduação
Gabriela Maldonado Um estudo sobre o conceito freudiano de pulsão de morte Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-graduação
Curso de Atualização em Psicopatologia 2ª aula Decio Tenenbaum
 Curso de Atualização em Psicopatologia 2ª aula Decio Tenenbaum Centro de Medicina Psicossomática e Psicologia Médica do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro 2ª aula Diferenciação
Curso de Atualização em Psicopatologia 2ª aula Decio Tenenbaum Centro de Medicina Psicossomática e Psicologia Médica do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro 2ª aula Diferenciação
Afetos, representações e psicopatologias: da angústia ao pânico
 Carlos Eduardo de Sousa Lyra Afetos, representações e psicopatologias: da angústia ao pânico Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Psicologia Clínica da PUC-Rio
Carlos Eduardo de Sousa Lyra Afetos, representações e psicopatologias: da angústia ao pânico Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Psicologia Clínica da PUC-Rio
CEP - Centro de Estudos Psicanalíticos. A psicanálise como berço ou por que tratamos apenas crianças em nossos consultórios
 CEP - Centro de Estudos Psicanalíticos Luis Fernando de Souza Santos Trabalho semestral - ciclo II (terças 19h30) A psicanálise como berço ou por que tratamos apenas crianças em nossos consultórios Se
CEP - Centro de Estudos Psicanalíticos Luis Fernando de Souza Santos Trabalho semestral - ciclo II (terças 19h30) A psicanálise como berço ou por que tratamos apenas crianças em nossos consultórios Se
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1
 NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
Sofrimento e dor no autismo: quem sente?
 Sofrimento e dor no autismo: quem sente? BORGES, Bianca Stoppa Universidade Veiga de Almeida-RJ biasborges@globo.com Resumo Este trabalho pretende discutir a relação do autista com seu corpo, frente à
Sofrimento e dor no autismo: quem sente? BORGES, Bianca Stoppa Universidade Veiga de Almeida-RJ biasborges@globo.com Resumo Este trabalho pretende discutir a relação do autista com seu corpo, frente à
As dimensões da Narratividade na Primeira Infância: Uma reflexão sobre os eixos do cuidado
 Tami Reis Gabeira As dimensões da Narratividade na Primeira Infância: Uma reflexão sobre os eixos do cuidado Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica
Tami Reis Gabeira As dimensões da Narratividade na Primeira Infância: Uma reflexão sobre os eixos do cuidado Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica
A Técnica na Psicoterapia com Crianças: o lúdico como dispositivo.
 A Técnica na Psicoterapia com Crianças: o lúdico como dispositivo. *Danielle Vasques *Divani Perez *Marcia Thomaz *Marizete Pollnow Rodrigues *Valéria Alessandra Santiago Aurélio Marcantonio RESUMO O presente
A Técnica na Psicoterapia com Crianças: o lúdico como dispositivo. *Danielle Vasques *Divani Perez *Marcia Thomaz *Marizete Pollnow Rodrigues *Valéria Alessandra Santiago Aurélio Marcantonio RESUMO O presente
Título: O lugar do analista enquanto suporte dos processos introjetivos Autor: Ricardo Salztrager
 1 Título: O lugar do analista enquanto suporte dos processos introjetivos Autor: Ricardo Salztrager A proposta do trabalho é questionar qual o lugar do analista no atendimento a pacientes que apresentam
1 Título: O lugar do analista enquanto suporte dos processos introjetivos Autor: Ricardo Salztrager A proposta do trabalho é questionar qual o lugar do analista no atendimento a pacientes que apresentam
O DISCURSO DA CIÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM O SUPEREU
 O DISCURSO DA CIÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM O SUPEREU Fabiana Mendes Pinheiro de Souza Psicóloga/UNESA Mestranda do Programa de pós-graduação em teoria psicanalítica/ufrj fabmps@gmail.com Resumo: Em 1920,
O DISCURSO DA CIÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM O SUPEREU Fabiana Mendes Pinheiro de Souza Psicóloga/UNESA Mestranda do Programa de pós-graduação em teoria psicanalítica/ufrj fabmps@gmail.com Resumo: Em 1920,
Ana Carolina Viana Silva. O lugar dos pais na clínica psicanalítica com crianças. Dissertação de Mestrado
 Ana Carolina Viana Silva O lugar dos pais na clínica psicanalítica com crianças Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre pelo Programa de
Ana Carolina Viana Silva O lugar dos pais na clínica psicanalítica com crianças Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre pelo Programa de
Atos de fala, atos falhos: uma aproximação entre as teorias linguísticas de Austin e de Wittgenstein e a psicanálise de Freud e Lacan
 Claudio Eduardo Moura de Oliveira Atos de fala, atos falhos: uma aproximação entre as teorias linguísticas de Austin e de Wittgenstein e a psicanálise de Freud e Lacan Dissertação de Mestrado Dissertação
Claudio Eduardo Moura de Oliveira Atos de fala, atos falhos: uma aproximação entre as teorias linguísticas de Austin e de Wittgenstein e a psicanálise de Freud e Lacan Dissertação de Mestrado Dissertação
A gramática de extremos patológicos: um estudo possível acerca do Sofrimento de Indeterminação
 A gramática de extremos patológicos: um estudo possível acerca do Sofrimento de Indeterminação Trabalho elaborado por: André Ricardo Nader, Delia Maria De Césaris e Maria Letícia Reis Laurino A proposta
A gramática de extremos patológicos: um estudo possível acerca do Sofrimento de Indeterminação Trabalho elaborado por: André Ricardo Nader, Delia Maria De Césaris e Maria Letícia Reis Laurino A proposta
Escola Secundária de Carregal do Sal
 Escola Secundária de Carregal do Sal Área de Projecto 2006\2007 Sigmund Freud 1 2 Sigmund Freud 1856-----------------Nasceu em Freiberg 1881-----------------Licenciatura em Medicina 1885-----------------Estuda
Escola Secundária de Carregal do Sal Área de Projecto 2006\2007 Sigmund Freud 1 2 Sigmund Freud 1856-----------------Nasceu em Freiberg 1881-----------------Licenciatura em Medicina 1885-----------------Estuda
Transferência e contratransferência
 Resenhas JORNAL de PSICANÁLISE 46 (84), 259-262. 2013 Transferência e contratransferência Marion Minerbo Editora: Casa do Psicólogo, 2012 (Coleção Clínica Psicanalítica) Resenhado por: Ana Maria Loffredo
Resenhas JORNAL de PSICANÁLISE 46 (84), 259-262. 2013 Transferência e contratransferência Marion Minerbo Editora: Casa do Psicólogo, 2012 (Coleção Clínica Psicanalítica) Resenhado por: Ana Maria Loffredo
Para que haja um corpo representado, é necessária a presença atenciosa de um adulto. Em geral é a mãe que ocupa esta função colocando-se disponível
 1. Introdução Na psicanálise, não é nova a discussão sobre os impasses encontrados na clínica quanto aos limites do analisável. Se Freud, por um lado, afirmava que a analise não era para todos, numa tentativa
1. Introdução Na psicanálise, não é nova a discussão sobre os impasses encontrados na clínica quanto aos limites do analisável. Se Freud, por um lado, afirmava que a analise não era para todos, numa tentativa
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia Psicologia: de onde viemos, para onde vamos? Universidade Estadual de Maringá ISSN X
 TEORIA DA SEDUÇÃO GENERALIZADA: UMA BREVE INTRODUÇÃO Mariane Zanella Ferreira* A Teoria da Sedução Generalizada (TSG), proposta por Jean Laplanche, é uma teoria recente, quando comparada à psicanálise
TEORIA DA SEDUÇÃO GENERALIZADA: UMA BREVE INTRODUÇÃO Mariane Zanella Ferreira* A Teoria da Sedução Generalizada (TSG), proposta por Jean Laplanche, é uma teoria recente, quando comparada à psicanálise
Latusa digital N 10 ano 1 outubro de 2004
 Latusa digital N 10 ano 1 outubro de 2004 Política do medo versus política lacaniana Mirta Zbrun* Há três sentidos possíveis para entender a política lacaniana 1. Em primeiro lugar, o sentido da política
Latusa digital N 10 ano 1 outubro de 2004 Política do medo versus política lacaniana Mirta Zbrun* Há três sentidos possíveis para entender a política lacaniana 1. Em primeiro lugar, o sentido da política
PULSÃO DE MORTE, CORPO E MENTALIZAÇÃO. Eixo: O corpo na teoría Palavras chave : psicossomática, pulsão de morte, depressão essencial, psicanálise
 PULSÃO DE MORTE, CORPO E MENTALIZAÇÃO Patricia Rivoire Menelli Goldfeld Eixo: O corpo na teoría Palavras chave : psicossomática, pulsão de morte, depressão essencial, psicanálise Resumo: A autora revisa
PULSÃO DE MORTE, CORPO E MENTALIZAÇÃO Patricia Rivoire Menelli Goldfeld Eixo: O corpo na teoría Palavras chave : psicossomática, pulsão de morte, depressão essencial, psicanálise Resumo: A autora revisa
Latusa Digital ano 1 N 8 agosto de 2004
 Latusa Digital ano 1 N 8 agosto de 2004 Sobre o incurável do sinthoma Ângela Batista * "O que não entendi até agora, não entenderei mais. Graciela Brodsky Este trabalho reúne algumas questões discutidas
Latusa Digital ano 1 N 8 agosto de 2004 Sobre o incurável do sinthoma Ângela Batista * "O que não entendi até agora, não entenderei mais. Graciela Brodsky Este trabalho reúne algumas questões discutidas
Estruturas da Personalidade e Funcionamento do Aparelho Psíquico
 Estruturas da Personalidade e Funcionamento do Aparelho Psíquico Para Freud, a personalidade é centrada no crescimento interno. Dá importância a influência dos medos, dos desejos e das motivações inconscientes
Estruturas da Personalidade e Funcionamento do Aparelho Psíquico Para Freud, a personalidade é centrada no crescimento interno. Dá importância a influência dos medos, dos desejos e das motivações inconscientes
Violência e alteridade: A questão das fronteiras nos "estados limites"
 Universidade Federal do Rio de Janeiro Violência e alteridade: A questão das fronteiras nos "estados limites" Fernanda Collart Villa 2004 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros
Universidade Federal do Rio de Janeiro Violência e alteridade: A questão das fronteiras nos "estados limites" Fernanda Collart Villa 2004 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros
O LUGAR DOS PAIS NA PSICANÁLISE DE CRIANÇAS
 FRIDA ATIÉ O LUGAR DOS PAIS NA PSICANÁLISE DE CRIANÇAS DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Departamento de Psicologia Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, 02 de março de 1999 FRIDA ATIÉ
FRIDA ATIÉ O LUGAR DOS PAIS NA PSICANÁLISE DE CRIANÇAS DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Departamento de Psicologia Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, 02 de março de 1999 FRIDA ATIÉ
A SINGULARIDADE DA TÉCNICA NA CLÍNICA DOS ESTADOS LIMITES
 Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Psicologia Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica A SINGULARIDADE DA TÉCNICA NA CLÍNICA DOS ESTADOS LIMITES Arthur Kottler da Silveira 2006
Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Psicologia Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica A SINGULARIDADE DA TÉCNICA NA CLÍNICA DOS ESTADOS LIMITES Arthur Kottler da Silveira 2006
ISSN: O SINTOMA FALTA DE DESEJO EM UMA CONCEPÇÃO FREUDIANA
 O SINTOMA FALTA DE DESEJO EM UMA CONCEPÇÃO FREUDIANA Carla Cristiane de Oliveira Pinheiro * (UESB) Maria da Conceição Fonseca- Silva ** (UESB) RESUMO O objetivo deste artigo é avaliar a teoria Freudiana
O SINTOMA FALTA DE DESEJO EM UMA CONCEPÇÃO FREUDIANA Carla Cristiane de Oliveira Pinheiro * (UESB) Maria da Conceição Fonseca- Silva ** (UESB) RESUMO O objetivo deste artigo é avaliar a teoria Freudiana
DISCUSSÃO AO TRABALHO DA INSTITUIÇÃO CARTÉIS CONSTITUINTES DA ANALISE FREUDIANA: A psicanálise: à prova da passagem do tempo
 DISCUSSÃO AO TRABALHO DA INSTITUIÇÃO CARTÉIS CONSTITUINTES DA ANALISE FREUDIANA: A psicanálise: à prova da passagem do tempo DISCUTIDO PELA ESCOLA FREUDIANA DA ARGENTINA NOEMI SIROTA O trabalho permite
DISCUSSÃO AO TRABALHO DA INSTITUIÇÃO CARTÉIS CONSTITUINTES DA ANALISE FREUDIANA: A psicanálise: à prova da passagem do tempo DISCUTIDO PELA ESCOLA FREUDIANA DA ARGENTINA NOEMI SIROTA O trabalho permite
A teoria das pulsões e a biologia. A descrição das origens da pulsão em Freud
 www.franklingoldgrub.com Édipo 3 x 4 - franklin goldgrub 6º Capítulo - (texto parcial) A teoria das pulsões e a biologia A descrição das origens da pulsão em Freud Ao empreender sua reflexão sobre a origem
www.franklingoldgrub.com Édipo 3 x 4 - franklin goldgrub 6º Capítulo - (texto parcial) A teoria das pulsões e a biologia A descrição das origens da pulsão em Freud Ao empreender sua reflexão sobre a origem
Maria Fernanda Borges Vaz de Oliveira. Relações familiares e o adolescente psicótico: O delírio como sintoma da história familiar
 Maria Fernanda Borges Vaz de Oliveira Relações familiares e o adolescente psicótico: O delírio como sintoma da história familiar DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Programa de Pós-graduação
Maria Fernanda Borges Vaz de Oliveira Relações familiares e o adolescente psicótico: O delírio como sintoma da história familiar DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Programa de Pós-graduação
Tempos significantes na experiência com a psicanálise 1
 Tempos significantes na experiência com a psicanálise 1 Cássia Fontes Bahia O termo significante está sendo considerado aqui em relação ao desdobramento que pode tomar em um plano mais simples e primeiro
Tempos significantes na experiência com a psicanálise 1 Cássia Fontes Bahia O termo significante está sendo considerado aqui em relação ao desdobramento que pode tomar em um plano mais simples e primeiro
É possível uma sociedade sem culpa? O lugar da culpabilidade nos processos de subjetivação
 Fernanda Goldenberg É possível uma sociedade sem culpa? O lugar da culpabilidade nos processos de subjetivação Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau
Fernanda Goldenberg É possível uma sociedade sem culpa? O lugar da culpabilidade nos processos de subjetivação Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau
e correto. O título deste ensaio de Freud, tal como traduzido pela Imago Editora, seria Inibições, sintomas e ansiedade.
 Introdução Desde os primeiros momentos de minha incursão pela pesquisa sobre o trauma psíquico, alguns eixos temáticos se mostraram pertinentes. São eles: 1. o trauma e a sexualidade; 2. o trauma e o só
Introdução Desde os primeiros momentos de minha incursão pela pesquisa sobre o trauma psíquico, alguns eixos temáticos se mostraram pertinentes. São eles: 1. o trauma e a sexualidade; 2. o trauma e o só
O Fenômeno Psicossomático (FPS) não é o signo do amor 1
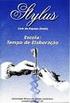 O Fenômeno Psicossomático (FPS) não é o signo do amor 1 Joseane Garcia de S. Moraes 2 Na abertura do seminário 20, mais ainda, cujo título em francês é encore, que faz homofonia com en corps, em corpo,
O Fenômeno Psicossomático (FPS) não é o signo do amor 1 Joseane Garcia de S. Moraes 2 Na abertura do seminário 20, mais ainda, cujo título em francês é encore, que faz homofonia com en corps, em corpo,
Prof. Dr. Sérgio Freire
 Prof. Dr. Sérgio Freire Introdução e contexto A relação com Sigmund Freud As cartas O afastamento O resto é silêncio" As causas da ruptura 02/20 História pessoal Nascimento em 26 de julho de 1875 em Kesswyl,
Prof. Dr. Sérgio Freire Introdução e contexto A relação com Sigmund Freud As cartas O afastamento O resto é silêncio" As causas da ruptura 02/20 História pessoal Nascimento em 26 de julho de 1875 em Kesswyl,
PUC RIO. Lícia Carvalho Marques NOVAS ELABORAÇÕES PSICANALÍTICAS SOBRE A SEXUALIDADE FEMININA A PARITR DO DECLÍNIO DA LÓGICA FÁLICO EDÍPICA
 PUC RIO Lícia Carvalho Marques NOVAS ELABORAÇÕES PSICANALÍTICAS SOBRE A SEXUALIDADE FEMININA A PARITR DO DECLÍNIO DA LÓGICA FÁLICO EDÍPICA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Programa de
PUC RIO Lícia Carvalho Marques NOVAS ELABORAÇÕES PSICANALÍTICAS SOBRE A SEXUALIDADE FEMININA A PARITR DO DECLÍNIO DA LÓGICA FÁLICO EDÍPICA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Programa de
(www.fabiobelo.com.br) O Corpo na Neurose. Prof. Fábio Belo
 (www.fabiobelo.com.br) O Corpo na Neurose Prof. Fábio Belo O Corpo na Psicanálise Alvo das excitações do outro: libidinização sexual e/ou mortífira; Superfície do narcisismo; Objeto de amoródio do outro:
(www.fabiobelo.com.br) O Corpo na Neurose Prof. Fábio Belo O Corpo na Psicanálise Alvo das excitações do outro: libidinização sexual e/ou mortífira; Superfície do narcisismo; Objeto de amoródio do outro:
IVCongresso Internacional de Psicopatologia Fundamental X Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental Trabalho para Mesa-Redonda
 IVCongresso Internacional de Psicopatologia Fundamental X Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental -2010 Trabalho para Mesa-Redonda TÍTULO: Amor e desamor à vida na adolescência atual Autora:
IVCongresso Internacional de Psicopatologia Fundamental X Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental -2010 Trabalho para Mesa-Redonda TÍTULO: Amor e desamor à vida na adolescência atual Autora:
ANALISTAS E ANALISANDOS PRECISAM SE ACEITAR: REFLEXÕES SOBRE AS ENTREVISTAS PRELIMINARES
 ANALISTAS E ANALISANDOS PRECISAM SE ACEITAR: REFLEXÕES SOBRE AS ENTREVISTAS PRELIMINARES 2014 Matheus Henrique de Souza Silva Psicólogo pela Faculdade Pitágoras de Ipatinga-MG. Especializando em Clínica
ANALISTAS E ANALISANDOS PRECISAM SE ACEITAR: REFLEXÕES SOBRE AS ENTREVISTAS PRELIMINARES 2014 Matheus Henrique de Souza Silva Psicólogo pela Faculdade Pitágoras de Ipatinga-MG. Especializando em Clínica
SIGMUND FREUD ( )
 SIGMUND FREUD (1856-1939) Uma lição clínica em La Salpêtrière André Brouillet (1887) JOSEF BREUER (1842-1925) médico e fisiologista tratamento da histeria com hipnose JOSEF BREUER (1842-1925) método catártico
SIGMUND FREUD (1856-1939) Uma lição clínica em La Salpêtrière André Brouillet (1887) JOSEF BREUER (1842-1925) médico e fisiologista tratamento da histeria com hipnose JOSEF BREUER (1842-1925) método catártico
PSICANÁLISE COM CRIANÇAS: TRANSFERÊNCIA E ENTRADA EM ANÁLISE. psicanálise com crianças, sustentam um tempo lógico, o tempo do inconsciente de fazer
 PSICANÁLISE COM CRIANÇAS: TRANSFERÊNCIA E ENTRADA EM ANÁLISE Pauleska Asevedo Nobrega Assim como na Psicanálise com adultos, as entrevistas preliminares na psicanálise com crianças, sustentam um tempo
PSICANÁLISE COM CRIANÇAS: TRANSFERÊNCIA E ENTRADA EM ANÁLISE Pauleska Asevedo Nobrega Assim como na Psicanálise com adultos, as entrevistas preliminares na psicanálise com crianças, sustentam um tempo
O Corpo na Transferência
 O Corpo na Transferência É preciso muito bem esquecer para experimentar a alegria de novamente lembrar-se. Tantos pedaços de nós dormem num canto da memória, que a memória chega a esquecer-se deles. E
O Corpo na Transferência É preciso muito bem esquecer para experimentar a alegria de novamente lembrar-se. Tantos pedaços de nós dormem num canto da memória, que a memória chega a esquecer-se deles. E
O Efeito Depressivo Eduardo Mendes Ribeiro
 O Efeito Depressivo Eduardo Mendes Ribeiro As estatísticas médicas e farmacêuticas indicam que vivemos em tempos de depressão. Nada de novo nesta constatação. Entretanto, chama a atenção o fato de outras
O Efeito Depressivo Eduardo Mendes Ribeiro As estatísticas médicas e farmacêuticas indicam que vivemos em tempos de depressão. Nada de novo nesta constatação. Entretanto, chama a atenção o fato de outras
6. Conclusão. Contingência da Linguagem em Richard Rorty, seção 1.2).
 6. Conclusão A escolha de tratar neste trabalho da concepção de Rorty sobre a contingência está relacionada ao fato de que o tema perpassa importantes questões da reflexão filosófica, e nos permite termos
6. Conclusão A escolha de tratar neste trabalho da concepção de Rorty sobre a contingência está relacionada ao fato de que o tema perpassa importantes questões da reflexão filosófica, e nos permite termos
VI Congresso de Neuropsicologia e Aprendizagem de Poços de Caldas
 VI Congresso de Neuropsicologia e Aprendizagem de Poços de Caldas Psicopatologia e Aprendizagem: a constituição da subjetividade e seu entorno cultural Profa. Dra. Nadia A. Bossa Nosso Percurso Teórico
VI Congresso de Neuropsicologia e Aprendizagem de Poços de Caldas Psicopatologia e Aprendizagem: a constituição da subjetividade e seu entorno cultural Profa. Dra. Nadia A. Bossa Nosso Percurso Teórico
A psicanálise surgiu na década de 1890, com Sigmund Freud
 PSICANÁLISE A psicanálise surgiu na década de 1890, com Sigmund Freud médico neurologista interessado em achar um tratamento efetivo para pacientes com sintomas neuróticos, principalmente histéricos.
PSICANÁLISE A psicanálise surgiu na década de 1890, com Sigmund Freud médico neurologista interessado em achar um tratamento efetivo para pacientes com sintomas neuróticos, principalmente histéricos.
PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social A NOÇÃO DE DAS DING (A COISA) NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE FREUDIANA
 A NOÇÃO DE DAS DING (A COISA) NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE FREUDIANA Fábio Brinholli da Silva* (Universidade Estadual de Maringá, Londrina-PR, Brasil) Palavras-chave: das Ding. Representação de coisa.
A NOÇÃO DE DAS DING (A COISA) NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE FREUDIANA Fábio Brinholli da Silva* (Universidade Estadual de Maringá, Londrina-PR, Brasil) Palavras-chave: das Ding. Representação de coisa.
uma relação de troca empreendida a partir de si mesmo, ou melhor, de seu verdadeiro self. Dito de outro modo, o ambiente ganha um destaque
 9 1. Introdução Com este trabalho, objetivamos pesquisar o conceito winnicottiano de criatividade, tendo como pano de fundo o atual panorama social. A hipótese é a de que a sociedade contemporânea, de
9 1. Introdução Com este trabalho, objetivamos pesquisar o conceito winnicottiano de criatividade, tendo como pano de fundo o atual panorama social. A hipótese é a de que a sociedade contemporânea, de
seguiam a corrente clássica de análise tinham como norma tratar da criança sem fazer
 122 4. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS Durante muitos anos, na história da psicanálise de crianças, os analistas que seguiam a corrente clássica de análise tinham como norma tratar da criança sem fazer
122 4. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS Durante muitos anos, na história da psicanálise de crianças, os analistas que seguiam a corrente clássica de análise tinham como norma tratar da criança sem fazer
A presença da psicanálise na obra de Gilles Deleuze
 Juliana Martins Rodrigues A presença da psicanálise na obra de Gilles Deleuze DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica do Departamento de Psicologia
Juliana Martins Rodrigues A presença da psicanálise na obra de Gilles Deleuze DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica do Departamento de Psicologia
AFECÇÕES CORPORAIS E PSICANÁLISE: REFLEXÕES TEÓRICO/CLÍNICAS A PARTIR DE FREUD E WINNICOTT
 AFECÇÕES CORPORAIS E PSICANÁLISE: REFLEXÕES TEÓRICO/CLÍNICAS A PARTIR DE FREUD E WINNICOTT Nadja Nara Barbosa Pinheiro Maria Vitória Campos Mamede Maia A presente comunicação constitui os resultados parciais
AFECÇÕES CORPORAIS E PSICANÁLISE: REFLEXÕES TEÓRICO/CLÍNICAS A PARTIR DE FREUD E WINNICOTT Nadja Nara Barbosa Pinheiro Maria Vitória Campos Mamede Maia A presente comunicação constitui os resultados parciais
III Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental IX Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental -2008
 III Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental IX Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental -2008 Proposta de trabalho para Tema-Livre TÍTULO: Bulimia: uma patologia do excesso Autora:
III Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental IX Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental -2008 Proposta de trabalho para Tema-Livre TÍTULO: Bulimia: uma patologia do excesso Autora:
Palavras e Pílulas: Sobre o governo do mal-estar na atualidade
 Barbara Paraiso Garcia Duarte da Rosa Palavras e Pílulas: Sobre o governo do mal-estar na atualidade Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre
Barbara Paraiso Garcia Duarte da Rosa Palavras e Pílulas: Sobre o governo do mal-estar na atualidade Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre
Nathalia Sisson. Psicanálise em ação: a relação entre técnica e teoria na fabricação da Psicanálise. Dissertação de Mestrado
 Nathalia Sisson Psicanálise em ação: a relação entre técnica e teoria na fabricação da Psicanálise Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre
Nathalia Sisson Psicanálise em ação: a relação entre técnica e teoria na fabricação da Psicanálise Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre
PEDAGOGIA. Aspecto Psicológico Brasileiro. Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem Parte 4. Professora: Nathália Bastos
 PEDAGOGIA Aspecto Psicológico Brasileiro Parte 4 Professora: Nathália Bastos FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES Consiste no modo de funcionamento psicológico tipicamente humano. Ex: capacidade de planejamento,
PEDAGOGIA Aspecto Psicológico Brasileiro Parte 4 Professora: Nathália Bastos FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES Consiste no modo de funcionamento psicológico tipicamente humano. Ex: capacidade de planejamento,
Limites da clínica. Clínica dos limites
 Limites da clínica. Clínica dos limites Limites da clínica. Clínica dos limites Cardoso, M. R.; Garcia, C. A.(Orgs.). Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2011. 212 p. Luciana Gageiro Coutinho* A coletânea
Limites da clínica. Clínica dos limites Limites da clínica. Clínica dos limites Cardoso, M. R.; Garcia, C. A.(Orgs.). Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2011. 212 p. Luciana Gageiro Coutinho* A coletânea
