Tese apresentada como requisito parcial à obtenção do título de doutor em Política Social, Programa de Pósgraduação
|
|
|
- Miguel Santana Henriques
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 MARIA RAQUEL GOMES MAIA PIRES POLITICIDADE DO CUIDADO COMO REFERÊNCIA EMANCIPATÓRIA PARA A GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE: Conhecer para Cuidar Melhor, Cuidar para Confrontar, Cuidar para Emancipar Tese apresentada como requisito parcial à obtenção do título de doutor em Política Social, Programa de Pósgraduação em Política Social, Departamento de Serviço Social, Universidade de Brasília. Orientador: Prof. Dr. Pedro Demo Brasília 2004
2 2 MARIA RAQUEL GOMES MAIA PIRES POLITICIDADE DO CUIDADO COMO REFERÊNCIA EMANCIPATÓRIA PARA A GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE: Conhecer para Cuidar Melhor, Cuidar para Confrontar, Cuidar para Emancipar Tese aprovada como requisito parcial à obtenção do título de doutor em Política Social, Programa de Pós-graduação em Política Social, Departamento de Serviço Social, Universidade de Brasília. Comissão Examinadora: Prof. PhD. Pedro Demo (Presidente) Departamento de Sociologia/UnB Profa. PhD. Dirce Guilhem de Matos Departamento de Enfermagem/UnB Profa. PhD. Ma. De Fátima Olivier Sudbrack Instituto de Psicologia/UnB Prof. PhD. Mário Ângelo Silva Departamento de Serviço Social/UnB Profa. Dra. Marlene Teixeira Rodrigues Departamento de Serviço Social/UnB Brasília, 15 de Dezembro de 2004
3 3 MEDO É UM SOPRO NO PEITO EM BUSCA DE DEFINIÇÃO. HUMANO É O NOME DO SER QUE SABE DIZER NÃO. Viviane Mosé
4 4 AGRADECIMENTOS Uma tese que fala de cuidado não poderia deixar de registrar o zelo, solicitude e envolvimentos de pessoas e instituições que contribuíram para sua finalização. Como qualquer lista, também esta corre o risco de fortuitos esquecimentos, próprios da imperfeição humana. Diante dessa possível descompustura, antecipadamente peço compreensão, componente que faz toda diferença nas relações de cuidar. Assim, um forte e caloroso abraço de agradecimento à: - Meus pais, por toda uma vida de amor e dedicação à autonomia dos filhos, bem como aos Irmãos e sobrinhos, parte de mim e dos meus afetos; - Danusa, pela paciência infinita, serenidade, companheirismo e apoio incondicional;- Maurício, Celiane, Ana Cláudia, Adriana Santiago, Arindelita, Leila, Sávio, Wagner, Sônia Brito, Miriam, Nena, Nádia, Caio, Vilani, pelo compartilhar de confianças, cotidianos e bemquereres;- Pedro Demo, por acreditar em mim e por 5 anos de convivência pautado no mais profundo respeito, ética e profissionalismo;- Colegas do Ministério da Saúde, em especial do Departamento de Atenção Básica, pela presteza sempre respeitosa, no melhor sentido do servidor público, às inúmeras solicitações dos dados e informações analisados nesta pesquisa;- Departamento de Atenção Básica/SAS/MS, na pessoa de sua diretora, Afra Suassuna, pelo acesso irrestrito às informações e documentos;- Professores Fátima Sudbrack, Dirce Guilhem, Mário Ângelo, Marlene Teixeira e Denise Bontempo, pelas felicitações, críticas e sugestões realizadas nos momentos de qualificação e defesa dessa tese;- Heloiza Machado, Danusa Benjamin e Regina Celi, pela contribuição de suas ricas trajetórias institucionais nas sugestões realizadas ao capítulo 3;- Lígia dos Santos, pela atenção e competência na elaboração do Abstract; - Aos professores, colegas e funcionários do programa de Pós-graduação em Política Social, Departamento de Serviço Social, pelo aprendizado e convivência; e, por fim, àqueles, muitos já citados, que foram me dar uma força na defesa desta tese, Valeu!!!!
5 5 RESUMO Politicidade do cuidado diz respeito ao manejo disruptivo da ajuda-poder, expressa pelo triedro conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar para emancipar que, em contextos sócio-históricos específicos, pode se constituir numa referência reordenadora de relações de domínio. Esta tese investiga a politicidade do cuidado como referência teórico-analítica para gestão de políticas de saúde, desenvolvendo a hipótese de que este cuidar pode ser uma referência emancipatória para a gestão de políticas de saúde, oportunizando cenários propícios à autonomia de sujeitos. Como objetivos, têm-se: a) conceituar teoricamente politicidade do cuidado; b) realizar aprofundamento sobre as concepções de cuidado, emancipação e poder, delimitando quadro teórico-analítico que fundamente o uso da politicidade do cuidado como referência emancipatória para gestão de políticas de saúde; c) analisar a potencialidade emancipatória presente na gestão de programas prioritários para o SUS, como o Programa de Saúde da Família - PSF; d) apontar possibilidades para a adoção da politicidade do cuidado como referencia teórico-analítica para a gestão de políticas de saúde. O referencial teórico ancora-se na idéia de politicidade e controle democrático presente no cuidado, entendido como ser-no-mundo, ethos do humano e biopolítica da vida produtiva que tanto mantém, como subverte soberanias. A ajuda é concebida como dádiva e poder elegante, em intensa disputa. Pesquisa teórico-prática, com abordagem qualitativa, estudo de caso, centrado na gestão central do PSF, à luz das categorias analíticas cuidado, emancipação e poder. A investigação detecta ambigüidades, avanços e recuos no PSF, presentes tanto na gestão, quanto nas experiências municipais relatadas nos trabalhos premiados na II mostra nacional saúde da família. A partir dos resultados delineados e do triedro emancipatório do cuidar, propõe-se indicações analíticas e indutoras da autonomia de sujeitos para as políticas de saúde do Brasil. Palavras-Chaves: Cuidado Emancipação - Poder
6 6 ABSTRACT Politicity of care deals with the disruptive handling of Help-Power. Such notion can mainly be expressed by knowing to take better care, taking care to confront, taking care to emancipate. This, in specific social-historical contexts, may became a reference in power relations.this thesis investigates the politicity of the care as a theoretician-analytic reference for health policies administration, developing the hypothesis that the politicity of care can be a reference of emancipation for the health policies administration, allowing propitious scenaries to the autonomy of the subjects. The objectives are: a- judge theoretically the politicity of the care; b-accomplish deepning on the care conceptions, emancipation and power, defining a theoretician-analytic picture which bases the use of the care politicity as emancipatory reference for health policies administration; c- analyze the emancipatory potentiality present in the administration of priority programs for SUS, like PSF; d- point possibilities for the adoption of the care politicity as theoretician-analytic reference for the health policies administration. The theoretical referencial anchors in the idea of politicity and democratic control present in the care, understood as to be-in-world, ethos of the human and biopolítical of the productive life that as much keeps as subverts imperial sovereignties. The help is conceived as a gift and elegant power, in intense dispute. Theoretician-practice research, with qualitative approach, study of case, centered in the PSF's central administration, to the light of the analytic categories care, emancipation and power. The investigation detects ambiguities, advances and backlashes in PSF, present such as in the administration as in the municipal experiences related in the jobs awarded in the II National Exhibition of the Health Family Program. From the delineated results and from the triedro of the emancipation of the care, analytic indications and inductors of the subjects autonomy are proposed for Brazil health policies. Words-keys: Care Emancipation - Power
7 7 SUMÁRIO - INTRODUÇÃO 1- REFERENCIAL TEÓRICO 1.1- Politicidade do Cuidado e Emancipação: Centralidade do Político para a Gestão da Ajuda-poder - Triedro Emancipatório do Cuidar: Conhecer para Cuidar Melhor, Cuidar para Confrontar, Cuidar para Emancipar 1.2- Politicidade do Cuidado e Política Social: Conformando a Ajuda- Poder em Contextos de Desigualdades - Gestão da Ajuda-Poder no Brasil 1.3-Gestão do Cuidado na Política de Saúde do Brasil: Politicidades - Buscando Politicidades na Forma de Organizar e Produzir Cuidados em Saúde - Politicidade do Cuidado no Contexto do Programa Saúde da Família (PSF): Entre a Estratégia de Mudança e a Saúde Pública para Pobres 2- PERCURSO METODOLÓGICO 2.1- Ciência e reconstrução do cuidado 2.2- Categorias e Formalizações Metodológicas -Triedro Emancipatório do Cuidar como Referência Analítica para Gestão de Políticas de Saúde -Pesquisa teórico-prática 3-ANÁLISE DOS DADOS: - GESTÃO DO PSF À LUZ DO TRIEDRO EMANCIPATÓRIO DO CUIDAR 4- POLITICIDADE DO CUIDADO: REFERÊNCIA EMANCIPATÓRIA PARA CONCLUIR REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANEXOS Pág.:
8 8 -INTRODUÇÃO A politicidade do cuidado consiste na habilidade política e reconstrutiva inerente à relação social de ajuda que, sendo poder, tanto produz domínios, como potencialidades subversivas, no mesmo ato subjetivamente gerado. Diante de tal abstração, questiona-se: poderia uma relação protetora vir a se constituir em impulso criativo à insubordinação autônoma? Como um cuidado eminentemente tutelar, que sobrevive da própria dependência, poderia desencadear rupturas emancipatórias a partir dessa mesma proteção? Existiria dinâmica subversiva na ajuda, típica relação (ou efeito) de poder (Demo, 2002b)? A politicidade do cuidado expressa-se, sobretudo, nesta ágora 1 conflitante de desejos e perspectivas, podendo inaugurar desordens e reordenações de poderes. O caráter voluptuoso da dádiva cuidadora que abafa inquietudes pode ser tão opressor quanto a violência explícita, por espoliar desejos latentes por mudança e inovação. Esse mecanismo tem sido utilizado ostensivamente pelo capitalismo para canalizar as demandas produtivas da força de trabalho humana (Marx, 1983), sucubindo gritos em fazeres fetichizados (Holloway, 2003). Afinal, o poder, para manter-se forte, camuflase em artimanhas próprias da trama biopolítica que conforma a vida social (Foucault,1985), age elegantemente em nome do desenvolvimento (Gronemeyer, 2000), fluidifica-se em tempos e espaços globais para forjar valores individualistas e competivos (Bauman, 2001), uniformiza idéias, segregando diversidades (Popkewitz,2001), e, de todos estes modos, cuida das pessoas com a graça do domínio fascinante que seduz e envolve. Porém, esse ato subjugante pode ser desmascarado e subvertido pelo mesmo poder exercido, constituindo-se numa fragilidade arquitetonicamente tramada para manter-se forte. Aposta-se aqui numa gestão inteligente da ajuda-poder capaz de potencializar confrontos ou a 1 Utilizo o termo grego ágora como esfera intermediária entre o público/privado, lugar de encontro, tensão e luta. A discussão sobre ágora político pode ser melhor aprofundada em Bauman (2000).
9 9 vontade de ser contra da multidão, como diriam Hardt e Negri (2002), reordenando igualitariamente tais assimetrias. A politicidade do cuidado, concebida na ambigüidade que a conforma, pauta-se nessa discussão e pode se revelar emancipatória a partir do triedro conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar para emancipar. Articulando saber, poder e ajuda, aprofundam-se as dimensões epistemológica, ecológica, ontológica e social do cuidado, por meio da politicidade que lhe é intrínseca. Parte-se do suposto que o ato de conhecer, ou de computação/cogitação (Morin, 1999), sendo político e biológico (Maturana e Varela, 2001), e entendido como forma natural de participar de um mundo social e historicamente conformado, instrumentaliza confrontos e autonomias libertárias. A despeito do tom eminentemente teórico presente nesta tese sobre o cuidado, procurou-se dar certa aplicabilidade dessa concepção ao estudo das políticas sociais, vistas aqui sob o prisma da conformação da ajudapoder em sociedades capitalistas para enfrentamento de desigualdades sociais. Nesse sentido, o objeto desta investigação consiste no uso da politicidade do cuidado como referência teórico-analítica para gestão de políticas de saúde. Pergunta-se, portanto, se a politicidade do cuidado, enquanto manejo inteligente da ajuda-poder, expresso pelo triedro conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar para emancipar, poderia se constituir numa referência emancipatória para a gestão de políticas de saúde. Tendo por foco a construção de referenciais teórico-analíticos para a gestão de políticas sociais, o estudo parte da hipótese de que a politicidade do cuidado pode ser uma referência emancipatória para a gestão de políticas de saúde, oportunizando cenários propícios à autonomia de sujeitos. Realizou-se uma pesquisa teórica e prática sobre as concepções de cuidado, emancipação e poder, para delineamento de um quadro de referência que fundamenta o uso da politicidade do cuidado à gestão de
10 10 políticas sociais, tendo o setor saúde como recorte. A defesa da politicidade do cuidado enquanto referência emancipatória se fundamenta na noção valorativa e ética que esse termo traduz, sendo necessário tratá-lo como fundamento teórico e diretivo que embase ações e proposições. Nesse rumo, uma tese, para se manter fortemente discutível, precisa refletir a subjetividade e a ideologia da comunidade que o sustenta, amparando-se em unidades teórico-prática e utopias 2 desconstrutivas. Para analisar a viabilidade da politicidade do cuidado como parâmetro analítico e norteador para políticas de saúde, foi realizada, à luz da pesquisa teórica referida, um estudo sobre o Programa Saúde da Família (PSF), uma das estratégias prioritárias do Ministério da Saúde na organização de serviços e práticas do SUS. Pretendeu-se contextualizar o cuidado no âmbito da gestão do PSF, no sentido de delinear alguns contornos orientadores para a política de saúde do Brasil. Centrou-se na ambivalência do PSF, manifesta na potencialidade entre estratégia de mudança e o programa social focalizado e seletivo, do tipo saúde pública para pobres. Noutros termos, refletiu-se: até que ponto a gestão de programas prioritários para o SUS tem oportunizado cenários propícios à autonomia de sujeitos ou conformado uma ajuda-poder estatizante e tuteladora? Nas políticas de saúde, o cuidado tem sido concebido/gerido mais para promover confronto/superação ou dádiva/submissão? Parte-se do suposto que a mediação do cuidado nas relações sociais, desalienado das amarras que contêm sua força criativa, pode instrumentalizar sujeitos críticos e oportunizar cidadanias. No capítulo 1, Referencial Teórico, a politicidade do cuidado, entendida como gestão da ajuda-poder para fortalecimento da autonomia de sujeitos, é conceituada e teorizada tendo por eixo as concepções de 2 Utopia no sentido do realizável, do tangível, que alimenta possibilidades reais de reinvenções que podem ser estabelecidas aqui e agora. Segundo Outhwaite e Bottomore (1996:788), O pensamento utópico parece florescer em épocas de insegurança social e colapso da autoridade estabelecida. As utopias refletem freqüentemente as fronteiras de possibilidade estabelecidas por uma sociedade existente, incluindo sua
11 11 cuidado, emancipação e poder. Fundamenta-se o triedro emancipatório do cuidar, expresso sob o prisma do conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar emancipar, como referência teórica central desta tese. A partir daí, a conformação da ajuda-poder nas políticas sociais, ou em sociedades capitalistas desiguais e complexas, é discutida à luz do triedro enunciado. A politicidade das políticas de saúde, incluindo a forma com que se vem sendo produzido e organizado o cuidado em saúde no Brasil, é discutida em seguida, chegando-se ao caso do PSF, ambientado no dilema de caracterizar-se como programa de saúde pública, historicamente destinado à pobreza, e pretender-se estratégia de mudança do modelo tecno-assistencial em saúde do Brasil. O percurso metodológico divide-se em duas partes: numa primeira aborda-se a base epistêmica da pesquisa, centrada na teorização da cientificidade frente à pós-modernidade, resgatando-se o caráter reconstrutivo e provisório do conhecimento como potencialidade emancipatória. Depois, abordam-se os aspectos do método, explicitando tratar-se de uma investigação teórico-prática, com delineamento de estudo de caso e abordagem qualitativa para aprofundar as politicidades da gestão das políticas de saúde. O referencial analítico para o estudo fundamenta-se no entrelaçamento das faces do triedro do cuidar ao referencial metodológico da hermenêutica de profundidade, em Thompson (1995), gerando dimensões e parâmetros norteadores para análise das políticas públicas. A potencialidade emancipatória presente na gestão de programas prioritários para o SUS, como o PSF, é analisada e esmiuçada no contexto do quadro metodológico arquitetado à luz do triedro do cuidar. Assim, sob as dimensões contextuais, das relações institucionais e da dinâmica operativa da gestão central do programa/estratégia Saúde da Família questiona-se se ele tem oportunizado e/ou influenciado cenários propícios à autonomia de capacidade produtiva, sua concpeção do grau de maleabilidade da natureza humana e a ênfase relativa atribuída à esfera pública em contraste com a particular..
12 12 sujeitos, observáveis por meio da análise das 14 experiências municipais premiadas na II Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família, realizada em julho deste ano. No quarto capítulo, que se pretende reafirmador da hipótese de trabalho, argumenta-se pela viabilidade do uso do triedro emancipatório como referência teórico-analítica tanto para gestão de políticas de saúde, quanto para o processo de trabalho dos profissionais. Nesse sentido, e a partir da realidade analisada, propõe-se algumas indicações para o fomento da autonomia de sujeitos, seja no âmbito da gestão pública, seja no cuidado à saúde.
13 13 1- REFERENCIAL TEÓRICO 1.1- POLITICIDADE DO CUIDADO E EMANCIPAÇÃO: CENTRALIDADE DO POLÍTICO PARA A GESTÃO DA AJUDA-PODER
14 14 O cuidado, relação interativa, solidária, controversa e processual de auxílio, sobrevive do espaço conflitante entre a proteção e a opressão. A característica do cuidar, enquanto gesto e atitude solidária, inclina-se para proteger e assegurar vida, direitos e cidadania. Porém, a relação fraterna aí impulsionada também é opressora e subjugante, podendo utilizar-se de universalidades éticas tipicamente modernas 3 para manter-se em posição de domínio. A politicidade do cuidado reside no fenômeno de poder que lhe é intrínseco, ou na sua latente possibilidade de subversão. Quanto à politicidade, adota-se a referência de Demo (2002a), que a concebe como habilidade política humana de saber pensar e intervir criticamente, numa busca imanente por graus de autonomia crescente. O enfrentamento dos limites postos, sejam sociais, econômicos, culturais ou biológicos, conforma o centro nevrálgico e motor da politicidade humana. Argumenta-se pela (re)construção permanente de um conhecimento que instrumente, cada vez mais, a razão humana 4 no manejo da qualidade política inerente aos seres vivos. Destaque-se, entretanto, que a politicidade, sendo poder, não evoca somente o lado bom da humanidade. Envolvida na trama das relações sociais, ela serve de mediação entre a racionalidade prepotente e a emoção ingênua. Para consolidar a idéia de politicidade como razão humana fundamental, Demo (2002a) resgata conhecimentos da biologia para argumentar sociologicamente. Ou seja, a partir do entendimento biológico da intrínseca mutabilidade do ser vivo, constrói uma fundamentação teórica para o entendimento da politicidade como possibilidade de se construir uma sociedade menos desigual e mais justa. 3 Refiro-me à produção sobre modernidade e pós-modernidade em Bauman ( e 2001), bem como à excelente análise sobre a transformação do capital na pós-modernidade em Harvey (1989). 4 Não pretendo partir do conceito moderno de razão, de estilo cartesiano. Ao contrário, entendo razão aqui principalmente como condição fundamental humana, incluindo o ser humano como um todo, corpo e alma, espírito e matéria, quantidade e qualidade. (...) Politicidade parece ser neologismo, e, como todo neologismo,
15 15 A partir da discussão social e biológica amplificada por Demo, figuram alguns pressupostos interessantes. Primeiro, que a politicidade, antes de ser razão humana, lateja na matéria, na dialética da natureza re-discutida por Prigogine (1997). Segundo, que os animais são seres políticos (o que os torna parte do todo), e que essa politicidade, no homem, se complexifica, assumindo peculiaridades próprias do ser dialético que sabe intervir pela reconstrução permanente. Por último, tal intervenção humana no capitalismo tem intensificado a face agressiva e desigual das relações sociais, sendo necessário o resgate da dimensão ética da politicidade, capaz de forjar processos emancipatórios. A politicidade manifesta-se no caráter fluído e frágil do poder inerente à relação de domínio, pulsando numa frivolidade capaz de impor-se oportunisticamente. Alargar a chance presente em toda relação social constitui o cerne do cuidado aqui defendido. É precisamente pela politicidade que o cuidado pode se tornar emancipatório ou desconstrutor das próprias estruturas que o subjugam. Trata-se de redimensionar o cuidado como possibilidade ética da humanidade, viabilizável por sua ambivalência intrínseca. A dimensão ética de que se fala está pautada nos valores, princípios e inspirações humanas que levam em conta a preocupação com o outro e com as iniqüidades sociais, como parte de uma mesma totalidade. Trata-se da ética da libertação, que tem por foco as vítimas de um sistema econômico, social e cultural gerador de desigualdades globalizadas (Dussel, 2003) 5. Aposta-se, sobretudo, na utopia realizável de forjar sujeitos éticocríticos, co-responsáveis por seus destinos e transformações. Significa, igualmente, o resgate do ethos mundial proposto por Boff (2003), configurando uma atitude de compromisso e cuidado com a vida, com a convivência societária e com a preservação da terra. banal. Olhando bem, porém, reponta nada mais que a tese grega do zóon politikón (animal político), como sendo a alma da natureza humana (...). Demo (2002b:9) 5 A discussão sobre ética da libertação, em Dussel (2002), será retomada oportunamente no decorrer desta tese.
16 16 A concepção de cuidado emancipatório 6, em sentido ecológico, social e epistemológico, pressupõe o entendimento de que as ações solidárias em prol do outro podem vir a 7 desconstruir progressivamente assimetrias de poder, se esse cuidado se refaz na própria ajuda 8. O sentido ecológico do cuidar manifesta-se na noção de integralidade e ruptura inerente ao pulsar da vida (Boff,1999; Capra, 1982), sendo também relação social de poder e saber. Para emancipar é preciso, sobretudo, saber cuidar (Boff, 1999, Demo, 2001), numa perspectiva ética, política e pedagógica fundada num conhecimento mais democrático e plural. A epistemologia do cuidado pode instrumentar processos de rupturas significativos, por meio da produção de conhecimentos que se re-elabora dinamicamente para melhor aproximar-se da realidade, mantendo-se discutível formal e politicamente 9. O cuidado aqui requerido sugere um movimento dialético onde a relação de dependência acontece mais para construir autonomia dos atores envolvidos, que para manter-se em si mesmo, como exercício autocentrado de poder. Ou seja, significa cuidar para que se possa ser capaz de re-elaborar cada vez mais a tutela e exigir dignidade humana, por projetos próprios. Consiste, também, no entendimento de que o meu projeto de autonomia só existe enquanto parte integrante da autonomia coletiva, sabendo-a sempre relativa. Desconstruir assimetrias de poder em meio a uma relação de dependência pode parecer contraditório e sem sentido, a menos que se possa argumentar dialeticamente em torno de contrários superáveis na totalidade (Haguete, Konder,1993. Kosik,1976. Lukács,1989). Tal entendimento supõe realidades complexas e processuais, na perspectiva teorizada por vários autores (Santos, Demo,2002c. Morin, 2000) e que 6 Introduzo as reflexões sobre cuidado emancipatório na minha dissertação de mestrado (Pires,2001) e em artigo publicado na revista SerSocial nº 10 (Pires,2002). 7 Refiro-me a proposição utópica contida no termo vir a ser, em oposição ao ser, como elemento central para a discussão emancipatória preterida. 8 Ajuda entendida como poder elegante, no caminho apontado por Gronemeyer (2000). Essa discussão será retomada no decorrer do texto. 9 Ver discussão sobre critérios de cientificidade em Demo (2000a).
17 17 dizem respeito à superação do pensamento único, de linearidades obtusas ou de simetrias dicotômicas, tão comuns à ciência moderna. Faz parte dessa discussão conceber dinamicamente o cotidiano das relações sociais, o contexto e suas estruturas fundantes, bem como a historicidade da inserção humana nesse cenário. O cuidado como gestão da ajuda-poder tem como fulcro central a não-linearidade 10 tanto dos processos históricos, quanto da natureza, assumindo-se aqui uma abordagem social, ecológica e epistemológica do cuidar. Por existir, sobretudo, na natureza, o cuidado faz parte da autopoiese dos seres vivos (Maturana e Varela, 2002) e da emergência dos processos cognitivos globais de uma mente incorporada (Varela et all, 2003), ocorrendo em múltiplas e diversas formatações. Seja na turbulenta natureza, que busca superação de equilíbrios pela irreversibilidade dos fenômenos (Prigogine, 1997), seja na biologia dos processos autônomos e emergentes, o cuidado, não sem conflito, interage e tensiona seres por dinâmica interna, inerente ao pulsar da vida 11. A politicidade do cuidado diz respeito à própria natureza da revolta latente e premente na esfera vital dos seres vivos. Independente, ou a despeito do auxílio externo 12, o cuidar, sendo pulsação, manifesta-se gerando rupturas e interações que lhe são peculiares. Significa dizer que o cuidado existe na esfera da dinamicidade, da multiplicidade e diversidade que lhe funda. Ou que, é precisamente pela incompletude, conflito e incerteza presente no gesto de ajuda que ele pode vir a se constituir numa força revolucionária, traduzindo-se em politicidade subversiva. 10 Refiro-me à teorização recente de Demo (2002 a, 2002b, 2002c) sobre realidade complexa, não-linear, ambígüa e ambivalente para captar a idéia de processualidade intrínseca à vida, seja social, cultural ou biológica. 11 Uma discussão mais aprofundada sobre a teoria da autopoiese em Maturana e Varela (2002), enação em Varela (2003) e irreversibilidade em Prigogine (1997), será feita adiante. 12 Hardt e Negri (2003) vão argumentar que, com o advento do Império, nova forma da economia capitalista global, não existe mais lado de fora, uma vez que o poder imperial controla as subjetividades produtivas das pessoas por meio do biopoder, inerente à própria vida. Adiante, detenho-me melhor neste assunto
18 18 Entender a dinâmica como principal elemento para teorização do cuidado não significa dizer que seja impossível formular-lhe premissas estruturantes. Afinal, o conhecimento se funda na intensa re-elaboração formal de discursos e experiências, constituindo-se em ordens do discurso, no enfoque de poder proposto por Foucault (1996). O que está em jogo, isso sim, é a permanente discutibilidade das certezas como critério de verdade. A partir dessa proposição, advinda da discussão atual sobre metodologia e conhecimento científico (Santos, 2001), pretende-se advogar a idéia de que cuidar é um processo de vir a ser. Compreender o cuidado como vir a ser, contrário de ser, introduz o tema da incompletude como possibilidade de mudança inerente às relações sociais. A liberdade manifesta na concepção do vir a ser constitui a potencialidade disruptiva do cuidado, expressa pela frivolidade, fugacidade e intrínseca transitoriedade do fenômeno do poder. O cuidado, aqui, é visto em sua totalidade, constituído não só pelo modo de ser, estrutura mais definidora e capturável, como também pelo seu vir a ser, característica que igualmente o compõe. Falar em cuidado perpassa pela discussão em Heidegger sobre o serno-mundo, que inclui a dimensão da cura como componente da pre-sença (constituição ontológica de homem, ser humano e humanidade). É na presença que o homem constrói seu modo de ser-no-mundo. Assim, segundo o filósofo da fenomenologia, o ser-no-mundo em sua essência é cura, entendida como condição estrutural de existência humana. Acrescenta ainda que, ontologicamente, cura não pode significar uma atitude especial para consigo mesmo porque essa atitude já se caracteriza como um preceder a si mesmo, envolvida por outros dois momentos estruturais, o já serem e o ser-junto a. O conceito ôntico de cura também permite chamá-lo de cuidado e dedicação (...) Isso diria simplesmente: do ponto de vista ôntico, todos os comportamentos e atitudes do homem são dotados de cura e guiados por uma dedicação. Ela não significa propriedades ônticas que continuamente aparecem, e sim a constituição ontológica sempre subjacente. Só isto torna ontologicamente possível que esse
19 19 Boff (1999), apoiando-se em Heidegger, reconhece o cuidado como modo de ser essencial, como ethos 14 humano e dimensão ontológica impossível de ser totalmente desvirtuada. Defende ainda que o cuidado entra na constituição da natureza e do ser humano, sem o qual não haveria a própria vida. Com o tom profundamente humano, filosófico e teológico, o referido autor propõe uma resignificação do cuidado, fundado numa nova ética do humano e na compaixão pela terra. Ao posicionar o cuidado como essência do humano e da natureza, resgatando a dimensão ecológica tão peculiar à integralidade da vida, Boff aprofunda o modo de ser como elemento estrutural do cuidar. Ou seja, o cuidado é mais que um ato singular ou uma virtude ao lado de outras. É um modo de ser, isto é, a forma como a pessoa humana se estrutura e se realiza no mundo com os outros. Melhor ainda: é um modo de ser-no-mundo que funda as relações que se estabelecem com todas as coisas (1999:92). Assim colocado, o autor nos fala da natureza do cuidado, fundada em dois modos básicos de ser-no-mundo: o trabalho - corporificando a dimensão do masculino ou de intervenção na natureza, e o cuidado - tonificado pelo feminino, pela convivência, comunhão e interação. Longe de quaisquer dicotomias lineares, acredita que as duas formas têm coexistido na história da humanidade de maneira desigual, com predomínio da intervenção e destruição (modo de ser-trabalho) sobre a interação solidária (modo de ser-cuidado). No conclame para que se conjugue melhor trabalho com cuidado, arremata sua proposição por uma nova ética, fundada no saber cuidar. ente possa ser onticamente interpelado como cura. A condição existencial de possibilidade de cuidado com a vida e dedicação deve ser concebida como cura num sentido originário, ou seja, ontológico. (Heidegger, 2002:265). 14 No glossário do livro Saber Cuidar, tomo emprestada a definição de Boff (1999:195): Ethos: em grego significa toca do animal ou a casa humana; conjunto de princípios que regem, transculturalmente, o comportamento humano para que seja realmente humano no sentido de ser consciente, livre e responsável; o ethos constrói pessoal e socialmente o habital humano..
20 20 A consistência teórica de Boff, a despeito da visível tendência esotérica tão pouco ambivalente 15, torna seu saber cuidar uma referência importante para as utopias humanas. Outro destaque oportuno é a crença de que o cuidado, em sentido irrestrito, reside na imanência da vida e do humano, admitindo-se aqui uma plenitude incapturável apenas pela razão. Pode-se resgatar daqui polêmica interessante sobre cura, uma vez que já se acreditou muito no elemento da transcedência como único capaz de realmente salvar o ser humano de suas mazelas e doenças. A crença na transcendência, elemento importante para a cura, pode ser exemplificada em Leloup (1996), teólogo ortodoxo, que traduziu e comentou textos do filósofo Fílon, que teria vivido em Alexandria, entre 20 e 10 anos AC até 39/40 anos da era cristã. No documento Os Terapeutas de Alexandria, Filon descreve a rigidez doutrinária e espiritual imposta aos Terapeutas, que se recolhiam em comunidades isoladas e debruçavam-se sobre as escrituras sagradas e sobre a natureza. Os Terapêutas eram impulsionados pelo amor divino (1996:39), portanto tinham inspiração transcendente para dedicar-se ao exercício de cuidar do ser. E para cuidar do ser, os Terapeutas cuidavam integralmente de si e dos outros, numa busca holística de corpo, mente e espírito. Abstraindo o excesso de moralismo cristão, tão ofuscador de politicidades, vale a pena uma leitura atenta sobre a concepção de saúde difundida na época, tema extremamente relevante, por exemplo, nas discussões atuais sobre o paradigma da vigilância da saúde 16. Não tão teológico como Leloup, mas buscando uma possível interação entre ciência, cognição e budismo, Varela (2003) vai propor um tipo de reflexão aberta aos fenômenos onde corpo e mente se unem. Trata-se do conceito de enaction, ou ação incorporada, referindo-se à cognição como dependente da experiência de se ter um corpo e da emergência de 15 Exemplifico o seguinte trecho: No modo de ser-cuidado ocorrem resistências e emergem perplexidades. Mas elas são superáveis pela paciência perseverante. No lugar da agressividade, há convivência amorosa. Em vez de dominação, há companhia afetuosa, ao lado e junto com o outro Boff (1999:96). Tendo a acreditar mais na tensão dialética dos dois modos de ser, cuidado e trabalho, como característica fundamental da dinamicidade e ambigüidade da realidade, sempre complexa e caótica por e na natureza. 16 Sobre paradigma da vigilância à saúde, ver Teixeira (2002).
21 21 estados globais, que ocorre a partir dos padrões sensório-motores recorrentes desse corpo. Seguindo as recentes descobertas da psicologia cognitiva e da biologia, alicerçando-se na fenomenologia de Merleau-Ponty e na doutrina oriental do budismo, o autor advoga em torno da possibilidade profundamente transformadora do aprendizado atento e aberto, desapegado do ego-self e calcada na compaixão 17 pelo mundo. A fragilidade de um fundamento essencial, de um comando único, de um self central e porto seguro das pulsões humanas, torna-se objeto central de análise e teorização em Varela. Ao invés de considerar a ausência de fundação como um aspecto negativo, o autor fala que tal condição é profundamente reveladora de condições libertárias, presente na existência co-dependente da própria vida. Assim, por meio da enaction, os praticantes da atenção/consciência podem começar a interromper padrões automáticos de comportamento condicionado, aumentando-se a capacidade de se estar atento às profundas experiências advindas da conexão entre corpo e mente. Longe de se adentrar nessa seara filosófica, por fugir aos modestos objetivos deste texto, cabe considerá-las como referências importantes para o elemento de ruptura presente nas expressões do cuidar - imanente em possibilidades, transcendente em desafios. Seja qual for a tendência pretendida, a capacidade revolucionária do cuidado ocorrerá menos pelo seu modo-de-ser que pelo seu modo-de-vir-a-ser. É principalmente pelo que ainda não é, já sendo em si, que se pode argumentar em favor da emancipação. Ou, é precisamente pela dinâmica da liberdade, aproximativa de realizações e plena de desejos, que as utopias libertárias se realizam (Bauman, 2001, Santos, 1997). Acreditar que as ações solidárias, revestidas de autoridade, podem promover autonomias capazes de vir a reordenar desigualdades, implica em 17 A despeito da riqueza argumentativa e teórica em Varela (2003), o autor acaba caindo no mesmo lugar-comum que Maturana (1997), que defende o potencial transformador do amor como utopia libertária. Acreditar que não há caminho único, que a realidade é mais complexa que nossa obtusa capacidade de apreensão e que a ambivalência da vida pulsa na natureza, parece meio contraditório com essa concepção de transformação, restrita à compaixão.
22 22 conceber a centralidade do político nas relações sociais estabelecidas. Ou seja, é pela mediação de interesses, pela negociação árdua de projetos, pela intensidade da ágora público/privado inerente às sociedades humanas que as pretensas liberdades tomam concretude. O cuidado emancipatório, como ajuda que se re-elabora na relação de poder estabelecida, acontece principalmente pela politicidade do cuidar, entendida tanto pelo seu modo de ser solidário, como pelo seu modo de vir a ser político. O termo ajuda é bem discutido por Gronemeyer (2000), ao tentar uma definição teórica dessa palavra para o Dicionário do Desenvolvimento (Sachs, 2000). A autora argumenta que a ajuda ao desenvolvimento, em especial aquela oferecida aos países do Terceiro Mundo, sempre se constituiu num mecanismo de poder elegante. Para fundamentar essa idéia, descreve analiticamente como a ajuda foi se desenvolvendo opressivamente desde as esmolas medievais, passando pelo mercantilismo e modernidade industrial, fundada na racionalidade dos países ricos. Nas palavras da autora: (...) A dissimulação e a extrema discrição seriam os atributos principais em uma definição de poder exercido elegantemente; o poder elegante jamais é identificado como poder. E ele é verdadeiramente elegante quando, cativados pela ilusão de liberdade, os que a eles estão submetidos negam, repetidamente sua existência. É uma forma de manter o cabresto na boca dos subordinados sem deixar que eles sintam o poder que está dirigindo. Em suma, o poder elegante não força, não recorre ao cacete nem às correntes, simplesmente ajuda. Imperceptivelmente, o monopólio estatal da violência se transforma, no caminho de uma crescente discrição, em um monopólio estatal da solicitude, e, com isso, torna-se mais aceitavelmente poderoso, embora não menos poderoso. (2000:18). Como todo poder que se preza em manter-se forte, a ajuda atua por mecanismos dissimulatórios, lançando mão de apelos pretensamente morais para consolidar sua hegemonia. Afinal, quem ousa desconfiar daquele que está ajudando ou se solidarizando com o outro? Qual teria sido o mecanismo principal de coerção do imperialismo moderno, senão a ajuda ao desenvolvimento? Atualmente, não é justamente em nome da paz mundial que, por exemplo, os Estados Unidos têm agido para nos livrar de terríveis bombas de destruição em massa que o Iraque estaria tramando
23 23 contra a humanidade 18? Continuando sua milícia difícil de engolir, não é esse mesmo país que se auto proclama protetor dos países pobres e do mercado capitalista, desrespeitando sistematicamente as conquistas cidadãs? Por falar em mercado, cabe considerá-lo como fenômeno de trocas inerente às sociedades, existente mesmo antes do capitalismo. Como defende Mauss (1950), o mercado de dádivas, por exemplo, é comum desde os clãs, tribos e povos antigos, tendo influenciado a própria configuração da economia atual. No seu ensaio sobre a dádiva, o autor investiga os hábitos e significados de dar e receber presentes nas diversas culturas humanas, analisando as regras implícitas, as obrigações veladas, os comandos e poderes estabelecidos nos gestos aparentemente inofensivos de solidarizar-se com o outro. O conjunto de deveres morais que se orquestram a partir da ajuda permeia o próprio desenvolvimento social, reconfigurando as modalidades de trocas em distintos contextos sóciohistóricos. Veja-se o exemplo da esmola e da caridade. Os povos Haúças do Sudão, nas safras do trigo da guiné, tinham por dever distribuir presentes aos pobres para evitarem as febres. Neste caso, a teoria da esmola se alimenta pela noção da dádiva e da fortuna, por um lado, e a noção de sacrifício, por outro. Trata-se de uma liberdade obrigatória, onde a dádiva se transforma em princípio de justiça e de elevação espiritual. Tal alento ganharia ainda força maior com o surgimento e consolidação do cristianismo e o islamismo, onde a esmola se reveste de caridade para confortar almas pecadoras (Id, 1950). Outra característica importante da dádiva se refere ao seu sentido desinteressado e obrigatório ao mesmo tempo, onde mescla ajuda e poder nas mediações societais que vêm se conformando ao longo dos tempos 19. A obrigação se expressa pelo caráter mítico, imaginário, simbólico e coletivo 18 No Império, Hardt e Negri (2003) vão falar do poder de polícia, outorgado aos EUA para que eles atuem em nome da paz mundial, como uma das muitas formas de soberania imperial. 19 Mauss priorizou seu estudo no que chama de os três dilemas da dádiva: a obrigação da dar, a obrigação de receber e a obrigação de retribuir.
24 24 que assumem as coisas trocadas, que nunca estão completamente desligadas de seus agentes de troca, porque esses acabam dando e retribuindo a si mesmos 20. Esse símbolo de vida social traduz a forma com que as pessoas e grupos se imbricam uns nos outros, (...) e sentem que se devem tudo (Id, 1950:103). Noutro sentido, dar é também manifestar superioridade, ser mais e estar mais alto. Aceitar sem retribuir, ou sem retribuir mais, é subordinar-se, tornar-se servidor, pequeno, cair mais para baixo. Noutras palavras, o mercado de dádiva expressa a típica complementariedade entre ajuda e poder presentes nas relações sociais, donde o cuidado se forja como mediação entre a tutela e a autonomia dos sujeitos. A dádiva nas sociedades contemporâneas pode ser visualizada, por exemplo, nas ações do Estado moderno, que vem cuidando dos indivíduos e grupos sociais num misto de ajuda e poder (ou ajuda-poder), com forte objeção em favor do capital. Nesse contexto discursivo, como questionar o cuidado, entendido como gestão da ajuda-poder, nas políticas sociais do Estado capitalista, se ele se apresenta como benefício aos cidadãos? Um breve adendo contemporâneo ilustra o que se vem discorrendo 21 : no Brasil, as ações para o combate à pobreza e à fome historicamente têm perpetuado o assistencialismo, a focalização seletiva, a crescente marginalização social, o clientelismo corrupto, a inoperância da máquina burocrática estatal e a restrição de oportunidades cidadãs 22. Tais características constituem exemplos do poder tutelador presente nas relações de ajuda viabilizadas pelo Estado. 20 Se damos as coisas e retribuímos é porque nos damos e nos retribuímos respeitos - dizemos ainda delicadezas. Mas também é que damos a nós mesmos ao darmos aos outros, e, se damos a nós mesmos, é porque devemos a nós mesmos nós e o nosso bem aos outros (Maus, 1950:140). 21 A conformação da gestão do cuidado nas políticas sociais e da saúde, assim como a discussão sobre Estado moderno, será retomado adiante, no decorrer deste referencial teórico. 22 Cabe aqui uma análise dos relatórios sobre o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) dos países, desenvolvido pelo PNUD/ONU desde 1990, onde o Brasil tem se destacado pela profunda desigualdade social. Por oportuno, o documento integral do Projeto Fome Zero (Instituto Cidadania,2001) realiza uma análise sobre as políticas adotadas na década de noventa, revelando o grau de ineficácia das mesmas perante um problema tão antigo, quanto possível de superar, como é a questão da fome. Por ironia, o Partido dos Trabalhadores (PT), mesmo partido que outrora criticava o assistencialismo e a inoperância dos programas de combate à fome no citado documento, hoje no poder, não vem conseguindo fazer muito diferente.
25 25 Em uma das suas conclusões 23, Mauss antecipa a centralidade do trabalho para a autonomia crítica dos sujeitos, alertando para a necessidade de se evitar os excessos de generosidades e individualidades. Apesar de se observar uma certa tendência exagerada na priorização do individual sobre o coletivo em algumas trechos do livro, denotando uma certa dubiedade ideológica 24, o autor parece coerente quando propõe uma volta ao arcaico e às sensibilidades presentes na alegria de dar em público, nas celebrações artísticas, na hospitalidade e nas festividades, como valores centrais para as relações humanas do futuro. A tênue vertente de poder presente nas relações de ajuda também podem ser esmiuçada nos seus micropoderes, no caminho proposto por Foucault (1979). O poder disciplinador e classificatório, imprimido por uma solidariedade moral e socialmente aceita, como aquela exercida nos hospitais, hospícios e escolas 25, constitui um exemplo oportuno e instigante. Nesse nível micro das relações humanas, tome-se o caso da saúde. Como duvidar do médico, que além de deter o conhecimento sobre o meu corpo, promove o bem da minha saúde a partir do saber-poder? O cuidado, aliás, tende a ser melhor compreendido no campo da assistência à saúde, uma vez que as profissões têm progressivamente aprisionado o cuidar em procedimentos, tarefas, tecnologias e rotinas hospitalares para cuidar das doenças, fragmentando a pessoa em especialidades distintas 26. Aqui, a ajuda como poder elegante aparece em sua face mais velada, seja porque a enfermidade fragiliza as pessoas diante da iminência da morte, seja porque o poder do cuidado à saúde historicamente sempre se 23 O autor subdivide sua conclusão em três dimensões: moral, sociológica e da economia política. 24 Contudo, é necessário que o indivíduo trabalhe. É necessário que seja forçado a contar mais consigo de que com os outros. Por outro lado, é preciso que ele defenda os seus interesses, pessoalmente e em grupo. O excesso de genorosidade e o comunismo ser-lhe-íam tão prejudiciais, a ele e a sociedade, como o egoísmo dos nossos contemporâneos e o individualismo das nossas leis. (...) Não é desejável que o cidadão seja nem demasiado bom e subjetivo, nem demasiado insensível e realista. É necessário que ele tenha o sentido agudo de si próprio mas também dos outros, da realidade social (será que existe, nestas coisas de moral, uma outra realidade?). É necessário que ele aja tendo-se em conta a si próprio, aos subgrupos e à sociedade (Mauss, 1950:180). (Grifos meus). 25 A caracterização do poder disciplinar hegemônico nas sociedades modernas pode ser brilhantemente visitado em Foucault ( ).
26 26 aproximou do sacerdócio e da benevolência, legitimando hegemonias seculares 27. No escopo da educação, ou no cuidado envolvido na formação de cidadãos, o modo como os discursos pedagógicos são utilizados para diferenciar, distinguir e segmentar grupos, coibindo-lhes processos participativos mais efetivos, foi analisado por Popkewitz (1998), tomando como base a teoria crítica pós-moderna. Ao avaliar o programa Teach For América, destinado a recrutar e treinar pessoas com diplomas em outros campos distintos da educação para ministrar aulas em escolas da periferia, o autor investiga os efeitos de poder presentes nos discursos e práticas dos professores participantes da referida proposta. A concepção de efeito de poder discutida em Popkewitz (1989) procura captar melhor a nãolinearidade da realidade, buscando resgatar como as ações produtoras de discursos 28 influenciam a participação na sociedade. A soberania aqui aparece naquele que domina e reprime as ações (1989:13), tendo uma transitoriedade inerente à pós-modernidade. Não significa dizer que tal poder seja menos opressor ou regulatório, mas que sua fugacidade vem ganhando maior centralidade. Demo (2002b) posiciona em favor da teoria dos efeitos de poder três referências teóricas: a definição de poder em Foucault, a Teoria Crítica 29 da Escola de Frankfurt e as teorias pós-colonialistas de teor pós-moderno. A questão central discutida tanto nesses autores, como em outros que criticam o forte universalismo da racionalidade moderna 30, é que o conceito de poder, como é visto tradicionalmente centrado em espaços e soberanias institucionalizadas, não corresponde a `fluidez do poder atual (Bauman,2002). Com o advento da mobilidade crescente do capital e 26 Para aprofundamento sobre a política de saúde e crítica ao processo de trabalho dos profissionais, ver: Campos (1991,1992), Mendes (1993), Teixeira (1989), Fleury (1997). 27 Sobre o assunto ver, dentre outros: Leloup (1996), Silva (1986), Germano (1993), Rezende (1989), Pires (1989). 28 Thompson (1995), um dos expoentes da Teoria Crítica, defende a concepção de ideologia como discurso do poder, referindo-se ao uso das formas símbólicas como mecanismo para sustentar ou estabelecer relações de poder. 29 Um dos problemas apontado por Demo para a Teoria Crítica é que ela precisa exercitar melhor, além da crítica, a auto-crítica.
27 27 flexibilização do tempo/espaço, o poder igualmente acompanha tais processos, reconfigurando seus mecanismos e manifestações de domínio. Na tentativa de arquitetar uma teoria de soberania para essa nova forma global de economia capitalista, Hardt e Negri (2002) defendem que se estaria vivendo num Império. O Império difere do imperialismo moderno que o antecede, principalmente, por não ter um centro único de poder definido, mas redes de poder que o sustentam. Por outro lado, as forças criadoras da multidão que o amparam são capazes de construir um contra-império tipicamente revolucionário. Visualiza-se aqui a noção de efeito de poder, que pode ser visto tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. O livro está estruturado em quatro partes, dividido por um intermezzo entre as partes 2 e 3 que (...) funciona como uma dobradiça que articula o movimento de um ponto para o outro. (2002:17). Na parte 1, é apresentada a problemática ou constituição política do Império. Na segunda e terceira partes, são discutidas as transições de soberania e produção da modernidade para a pós-modernidade, com resgate histórico oportuno. O intermezzo vai nos instigar às fustigantes possibilidades do contra-império, constituindo-se num momento propositivo. Na última parte, os autores procuram identificar as alternativas à subversão e declínio do Império, traçando demandas políticas relevantes para o poder produtivo da multidão. Para a concepção de politicidade do cuidado aqui argumentada, se focará especificamente na discussão sobre biopoder contemporizada pelos autores, seja porque o cuidado é também manifestação biológica, seja porque o cuidar é gesto humano subjetivo 31 e produzido. Porém, para contextualizar essa discussão na nova teoria de poder proposta, cabe um rápido passeio pela macropolítica do Império. Inicialmente, os autores se propõem a entender a constituição da ordem econômica mundial contemporânea por meio do conceito de Império. Advertem que não se trata de uma metáfora, mais de construção teórica 30 Bauman ( ), Santos ( ) e Harvey (1989). 31 Subjetivo porque integra a noção de sujeito em sua dimensão definidora, processual e reconstrutiva a um só tempo, onde os universos mítico/simbólico e empírico/racional se complementam (Morin, 1999). A subjetividade será mais aprofundada adiante, quando se apresentará o triedro emancipatório do cuidar.
28 28 que se utiliza, inclusive, de análises sobre o império romano (pois acreditam que ele teria influenciado a tradição euroamericana que levou a atual ordem mundial). O conceito de império como uma nova soberania econômica global se alicerça em quatro pressupostos fundantes. Primeiro, o império abrange a totalidade do espaço, portanto sem fronteiras ou demarcações rígidas, tão comuns à modernidade. Segundo, constitui uma ordem que suspende a história, no sentido de que nem foi conquista, nem terá fim. Ou seja, o Império age para dizer que as coisas são e serão assim, hoje e sempre. Em terceiro lugar, o objeto de governo imperial é a vida produtiva, portanto inerente ao social presente em múltiplos e diversos espaços. Aqui aparece a discussão sobre biopoder, mecanismo de atuação primordial do império. Por último, o império se dedica por uma paz fora da história, lançando mão do poder de polícia e de guerras justas 32 para manter um estado de exceção justificado. Hardt e Negri (2002) não acreditam que os Estados Unidos da América possam ser o centro de um novo projeto imperialista, embora esse país exerça um poder importante. O atual império não tem centro único de poder, uma vez que o mecanismo de coerção utilizado opera no seio da vida social e produtiva das pessoas, por meio de uma biopolítica que rege suas escolhas. O império atua em redes, malhas intrincadas, é disperso e pouco localizável. Bauman (2001), argumentando em favor de uma modernidade líquida, também discute os não-lugares de poder, caracterizado por estratégias dinâmicas de dominação, como a fuga, a evitação e o descompromisso (2001:50). Contrapondo-se ao panóptico focaultiano, o autor descreve o 32 Os autores defendem que os EUA são os principais responsáveis pelo uso da força policial em nome da paz mundial. Ressurge a ideologia da guerra justa, de certa forma sublimada ou exorcizada pela modernidade. Interessante observar que, embora a obra se situe na época da guerra do Golfo Pérsico, os argumentos analíticos utilizados cabem perfeitamente para a recente guerra dos EUA contra o Iraque. Veja-se o seguinte trecho (2002:30): O conceito tradicional da guerra justa envolve a banalização da guerra e a celebração da luta como instrumento ético, idéias que o pensamento político moderno e a comunidade internacional de Estadosnações repudiam com energia. Essas duas características tradicionais reaparecem em um mundo pós-moderno: de um lado, a guerra é reduzida ao status de ação policial, e de outro novo poder que pode exercer legitimamente funções éticas por meio de conflito é sacralizado..
29 29 caráter fluído, mas não menos opressivo, de um poder tipicamente pósmoderno. A transformação do poder, discutida tanto em Bauman (2001), quanto em Hardt e Negri (2002), diz respeito à transição da sociedade disciplinar moderna normalizadora, prescritiva e limitadora de movimentos e idéias - para a sociedade de controle (que se desenvolve nos limites da modernidade e se abre para a pós-modernidade) na qual mecanismos de comando se tornam cada vez mais democráticos, cada vez mais imanentes ao campo social, distribuídos por corpos e cérebros dos cidadãos (2002:42). Assim, ao invés de rígidas instituições, regras ou dispositivos reguladores de costumes e práticas, o poder é exercido por meio da própria dinâmica e subjetividade peculiar das pessoas, que passam a se controlar. Trata-se do biopoder, um poder que transcende a dicotomia obediência/desobediência, ramificando-se na ambígüa esfera produtiva e reprodutiva da vida social. (...) Biopoder é a forma de poder que regula a vida social por dentro, acompanhando-a, interpretando-a, absorvendo-a e rearticulando. O poder só pode adquirir comando efetivo sobre a vida total da população quando se torna função integral, vital, que todos os indivíduos abraçam e reativam por sua própria vontade. Como disse Foucault, a vida agora se tornou objeto de poder. A função mais elevada desse poder é envolver totalmente, e sua tarefa primordial é administrá-la. O biopoder, portanto, se refere a uma situação na qual o que está diretamente em jogo no poder é a produção e reprodução da própria vida. Hardt e Negri (2002:43). Por acreditarem na imanência do fenômeno do poder, Hardt e Negri defendem que essa concepção de biopoder já fora anunciado na obra de Michel Foucault 33. A discussão de bio-poder em Foucault (1985) lança as bases da teoria do império, ou de como a gestão das forças do corpo foram, e continuam a ser, extremamente estratégicas para a acumulação capitalista. A articulação entre a reprodução humana e o capital, garantindo uma força produtiva dócil, foi o principal objeto de intervenção 33 Dentre outras, refenciam principalmente A História da Sexualidade. No Brasil, tradução de Ma. Thereza da Costa Albuquerque e J. A Güilhon Albuquerque, Rio de janeiro: Edições Graal, 8º ed, 1985,volumes I,II e III.
30 30 do poder disciplinador. A própria disciplina, tão formatada e institucionalizada na era moderna, é discutida como uma introjeção inerente à vida social. O poder, tanto em Foucault (1985), como em Hardt e Negri (2002), encarrega-se mais da vida do que da ameaça da morte, dando-lhe acesso direto ao corpo biológico articulado intrinsecamente com a história. Para Foucault (1985:134), é principalmente por meio desta bio-política, que negocia domínios sobre a vida na história dos homens, que o saber-poder tem se constituído como um agente de transformação da vida humana. Assim, o poder que regula a vida é continuamente subvertido por ela, numa trama emaranhada de relações que sustentam a própria sociedade. O poder, aqui, aparece como uma situação estratégica complexa, permeada por disputa e sublevações, num determinado contexto sócio-histórico. Um olhar atento no trecho abaixo mostra como Foucault (1985:134) introduz a discussão não só da concepção de biopoder, como também do próprio império: O homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, saúde individual e coletiva, forças que podem modificar, e um espaço em que pode reparti-las de modo ótimo. Pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico reflete-se no político; o fato de viver não é mais esse sustentáculo inacessível que só emerge de tempos em tempos, no acaso da morte e de sua fatalidade: cai, em parte, no campo do saber e de intervenção do poder. Este não estará mais somente às voltas com sujeitos de direito sobre os quais seu último acesso é a morte, porém com seres vivos, e o império 34 que poderá exercer sobre eles deverá situar-se no nível da própria vida; é o fato do poder encaregar-se da vida, mais do que a ameaça da morte, que lhe dá acesso ao corpo. A contemporização que Hardt e Negri fazem da concepção de biopoder fundamenta-se, sobretudo, nas transformações do capitalismo. Se antes o poder se espalmava em instituições disciplinadoras para reproduzirse, hoje ancora-se bem mais na sua volatividade e fluidez premente (Bauman, 2001). Assim, quanto mais leve e dissimulado, mais o poder se mantém como mecanismo de interdição e controle. Acompanhando as 34 Grifos meus.
31 31 transformações do capital, que hoje rompe barreiras físicas e territoriais, o poder igualmente se fragmentou nos corpos humanos, perdendo em unidade definidora capturável, ganhando em extensão irrepreensível. Essa argumentação ganha força ainda maior quando os autores explicam que, no Império, não existe mas lado de fora. A dialética do dentro e fora, ou do eu e outro, tão bem arquitetada pela modernidade, fora substituída por um jogo de graus e intensidade, de hibridismos e artificialidades (2002:207). Ou seja, apesar da coerção externa, as pessoas obedecem ou não muito mais por dinâmica interna, por uma biopolítica que lhe é intrínseca. É precisamente sobre a produtividade das pessoas que o poder imperial age, por mecanismos internos de controle mediados pelo biopoder. Nesse sentido, tanto Hardt e Negri (2002), quanto Demo (2002 a,b,c), vão argumentar sobre a centralidade do político para a vida social e biológica. Ao contrário do que se poderia supor, visto que no Império não existe uma sede específica de poder, a política não desaparece, mas sim sua soberba autonomia. Trata-se de um caos ordenado que, mesmo sendo dinâmica, rege-se também por regularidades 35. Uma das regularidades imprimidas pelo Império refere-se a forma como ele age ou comanda a sociedade de controle. Os autores falam do imperativo triplo do Império (2002:217), composto por três momentos distintos. O primeiro, inclusivo, diz respeito à face liberal e magnânima, da qual todos são democraticamente bem-vindos ao Império. Num segundo momento, diferencial, ocorre a afirmação das diferenças dentro do império. É estimulada toda sorte de fortalecimento de identidades - regionais, culturais, étnicas ou religiosas - visando uma funcionalidade orgânica e pacífica dentro do próprio Império. Aqui, a própria sociedade, internamente, passa a se auto-controlar, segmentando-se, individualizandose e consumindo-se destrutivamente. A ordem geral implícita é que, Em 35 Compondo essa possível regularidade, Hardt e Negri (2002:330) propõem uma pirâmide da constituição global do Império que, a despeito da desordem aparente, arquitetam pontos de referência. Assim, o amplo
32 32 geral, o império não cria diferenças. Recebe o que existe e trabalha com o que recebe (2002:219). A seguir tem-se o terceiro momento, gerencial, onde o Império apenas administra os híbridos devidamente fragmentados em interesses e poderes 36. O que sustenta e mantém o Império 37 é precisamente a força vital e produtiva da multidão. Aqui reside o substrato potencialmente subversivo das estruturas opressoras do poder imperial. O biopoder, inerente à vida, à produção advinda do trabalho e da criatividade humana, adquire centralidade tanto para quem domina, quanto para que está 38 submetido. A organicidade biológica do poder foi extensamente analisada por Demo (2002 a,2002b,2002c). Advém desse autor uma referência importante ao debate sobre igualitarismo - possível pela democratização do poder - em oposição a igualdade contraditório porque esse mesmo poder, sendo estrutural, não desaparece facilmente. Estudando teóricos que se debruçam sobre o comportamento biológico dos seres, desvela análises importantes sobre cooperação, competição, altruísmo, solidariedade e controle social igualitário. Na base dessa discussão, está a pulsação de uma politicidade biologicamente plantada, o que torna os humanos, à exemplo de outros seres vivos, (...) profundamente gregários e cooperativos, embora profundamente competitivos. Dessa tessitura não-linear jorra muito sofrimento, mas também muita criatividade (2002 a:46). espectro de corpos constitucionais (Estados-nação, associações de Estado-nação, organizações internacionais de todos os tipos) formatariam uma estrutura piramidal matizadora das atividades produtivas em geral. 36 O imperativo triplo do império se sintoniza, particularmente, tanto com a idéia do fascismo societal, teorizado por Santos (1998), quanto com a proposição de Bauman (1999), no sentido de que, na pós-modernidade, teria-se de passar da tolerância à solidariedade. 37 A teoria do Império e a concepção de poder em Foucault é duramente criticada por Holloway (2003), na sua polêmica proposição de mudar o mundo sem tomar o poder. Nas palavras do autor (2003:66): (...) na análise de Foucault existe uma imensa multidão de resistências que são essenciais ao poder, mas não existe possibilidade de emancipação. A única possibilidade é uma mutante constelação de poder-e-resistência sem fim. Quanto a Hardt e Negri, ponderam que o caráter paradigmático do império se transforma em funcionalismo, denunciando um certo posicionamento anti-dialético e anti-humano dos autores. Apesar de certa pertinência no argumento de Halloway, sobretudo no que diz respeito a Foucault, considero exagero dizer que Hardt e Negri seriam positivistas. A teoria do Império realiza uma contundente re-leitura marxista, calcada na dialética histórico-estrutural e contemporizada pelas transformações atuais do capital. Retornarei a tese de Holloway (2003), por sinal igualmente consistente e relevante para minha discussão, quando for falar da articulação do cuidado com a conformação das políticas sociais no Estado capitalista. 38 Estar em sentido transitório, de passagem, não-perpétuo, permeado de conflitos e tortuosidades.
33 33 A criatividade e reconstrução da vida estão presentes na própria biologia que conforma a humanidade. A teoria da autopoiese, em Maturana e Varela (1997), abre um debate importante sobre a autonomia do ser vivo. Apesar do visível fechamento epistemológico e certo determinismo sistêmico observáveis na argumentação destes cientistas 39, impressiona o vigor dessa produção, caracterizada pela firmeza de idéias e pontos de vistas. A principal contradição em Maturana é que ele se mostra surpreendentemente dialético, ao defender a autopoiese enquanto fenômeno de relações e produções internas aos seres vivos, e extremamente mecanicista, ao negar maiores transformações da máquina autopoiética desencadeada por fatores externos. Tal meandro aparece logo no início do livro, quando os autores definem as máquinas viventes enquanto máquinas autopoiéticas: As máquinas autopoiéticas são máquinas homeostáticas. Porém, sua peculiaridade não reside nisto, e sim na variável fundamental que mantém constante. Uma máquina autopoiética é uma máquina organizada como um sistema de processos de produção de componentes concatenados de tal maneira que produzem componentes que: I) geram os processos (relações) de produção que os produzem através de suas contínuas interações e transformações, e II) constituem a máquina como uma unidade no espaço físico. (Maturana e Varela, 1997:71). As relações de produção do fenômeno autopoiético são concebidas primordialmente como processo que constitui o organismo vivo. As interferências externas são vistas apenas como perturbações que provocam reações de compensação dentro do sistema. A noção de autopoiese como relação necessária e suficiente para a organização dos sistemas vivos, bem como o domínio fechado dessa organização, são 39 Apesar de Maturana e Varela terem lançado juntos a teoria da autopoiese, o pensamento dos dois divergiram com o decorrer do tempo. Enquanto Maturana posiciona-se firmemente em torno do seu fechamento estrutural e da clausura operacional da máquina autopoiética, Varela opõe-se a esse sistemismo com o conceito de enaction, no sentido de fazer emergir ou trazer à mão. No prefácio da edição comemorativa dos 20 anos do lançamento da obra autopoiese, os dois autores contemporizam suas divergências, vivências e aprendizados (Maturana e Varela, 1997).
34 34 sustentadas veementemente 40. A idéia de homeostase, tão presente no discurso da biologia clássica, ainda tem forte influência no conceito de autopoiese, apesar dos avanços de considerar a autonomia, a individualidade e a unidade da diversidade como características estruturais dos seres vivos. Embora as idéias de Maturana tenham fortes traços do sistemismo funcionalista, de inspiração positivista, o dinamismo das transformações operadas pela autopoiese dos seres vivos salta aos olhos. A centralidade da autonomia dos fenômenos biológicos, assumida pelo autor como traço primordial e inerente à vida, traduz a vanguarda dessa teoria. O pulsar dos fenômenos naturais, tão irreverentemente caracterizados tanto pela termodinâmica dos processos irreversíveis em Prigogine (1997), quanto pela autopoiese em Maturana e Varela (1997), consubstanciam um forte argumento em favor da politicidade dos fenômenos vivos. Na contundente crítica que Maturana faz à evolução darwiniana, considerando-a uma justificação biológica para a estrutura socioeconômica do capitalismo, é possível visualizar sua opção radical pela construção da autonomia dos sujeitos em dois posicionamentos. Primeiro, quando o autor advoga que, biologicamente, os indivíduos não são descartados ou selecionados pela competição natural darwiniana. O modo de ser autônomo dos seres vivos não pode ser desconsiderado nas explicações sobre os fenômenos naturais. Um outro posicionamento nesse sentido, embora colocado com cuidado e mantendo questões em aberto, diz respeito a uma possível relação entre fenomenologia biológica e social 41. Mantendo-se fiel ao fechamento sistêmico positivista, Maturana defende que, se a sociedade humana pudesse ser concebida como sistema autopoiético, a ela se aplicariam suas proposições sobre sistemas viventes como unidades. Ou 40 Em outras palavras, sustentamos que a noção de autopoiese é necessária e suficiente para caracterizar a organização dos sistemas vivos. (Maturana e Varela, 1997:75). 41 Varela desaconselha essa relação linear (Maturara e Varela, 1997).
35 35 seja, admitir-se-ía transformações dentro do sistema social, e não dele como um todo, em sentido mais revolucionário e emancipatório 42. O que se abstrai dessa discussão é que o caráter disruptivo, autopoiético e irreversível inerente aos seres vivos, concebido de maneira dialógica e dialética, fundamenta o argumento da politicidade do cuidado. Nessa direção, e considerando as críticas ao sistemismo de Maturana, a reconstrução da ajuda em prol da autonomia do outro, calcada em relações de poderes potencilmente subversivas, pode configurar um cuidar de cariz mais emancipatório. A autonomia intrínseca dos sujeitos como potencial transformador, aliado a historicidade e dinamicidade de uma realidade complexa e imprevisível, subsidiam a idéia da politicidade do cuidado enquanto gestão inteligente da ajuda-poder. Hardt e Negri (2002) afirmam que o potencial biopolítico humano transita entre o virtual e o possível, colocando o trabalho como categoria capaz de concretizar virtualidades. Bauman (2000) fala que a pósmodernidade pede mais substância política, de preferência que acompanhe os poderes e movimentos do capital, enfrentando-o na ágora conflitante de desejos e imperativos. Maturana e Varela (1997) propõem que o fenômeno da autonomia é inerente à vida e Prigogine (1997) confirma a irreversibilidade dos fenômenos vivos. Demo (2002 a, b, c) objeta em favor de uma politicidade capaz de subverter poderes e renda, ou de uma solidariedade de baixo para cima, tornando as sociedades mais igualitárias. A partir desses autores, argumenta-se aqui em torno de uma proposição disruptiva do cuidar, por um cuidado que se reconstrua sempre para cuidar melhor, por meio da centralidade do político na gestão da ajuda-poder. O cuidar sobrevive da relação de vínculo que o alimenta, do zelo sobre a relação de poder estabelecida. Cuida-se, sobretudo, para preservar uma relação de autoridade, seja na perspectiva disciplinadora de Foucault (1987), ou no horizonte de controle pós-moderno. Cuida-se para forjar 42 Uma análise mais aprofundada sobre a forte presença do funcionalismo sistêmico de teor positivista em Maturana pode ser vista em Demo, P. Complexidade e Aprendizagem: a dinâmica não linear do conhecimento,
36 36 possibilidades e oportunidades, mas também para se manter numa situação de domínio tanto cômoda, quanto subjetiva e organicamente encravada. O cuidado também é contra-poder, pois restaura o corpo e a subjetividade das pessoas. Nesse sentido, é estritamente disruptivo e inaugurador de novas ordenações de poderes. Por meio do cuidado se é capaz de dominar, mas também cultivar, pela própria dinâmica interna, a virtualidade real de se ser dominado. Dominado pela independência (relativa) do outro que, sendo sujeito e objeto de cuidado, fortaleceu sua intrínseca habilidade propositiva, criativa, produtiva, política. Assim, seja no cuidado à saúde, que fortalece a integralidade do ser-no-mundo, seja na luta política, que dignifica direitos e movimentos por conquistas cidadãs, há sempre uma possível utopia a ser resgatada pelo cuidado, oportunizada melhor pela autonomia capaz de enfrentar criticamente as adversidades. Buscar a politicidade do cuidado implica em aprofundar as alternativas de libertação presente no ser humano e no todo, inerente às redes de poder que os compõem. É propor a mudança e a ruptura a partir das manhas e teias desse mesmo poder, sabendo-o infra-estrutural. Não se trata de assumir dicotomias entre solidariedade e competição, mas de incluí-las num mesmo espaço de produção social, pois a realidade é complexa demais para adotar uma única postura para a vida. No Império, a transformação do capital é conceituada como pósmodernização e informatização do capitalismo por Hardt e Negri (2002). Sobre essa mesma transição do capital na condição pós-moderna, Harvey (1989) vai teorizar sobre a passagem do fordismo à acumulação flexível; e Bauman (2001), na mesma linha, pondera em torno do capitalismo software e da modernidade leve. No embalo de tais dinâmicas, mudam as configurações de poder do capital: antes, disciplinares, rígidas e coercitivas; agora, controladoras, fluídas e administradora de diferenças. No embalo de tais mudanças, parece acertado dizer que a inteligência do poder pósmoderno, ou do biopoder, reside justamente na captação da energia vital e São Paulo: Atlas, 2002.
37 37 produtiva do ser humano. Como parasitas virtuais, a máquina imperial, no melhor estilo do filme Matrix 43, produz e controla realidades, seja pelo estímulo infinito ao consumo, seja pela produção de necessidades. Para produzir as subjetividades que a sustentam, a máquina Impérial cuida da multidão. Alimenta-lhe ilusões de paz e de fim da história, canaliza suas agressividades para a competitividade capitalista, individualiza escolhas e oportunidades, transforma cidadania em bem de consumo e fornece o conforto do ciberespaço. Felizes, tanto quanto se pode, na ágora entre o virtual e o real pós-moderno, as pessoas seguem se controlando em sintonia ao comando imperial. O êxito em subverter o comando imperial revela-se, sobretudo, nas gretas e manhas desse mesmo poder. Ou seja, utilizando-se de mecanismos semelhantes ou inerentes ao próprio império, minando sua constituição por dentro, exaurindo sua vitalidade que, afinal, pertence aos homens e mulheres, é que a politicidade da multidão pode vir a derrubá-lo. Ao contrário do imperialismo, no império não há conquista de espaços, mas queda de um poder que é tanto forte, quanto vulnerável 44. Para se libertar do Império, amplas e diversas formas de utopias precisam ser forjadas. A politicidade do cuidado, por operar no locus das relações sociais produtivas, pode vir a se constituir em instrumento importante para desencadear rupturas latentes. Trata-se do resgate da vontade de ser contra da multidão, ou das múltiplas rebeldias capazes de subverter domínios. O potencial emancipatório do cuidado revela-se na capacidade de produzir subjetividades, desejos e projetos de autonomia. Ou, noutros 43 Em The Matrix, filme produzido pelos EUA em 1999, direção Andy e Larry Wachowsh, as máquinas vencem a batalha contra os homens. Por meio de softwares, Matrix produz diversas realidades para a humanidade, que passa a viver em cidades virtualmente planejadas, alimentando sonhos, desejos e necessidades reais. Tendo decifrado o código genético do homem, as máquinas o clonam, exercendo poder de comando sobre sua vida e sua morte, já que conseguiram decifrar e aprisionar sua energia vital. Mas dentro de Matrix também existe um contra-poder, formado por homens que nascem, crescem e vivem numa cidade real, localizada no subsolo. Ou seja, encravada dentro da virtualidade produzida por Matrix, há uma força humana que, de baixo para cima, pode subvertê-la. Matrix está disponível em vídeo e DVD pela Warner Home Vídeo. 44 Numa imagem paradigmática mas não exemplar, pois nada justifica o terrorismo, lembro a queda do World Trade Center, ocorrida em 11 de setembro de Mesmo tendo sido um atentado externo, surgiu por pressões internas, tendo sido utilizados os mesmos poderes e tecnologias do poder imperial.
38 38 termos, na utopia de transformar ajuda em autonomia solidária, entendendo-a parte de intrincadas redes de poderes. - Conhecer para Cuidar Melhor, Cuidar para Confrontar, Cuidar para Emancipar A politicidade do cuidado está calcada na reconstrução da autonomia de sujeitos por meio da gestão da ajuda-poder. A defesa dessa concepção se fundamenta pelo que aqui se denomina triedro emancipatório do cuidar: conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar para emancipar 45. Com tal proposição, argumenta-se em favor do conhecimento como forma natural de participar de um mundo socialmente fundado em relações de ajuda-poder. Articulando saber e poder, ou reconhecendo que o cuidado é também uma forma de conhecimento capaz de forjar possibilidades libertárias, amplia-se a capacidade de confronto e reordenamento das assimetrias de poder, emancipando por meio da mesma ajuda que domina e subjulga. Desconstruir progressivamente relações de domínios por meio de ações solidárias implica um resgate crítico da discussão sobre conhecimento e poder. A relação entre saber e poder sempre foi intensa e profundamente dialética, constituindo-se tanto em instrumento de dominação 46, quanto em virtualidade emancipatória. Se assim o for, cabe considerar a proposição de Demo (2000b) por uma política social do conhecimento, onde sejam combatidas não apenas o lado material da pobreza (fome), mas igualmente sua face política (exploração da fome do pobre). O conhecimento aqui preterndido está calcado na reconstrução, na crítica e na múltipla produção de saberes da humanidade. Nutre-se pela politicidade do saber pensar e se forja numa qualidade que é tanto formal, 45 A escolha da metáfora do triedro, meramente ilustrativa, foi inspirada no fato dessa figura geométrica ser formada constitucionalmente por três faces integradas, visualizadas em conjunto e gerando diversas imagens a depender da posição e incidência do jogo de luz e sombras possíveis.
39 39 quanto política (Demo, Pires, 2001). Afinal, para intervir numa realidade complexa e contraditória, não basta instrumentalidade técnica, mas, sobretudo, visão de contexto apurada, negociação árdua de conflitos e dinâmicas por superação de adversidades. Para tanto, necessita-se que a inovação constitua, cada vez mais, a principal instrumentalidade do saber, numa dimensão formativa da cidadania. Para falar de conhecimento, retorna-se a Maturana e Varela. Mantendo a mesma característica incisiva, os autores argumentam em torno das bases biológicas da compreensão humana. A tese central é que (...) toda experiência cognitiva inclui aquele que conhece de um modo pessoal, enraizado em sua estrutura biológica, motivo pelo qual toda experiência de certeza é um fenômeno individual cego em relação ao ato cognitivo do outro (...) (Maturana e Varela, 2001:22). A premissa de que o conhecimento faz parte da própria experiência, portanto inerente aos seres vivos, vai sendo aprofundada e retomada. Assim percebido, o conhecimento é descrito como uma ação efetiva da biologia, que torna possível tanto a diversidade da natureza, quanto a unicidade dos organismos. Encarado também na relatividade que o constrói, posto que conhecer é apreender o mundo por meio de fenômeno biológico individual, o conhecimento é colocado como uma forma de participar da vida. Utilizando o aforisma empregado pelos autores: Viver é conhecer. Viver é a ação efetiva no existir como ser vivo (id., 2001:194). A argumentação sobre o sistema nervoso, como uma estrutura biológica que possibilita expandir o domínio de cognição e condutas do ser vivente, constitui uma centralidade relevante. Embora concebido de maneira plástica, versátil e susceptível à externalidade, predomina nos autores a idéia de clausura operacional das estruturas nervosas. A defesa de que o sistema nervoso aprimora a autopoiese vai se delineando com 46 (...) suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e terrível materialidade. Foucault (2002:8).
40 40 firmeza em duas concepções. Primeiro, que a ampliação do domínio cognitivo dos seres vivos se relaciona com a diversidade de configurações que o sistema nervoso pode apresentar. Segundo, que tais estruturas possibilitam novas dimensões de acoplamento estrutural 47, ampliando as interações que o ser vivo pode participar. A despeito de certo determinismo sistêmico já referido, a idéia de teorizar sobre o conhecimento como processo de reconstrução inerente aos seres vivos, não restrito somente ao homem, amplia a discussão sobre cognição e ciência. Nesse sentido, a aprendizagem parece figurar como comportamento da própria natureza da qual se faz parte, e a centralidade do homem como senhor da natureza vai perdendo a força de outrora. Outro autor que tem refletido sobre o conhecimento em amplas dimensões, assumindo o paradoxo de colocar o sujeito do conhecimento, ao mesmo tempo, como objeto desse, é Morin (1999). No livro método 3 conhecimento do conhecimento, contempla as múltiplas faces do conhecer: - a biologia e animalidade do conhecimento; - a unidualidade espírito-cérebro (ou a tríade espírito-cérebro-cultura); - a máquina hipercomplexa do cérebro triúnico e seu modus operandi calcado no computo-cogito; - a existencialidade e duplicidades do conhecimento, fundadas nas noções de explicação-compreensão; - as formas objetivas e subjetivas do pensamento (logos-mito); - as similitudes e diferenciações entre pensamento, consciência e pensamento; e, por fim, suas conclusões sobre as possibilidades-limites do conhecimento humano. Apesar de fundamentarse na auto-organização dos processos vivos para investigar os aspectos computantes e padronizados do ato de conhecer, Morin (1999) mantém-se aberto e dialógico nas interpretações, pontuando as incertezas que envolvem desde a relação cognitiva, o meio, o cérebro, a hipercomplexidade da máquina cerebral, até a natureza espiritual e as 47 O acoplamento estrutural é descrito como o mecanismo-chave que o sistema nervoso utiliza para expandir o domínio de interações de um organismo, mediante uma rede de neurônios. Clausura Operacional refere-se ao modo de operar da máquina autopoiética, como uma rede fechada que permite modificações apenas dentro do sistema. (Maturana e Varela, 2001).
41 41 determinações culturais/socioeconômicas do conhecimento. Nesse sentido, distancia-se de Maturana (1997) e avança na teorização do pensamento complexo. Uma das argumentações relevantes da obra é a idéia de que o conhecimento tem uma vocação emancipatória. Tal concepção se baseia na noção de que quanto mais se conhece e se compreende, mais se é capaz de, reconhecendo os limites do verdadeiro, dedicar-se à sua procura e, por meio desse processo incessante de busca, emancipar-se relativamente de certas concepções. Ou seja, a busca da verdade sobre o conhecimento só pode contribuir para a busca da verdade através do conhecimento e faz, em certo sentido, parte desta busca (Id., 1999:33). Diante do desafio da complexidade do real, urge ao conhecimento refletirse sobre si mesmo, situando-se e problematizando-se no exercício processual de aproximar-se da realidade. Nessa perspectiva, advoga ainda que a epistemologia complexa teria que deixar de pertencer a experts e passar a fazer parte do cotidiano das pessoas, reconhecendo aí a exigência de uma revolução mental. As estratégias cognitivas humanas lidam o tempo todo com as dimensões recorrentes e disruptivas inerentes tanto à biologia do cérebro (cérebro triúnico), como à formação do pensamento e consciência humanas (computo/cogito). Estabelece-se uma rica disputa e complementaridade entre simplificação e complexidade do ato de conhecer, onde sujeito/objeto, espírito-cérebro/cultura, explicação/compreensão são orquestrados em favor de entendimentos produzidos pelos sujeitos cognoscentes. Cabe considerar, portanto, que a suposta superioridade do conhecimento humano, assumida secularmente pela modernidade para dominar e extorquir a natureza, não sobrevive sem a animalidade do conhecer presente na própria vida. Para citar um exemplo próximo, a única diferença entre os cérebros do homem e de seu descendente mais próximo, o chipanzé, reside na quantidade de neurônios
42 42 e forma de reorganização cerebral, o que os torna tremendamente semelhantes e diferentes de outras espécies. Sobre a hercúlea tarefa de tentar apreender um mundo complexo, assumindo e (re)criando as limitações de seres recorrentes, programados e replicáveis, Morin (1999:243) arremata com propriedade: Se podemos conhecer o mundo que produz a nossa atividade cognoscente, só podemos conhecer este mundo. Não conseguiríamos conhecer um Mundo Uno, não separado, fora do espaço e do tempo, não comportando distinções nem diferenças. Não saberíamos tampouco conhecer um Mundo sem invariâncias, constâncias, regularidades, feito somente de acasos e diversidades ao infinito. Só podemos logo conhecer um mundo fenomenal, situado no espaço e no tempo, comportando um coquetel de unidade, pluralidade, homogeneidade, diversidade, invariância, mudança, constância, inconstância. Trata-se do nosso mundo uno/diverso dos fenômenos físicos/biológicos/antropológicos submetidos à dialógica ordem/desordem/organização. Isto significa que o conhecimento humano é prisioneiro não somente das suas condições biocerebrais de formação, mas também do mundo fenomenal. Mas isso significa também que essa prisão é seu berço, pois, sem ela, não haveria nem mundo, nem conhecimento, ao menos conhecimento e mundo concebíveis segundo nosso conhecimento. Se o conhecimento pode ser visualizado como uma forma de participar da vida - e se o homem é estruturalmente cuidado como modo de ser-nomundo junto aos entes intramundanos (Heidegger, Boff, 1999) - o ato de cuidar também pode ser concebido enquanto forma de conhecer e reinventar cotidianos. Para se cuidar uns dos outros, numa propulsão tanto criativa e quanto dominadora, incorpora-se, apreende-se e interpreta-se a realidade. Nesse espírito ampliado, entenda-se conhecimento como dinâmica viva de produzir interpretações, significados, críticas e formas de participar da realidade. Conhecer é, sobretudo, reconstruir possibilidades de conviver, atuar e interagir com o planeta, concebendo a disrupção e a provisoriedade como cerne. É a maneira como a natureza se mantém diversa, única e incapturável, reconduzindo tempos, espaços e histórias de forma não-linear e irredutível. Precisa-se, então, conhecer para cuidar
43 43 melhor, porque o cuidado se expressa na intrínseca habilidade de cognição presente na natureza, na cultura e na história dos homens. Diante da pluralidade de sentidos presentes nessa discussão, cabe visualizar o conhecimento como uma forma de interpretação que emerge das capacidades de compreensão e que estão imersas num corpo biológico vivenciador de experiências históricas e culturais, na proposição de uma mente incorporada (reflexão onde corpo e mente foram unidos), em Varela (2003) 48. Adepto da articulação co-dependente entre mente e mundo, o autor defende que a cognição não é uma simples representação do mundo, mas uma ação incorporada, da qual tanto a biologia corpórea, como as percepções da mente, são fundidas e resignificadas. A reflexão aqui é vista não apenas como cognição sobre a experiência, mas como parte dela. A tese defendida é de que tal reflexão precisa interromper cadeias de padrões habituais de recorrência e programação, mantendo-se atenta e aberta. Aberta às possibilidades diferentes daquelas contidas nas representações comuns que as pessoas têm, aberta à vivência reflexiva propiciada pela mente, aberta aos desígnios do caos e da incerteza, aberta às transformações advindas da dúvida e do acaso, atenta às possibilidades emancipatórias que podem advir desse estado de ausência de fundamento, atenta ao que denomina mentes sem selfs (id., 2003). Para Varela, por meio da enaction, os praticantes da atenção/consciência podem começar a romper ciclos automáticos de comportamento condicionado e, por meio do insight que essa experiência revela, a desencadear o desapego a padrões habituais baseados na ignorância e na ação egocêntrica. Tal habilidade ou vivência reflexiva pode ser aperfeiçoada principalmente pela meditação budista. O diálogo 48 O insight central desta orientação não-objetivista é a idéia de que o conhecimento é resultado de uma interpretação contínua que emerge de nossas capacidades de compreensão. Essas capacidades estão enraizadas nas estruturas de nossa incorporação biológica, mas são vividas e experienciadas em um domínio de ação consensual e de história cultural. Elas nos possibilitam compreender nosso mundo ou, em uma linguagem
44 44 que propõe entre budismo, meditação e ciência reside justamente neste ponto, onde a cognição humana, explicada prioritariamente pela ciência, precisaria aprender com outros saberes a arte de manter-se aberta às transformações e emergências do espírito criador. O potencial emancipador dessa teoria centra-se na noção budista de sunyata, entendida como a perda de um ponto de referência fixo ou alicerce no self, no outro ou na relação entre eles que é inseparável da compaixão. Assim, nosso impulso natural, segundo esta visão, é a compaixão, mas essa tem sido obscurecida por hábitos de apego ao ego, como o sol é obscurecido por uma nuvem que passa (Id, 2003:251). A referência ética da compaixão incondicional pelo mundo, portanto, expressa-se no vazio, na experiência única e reveladora de não se ter apoios, apegos, desejos, correntes ou estruturas fundamentais. O autor conclui dizendo ainda que a compreensão da ausência de fundação como sensibilidade não egocêntrica, entretanto, requer que reconheçamos o outro com quem cooriginamos de forma dependente. Se nossa tarefa nos próximos anos, como acreditamos, é construir e residir em uma comunidade planetária, então precisamos apreender a cortar e liberar a tendência de nos apegarmos, especialmente nas suas manifestações coletivas. (id, 2003:256). Se o tendencioso determinismo biológico em Maturana se fecha na noção autóctone de autopoiese, parece que Varela caminhou na direção oposta, encontrando saídas nas ausências infundadas, inspiradas pelas doutrinas do budismo. Com profundo respeito às contribuições desses autores para a noção de autonomia, dinamicidade e multiplicidade dos fenômenos vivos, tal bipolaridade entre objetivismo ou subjetivismo é antigo, encontrando eco tanto na filosofia como na própria ciência moderna criticada por ambos. A habitual discussão entre estrutura e sujeito, determinismo e protagonismo histórico, que nutriu numerosos e profundos mais fenomenológica, elas são estruturas por meio das quais existimos, no sentido de temos um mundo (...) Varela (2003:157).
45 45 debates acadêmos que se tornaram clássicas nas ciências sociais (Minayo, 2001), encontrou um caminho do meio oportuno na noção dialética de realidade histórico-estrutural, donde se contempla movimento e rigidez como partes de um mesmo processo social, cultural, econômico, biológico e multifacetado dos cotidianos históricos. A aposta num caminho único, seja ele fechado ou aberto, não tem dado conta das crises epistemológicas, sociais e econômicas por quais se tem passado (Santos, 2001), nem tão pouco dos dilemas éticos da profunda desigualdade em que a humanidade se encontra (Boff, 1999, Dussel, 2002). Cabe aqui um retorno a Morin (2002), que vem conseguindo balançar tanto as proposições estruturalistas como as subjetivistas, advogando em favor da complexidade do sujeito expresso na noção de homo sapiens demens. Começa pela discussão do método, em sentido epistemológico, justificando que o conhecimento que propõe é complexo porque: i- reconhece que o sujeito humano estudado está inserido no objeto; iiconcebe inseparavelmente a unidade e diversidade humana; iii- concebe as múltiplas dimensões ou aspectos atualmente separados e compartimentados da realidade humana (físicos, biológicos, psicológicos, sociais, mitológicos, econômicos, sociológicos, históricos); iv- entende o homem não apenas sapiens, faber e economicus, mas também demens, ludens e consumanas; v- porque junta verdades separadas e que se excluem; vi- porque alia a dimensão científica e as dimensões filosóficas; e vii- porque resignifica as palavras alma, espírito e pensamento, geralmente perdidas e esvaziadas no campo das ciências. Morin (2002) estrutura o Método 5 humanidade da humanidade em quatro partes. Na primeira, expõe a idéia de trindade humana, expresso por várias outras tríades, e que se expressa basicamente na noção de indivíduosociedade-espécie, facetas imbricadas e indissolóveis de um mesmo uno indivisível. Para além da realidade terrena, a humanidade é discutida, inclusive, como enraizamento cósmico. A segunda parte aborda a
46 46 identidade do sujeito, começando pelo seu âmago, passando pelas identidades polimorfas até a concepção de homo sapiens-demens. Destaca-se, principalmente, a ambivalência e a profunda multiplicidade do sujeito, expressas na unicidade definidora do humano. Partindo da individual/múltiplo, hologramático e complexo humano, na terceira parte passeia um pouco pelas grandes identidades, discutindo os chamados núcleos sociais arcaicos, a cultura, as organizações sociais, o Estado, as identidades histórica, planetária e futura. Por fim, sintetiza, na quarta parte, a proposição pelo complexo humano, discutindo a concepção de autonomia dependente e a noção de homem genérico, em Marx. Longe de se pretender esgotar a profundidade de todas essas teorizações, far-se-á breve discussão sobre a noção de sujeito e autonomia, conceitos centrais para a defesa do triedro emancipatório do cuidar. A idéia de trindade humana parte da argumentação de que o ser humano é duplamente enraizado, ao mesmo tempo, no cosmo físico e na esfera viva. Surgida de uma grande explosão, a vida só foi possível graças a uma primeira organização dentro do caos, que conseguiu se estruturar, complexificar e perdurar diante da e na turbulência. Diante dessa origem cósmica comum, e considerando o princípio hologramático de que o todo está nas partes que compõem o todo, a vida humana carrega a dupla tendência de ordem/desordem, harmonia/revolta, interação/organizações. Nesse sentido, o ser humano seria produto/produtor de uma auto-eco-reorganização viva da qual emergiu a trindade humana. Esta, por sua vez, compõe-se de uma justaposição de trindades: i- indivíduo-sociedadeespírito; ii- cérebro-cultura-mente; iii- razão-afetividade-pulsão. Ao contrário da tendência cartesiana de priorizar partes isoladas sobre o indivíduo, a sociedade ou a espécie, o autor propõe-se a mobilizar em conjunto os três olhares, considerando os antagonismos e complementariedades que integram, de maneira dinâmica, a unidade
47 47 múltipla do humano 49. Ao mesmo tempo, considera que essas trindades interferem e se co-relacionam intimamente com a idéia de cérebro triúnico, de MacLean. Segundo esta tese, o cérebro humano seria uma unidade formada pelo palencéfalo (herdeiro do cérebro réptil, fonte de agressividade, do ócio, das pulsões primárias), pelo mesocéfalo (herdeiro dos antigos mamíferos, ligando-se ao desenvolvimento da afetividade e memória de longo termo) e pelo córtex que, muito modesto nos peixes e répteis, é hipertrofiado nos mamíferos, englobando as estruturas do encéfalo. O ser humano conta também com um neocórtex altamente desenvolvido, centro das aptidões analíticas, lógicas e estratégicas, atualizadas freqüentemente pela cultura 50. Neste contexto complexo, onde razão, pulsão, biologia e cultura se imbricam, Morin, a exemplo de Prigogine (1997), propõe uma aproximação profícua entre as ciências biológicas e humanas, sendo necesário que se reconheçam e complementem nas análises sobre a humanidade. Mesmo diante da diversidade, o ser humano se mantém único, com identidade própria e irrepetível em qualquer outro, embora semelhante e parte desse mesmo outro. O grande paradoxo da unidade múltipla, do unitas multiplex, reside no que une e no que separa o ser humano, e que, ao mesmo tempo, o define, como, por exemplo, a linguagem e a cultura. Para completar esse engodo, a compreensão humana se aprimora principalmente pelas identidades, não pelas diferenças, apesar delas serem necessárias para conformar o uno. Tendo por suposto esse entendimento, as identidades humanas poderiam se expressar: i- pelo componente genérico (fonte geradora e regeneradora do humano, aquém e além das 49 Há, em todo comportamento humano, em toda atividade mental, em toda parcela de práxis, um componente genético, um componente cerebral, um componente mental, um componente subjetivo, um componente cultural, um componente socia.l (Id., 2002:53). 50 O concepção de cultura em Morin confirma a noção do uno múltiplo, onde só permanece o que muda, e só muda o que conseguiu permanecer mutável. O aparecimento da cultura opera uma mudança de órbita na evolução. A espécie humana evoluirá muito pouco anatômica e fisiologicamente. São as culturas que se tornam evolutivas, por inovações, absorções do aprendizado, reorganizações; são as técnicas que se desenvolvem; são as crenças e os mitos que mudam; foram as sociedades que, a partir de pequenas comunidades arcaicas, se metamorfosearam em cidades, nações, impérios gigantes. No seio das culturas e das sociedades, os indivíduos evoluirão mental, psicológica e afetivamente. (Id., 2002:35).
48 48 especializações, dos fechamentos e compartimentos),; ii- pela unidade cerebral; iii- pela individualidade e inteligência sui generis (envolvendo o surgimento do espírito e da consciência); iv- pela unidade afetiva; v- pela existência de certos universais psico-afetivo, como o princípio da reciprocidade e das trocas 51 ; vi- pela simultaneidade dos pensamentos racional/empírico/técnico e simbólico/analógico/mágico. A partir das identidades humanas, entra-se na definição de sujeito, no que lhe conforma, no âmago absolutamente individual e plural que transcende o ser individual. Morin rememora críticas à ciência determinista e à filosofia positivista e estruturalista que dissolveram, proscreveram e/ou perseguiram a noção de sujeito. Contudo, essa discussão sempre volta porque, marginal ou central, os sujeitos são difíceis de serem esquecidos, posto que emergem da própria trindade humana. De maneira absolutamente direta, defende que a condição do sujeito é seu egocentrismo, entendendo-o dentro de princípios egoístas e altruístas ao mesmo tempo. Ou seja: O sujeito é egocêntrico, mas o egocentrismo não conduz somente ao egoísmo. A condição de sujeito comporta ao mesmo tempo que o princípio de exclusão, um princípio de inclusão; este nos permite nos incluirmos numa comunidade, um Nós (casal, família, partido, igreja)e incluir este nós no centro do mundo. (...)Portanto, o egocentrismo do sujeito favorece não somente o egoísmo, mas também o altruísmo, pois somos capazes de dedicar o nosso Eu a um Nós e a um Tu. Vemos, conforme a fórmula de Hegel, `um Ego que é nós e um nós que é Eu. Quando o Eu domina, o nós é recessivo. Quando o Nós domina, o Eu é recessivo. (Id., 2002:76). Além do egocentrismo, considerado central para a noção de sujeito, a subjetividade comporta ainda a afetividade, pois o sujeito está também destinado potencialmente ao amor, à entrega, à amizade, à inveja, à ambição, ao ciúme, ao ódio. Outra concepção que integra a subjetividade é a relação com o outro, que se encontra no âmago do eu. Sendo, ao 51 Observo aqui similitudes entre Mauss (1950) e Morin (2002), uma vez que ambos dão centralidade ao universo múltiplo das trocas que caracterizam as sociedades humanas. O componente da dádiva, da ajuda, permeia o cerne do humano, tendo se modificado, transformado e contemporizado pela história e pela cultura.
49 49 mesmo tempo, fechado e aberto, o egocentrismo do sujeito concebe o outro como estranho e como parte, no sentido altruísta e egoísta presente na relação eu/outro e na conjugação do nós, seres humanos. Assim, o sujeito surge para o mundo na sua relação com o outro, sem o qual o EU desapareceria. É na intersubjetividade que o sujeito se expressa e se define, por meio dela produz-se conivência, comunhão e possibilidade de compreensão. Ao mesmo tempo, a qualidade de sujeito, que garante autonomia do indivíduo, pode ser submetida por essa mesma subjetividade, pelo mesmo âmago que lhe define enquanto ser capaz de ação, produção, auto-eco-organização. Neste entendimento, embora a coerção possa ser exercida de fora para dentro, a sujeição é um mecanismo pertencente à subjetividade, tanto capaz de submissão como de subversão. A presença do outro no eu se expressa de várias formas, seja no feminino/masculino, no novo/velho, nas múltiplas personalidades, comportamentos, humores e papéis desempenhados. O ser humano é mimético, capaz de histeria, loucura e possessão. Mas também é único, compreensivo, generoso, almejante de paz e tranqüilidade. Essa turbulência hologramática contém um cosmo interior e integra um cosmo superior, origem da própria vida. Esse circuito aberto e intempestivo traduz-se na idéia de homo sapiens-demens, capaz de razão e demência, linearidade e ambivalência que, de maneira antagônica e complementar, conforma os sujeitos humanos. Estes são sábios e loucos, a despeito das tentativas do paradigma moderno de planificá-los nos extremos da racionalidade, como se ela não fizesse parte das pulsões e afetividades do homo-sapiensdemens. Em suma: Vivemos, de fato, num circuito de relações interdependentes e retroativas que alimenta, de maneira, ao mesmo tempo antagônica e complementar, a racionalidade, a afetividade, o imaginário, a mitologia, a neurose, a loucura e a criatividade humanas. Este circuito bipolar tem um pólo sapiens e outro demens. Circuito estimulado pelas contradições cerebrais e psíquicas destacadas antes, ou seja: a ambigüidade na relação cognitiva entre o interior mental (imaginário, fantasia, subjetividade) e o exterior
50 50 (objetividade, realismo); a instabilidade e a variabilidade da relação triúnica (cerebral) e trilógica (psíquica); a dupla necessidade antagônica egocênctrica/altruísta do sujeito; a virtude e a fragilidade da consciência. Somos seres infantis, neuróticos, delirantes, mesmo sendo também racionais. (Morin, 2002:127). Para Morin, a afetividade medeia a relação entre o homo sapiens e o homo demens, os componentes racionais e dementes do humano. Tal subjetividade se expressa nas sensibilidades poéticas, estéticas, míticas, religiosas e simbólicas. Exprime-se igualmente nos gestos de cuidado intersubjetivos que os compõem, na ajuda embebida de razão e emoção que tanto pode dignificar, quanto submeter o outro às suas ambições. As pessoas são seres de cuidado e de destruição, de ajuda e de coerção, exprimem-se pela tensa disputa da loucura e sapiência que as encerra. O ato de cuidar sofre pressões tanto da racionalidade empírica-práticoinstrumental, como das pulsões incontroláveis e delinqüentes que integram o homo complexus 52. O cuidado é uma mediação criadora entre a racionalidade e a pulsão presente no afeto. Misto de estratégia, ruptura e submissão, a politicidade do cuidado transita entre a humanidade sapiens e demens, unindo-as numa propulsão reorganizadora de poderes conformados. A politicidade do cuidado contempla o potencial da mudança, da desconstrução reconstrutiva, da ruptura dos interditos e sublevações opressivas, tendo por foco a construção da autonomia, síntese de diversos modos de cuidar. Para Morin, trata-se de uma autonomia dependente, porque não existe autonomia viva que não seja dependente (do meio, da auto-organização, da energia vital, da cultura, da história, da família, da sociedade, do Estado 53 ) ou polidependente. A liberdade do sujeito 52 Se o homo é, ao mesmo tempo, sapiens e demens, afetivo, lúdico, imaginário, poético, prosaico, se é animal histérico, possuído por seus sonhos e, contudo, capaz de objetividade, de cálculo, de racionalidade, é por ser homo complexus (Id., 2002:140) 53 A noção de sujeito em Morin (2002) é completamente aberta, ambígüa e complexa, mas o mesmo não ocorre com as definições de família e Estado, por exemplo. Observo certo conservadorismo na ênfase exagerada dada à função reprodutiva da família, mesmo diante das profundas transformações verificadas com a globalização. O forte multiculturalismo e o crescimento dos casamentos homossexuais, por exemplo, desautorizam o apego
51 51 autônomo ocorreria numa situação que comporte, ao mesmo tempo, ordem e desordem, estabilidade e regularidade, certezas a priori para que seja possível escolher e decidir num mínimo de desordem e risco. A autonomia do indivíduo humano se funda na qualidade de sujeito que se auto-afirma ocupando o centro do seu mundo, mas que comporta um Nós (família, espécie, sociedade), uma inscrição comunitária (família, pátria), hereditária, histórica e cultural. O autor acredita que seria possível a construção da autonomia por meio de algumas características: i- pela capacidade para adquirir, capitalizar e explorar a experiência pessoal (mesmo concebendo a possibilidade de erros e ilusões); ii pela capacidade de elaborar estratégias de conhecimento e de comportamento; iii- pela capacidade de escolher e modificar escolhas; iv- pela capacidade de consciência. Sendo o espírito, ao mesmo tempo, centro das dominações e das liberdades, ele é potencialmente emancipatório. A liberdade do espírito começa com a capacidade de questionar inerente aos sujeitos, que, por sua vez, pode ser fortalecida: i- pelas curiosidades e pelas aberturas ao exterior; ii-pela capacidade de aprender por si mesmo; iii- pela aptidão a problematizar; ivpela prática de estratégias cognitivas; v- pela possibilidade de verificar e eliminar o erro; vi- pela invenção e pela criação; vii- pela consciência reflexiva; e viii- pela consciência moral (Id, 2002: ). Em outras palavras, é preciso, sobretudo, investir na centralidade do conhecimento, em sentido amplo, aberto e re-criador de possibilidades, para construir sujeitos críticos, cuidadores e participativos. Entender o cuidado como um gesto de poder que se refaz ou se elabora na ajuda, ou na produção subjetiva de autonomias relativas, significa adotar a epistemologia como instrumento da condição emancipatória. Na idéia de que é preciso conhecer para cuidar melhor subsiste a chancela da exagerado à concepção de família burguesa. Da mesma forma, causa certo estranhamento a discussão do ostensivo caráter dominador do Estado moderno e o pouco destaque dado às correlações de forças que igualmente o conformam.
52 52 reconstrução permanente do saber. Ou seja, é preciso tentar apreender formal e politicamente o contexto em que se está inserido, num movimento aproximativo de uma realidade sempre mais complexa, para melhor intervir e cuidar, numa propulsão criadora de novas ordenações de poderes. É precisamente pelo entendimento cada vez mais amplo e solidário da realidade que o cuidado se modifica, reinventando politicidades potencialmente cidadãs. No entanto, em tempos de Império e capitalismo financeiro (ou como se queira chamar o processo de transnacionalização do capital associado à gestão do conhecimento como força produtiva), é preciso saber que esta mesma força produtiva, que reinventa sujeitos autônomos, constitui o nutriente essencial para a acumulação capitalista. Ou seja, o mesmo poder do conhecimento que sustenta a mais-valia relativa, explorando a força de trabalho humana, pode vir a se constituir numa força de subversão da multidão, por dinâmica interna e latente ao mesmo ato subjulgante. A virtualidade que surge, pois, coloca a inovação disruptiva do conhecimento como um elemento vitalmente político, capaz de alimentar e confrontar poderes. Longe de quaisquer extremismos ou dicotomias salvadoras entre o político e o econômico, cabe ponderar sobre a complexidade das questões sociais, fundada estruturalmente na centralidade do conflito entre capital e trabalho nas sociedades capitalistas. (Bering, Faleiros, 2000). 54 Conhecendo e cuidando melhor é possível potencializar a capacidade de confronto e superação dos sujeitos. Não significa dizer que o enfrentamento seja simples, ou que o político seja suficiente para emancipar, dissociado de sua face econômica igualmente importante. O político e o econômico estão plantados subjetivamente no ser humano, no seio da biopolítica auto-eco-organizadora que controla sua produtividade e 54 Uma discussão mais aprofundada sobre a conformação das políticas sociais no Estado capitalista será feita no próximo tópico.
53 53 autonomia. Auto-sustentação e qualidade política fazem parte de uma mesma utopia, de um mesmo projeto emancipatório fundada no conhecimento e na participação social. A politicidade do cuidado é menos uma tarefa moral 55, que um resgate da centralidade do político na gestão inteligente da ajuda-poder. Trata-se de argumentar em prol de uma nova lógica do cuidar, onde se exercite uma ajuda que, sendo poder, tanto subjulga, como é capaz de libertar. Significa desenvolver uma epistemologia dialética do cuidado que ganhe em intensidade subversiva, mesmo sendo relação de dominação. A idéia de libertar as vítimas de uma era globalizada e predadória foi densamente explorada por Dussel (2002), que propõe uma ética da libertação 56, fundada no re-conhecimento do outro, na crítica ao sistema de eticidade vigente e numa práxis de libertação fundada na autonomia das vítimas. Denuncia, com veemência, o encobrimento do outro pelo sistema de eticidade hegemônico na modernidade, onde a alteridade e a diversidade foram sistematicamente marginalizadas da ordem da razão prática, produtiva, utilitária. No apagamento sistemático das subjetividades, houve negação da própria vida humana, traduzida pelo que denomina vítimas (do capitalismo, da dominação sexista, do eurocentrismo, da exploração desenfreada da natureza e das várias outras formas de opressão que foram se forjando no paradigma da racionalidade moderna). Este outro, personificado nas vítimas, seria o tema e o ponto de partida da ética da libertação, defendida como uma ética do cotidiano e da vida (ou pela vida). 55 A relação entre ética e moral é dialéticamente discutida em Boff (2003:28-29), lembrando a dimensão hologramática dos sujeitos uno/diversos, em Morin (2002): Todas as morais, por mais diversas, nascem de um transfundo comum, que é a ética. Ética somente existe no sigular, pois pertence a natureza humana, presente em cada pessoa, enquanto moral está sempre no plural, porque são as distintas formas de expressão cultural da ética.(...) Moral (mos-mores, em latim) sibnifica, exatamente, os costumes e valores de uma determinada cultura. Como são muitos e próprios de cada cultura, tais valores e hábitos fundam várias morais. Como se depreende, o ethos/moral está sempre no plural, enquanto ethos/casa está no singuar 56 A ética da libertação surge e inspira fortes movimentos sociais na América Latina, principalmente na década de 70/80. No Brasil, foi viabilizada pelo movimento da igreja católica denominado Teologia da Libertação, que estruturou diversas Comunidades Eclesiais de Base (CEB s) na periferia das grandes metrópolis. As CEB s tinham como propósito ético-religioso discutir as injustiças sociais da comunidade, formando resistências organizadas para enfrentá-las. Sobre movimentos sociais e CEB s, consultar Boff (1977) e Sader (1987).
54 54 Argumenta que o simples re-conhecimento do outro e crítica do sistema não basta, há que se comprometer esforços para libertar. Propõe os seguintes enunciados: 1- esta que está ali na miséria é uma vítima de um sistema X; 2- re-conheço essa vítima como ser humano com dignidade própria e como outro; 3 esse re-conhecimento me/nos situa como responsáveis diante do sistema X; 4- eu tenho o dever ético, porque sou responsável por ela, de tomar a meu cargo essa vítima; 5- sendo responsável diante do sistema X pela vítima, devo (obrigação ética) criticar o sistema porque causa negatividade desta vítima. A ética da libertação baseia-se em princípios ético-críticos e no fortalecimento da qualidade de sujeito das vítimas. Para Dussel (2002:380): Os que agem ético-criticamente re-conhecem a vítima como ser humano autônomo, como o Outro, como outro que a norma, ato, instuição, sistema de etididade, etc., ao qual se negou a possibilidade de viver (em sua totalidade ou em algum de seus momentos); de cujo re-conhecimento simultaneamente se descobre uma coresponsabilidade pelo outro como vítima, a obriga a tomá-lo a cargo diante do sistema, e, em primeiro lugar, criticar o sistema (ou aspecto do sistema) que causa esta vitimação. O sujeito último de um tal princípio é, por sua vez, a própria comunidade das vítimas. A despeito de certa visão vocacional contida na idéia de libertar o outro e de vítima (como se todas as pessoas não fossem vítimas e opressores, sapiens e demens), inspirando inclusive teologias, o principal destaque dessa concepção é a centralidade no sujeito e na autonomia. Afinal, a libertação de vítimas pressupõe o envolvimento ativo, consciente e crítico dos interessados. O cuidado aqui proposto ampara-se fundamentalmente nessa concepção, mas contempla toda a ambigüidade e complexidade do sujeito discutida por Morin. A politicidade do cuidado é gesto de ajuda e poder que, num mesmo ato, fundamenta-se eticamente na emancipação dos sujeitos (ou na qualidade de ser sujeito, contida nas opressões vitimizantes). Neste sentido, a gestão da ajuda-poder envolve conhecer para cuidar melhor, pois precisa-se entender mais profunda e dialeticamente a realidade
55 55 desigual, para nela agir e cuidar, em nome de uma ética mais justa, igualitária e libertadora. Ajudando para que os sujeitos conheçam melhor, unindo forma e conteúdo, quantidade e qualidade, razão e afeto, as chances e conquistas cidadãs podem ser alargadas. Tal intervenção cuidadora, disruptiva e reconstrutora, pode fortalecer autonomias e qualificar enfrentamentos, emancipando pela desconstrução progressiva de assimetrias de poder. A politicidade do cuidado expressa pelo triedro conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar para emancipar, pode se traduzir numa referência emancipatória para a gestão de políticas de saúde, oportunizando cenários propícios à autonomia de sujeitos. A partir dessa hipótese central, investigou-se a contribuição teórico-analítica da politicidade do cuidado para a gestão do SUS. Numa tentativa de adaptar o triedro emancipatório do cuidar à gestão da política de saúde, consideremse as seguintes premissas articuladas, que serão aprofundadas e retomadas nos tópicos seguintes: Conhecer para cuidar melhor - compreender o contexto sóciohistórico onde são geradas as relações de ajuda-poder na política de saúde; Cuidar para confrontar gerir correlações de forças que proporcionem controle democrático e reordenamento de poderes; Cuidar para emancipar realizar a gestão inteligente da ajudapoder capaz de oportunizar cenários propícios à desconstrução progressiva de assimetrias de poder. Assim, o cuidado investigado transita na esfera pública de decisões, capaz tanto de oportunizar, quanto de inibir cidadanias. Tendo por suposto esse entendimento, é preciso contemporizar a discussão sobre a conformação das políticas sociais nas sociedades capitalistas, destacando
56 56 como a gestão da ajuda/poder pode vir a se constituir em tutela e em potencialidade emancipatória, dentro de contextos marcados pela desigualdade social Politicidade do Cuidado e Política Social: Conformando a Ajuda-Poder em Contextos de Desigualdades A gestão da ajuda-poder em contextos de desigualdades sociais, enquanto forma de potencializar o enfrentamento da pobreza nas sociedades humanas, insere-se no escopo da discussão sobre a configuração das políticas sociais no capitalismo. As contradições inerentes ao conflito entre capital e trabalho, as múltiplas correlações de forças e determinações estruturais que permeiam a luta política constituem elementos centrais para a análise das políticas sociais. Este é um campo onde se torna necessário considerar a conjuntura onde são produzidas as relações e contradições do cuidado, tendo em vista sua intrínseca politicidade. Longe do extremismo recorrente em considerar as políticas sociais ou como expediente da acumulação capitalista, ou como direito redistributivo conquistado pelos trabalhadores (e distante também da bipolaridade simplista expressa na hipótese do engodo ou na hipótese da conquista denunciada por Coimbra 57 ), cabe reafirmar que é na totalidade desses dois processos que as realidades sociais e econômicas se fundam. As políticas sociais sintetizam a contradição entre modo e relações de produção nas sociedades capitalistas, conformando-se historicamente a partir das correlações de forças estabelecidas na arena política. De maneira abreviada, as políticas sociais como síntese do conflito entre capital/trabalho nos países centrais, a partir do pós-2ªguerra mundial, 57 Coimbra (1987) critica as análises marxistas sobre a causação das políticas sociais na sociedade capitalista, apontando o simplismo, a-historicidade e compactação presentes nas mesmas.
57 57 se operacionalizam a partir da concepção e praxis do capitalismo monopolista de Estado, e se viabilizam pelas políticas keynesianas 58 (welfare state 59 ) como mecanismo da intervenção estatal. O welfare state se estende até a crise fiscal da década de 70 e o conseqüente esgotamento do estado previdenciário-militar (estado social), chegando a fase atual do capitalismo, denominado avançado, financeiro ou tardio (Behring, 2002), marcado pela reestruturação produtiva, transnacionalização dos mercados e desregulamentação das garantias sociais. Essa conjuntura é marcada por profundas crises do capital, com fortes repercussões para as políticas sociais. Tal cenário de crise delineia uma força revolucionária própria da história e compleição do capitalismo, como pontua Harvey (1999). Num palco de insegurança e flexibilidade premente, o lucro precisa ser buscado e reinventado a todo instante, numa autêntica destruição criativa. A capacidade de inovar e de se recompor diante dos impasses é própria do capitalismo, que precisa extirpar ao máximo a força criativa do trabalho para acumular riquezas e poder. Apesar da realidade social advinda do capitalismo avançado (transnacionalização do capital e reconfiguração das relações de trabalho) estar mais próxima dos países centrais, ainda que com repercussões cada vez mais imediatas para as nações periféricas ou do terceiro mundo como o Brasil 60, é importante assinalar que o caráter central da discussão, o conflito entre capital e trabalho (com suas especificidades regionais lá e cá), continua imperando como principal contradição da sociedade capitalista. Portanto, as políticas sociais no capitalismo, consideradas aqui sob o prisma da conformação das relações 58 O keynesianismo, entendido como crescente intervenção do Estado nas esferas de produção e reprodução das relações sociais capitalistas em prol da cidadania, coincidiu com o pós-guerra europeu e ajudou a conformar o Estado de Bem-Estar Social, estando restrita aos países centrais. Apesar dos esforços para tentar uma possível classificação de tipos de welfare state para países periféricos como o Brasil (Draibe, 1990), considero que essa argumentação não se sustenta teoricamente, haja vista o vasto cenário de desigualdades estruturais que ainda se tem de enfrentar por aqui (Demo, 1996,2000b. PNUD ). 59 O welfare state será analisado adiante, neste mesmo tópico. 60 Adotei aqui, para o caso do Brasil, a terminologia de países periféricos, também utilizada por Santos (1997), para designar as nações pertencentes ao terceiro mundo, ou subdesenvolvidos, ou semi-desenvolvidos, ou semiindustrializados. Ou seja, todos os países que estão na periferia das grandes decisões e economias mundias.
58 58 de ajuda-poder em sociedades desiguais, precisam ser contemporizas a partir desse conflito essencial e fundante. As transformações político-econômicas do capitalismo no final do século XX, incluindo a transição do fordismo, paradigma de industrialização hegemônico da era moderna, para a acumulação flexível, tendência pósmoderna de configuração dos processos de produção, são analisadas densamente por Harvey (1989). A modernidade coincide com o pleno processo de industrialização, com a padronização (de modos de produzir, de costumes, regras, leis e ordens), com a produção em série, com a divisão social e técnica do trabalho, com o Estado social provedor do welfare state (Esping-Anderson,1991. Navarro,1998. Offe, 1991) e com a hegemonia do pensamento cartesiano influenciando os padrões, relações e comportamentos da sociedade. Para Harvey, a era moderna leva adiante, até onde pode, o projeto iluminista e a concepção fordista. As mudanças e crises que vêm ocorrendo no seio do capitalismo, especificamente as alterações das relações de produção no espaço e no tempo, vêm transformando a modernidade fordista em pós-modernidade flexível, ambas fundadas na mesma lógica de acumulação. Nesse diálogo, o caminhar para a condição pós-moderna pode ser apreendido pela dificuldade que o fordismo e o keynesianismo encontraram para conter as contradições inerentes ao capitalismo. De forma abreviada, Harvey (1989:135) pondera que Na superfície, essas dificuldades podem ser melhor apreendidas por uma palavra: rigidez. Rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo, em sistemas de produção em massa, dos mercados, na alocação e nos contratos de trabalho (especialmente do setor monopolista). As tentativas para superar tais problemas encontravam rigidez na resistência dos trabalhadores, expressa principalmente pelas ondas de greves do período de Os problemas fiscais do Estado vão comprometendo cada vez mais a manutenção das políticas sociais universais e o único instrumento
59 59 de resposta flexível à crise encontrado foi a monetarização da economia, aumentando a onda inflacionária que reduziria a expansão dos direitos sociais do pós-guerra. O autor vai descrevendo, com muita lucidez, a crise da rigidez fordista e das estratégias keynesinas implementadas pelo Estado para manter o capital monopolista, até chegar no que ele denomina acumulação flexível. Em suas palavras (1989:140): A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e comercial As repercussões sociais advindas da`acumulação flexível são enormes, aprofundando as desigualdades sociais tanto em países centrais, como (e principalmente) em países periféricos. Níveis crescentes de desemprego estrutural, rápida destruição e reconstrução das habilidades, defasagem nos salários reais e retrocesso do poder sindical são alguns exemplos citados. Por trás desses fatores, solapam outras sérias conseqüências que têm colocado cada vez mais em cheque o capitalismo em sua fase atual. Basta ver, por exemplo, a constante crise econômica por qual tem passado os países periféricos, ou as mazelas sociais, tão cotidianas que parecem até naturalizadas 61. A flexibilização do capital acarretou profundas mudanças na economia mundial, implicando em novas divisões internacionais do trabalho e transnacionalização dos mercados. Nesse contexto, a industrialização acelerada em alguns países dependentes, como o Brasil, se explica pelo deslocamento de centros de produção das empresas multinacionais para países com salários e preços de matérias primas mais baixos, diminuindo os 61 Sobre o desmonte neoliberal que o Brasil tem passado nos últimos anos, consultar LESBAUPIN, I (Org.), O Desmonte da nação : Balanço do governo FHC, 2º ed., Petrópolis-RJ, Vozes,1999. Vale a pena também uma
60 60 custos da produção. A transferência da produção para países semi-colonias ou semi-industrializados dependentes é descrito de forma elucidativa por Harvey, quando se refere à mudança da economia de escala, de produção em massa, próprias do fordismo, para a economia de escopo, de custos reduzidos, focalizadas na demanda de consumo e sem estoques, inerentes à acumulação flexível. A economia de escopo possibilita a pulverização da produção em diversos locus espalhados pelo mundo, que podem utilizar desde fábricas pequenas até a economia doméstica como centros de produção flexíveis. O autor cita, por exemplo, a marca Benneton, que não produz absolutamente nada, terceirizando toda a confecção das roupas. As três características básicas do modo de produção capitalista, segundo Harvey, são: orientação para o crescimento econômico, exploração do trabalho vivo na produção e a dinamicidade orgânica inerente ao capital. O argumento de que a pós-modernidade opera sobre a exploração da mais-valia se fundamenta, justamente, na percepção de que, apesar de profundamente transformado, a acumulação flexível continua utilizando os elementos do capitalismo para gerar lucros. Ou seja, o controle sobre o trabalho, principal contradição do capital, permanece central para a versão atual do modo de produção capitalista. Diante de tamanhas transformações, a alienação do trabalho, categoria fundante da acumulação desigual do capitalismo, figura como discussão relevante. Como conseqüência mais imediata da usurpação da força produtiva humana, tem-se a exploração da mais-valia que, se no fordismo se dá preponderantemente sobre a força física do trabalhador, na acumulação flexível se relativiza, ocorrendo mais sobre o conhecimento. Para Marx (1963), a alienação do trabalhador do produto de sua ação apresenta-se para a economia política como a rápida incursão sobre os Relatórios da ONU sobre Desenvolvimento Humano ( ), onde o Brasil é sempre citado pela estrondosa desigualdade social e regionalização da pobreza.
61 61 escravização do homem ao objeto, como perda de sua realidade, desintegração da essência genérica 62 humana. A vida do homem, transmutada no seu objeto, não mais lhe pertence, é apropriada pelo capital. Enovelado no processo de alienação, quanto mais o trabalhador produz, menos ele possui para consumo, quanto mais ele cria valor, menos se valoriza em sua dignidade. A alienação do trabalhador ocorre não somente com relação ao seu objeto, mas também no ato da produção, no seio da própria atividade produtiva. A principal característica dessa relação é o estranhamento do sujeito em relação ao seu objeto, ao produto da sua ação e também do próprio fazer humano. Marx (1963:154) esclarece: Consideramos até aqui a alienação, a desintegração do operário sob um único aspecto, o de sua relação com os produtos de seu trabalho. Contudo, a alienação não aparece somente no resultado, mas no ato da produção, no interior da própria atividade produtiva. Como o operário poderia encarar como estranho o produto de sua atividade, se, no ato da produção, ele não se tornasse estranho a si próprio: o produto nada mais é, na realidade, que o resumo da atividade, a produção. Se, então, o produto do trabalho é alienação, a própria produção deve sê-lo em ato, a alienação da atividade, a atividade da alienação. A alienação do objeto do trabalho nada mais é que o resumo da alienação, da desapropriação, da própria atividade do trabalho. Sinteticamente, poder-se-ía dizer que a determinação do trabalho alienado, segundo Marx, ocorre a partir dos seguintes aspectos: i- o produto do trabalho é `estranho ao operário; ii- o vínculo do trabalho com o ato de produção é-lhe igualmente estranho e iii- o homem utiliza sua esfera vital, sua essência genérica, como instrumento de produção, deturpando-lhe a própria dignidade de ser-no-mundo (Heidegger, 2002). Como conseqüência mais premente, homem tornou-se estranho ao homem (Id., 1963:158). 62 Morin (2002) retoma a expressão de homem genérico, utilizada em Marx no sentido de homo faber e economicus, e a resignifica-a como fonte geradora e regeneradora do humano, incluindo seus componentes afetivos e demoníacos.
62 62 O trabalho estranho, abstrato, extorquido de qualquer humanidade e subjetividade, constitui o substrato central da exploração capitalista. O capital acumula-se a partir dessa relação usurpadora do sujeito histórico. A propriedade privada resulta, pois, do conceito de trabalho alienado, desse estranhamento, da atividade tornada estranho, da vida tornada estranha, do homem tornado estranho. Era assim no período da revolução industrial, continua sendo, embora profundamente transmutado, no Império (Hart/Negri, 2002) da acumulação flexível. A atividade de transformar um determinado objeto, num produto ou fim com significação social, gerando valor-de-uso, é conceituada por Marx (2002) como processo de trabalho. Os elementos componentes do processo de trabalho seriam: 1- a atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho; 2- a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; 3- os meios de trabalho, o instrumental de trabalho (id., 2002:212). Sob o ponto de vista do capitalista, o processo de trabalho ocorre entre coisas que ele comprou (matéria-prima, força-de-trabalho, instrumental, ferramentas), coisas que lhe pertencem. A manutenção dessa situação, bem como os dividendos do proprietário, é reproduzida pela alienação do trabalhador 63. É por meio do processo de trabalho capitalista que a atividade humana se transforma em produto que pode ser comercializado, trocado e vendido por quem o possui, o dono do capital. O valor-de-uso da força de trabalho se transforma em valor-de-troca, alienando o produtor de seu produto por meio do mesmo trabalho que o define enquanto ser criativo. No processo de trabalho, a atividade do homem opera uma transformação, subordinada a um determinado fim, no objeto sobre que atua por meio do instrumental de trabalho. O processo extingue-se ao 63 Concordo com algumas críticas que têm sido feitas ao caráter pouco ecológico, classista e machista das idéias de Marx sobre a produção e reprodução do capital, colocadas sobretudo por Santos ( ). Igualmente passível de questionamento são suas ponderações acerca da realidade social humana, onde coloca a primazia das determinações materiais sobre a subjetividade dos sujeitos, advogando que em última instância, predominaria o econômico (uma análise mais aprofundada sobre essas questões pode ser vista em Demo (1985)). Interesso-me aqui ressaltar a discussão central sobre a forma em que são geradas e re-editadas as desigualdades sociais humanas nas sociedades capitalistas, em particular o conceito de trabalho alienado e mais-valia relativa.
63 63 concluir-se o produto. O produto é um valor-de-uso, um material da natureza adaptado às necessidades humanas através da forma. O trabalho está incorporado ao objeto sobre que atuou. Concretiza-se, e a matéria está trabalhada. O que se manifesta em movimento, do lado do trabalhador, se revela agora na qualidade fixa, na forma de ser, do lado de seu produto. Ele teceu, e o produto é tecido. (id., 2002:214). No fluxo do processo de trabalho, o valor-de-uso, que é produto de um trabalho, pode tornar-se matéria-prima ou meio de produção de outro, dependendo da posição ou função que ocupa. O processo de trabalho, comum a todas as formas da vida social, é atividade dirigida a criar valor, seja para as necessidades do homem, seja para alimentar o consumo capitalista. Assim, na produção de mercadorias, o proprietário dos meios de produção tem dois objetivos, produzir valores-de-uso que tenham valor-detroca e apropriar-se do excedente utilizado para produção da mercadoria, a que Marx denomina mais-valia. A despeito das profundas mudanças que têm sofrido as relações de produção capitalista, as considerações de Marx (2002:366) sobre mais-valia, sobretudo sua diferenciação entre absoluta e relativa, permanecem profundamente atuais, veja-se: Mas, quando se trata de produzir mais-valia tornando excedente de trabalho necessário, não basta que o capital se aposse do processo de trabalho na situação em que se encontra ou que lhe foi historicamente transformado, limitando-se a prolongar sua duração. É mister que se transformem as condições técnicas e sociais do processo de trabalho, que mude o próprio modo de produção, a fim de aumentar a força produtiva do trabalho. Só assim pode cair o valor da força de trabalho e reduzir-se a parte do dia de trabalho necessária para reproduzir este valor. Chamo de mais-valia absoluta a produzida pelo prolongamento do dia de trabalho, e de mais-valia relativa a decorrente da contração do tempo de trabalho necessário e da correspondente alteração na relação quantitativa entre ambas as partes componentes da jornada de trabalho A flexibilidade das relações de produção, a precarização dos vínculos empregatícios, os contratos temporários, o automatismo e outras tantas transformações que o trabalho tem sofrido, alargando ainda mais os fossos de pobreza e miséria, decorre também da mudança na mais-valia
64 64 produtiva. De certa forma, a despeito dos repetidos erros nas previsões de Marx, devidamente criticados por diversos autores (Offe, Thompson, Hardt/Negri, Santos, Holloway, 2003), pode-se dizer que a discussão sobre mais-valia relativa permanece extremamente relevante. Um diálogo interessante sobre as transformações que o capitalismo vem sofrendo na atualidade pode ser feito entre Harvey e Bauman (1999, 2000,2001). Ambos vão sustentar a perspectiva de que a principal alteração do capitalismo ocorreu na dinamização do espaço-tempo, como já previra Marx. Harvey explica que a acumulação flexível trabalha com a compressão do tempo-espaço e com a conseqüente aceleração do tempo de giro de capital (tempo que o capital investido gasta para retornar na forma de lucro), para ampliar suas margens de lucro. Bauman, na mesma linha, pondera que o advento do capitalismo software e da modernidade leve foram as principais mudanças que fizeram com que o capital pudesse viajar solto, instantaneamente, sem as amarras do fordismo, para fixá-lo no chão da fábrica, onde o conflito com os trabalhadores, duro e pesado, se acentua. Falando um pouco do mercado, ou de como a transação de mercadorias, serviços e bens de capital se relacionam para produzir lucro, o capitalismo atual tem propiciado um campo fértil para que ele não se submeta a nenhuma regra. O risco parece ser um inestimável e frutífero valor do mercado, uma vez que ele prospera na incerteza (Bauman, 2001). Ou seja, a competitividade, a desregulamentação, a flexibilidade, e todas as medidas que aumentam a insegurança e o risco social, têm se mostrado promissoras para o mercado. A incerteza, fiel aliada do mercado, tem se fortalecido cada vez mais na difusão dos valores que aumentam os lucros capitalistas. O consumismo exacerbado e insaciável, aliado a uma individualidade insegura e pretensamente livre, num cenário de fragmentação de mercadorias, ideais, opções, estilos e imagens, constituem sustentáculos importantes para que a acumulação flexível continue leve,
65 65 lépida e fogosa. Por sua vez, o mercado, numa relação promíscua e promissora com a incerteza, fabrica cada vez mais sonhos e desejos de consumo. Investir na individualidade das pessoas, ou na singularidade de arcar com o bônus e ônus de ser responsável por si própria, constitui uma premissa importante para a exacerbação da insegurança. A insegurança gerada por um mundo competitivo, num autêntico turbilhão de destruição criativa, onde o novo tende a ser cada vez mais descartável para que se gere outro no lugar, é a arma eficaz que o mercado encontra para acelerar cada vez mais o tempo de giro do capital. Num exemplo peculiar, Harvey (1989) explicita como a produção de imagens, num contexto onde o capital precisa circular rapidamente para gerar lucro, tem sido utilizada eficazmente como mercadoria. Para manter a diversidade dos produtos, bens e, principalmente, serviços 64 postos à venda, as imagens precisam também suscitar o compulsivo desejo de compra no consumidor. Assim, maciças estratégias de marketing são postas em prática para produzir sonhos e necessidades na sociedade de consumo. As imagens, com sua efemeridade fustigante e retorno rápido de lucros, são utilizadas cada vez mais como mercadoria - tanto por meio da pesada indústria de cinema, como por intermédio das demais manifestações artísticos-culturais (eventos, shows, exposições, feiras, etc). A comercialização e produção de imagens, por outro lado, é a poderosa artimanha do mercado para manter a dinamicidade do consumo. O consumismo, enquanto estilo de vida e valor societal, se forja na produção da identidade por meio dos símbolos, significados e representações despertados pelas imagens. A informação rápida, bem como a difusão de uma variedade de imagens (da mídia, da arte ou do subjetivo produzido a partir das representações da identidade), alimentam hábitos de consumo cada vez mais individualizados e fragmentados. Em verdade, vende-se de 64 Harvey explica que, com a acumulação flexível, o setor de serviços se expande, já que ele tende a influir mais rapidamente no tempo de giro do capital.
66 66 tudo pelo uso da imagem, desde estilos de vida, grupos de pagode e sabão em pó, até políticos e líderes espirituais. A fragmentação, a dispersão e a vulnerabilidade são as grandes marcas do capitalismo contemporâneo. A pulverização do capital, a desregulamentação do mercado, a flexibilidade e a descartabilidade das relações são, afinal, grandes artimanhas do poder leve e fluido de que fala Bauman. A fragmentação é também uma boa artimanha para anular identidades individuais e coletivas, fragilizando cada vez mais a disposição das pessoas em lutar por qualquer causa, quanto mais pela causa alheia, como requer a ética da libertação (Dussel, 2002), por exemplo. A mais grave repercussão da acumulação flexível ou do capitalismo software para as relações de produção é que, enquanto o capital se transfere instantaneamente para se reproduzir, o trabalho tende a permanecer arraigado e preso ao lugar, ao local. Da mesma forma, a política como campo de correlação de forças e disputas estratégicas de poder vem perdendo significativa centralidade em seu poder regulatório sobre o mercado. Enquanto a política (por meio do Estado) tende a dominar cada vez mais o local, o capital domina cada vez mais o espaço, fluído e fugaz (Harvey, Bauman, 2001). A política, enquanto lugar de encontro, mediação, correlação de forças, disputa de poderes e busca por consensos historicamente possíveis, eis o desafio a ser fortalecido pela gestão da ajuda-poder, como instrumento de enfrentamento das desigualdades sociais, entendendo-a como tradução da politicidade do cuidado no contexto das políticas sociais. Neste cenário de vôo do capital frente ao rastear do trabalho, a política, potencialmente controversa e conflituosa, precisaria aprender a conviver com a incerteza, transformando-a em fomento para mais política, para mais confronto potencialmente reordenador de desigualdades. A busca permanente, frenética, intensiva e reconstrutiva da política, como caminho para subjulgar a volatilidade do capital em favor de uma
67 67 sociedade igualitária, eis a grande utopia a ser reinventada a partir da crítica à economia da incerteza 65. Neste clima de múltiplos cenários e perspectivas, a conformação das políticas sociais nas sociedades capitalistas ocorre em meio à intensa disputa, num confronto acirrado entre mercado e bem-comum. As políticas sociais ocorrem com a mediação central do Estado, como campo de disputa ideológica e econômica, mas não se restringem a ele, nem se classificam unicamente na esfera estatal. O que melhor caracteriza as políticas sociais é menos sua origem e concepção, do que sua proposição em enfrentar as desigualdades sociais visando o interesse público comum. Partindo de algumas análises teóricas relevantes ao estudo das políticas sociais (Poulantzas, Offe, Faleiros, Vasconcelos, Gerschaman, Carnoy, Laurell, Antunes, 2002), visualiza-se que a correlação de forças entre os atores assume centralidade definidora especial, em se tratando de direitos sociais. Reparando bem, pode-se ainda dizer que, a despeito da ostensiva presença da sociedade civil na esfera pública de decisão em muitos contextos, a correlação de forças entre mercado e bem-comum tem ocorrido com uma forte predominância do capital nas ações legitimadoras do interesse público, seja por meio do Estado interventor keynesiano, seja em cenários liberais, onde as liberdades individuais estimuladas pelo mercado ganham maior relevância. Tal fato não poderia ser de total estranhamento, sendo o Estado, no final das contas, capitalista, como costuma acentuar Demo ( c). Uma feliz tentativa de resumir idéias que possam ser utilizados como referência para análise do Estado e das políticas sociais em forma de teses foi sistematizada por Vasconcelos (1988). Para os propósitos deste estudo, 65 A economia política da incerteza é boa para os negócios. Ela torna supérfluos os pesados, desajeitados e caros instrumentos de disciplina, substituindo-os não tanto pelo autocontrole de objetos treinados e disciplinados, mas pela incapacidade dos indivíduos privatizados e inerentemente inseguros de agirem de modo concertado; incapacidade que se torna ainda mais profunda pela descrença deles de que qualquer ação desse tipo possa ser eficaz e de que as preocupações privadas possam ser refutadas em questões coletivas, quanto mais em projetos comuns de uma ordem de coisas alternativas. Bauman (2000:176).
68 68 selecionou-se e adaptou-se cinco, dos onze argumentos do autor, que podem auxiliar no entendimento de como as relações de ajuda-poder, no contexto das sociedades capitalistas, vêm se conformando tanto em mecanismo de domínio da sociedade civil pelo Estado capitalista, quanto em possibilidade de superação das desigualdades sociais pelos sujeitos históricos. Passando-se, então, as teses escolhidas, seriam elas (Id., 1988): a- O Estado capitalista é permeado por contradições de classe, constituindo-se em campo e objeto de luta de classes; b- As concepções ortodoxas da dinâmica das sociedades civis (classistas e reducionistas) devem ser substituídas por visões que amplie o espectro das múltiplas determinações e segmentações dos setores sociais; c- As políticas sociais são fenômenos necessariamente histórico-estrutural 66 ; d- A arena de conflitos via Estado é político-ideológica e econômica; e- A análise das políticas sociais no capitalismo atual não pode se restringir à abordagem marxista, exigindo perspectivas que incluam a dimensão da cidadania. A concepção de Estado, enquanto arena de conflito, e a necessidade de ampliar o cânone da participação da sociedade civil (em suas múltiplas dimensões e subjetividades) em prol da cidadania constituem o cerne da politicidade do cuidado emancipatório que ora se constrói. Para tal, a discussão sobre como o econômico e o político vêm se relacionando no interior das políticas sociais parece figurar como totalidade a ser compreendida. Afirmar que o capital tem preponderado sobre o trabalho não significa dizer que o confronto tem sido fácil, ou que a história foi linear e homogênea. A cidadania vivenciada no welfare state, por exemplo, embora tenha tido uma forte proposição em amortizar o conflito entre capital e trabalho, foi palco de intensa politicidade das forças 66 Substitui a idéia original do autor de histórico, por histórico-estrutural, no entendimento dialético de que a realidade sintetiza também determinações estruturais mais arraigadas e duráveis, embora igualmente transitórias. A dialética histórico-estrutural será melhor abordada no capítulo metodológico desta tese.
69 69 antagônicas, com avanços e retrocessos tanto para um lado, quanto para o outro. As experiências dos países centrais onde predominaram a cidadania sobre o lucro ocorreram por um período curto de tempo 67 e coincidiram com o chamado welfare state. Para alguns autores, como Demo, o welfare state representou a face mais humana à qual o capitalismo conseguiu chegar, tendo começado a ruir a partir do momento em que a acumulação começou a estremecer, com a falência fiscal do Estado capitalista. As contradições do Estado social moderno foram analisadas por Offe (1991), que parte das críticas feitas por teóricos da direita e da esquerda (ou da politicidade inerente ao debate teórico crítico e auto-crítico) para esboçar contradições e semelhanças em ambos. Ao final, coloca algumas perspectivas dessa crise à sociedade contemporânea, a partir das estruturas de conflito existentes entre mercado, sociedade e Estado. Para o autor, o Estado de bem-estar configurou-se como fórmula de paz para as economias capitalistas desenvolvidas, que assumiu a obrigação de propiciar assistência e apoio aos cidadãos, com base em direitos legitimamente assegurados. O reconhecimento do papel formal dos sindicatos, tanto nas negociações coletivas, quanto na vontade política, parece ter sido o principal trunfo utilizado. Nesse entendimento, o Estado de bem-estar teria representado um abrandamento do conflito entre capital e trabalho e uma solução política para as contradições sociais do pós-guerra europeu, tendo perdurado até meados da década de setenta. Offe (1991) argumenta que o mesmo modelo que institui um elevado grau de harmonia e paz nas sociedades 67 Por volta de 30 anos, se se quiser se referenciar no período compreendido entre 1945, coincidindo com o pós-guerra, e 1973, marcado pelo desencadeamento da crise do petróleo e dos desequilíbrios fiscais dos Estados de bem estar. Para o uqe aqui interessa, Welfare State, Estado Social e Estado de bem-estar social são considerados termos para se referir a certa priorização dos direitos sociais sobre o capital, mediados pelo Estado-nação tipicamente moderno (Santos, 1997.Harvey, Demo, 2002c).
70 70 européias pós-guerra passou a ser fonte de contradições e antagonismos, denunciando disruptividades latentes. É interessante observar como as contradições inerentes ao próprio modo de produção capitalista são, ao mesmo tempo, uma força criativa e destrutiva. Ou de como a politicidade intrínseca às forças produtivas pode ser capaz de forjar tanto desigualdades, quanto possibilidades de superação de aniqüidades. Tal aspecto constitui o cerne teórico central da tese aqui defendida, onde a mesma relação de ajuda pode se constituir em instrumento de tutela e emancipação, dependendo do contexto, confronto e dinâmica de atores na arena política. Voltando a Offe, que vai sistematizando contextualmente as críticas da direita e esquerda ao Estado social, é importante considerar o aspecto do renascimento intelectual e político das doutrinas neoclássicas e monetaristas na década de setenta, aliado àcrise do petróleo, como marcas históricas relevantes para o ataque da direita. Segundo essa vertente, o Estado de bem-estar social impediria as forças do mercado para a paz social e o progresso por dois motivos. Primeiro, porque os impostos estatais deteriam os investimentos. Segundo, os direitos trabalhistas deteriam a vontade de trabalhar do trabalhador. Quanto ao primeiro argumento, o autor pondera que a elite conservadora exagera o prejuízo que o Estado Social lhe causa, tendo em vista a posição de poder estratégica que as empresas mantêm, bem como a contribuição da intervenção estatal para a reprodução e acumulação do capital. Em relação ao segundo, Offe vai mais fundo, argumentando que o Estado Social deixa intacta a estrutura de dominação da propriedade privada e a exploração da mais-valia. Arremata, ainda, delimitando a real contradição do Estado, denunciando-o pela máxima do mal necessário à sociedade capitalista: O desagradável segredo do Estado social reside em que, apesar do seu efeito sobre a acumulação capitalista poder muito bem tornar-se
71 71 destrutivo (como a análise conservadora demonstra tão enfaticamente), a sua eliminação seria evidentemente disruptiva (fato que a crítica conservadora sistematicamente ignora). A contradição consiste em que o capitalismo não pode co-existir com o Estado social, nem continuar existindo sem ele. (Offe, 1991:122). A crítica da esquerda socialista ao Estado de bem-estar estaria centrada na sua ineficiência e ineficácia, no caráter repressivo e na falsa concepção de realidade que cria na classe operária. Comparando-as com as colocações da direita, o autor encontra três pontos em comum: 1- o Estado social não é tido como mudança promissora e válida para as economias políticas avançadas; 2- O Estado social realiza tarefas essenciais e insubstituíveis tanto para o processo de acumulação, quanto para o bemestar; e 3- O Estado social, apesar de atacado pela direita e esquerda, não pode ser substituído facilmente por uma alternativa conservadora ou progressista. Delimita ainda que os resultados potenciais alternativos à contradição do Estado social estariam tendentes: i- ao mercado; ii- à acomodação pacífica entre instituições coorporativas; iii- à luta política oriunda dos movimentos sociais. No frigir da luta, questiona: a mudança, a depender das forças políticas do mercado e da sociedade no aparelho político do Estado (enquanto processo decisório mediador), ocorrerá do Estado para a sociedade ou da sociedade para o Estado? Numa atualização polêmica do marxismo, poder-se-ia interpretar em Holloway (2003) uma tentativa de resposta ao questionamento de Offe (1991), mesmo que não intencional. Pretendendo-se revolucionário, o autor argumenta que se deve ir além do Estado, ou que se deve mudar o mundo sem tomar o poder 68. A concepção de poder defendida é dúbia, ora dando a entender que seria necessário acabar com ele A única 68 Seria possível uma sociedade sem poder, onde as relações pudessem ser sempre fraternas e harmônicas? A história tem mostrado que o fenômeno do poder é intrinsecamente estrutural, compondo até mesmo a compleição biológica do ser vivente, como argumenta Maturana (1997). Daí não se conclui, por lógica linear,que não seja possível acabar com ele, mas que sua durabilidade nos convívios humanos tende a ser longa.
72 72 maneira de se imaginar agora a revolução é como dissolução de poder, não como sua conquista (id, 2003: 37) ora propondo uma versão negativa e emancipatória do poder, que denomina anti-poder: O antipoder, então, não é um contra-poder, mas algo muito mais radical: é a dissolução do poder-sobre, a emancipação do poder-faze.r (2003:61). Não cabe neste estudo resolver essa argumentação ambígua (mesmo porque a provocação maior dessa produção reside em seu caráter inconclusivo), mas discutir os pontos centrais da teoria que fundamentaa tese da politicidade do cuidado. Em especial, dar-se-á ênfase na análise de poder desenvolvida a partir de releitura marxista sobre a alienação do trabalho, centrando-se na perspectiva emancipatória delineada. A principal critica que pode ser atribuída a Holloway é o fato dele não explicitar como seria possível mudar o mundo sem tomar o poder. Apesar disso, realiza análise consistente e original sobre o marxismo. O autor inicia o livro com uma apologia do grito 69, referindo-o como movimento incômodo necessário à qualquer mudança. Representaria a recusa humana à aceitação passiva, uma manifestação de inquietude cuja politicidade ecoa pelos ares. Sob o manifesto do grito, vai articulando idéias, concepções e posicionamentos que considera uma negativa ao que está posto, reclamando profundas mudanças na forma com que o capitalismo tem gerido e produzido desigualdades sociais. Acentua, de forma hábil, a centralidade da dialética na argumentação, explorando com fina maestria a negação-da-negação (Konder, 1993). Aborda a alienação do trabalho em Marx (1963) sob o enfoque da transformação do poder-fazer em poder-sobre, defendendo que o capitalismo se baseia não na propriedade das pessoas, mas na propriedade do fato. O que Marx chama alienação, ou ruptura do homem em relação ao seu objeto de trabalho, Holloway (2003) denomina de separação do fato 69 Com a frase No início, era o grito!, Holloway contrapõe-se irreverentemente à passagem bíblica No início, era o verbo, denotando uma claro sentido de basta!
73 73 em relação ao fazer. O processo de trabalho é traduzido como fluxo social do fazer, sendo esse inerente aos convívios humanos. A forma de dominação e exploração capitalista residiria, então, na sistemática usurpação do potencial criativo do homem, subjugando-o à coisa produzida em nome da acumulação. Seria a fetichização 70 do fazer, capaz de transformar proposição reconstrutiva em feito comercializável, alijado do processo social que o produziu. Ao Estado caberia proteger a propriedade do fato, mantendo uma separação entre o político e o econômico conveniente à dominação capitalista, exercida pelo que chama de poder-sobre. Com a função de mediar o confronto entre capital e trabalho, o Estado aparece como uma forma fetichizada das relações sociais. Assim: Se a dominação é sempre um processo de roubo à mão armada, o peculiar do capitalismo é que a pessoa que tem armas está separada daquela que comete o roubo e apenas supervisiona para que o roubo se realize conforme a lei. Sem esta separação, a propriedade do fato (oposta à posse meramente temporal) e, portanto, o próprio capitalismo seriam impossíveis. Isto é importante para a discussão sobre o poder, porque a separação entre o econômico e o político faz com que o político apareça como reino do exercício do poder(deixando o econômico como uma esfera natural fora de questionamento), quando de fato o exercício do poder (a conversão do poder-fazer em poder-sobre) já é inerente à separação do fato em relação ao fazer e, portanto, à própria constituição do político e do econômico como formas distintas de relações sociais. (Id., 2003: 55). Tenta diferenciar o anti-poder - entendido como libertação do poderfazer (poder constituinte) presente como negação no poder-sobre (poder constituído)- do contra-poder, que estaria imbricado na mesma lógica de dominação injusta do poder-sobre. Nesse sentido, faz duras críticas a Foucault, afirmando que não existiria possibilidade de emancipação na imensa rede ou trama de poder delineada por esse último, ocorrendo, no máximo, focos de resistência incapazes de mudar a lógica de produção das soberanias capitalistas. No mesmo espírito de argumentação, aponta, em 70 Fetichização é o termo que Marx utiliza para descrever a ruptura do fazer. É o núcleo da discussão de Marx sobre o poder e é fundamental para qualquer discussão em relação a mudar o mundo. É o conceito central do
74 74 Hardt e Negri (2002), um certo teor funcionalista e paradigmático, uma vez que o Império descrito pelos autores parece amplificado demais para qualquer alternativa de mudança. Se existe um certo sentido em dizer que a trama de poderes em Foucault pode dar uma sensação de túnel sem saída, não se pode negar o caráter extremamente lascivo, ardiloso e fugaz presente nos micropoderes, por exemplo. A potencialidade emancipatória presente na concepção foucaultiana reside nessa intrínseca politicidade, embora a análise dessa possibilidade possa parecer menos expressiva do que realmente merece ser. Da mesma forma, o Império descrito por Hardt e Negri tem tudo para aparentar-se paradigmático, mas os próprios autores denunciam a fragilidade do mesmo, uma vez que sua força criativa provém da multidão que o sustenta. Feitas essas reservas, a análise de Holloway consegue aprofundar com pertinência o âmago da contradição capitalista, traduzido pela fetichização do processo social do fazer. À medida que o fetichismo das relações sociais se aprofunda, subjetivizando cada vez mais a coisa e coisificando cada vez mais o sujeito, mais trágico se torna o dilema da mudança, que tende a se apresentar como urgente e inviável ao mesmo tempo. Diante da iminência do impossível, surge a crítica, o questionamento que tenta ir além da aparência, traçando as razões mais reveladoras do fenômeno criticado. A relação entre crítica e fazer vai sendo aprofundada, colocando-se a idéia, inspirada em correntes filosóficas, de que só podemos conhecer com certeza o que criamos. Um objeto de conhecimento só pode ser completamente conhecido na medida em que é a criação de um sujeito cognoscente. (id. 2003:165). Nesses termos, o conhecimento teria como objetivo principal resgatar a subjetividade dos sujeitos, recobrando o que fora alienado pela fetichização. Seria ainda a conformação do poder-para argumento deste livro. (Id, 2003:71).
75 75 (pg166), ou a reapropriação do objeto pelo sujeito, que passaria a negar sua externalidade, reconhecendo-o enquanto parte de si. A ruptura da dominação, corporificada na forma de poder-sobre, se daria pelo movimento emancipatório do poder-fazer, constituindo-se em luta para revelar o potencial humano por meio do fazer criativo, contra-emais-além do trabalho alienado. Propõe a unidade do grito-contra e do poder-fazer, traduzido pela idéia de dignidade, como possibilidade revolucionária subsidiada pelo grito teorizado, pela crítica que reconstrói possibilidades. Rejeita, por fim, a idéia de que tal mudança possa ocorrer por meio do Estado, uma vez que a própria existência do Estado como forma das relações sociais é uma separação ativa do fazer. Lutar por meio do Estado é vê-lo implicado no processo ativo de nos derrotar (p. 313). Mesmo demonstrando pertinência no argumento, perde posição quando afirma não saber como fazê-lo, finalizando com um convite à reflexão conjunta. A indefinição de Holloway sobre o como fazer, apesar de instigante, parece pouco diante da enorme tarefa de mudar o mundo, além de denunciar uma certa sensação de imposibilidade tão duramente criticada pela autor. Não estaria o autor sucubindo ao poder-sobre, uma vez que ele próprio não sabe (e nem ao menos propõe) como libertar o poder-fazer de seus domínios? A omissão, fuga e evitação, nesse caso, são formas de dominação tão injustas quanto a opressão, apesar de instigar curiosidades e processos de busca relevantes. As análises marxistas sobre capitalismo, poder, Estado e política social, destacadas até aqui, fundamentam a idéia de que a gestão da ajudapoder em sociedades desiguais é marcada por profunda correlação de forças e potencialidades disruptivas, tendendo a intensificar assimetrias de poder em favor do capital. Porém, por latência subversiva inerente às próprias contradições do capitalismo, a mesma força produtiva alijada de subjetividades que sustenta a acumulação e os lucros, pode subverter
76 76 domínios, libertando fazeres e utopias libertárias próprias da história humana. Apostar nessa idéia, ou na politicidade da ajuda presente como negação nas relações de poder, traduz o sentido da emancipação do cuidado aqui teorizado. Neste caso, e voltando ao desafio lançado por Holloway, faz-se necessário retornar à idéia de politicidade do cuidado, numa tentativa de antever indícios de possibilidades libertárias. Como já foi dito, o cuidado faz parte da atividade criativa dos seres, compondo-lhe a estrutura de ser e vir a ser-no-mundo. Cuidar é mais que ato mecanizado, rotinizado e alienado de sentido, é atitude humana inscrita na esfera vital, subjetiva e cultural das relações sociais. Com esse entendimento, o fazer humano é permeado de cuidado, capaz tanto de oprimir, quanto de libertar. Numa re-adequação de termos baseada no fluxo social do fazer (id, 2003), poder-se-ia falar em fazer-cuidar, para se referir à intrínseca possibilidade emancipatória presente no cuidado. A alienação do trabalho, substrato da acumulação capitalista, corrompe igualmente a possibilidade revolucionária presente no fazercuidar, sendo também poder. O que Holloway chama de fetichização do poder-fazer, pode ser traduzido aqui como institucionalização do cuidado (Pires, 2002), significando o aprisionamento do cuidar em normas, rotinas e técnicas que alienam o cuidado de sua existência criadora e reveladora (Heidegger, 2002). A institucionalização do cuidado prioriza a tutela em detrimento da autonomia dos sujeitos, inserindo-se na lógica de abstração do trabalho em favor do capital. O cuidado institucionalizado, fragmentado e extorquido de subjetividades reconstrutivas vem sendo utilizado pelo Estado capitalista para apaziguar animosidades, sob a forma da ajuda conformada em política social capitalista. Apesar do potencial transformador presente na ajuda-poder, a luta tem sido árdua, com algumas conquistas para a cidadania e muitas para o mercado. Nesse contexto de desigualdades extremadas, urge libertar a expressiva força
77 77 revolucionária presente no ato de cuidar, seja porque torna mais humana a existência das pessoas, seja porque as inclui como todo. A politicidade do cuidado, expressa pelo potencial subversivo do conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar para emancipar, propõe-se libertar o fazer-cuidado de sua institucionalização capitalista predadória. O triedro do cuidar aqui delineado encontra eco na argumentação de Holloway, principalmente na utopia do poder-fazer enquanto negação do poder-sobre. Assim, na esfera do conhecer para cuidar melhor se identificam similitudes com a idéia de poder-para (resgate da subjetividade do sujeito por meio da crítica). No enfrentamento do poder-sobre para libertar o poder-fazer, sugere-se o cuidar para confrontar, na perspectiva articuladora do cuidar para emancipar. Se o grito revolucionário de Holloway parece ter ficado rouco com a indefinição das estratégias da luta, talvez a politicidade do cuidado possa ser uma alternativa capaz provocar e acumular mudanças. Não se tem a pretensão de gritar a plenos pulmões que se vai mudar o mundo, mas cantar melodicamente que é possível acumular possibilidades por meio do cuidar-fazer (até porque ninguém agüenta gritaria por muito tempo. Já a musicalidade da vida contagia, envolve, mobiliza, encanta e conta). No confronto de poderes amplificado e fetichizado pelo capital, a mediação do cuidado, em seu sentido ontológico, ecológico, social e epistemológico, pode ser um sussurro afetuoso, humano e inteligente de gerir a ajuda-poder em prol do bem-comum. - Gestão da Ajuda-Poder no Brasil Diante do capitalismo tardio ou da acumulação flexível, significativas mudanças se operam em países periféricos, mesmo que não tenham atingido a plenitude da era fordista ou experimentado a cidadania produzida pelo capitalismo monopolista de estado, por meio de suas políticas keynesianas. Para atrair mais capital, o Estado aumenta suas taxas
78 78 de juros e se submete às políticas fiscais dos grandes bancos credores e do FMI para implementar suas políticas. Nessa enxurrada de pressões, a ordem neoliberal é adotar políticas restritivas, setoriais e focalizadas, enxugar e reduzir os gastos estatais, gerar superavit primário e desregulamentar as relações trabalhistas, com vistas ao aumento dos lucros e dos investimentos 71. É preciso situar o Brasil nessa discussão, uma vez que, como nação periférica, ele não atingiu nem a plenitude do processo de industrialização fordista, nem os brasileiros convivem totalmente com a realidade da acumulação flexível. Aliás, o país convive com elementos que vão do período escravagista colonial - expresso pelo coronelismo autoritário e suas repercussões para a cultura política brasileira, pelo trabalho forçado de crianças e mulheres passando pela modernidade fordista do capital monopolista, presente na pesada indústria e serviços do país, até centros financeiros bem desenvolvidos, típicos da acumulação flexível, como em São Paulo. Ou, para refletir sobre a saúde nesse contexto, convive-se ainda com problemas básicos e primários a serem resolvidos, tais como a falta de saneamento básico mínimo para toda população, desnutrição infantil, mortalidade materna e grandes epidemias - há muito, já resolvidos pelos países centrais passando pela fragilidade nas políticas voltadas à saúde ocupacional, que possam garantir a reprodução da força de trabalho no melhor estilo keynesiano, até tecnologias de ponta, que inclui a área de transplantes e reabilitação, com ilhas de excelência no setor público e privado. Analisar políticas sociais num país com contradições gritantes, de enormes desigualdades, com fossos de miséria e exclusão social, onde a fome ainda constitui uma agenda prioritária e estratégica no discurso do 71 Para maior aprofundamento sobre neoliberalismo, consultar: ANDERSON, P. Balanço Neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado Democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1995 e NAVARRO, V. Neoliberalismo y Estado del bienestar. Barcelona: Ariel, 1998.
79 79 governo (vide Programa Fome Zero, do governo Lula); onde o tráfico de drogas e a violência das grandes metrópoles se institucionalizam com a conivência do poder público; e onde centros financeiros e a naturalização da miséria convivem lado a lado é, no mínimo, complexo. Porém, tendo em vista essa mesma complexidade, não se pode omitir da discussão, seja no plano das subjetividades que movem a cultura e sociedade, seja no âmbito das relações políticas e econômicas que conformam os direitos sociais, entendendo que ambas se completam de maneira hologramática (Morin, ) na totalidade. Por outro lado, é preciso pensar alternativas para as políticas sociais frente aos desafios colocados por tais mudanças, seja porque se tem muitas lições a serem aprendidas com a evolução do capitalismo nos países centrais, ou porque tais transformações atingem a todos diretamente, com sérias repercussões para o aprofundamento das desigualdades sociais e conseqüente fragilidade da cidadania brasileira. Na busca de um breve arrazoado sobre a noção de cidadania, não há como não começar por Marshall (1967), que se tornara clássico pela primeira teoria sociológica acerca do tema. A tipologia introduzida por Marshall entre direitos civis (liberdades individuais, século XVIII), políticos (participação na esfera pública, século XIX) e sociais (bem-estar e segurança, séculoxx), a despeito do evolucionismo linear amplamente criticado e equivocado, constitui uma referência central para discussões teóricas sobre cidadania. É inegável a influência e contribuição desse autor às modificações por quais tem passado o conceito de cidadania, em suas diferentes abordagens e épocas. Na era moderna, concepção de cidadania acompanha a conformação política e social dos Estados-nações, encontrando, no aparato estatal, a estrutura para sua validação e normalização. Outhwaite e Battomore (1996), à guisa de uma definição para o termo, caracterizamna no contexto da modernidade pelos termos cidadania formal, entendida como condição de membro de um estado-nação, e cidadania substantiva,
80 80 delimitada pela posse de um corpo civil, político e social. O auge de concretizações de tais cidadanias talvez tenha sido no pós-guerra mundial, onde os países europeus vivenciaram o período do welfare state, política social capitalista de cunho universalista, onde os direitos sociais se expandem sob os auspícios do Estado moderno, conforme comentado no item anterior. Um debate oportuno sobre a conquista de direitos em tempos de transnacionalização do capital, ou de como a luta por espaços de poder na esfera pública tem se transformado diante do enfraquecimento do papel do Estado como garante da cidadania, é analisado por Vieira (2001). O autor assume como objeto de análise o destino da cidadania num mundo globalizado, investigando a atuação das ONG s no interior da ONU (Organizações das Nações Unidas). Propõe uma cidadania global, assente na noção de sustentabilidade, fundada na solidariedade, diversidade, democracia e direitos humanos, em escala planetária. Na busca de um conceito de cidadania, inclui a perspectiva multiculturalista e feminista, na qual o direito à diferença vem sinalizando outras muitas possibilidades de justiça. Num cenário de múltiplos, Vieira (2001:48) advoga que a cidadania, no âmbito deste esforço coletivo, não pode mais ser vista como um conjunto de direitos formais, mas sim como um modo de incorporação de indivíduos e grupos ao contexto social (...). Calcada na esfera pública transnacional, a cidadania global proposta por Vieira (2001) não despreza o contexto local como cotidiano a ser transformado, mas articula-o a uma consciência global necessária ao enfrentamento do capital mundializado. Tal concepção de cidadania, mais plural, diversa, solidária e centrada numa institucionalidade política global referenciada na sociedade civil, como sujeito na construção do espaço público democrático, encontra respaldo em autores como Santos (1997, 1998, 2001), Bauman (2000, 2001) e Hardt e Negri (2002). É neste entendimento ampliado de cidadania que se inclui a dimensão do cuidado
81 81 como gestão da ajuda-poder, na qual a solidariedade como conhecimento e efeito de poder ganha relevância e potencilidade emancipatória. Na mesma linha de reflexão que aposta numa globalização contrahegemônica (Santos, 2002), o autor advoga que a cidadania global é capaz de confrontar-se com o capital para além dos limites territoriais do Estadonação. Tece ampla teorização sobre o conceito de cidadania atrelado à soberania do Estado, critica a lineridade da concepção de direitos em Marshall, discute a relação entre sociedade civil e espaço público, chegando ao debate sobre globalização. Analisa com profundidade a influência das Organizações Não- Governamentais internacionais nas grandes decisões transnacionais, citando conquistas importantes, como a obtida no manifesto contra o Acordo Mutilateral de Investimentos (AMI), que daria aos investidores estrangeiros amplos poderes sobre os governos nacionais, estaduais e locais, em todo o mundo 72. Apesar de alguns equívocos grosseiros, como quando menciona o papel de facilitação e de neutralidade da ONU na promoção do desenvolvimento sustentável 73, Vieira agrega bons elementos ao debate em torno da cidadania global. Propõe, então, uma conformação política transnacional capaz de contrapor-se ao mercado, consubstanciada na cidadania global: A cidadania global repousa, assim, na noção de sustentabilidade, fundada na solidariedade, na diversidade, na democracia e nos direitos humanos, em escala planetária. Com raízes locais e consciência global, as organizações transnacionais da sociedade civil emergem no cenário internacional como novos atores políticos, atuando em nome do interesse público e da cidadania mundial, no sentido de construir 72 O AMI pretende conferir às empresas multinacionais o direito de ignorar a legislação nacional sobre trabalho, meio ambiente, saúde e outras áreas sociais, numa afronta direta ao Estado democrático. Apesar de não ter sido aprovado na Organização Mundial do Comércio, o AMI vem encontrando outros fóruns e possibilidades de inserção, como as negociações para a criação da ALCA (Acordo de Livre Comércio das Américas), constituindo-se em ameaça permanente. 73 A pseuda neutralidade da ONU na recente guerra dos EUA contra o Iraque, que causou a morte de criminosa milhões de inocentes, além demonstrar conivência com as atrocidades policialesca americana, em nada contribuiu para o desenvolvimento sustentável. Prefero a análise de Hardt e Negri (2002) que, ao proporem a pirâmide da constituição global, colocam os organismos internacionais, juntamente com os países do G7 e EUA, no topo do comando.
82 82 uma esfera pública transnacional fertilizada pelos valores da democracia cosmopolita. Vieira (2001: 253). À procura das raízes locais, ou de como a cidadania brasileira vem se conformando em meio às profundas desigualdades estruturais, vale a pena embarcar no mapa de viagem proposto por Carvalho (2004). O autor realiza um estudo sobre a história da cidadania no Brasil desde a colônia até redemocratização do país, ocorrida em 1985, sob o olhar da típica classificação dos direitos (civis, políticos, sociais) Marshalliana. Com um caráter mais histórico que sociológico, embora não menos analítico, realiza um consistente passeio, ainda que muito ligado à linearidade presente em Marshall (1967). Com o intuito de delinear como a gestão da ajuda-poder vem ocorrendo no bojo das políticas sociais implementadas no Brasil, far-se-á breve incurso no percurso histórico proposto por Carvalho (2004). Interessa, aqui, ressaltar dois argumentos centrais. Primeiro, que a cidadania no Brasil é marcada pela forte presença da tutela e submissão do povo aos ditames do Estado, embora com movimentos de resistência significativos e influentes. Segundo, concorda-se com Carvalho (2004) no que se refere à centralidade do executivo na consecução dos direitos brasileiros, com forte influência do patrimonialismo ibero-lusitana. Nestes termos, O Estado é sempre visto como todo-poderoso, na pior hipótese como repressor e cobrador de impostos; na melhor, como distribuidor paternalista de empregos e favores. (Id., 2004: 221). O autor divide cronologicamente a caminhada em quatro períodos. O primeiro compreendendo o período entre a independência e a primeira república ( ), o segundo vai do tenentismo ou revolução de 30 até o golpe de 64, o terceiro aborda a ditadura brasileira ( ) e o último contempla o processo de redemocratização, a partir de Contemporizando-se na internacionalização do sistema capitalista e na diminuição do papel do Estado como regulador do mercado, argumenta
83 83 que este cenário tem recolocado o debate da cidadania, uma vez que os direitos políticos e socias têm sofrido sérias restrições e ameaças. Os primeiros passos da cidadania brasileira surgem imiscuídos pela forte dominação do coronelismo oligárquico. Aliás, a questão da terra no Brasil nunca foi realmente tocada, permanecendo desigualdade social das mais injustas. Voto de cabresto, currais eleitorais 74, clientelismo corrupto e nepotismo escancarado são as marcas da primeira república, com predomínio da economia agro-exportadora. Outro ponto de destaque desse período seria a forte repercussão que a escravidão teria trazido para o aprofundamento das aniqüidades sociais. Segundo Carvalho (2004:52), até hoje esta população ocupa posição inferior em todos os indicadores de qualidade de vida. É parcela menos educada da população, com os empregos menos qualificados, os menores salários, os piores índices de ascensão social.(...). Os movimentos de resistência desse período, apesar de terem sido sempre fortemente reprimidos pelo Estado, denotam a politicidade das correlações de forças. São citados e analisados, o tenentismo (1922), a cabanagem (1832), a balaiada (1838), as revoltas messianicas de Canudos e Contestado, bem como a revolta da vacina (1902). Essa última, ocorrida no Rio de Janeiro devido à implantação da obrigatoriedade da vacina contra febre amarela, inscreve-se na origem da saúde pública brasileira, marcada por forte militarismo, centralização e autoritarismo, numa época que ficou conhecida como sanitarismo campanhista (Mendes, Campos, Conh, 1999). O que chama atenção nesse movimento, apesar de fortemente influenciado pela oposição política local, é o 74 Interessante observar a explicação da origem de alguns termos feita em Carvalho (2004). No que se refere a curral eleitoral, por exemplo, o autor esclarece que teria surgido devido ao fato dos coronéis, em épocas próximas à eleição, abrigarem seus votantes em barracões regados à farta comida e bebida, como forma de garantir certa quantidade de votos no pleito. Essa expressão continua sendo usada principalmente no nordeste do país, onde o voto de cabresto, apesar de maquiado, continua fortemente arraigado na cultura política local.
84 84 confronto de saberes estabelecidos entre o que se estava querendo instituir (política de saúde oficial) e os hábitos de saúde culturais (saber popular) 75. No arremate de uma breve síntese sobre a cidadania brasileira até 1930, esclarece que não havia povo organizado politicamente nem sentido nacional consolidado. A participação política era reduzida a pequenos grupos, as ações se caracterizavam mais como reação ao arbítrio das autoridades, do que propriamente um movimento reivindicativo original. O povo não tinha lugar no sistema político, seja no Império ou na República, conformando-se no que considera cidadãos em negativo (id. 2004: 83). A ascensão e consolidação do populismo varguista e a forte estatização das políticas foram as principais marcas da segunda fase ( ) delineada. A gestão da ajuda-poder seguia os rumos do assistencialismo paternalista opressor, constituindo-se em principal instrumento de dominação e controle da massa política. Como em várias nações latino-americanas, onde os direitos políticos se viram restringidos por ditames totalitários, os direitos sociais no Brasil foram utilizados como mecanismo de coerção e adesão pacífica. Não por acaso, a influencia do positivismo 76 caracterizou o período de 30 a 45, incorporando a idéia de que as medidas de proteção ao trabalhador e sua família, objetivo maior da política moderna, seriam a melhor maneira de incorporá-los à sociedade (id., 2004:111). Naquela época, vasta legislação trabalhista foi promulgada, inclusive a CLT, introduzida pelo Estado Novo, que permanece até hoje com poucas modificações, apesar da forte ameaça neoliberal. O sindicalismo advindo da época foi fortemente cooptado pelo Estado, gerindo um ambiente propício à corrupção e manipulação política. 75 O confronto entre o saber popular e o científico na área de saúde pode ser agradavelmente visitado em Weber (1999) e Neto (1999). 76 A maior influencia do positivismo ortodoxo no Brasil verificou-se no estado do Rio Grande do Sul. A constituição republicana gaúcha incorporou várias idéias positivistas. O fato do chefe da revolução de 1930, Getúlio Vargas, e o seu primeiro ministro do trabalho, Lindolfo Collor, serem riograndenses, ajuda a explicar
85 85 No que se refere aos gritos de resistência deste período, cite-se o início do movimento estudantil, operário e camponês. Também a Igreja começava a dar sinais de vanguarda com um segmento mais politizado, influindo significativamente na conjuntura social e política. Trata-se da Ação Popular, um desdobramento da Juventude Estudantil Católica (JUC). A grande inovação, porém, veio do campo, expresso pela liga de camponeses que começou no Nordeste em 1955 e que viria a se transformar numa ameaça aos grandes proprietários de terra a partir da aproximação com Cuba. A incipiente democracia que começava a se esboçar no Brasil a partir de 1946, fora interrompida pelo golpe militar de 64. Diferente de outros países latinos, a ditadura no Brasil se instalou sem grandes lutas, demonstrando fragilidade política explícita (Demo, 1993). Auxiliando o cimento necessário à manutenção da ordem social imposta pelos militares, a economia começou a crescer (em média 10% ao ano, chegando a 13% em 1973 (id, 2004)), conformando-se no chamado milagre econômico financiado pelo Estado desenvolvimentista brasileiro. A qualidade de vida da classe média melhorou, junto com os indicadores sociais, só que de maneira desigual e a custos altíssimos para a dívida externa do país. A partir da crise mundial do petróleo de 1973, a milagraria começou a desmoronar e as desigualdades se acentuavam. O governo Geisel, por seu turno, iniciou lenta abertura dos direitos políticos, pressionado por uma certa corrente de militares, que começavam a se preocupar com a imagem e deturpação das funções das forças armadas (id, 2004:174). Já a oposição, soprada pelos ventos dos movimentos hippie, operário, estudantil e feministas mundiais, vinha ganhando corpo e consistência. Os metalúrgicos do ABC paulista se organizavam fortemente, liderando movimentos grevistas grandiosos (3 milhões de pessoas em 1979 (Id., 2004:180)). Os trabalhadores a ênfase que passou a ser dada à questão social.(...) (Id., 2004:111). Uma análise contundente sobre magia, positivismo e religião na república riograndense pode ser vista em Weber (1999).
86 86 se organizaram em centrais sindicais e partidos políticos (CUT, CGT, PT), constituindo-se em franco movimento de oposição ao governo. Diversos outros setores da sociedade civil também se organizavam, como a igreja católica, por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEB s), os movimentos sociais urbanos e associações profissionais da classe média (Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Brasileira de Imprensa (ABI)), além da própria Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Embalados pelas lutas políticas mundiais e pela onda de reivindicações que se avolumavam localmente, a área de saúde também reivindicava democracia a partir do Movimento de Reforma Sanitária, um dos mais importante e vitorioso da história política brasileira. Dando origem ao próprio Sistema Único de Saúde, a Reforma Sanitária brasileira permanece viva enquanto utopia libertária tanto nas lideranças e adeptos conquistados, quanto nos diversos veículos de produção teórica, de idéias e de fóruns de discussão que originou (Fleury, Gerschaman, Teixeira, 1989). O movimento das diretas já agregou todos os focos de resistência do período, levando milhões às ruas. Apesar da emenda constitucional que propunha eleições diretas ter sido derrotada no Congresso, a vitória de Tancredo Neves à presidência da república no colégio eleitoral culminaria com a redemocratização do país, chegando ao fim o mais longo e negro período de perda dos direitos civis e políticos da história brasileira, com profundas repercussões para a cidadania brasileira. Na prática democrática inaugurada a partir de 1985, houve avanços e retrocessos, típicos do aprendizado político de nações semi-periféricas. Um dos grandes destaques, sem dúvida, foi o surgimento do Movimento dos Sem Terra. Representando uma parcela da população das mais injustiçadas do país, os trabalhadores rurais, e confrontando-se com um dos mais graves problemas sociais do Brasil, a posse da terra, o MST força sua entrada na arena política e vem demarcando, com expressividade, sua força
87 87 organizativa. Unindo participação democrática com auto-sustentação econômica, requisitos necessários à legítima conquista cidadã (Demo, 1993), esse movimento vem representando uma das mais expressivas formas de exercer a cidadania no Brasil. Na visão de Carvalho, a grande herança deixada pelos 21 anos de ditadura, além de uma divida externa impagável, do aprofundamento das desigualdades recheadas de regionalismos raciais, fossos de miséria e violência nos grandes centros urbanos, foi o corporativismo sindical e a visão do Poder Executivo como dispensador de benefícios sociais. O processo de redemocratização do país foi tardio e encontrou uma conjuntura mundial de crise fiscal dos Estados de bem-estar social, um dos principais fatores de inviabilização das conquistas sociais registradas na constituição de Situando o Brasil no contexto da transnacionalização do capital que se vem discorrendo, e procurando arrematar algumas saídas, cita-se o trecho abaixo: Diante dessas mudanças, países como o Brasil se vêem frente a uma ironia. Tendo corrido atrás de uma noção e uma prática de cidadania geradas no Ocidente, e tendo conseguido alguns êxitos em sua busca, vêem-se diante de um cenário internacional que desafia essa noção e essa prática. Gera-se um sentimento de perplexidade e frustração. A pergunta a fazer, então, é como enfrentar o novo desafio. As mudanças ainda não atingiram o país com a força verificada na Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos. Não seria sensato reduzir o tradicional papel do Estado de maneira radical proposta pelo liberalismo reditivo. Primeiro, por causa da longa tradição do estatismo, difícil de reverter de um dia para outro. Depois, pelo fato de que há ainda entre nós muito espaço para aperfeiçoamento dos mecanismos institucionais de representações. Mas alguns aspectos das mudanças seriam benéficos. O principal é a ênfase na organização da sociedade 77. A inversão da seqüência dos direitos reforça entre nós a supremacia do Estado. Se há algo importante a fazer em termos de consolidação democrática, é reforçar a organização da sociedade para dar embasomento social ao político. A organização da sociedade não precisa e não deve ser feita contra o Estado em si. Ela deve ser feita contra o Estado clientelista, corporativo, colonizado. Carvalho (2004:227). 77 Grifos nossos
88 88 Apostando na idéia de qualificar os enfrentamentos na esfera pública estatal, a relevância maior da proposição de Carvalho reside na ênfase dada no potencial da sociedade. Ademais, se as estratégias de tomar o poder por meio do Estado têm sido fracassadas, por outro lado ainda não se sabe como fazê-las sem ele. Apesar das ponderações de Holloway (2003) pra lá de pertinentes, sobretudo a idéia de que se deve ir além do Estado, parece que o mal necessário de Offe (1999) continua vogando, mesmo diante da crescente diminuição da centralidade do Estado na mediação do conflito entre capital e trabalho, alanvancada pela globalização. Sem querer desatar esse imbróglio, por fugir à modéstia deste estudo, importa ressaltar que o fortalecimento da cidadania brasileira passa pelo resgate do controle do Estado pela sociedade, constituindo-se num poder de baixo para cima (Demo, 2002b). Ademais, se o estadismo brasileiro sempre se mostrou hegemônico, e se a história das lutas políticas sempre se constituíram em constante ameaça ao populismo, caberia apostar mais numa ajuda que auxiliasse na conformação de autonomias do povo brasileiro, constituindo-se em força democrática capaz de exigir cidadania, ao invés de benesses. Tradicionalmente, a gestão da ajuda-poder tem sido utilizada no Brasil mais para controlar, amansar e subordinar os interesses do povo à elite corrupta, que desde sempre esteve no governo. A politicidade do cuidado, no âmbito das políticas sociais, pode vir a se constituir numa alternativa capaz de potencializar um poder-fazer (Holloway, 2003) contra-hegemônico (Santos, 2002), por meio de uma ajuda que, sendo também poder, se reelabora para construir as possibilidades de grito da multidão (Hardt e Negri, 2002). Tal intervenção cuidadora, disruptiva e reconstrutora, pode fortalecer sujeitos sociais e qualificar enfrentamentos, emancipando pela desconstrução progressiva de assimetrias de poder. Diante dessa hercúlea proposição, cabe algumas ponderações sobre o sentido da assistência social no contexto brasileiro, que historicamente tem
89 89 sido marcada pela tutela inibidora de politicidades. A inegável marca da autonomia presente na esfera vital dos seres, que na humanidade descrita por Morin (2002) se complexifica de maneira incapturável, torna-se o centro motor primordial para a consecução das políticas sociais. Nesse sentido, a assistência social, como típica ajuda e relação de dependência em prol da autonomia de sujeitos, precisa ocorrer na justa medida entre o benefício e a conquista de direitos. A assistência social é imprescindível nos momentos de fragilidade e vulnerabilidade humana diante da vida, mas precisa tornar-se cada vez mais secundarizada na medida em a autonomia dos sujeitos é fortalecida e reafirmada na sociedade. Em outras palavras, a assistência social traduz-se na implementação das ajudas possíveis e necessárias para que a autonomia humana seja sintetizada, e para que a vítima, tornada cada vez mais sujeito, passe a participar do movimento de conquista por direitos, como cidadão participante da vida democrática do país. Ocorre que, numa realidade socialmente injusta como o Brasil, onde a exclusão é a regra, a assistência precisa ocorrer a partir da articulação das distintas políticas públicas, tendo por princípio ético a superação da extrema pobreza e miséria que ainda existem. Nesse sentido, há de ser severamente controlada pela democracia ativa, pelos beneficiários tornados cidadãos na esfera pública de decisão. Assistência social, isolada e seletiva, é trunfo fácil para manipulação do povo pela elite corrupta que sempre esteve no poder político do país. O reverso dessa medalha ocorrerá pela pressão dos interessados, ou seja, os muitos oprimidos, violados, violentados e miseráveis que têm sustentado de maneira amorfa, e às custas de muita tutela e pouca cidadania emancipada (Demo, 1995), governos assistencialistas e populistas. O estado capitalista, palco de lutas e principal executor das políticas sociais no Brasil, precisa ser democraticamente controlado pela sociedade civil, ou pelos sujeitos forjados pela politicidade do cuidado. A democracia de que se fala ampara-se na discussão das categorias, vetores conceituais e transformações por qual vem passando desde o seu
90 90 surgimento, na perspectiva genealógica traçada por Goyard-Fabre (2003), a partir da ambigüidade que lhe encerra. Ou seja, no fato da democracia, desde sua origem, transitar entre a pureza inequívoca de seus princípios e a impureza da sua realidade, ambos cabendo nos limites da imperfeição humanas. Se por um lado, a democracia define uma forma de governo onde a autoridade se funda nos interesses do povo; por outro, transpõe para a esfera pública o caráter conflituoso das paixões humanas, (...)de tal forma que, no mesmo movimento que suscita a esperança da liberdade e da igualdade, faz pesar sobre a cidade as ameaças da desrazão que o desejo insaciável do povo introduz na razão. (id, 2003:13). O centro da dubiedade democrática residiria na tensão entre a vontade geral e a liberdade dos cidadãos. Há que se levar em conta os riscos de se assumir quaisquer dessas polaridades para a própria existência de um governo controlado pelo povo, como revela a própria história da civilização humana ocidental, permeada de regimes totalitários que insistiram em pensamentos únicos como mecanismo de interdição privilegiado. Para a autora, os debates filosófico-políticos põem em evidência três questões: o aspecto da legitimidade do poder, o problema dos direitos humanos e a relação entre público e privado. Longe de pretender resolvê-los, argumenta que a principal força e perigo da democracia reside nos limites do humano, em seu poder (re)construtor e destruidor. Nesse ponto ambíguo, não existiriam diferenças entre as democracias antigas ou contemporâneas, uma vez que todas são, por definição e compleição histórica, essencialmente humanas, portanto, imperfeitas. É por isso que a ambivalência da democracia existe em todos os tempos. A democracia sempre foi desejável. A esperança da liberdade é sua força profunda e, como nenhum homem sensato pode racionalmente defender a servidão, ela está inscrita na essência da humanidade. Mas, em seu conjunto, a democracia é temível: para os povos bem como para os indivíduos, é árduo assumi-la, porque a liberdade tem limites e esses limites, que são indicação da imperfeição dos homens, são difíceis de traçar de modo duradouro. Por isso é preciso convencer-se de que a democracia não é, como se pensou por tanto
91 91 tempo, apenas um regime político possível entre outros modelos de governo. (...) Ela faz parte do horizonte da natureza humana, ao mesmo tempo cheio de luz e carregado de nuvens. (...) Ela se alimenta das mais elevadas esperanças e ela é, sem trégua, mimada pelas mais angustiantes crises; mas ela não é nem a utopia de uma cidade ao sol, nem o mito de um inferno. Obra humana a ser sempre repensada e recomeçada, ela remete a condição humana, diante de toda história, a seu sentido mais profundo e mais perturbador: sempre imperfeita, essa grande aventura humana é um fardo difícil de carregar, (Id., 2003:349). Sem adentrarmos nessa profícua discussão para lá de relevante, cabe considerar, para os propósitos e concepções da tese aqui defendida, que o caráter emancipatório do cuidado reside na constante recriação das possibilidades democráticas presente nas relações de ajuda-poder. Ou seja, é pelo partilhamento horizontalizado de poderes, presente na atitude de cuidar, síntese da intersubjetividade eu/outro, potencialmente reconstrutiva, que novas ordenações de poderes se tornam possíveis, forjando seres humanos crítico-éticos e participativos diante das desigualdades sociais. Aqui, democracia e cidadania se imbricam e se complementam na utopia realizável de emancipar sujeitos históricos. A politicidade do cuidado, expresso pelo triedro emancipatório do cuidar pautado em princípios democráticos, constitui-se em possibilidade para o combate às desigualdades sociais e desafio para a cidadania ativa. Apostar nessa concepção significa assumir uma proposição por mudanças que é imanente à história, portanto possível de conquistar. Numa tentativa de indicar dinâmicas disruptivas para a gestão inteligente da ajuda-poder no âmbito das políticas sociais, sabendo-as provisórios e sempre discutíveis, poder-se-ia elencar alguns caminhos centrais: Priorizar o acesso à educação formal de qualidade, investindo na formação de cidadãos críticos, contestadores, criativos e participativos; Investir para que o pobre seja cada vez mais capaz de elaborar projetos próprios de autonomias, centrando-se na epistemologia crítica do cuidado;
92 92 Oportunizar a integração e otimização das várias políticas sociais existentes, alargando a real participação e controle público dos cidadãos com relação ao Estado; Dinamizar as diversas alternativas de produção existentes (microcréditos, formação de cooperativas, associativismos produtivos, dentre outras alternativas da economia solidária), fortalecendo os caminhos da auto-sustentação econômica como pressuposto à cidadania emancipada (Demo, 1995). No fundamento dessa idéia reside o direito à re-apropriação dos meios de produção, apostando na releitura crítica da utopia revolucionária marxista (Hardt e Negri, Holloway, 2003); Superar os localismos (fundados no fortalecimento de poderes locais concernentes à lógica do comando Imperial) ou os regionalismos segregacionistas, potencializando cada vez mais os movimentos e a transnacionalização de trabalhadores capazes de se contraporem a volatilidade e vitalidade do capital. Incluem-se aqui a ampliação dos espaços políticos e a reivindicação plural por políticas sociais eqüânimes, amplificando a cidadania para além dos limites territoriais (Vieira, Santos, 2002); Canalizar ações e políticas para que os trabalhadores (ou a multidão) possam conquistar o direito geral de controlar seu próprio movimento, por uma cidadania global (Vieira, Hardt e Negri, 2002), ou por uma globalização contra-hegemônica (Santos, 2002). O grito proposto por Holloway (2003) é condição inicial para a amplificação do NÃO e da vontade de ser contra da multidão (Hardt/Negri, 2002). Sem ele, homens e mulheres são abafados pelas ondas liberais midializadas e mundializadas. Mas apenas gritar não basta. É preciso cuidar de forma emancipada, potencializando uma ajuda capaz de confrontar poderes, forjar autonomias e construir utopias baseadas em fazeres libertos da alienação capitalista.
93 Gestão do Cuidado na Política de Saúde do Brasil: Politicidades A política de saúde do Brasil, ambientada na forma como a politicidade do cuidado (gestão da ajuda-poder) vem se conformando historicamente nas sociedades capitalistas, é permeada por disputas entre mercado e bem comum, com certo predomínio do primeiro sobre o segundo. Apesar disto, vale dizer que o amplo movimento social da Reforma Sanitária 78, desencadeado a partir da década de setenta, constituiu-se numa mobilização expressiva da sociedade civil por conquistas, dando origem ao atual Sistema Único de Saúde (SUS). O contexto de democratização e crise econômica na década de oitenta, bem como a força política dos atores sociais da Reforma Sanitária (intelectuais e profissionais de saúde dos setores médios), configuraram um palco de disputa singular na história das políticas sociais do país, cuja principal reivindicação, a saúde como direito de todos e dever do Estado, foi garantida no texto da Constituição de A institucionalização do SUS, orientada por princípios universalistas e solidários, pode ser vislumbrada sob a influencia da conformação da ajudapoder no contexto de redemocratização que o país viveu. Ambientada nas lutas políticas que balançaram o país na elaboração da Constituição de 1988, e tendo por cenário econômico a década perdida 79, marcada por recessão, crise fiscal do Estado, inflação e desemprego, a implementação dos princípios do SUS segue em intensa disputa, com algumas conquistas, muitas derrotas e sérias ameaças à cidadania brasileira. Pode-se dizer que o movimento que deu origem ao SUS, apesar dos avanços no escopo da institucionalidade dos direitos sociais, se abranda 78 Pela centralidade que a Reforma Sanitária significou para conquista do SUS, seguindo como objeto de reflexão para vários teóricos/militantes, e ainda pela pertinência de se buscar politicidades nas repercussões desse movimento social para a gestão da ajuda-poder que ora se advoga, retornarei a essa questão adiante. 79 Numa breve síntese do contexto de crise econômica em que a implantação do SUS ocorreu, cenário que seguramente também favoreceu o êxito do movimento de reforma sanitária, cita-se Cohn (2002: 234): O ano de 1988, portanto, consagra a conquista institucional do movimento sanitário, que se esgota com a promulgação da Constituição Federal. Não obstante, a crise da saúde agrava-se: a recessão econômica que marcou a década perdida na América Latina diminui a massa salarial, em conseqüência diminuem os recursos da seguridade social e aumenta a demanda por benefícios e assistência médica. O setor privado da saúde, por sua vez, que
94 94 sem reverter a lógica de crescente desigualdade no acesso aos serviços de saúde. Universalidade, eqüidade, integralidade e participação social 80, princípios do SUS que denotam forte compromisso ético com o bem comum, seguem como utopias realizáveis, operando entre o possível-real-medíocre e o real-ideal-concretizável. O cenário econômico mundial transnacionalizado, as exigências de flexibilização das garantias sociais que o capital financeiro internacional vem impondo sobre os Estados, bem como a forte dependência que países periféricos, como o Brasil, sempre tiveram dos países ricos e do FMI para se desenvolverem, numa clara submissão à ajuda elegante (Gronemeyer, 2000), se intensificam na década de noventa em diante. O ajuste estrutural ditado pelo conservadorismo neoliberal assume voz firme de comando sobre as nações pobres do mundo, impondo medidas econômicas que restringem o poder do Estado na consecução das políticas públicas. Superavit primário e DRU 81 (Boschetti, 2001) são mecanismos utilizados para saldar uma dívida externa impagável, às custas de muita pobreza e pouca priorização na área social. Alguns autores, como Conh (2002), consideram que, no Brasil, o ajuste neoliberal para o setor saúde não atingiu a dimensão de política, mesmo se configurando como processo para tal. A justificativa se daria pela forte durante as décadas de 60 e 70 se estruturou e capitalizou às custas da política de previdência social, passa agora a pressionar por melhores condições de remuneração dos serviços prestados à seguridade social.. 80 Universalidade como acesso democrático da população aos serviços e sistema de saúde, pressupondo participação como conquista de oportunidades alargadas. Eqüidade significando o caminho para uma sociedade justa, onde as diferenças e desigualdades são tratadas como tais para se garantir inclusão e cidadania, independente de raça, credo ou condição social. Pretende-se com essa concepção priorizar o acesso a quem tem menos oportunidades e escolhas, tratando o diferente e desigual de maneira diferenciada. Integralidade se insere na dimensão das práticas de saúde, pressupondo uma abordagem holística, interdisciplinar, processual ecentrada na pessoa (ou coletividades) como sujeito de seu processo saúde-doença. 81 A Desvinculação de Receitas da União (DRU) diz respeito ao desvio de financeiro das receitas federais para outros fins, diferente do que fora previsto inicialmente na fonte de arrecadação. Assim, mesmo com orçamento aprovado, as políticas sociais são alvo de constantes cortes de recursos e contingenciamentos para pagamento da dívida. Era assim no governo FHC e continua sendo com Lula, apesar da trajetória de esquerda do Partido dos Trabalhadores (PT). Em episódio recente, o governo Lula encaminhou ao Congresso projeto de reforma tributária que previa mecanismo semelhante para os recursos da saúde, contrariando os princípios do SUS e a própria Emenda Constitucional nº 69, que prevê o ordenamento de gastos em saúde nas três esferas de governo. Após intensa mobilização das entidades que lutaram e continuam atuando para defesa do SUS (Conselho Nacional de Saúde, Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva ABRASCO, Associação
95 95 constitucionalidade que o sistema público de saúde brasileiro conquistou, que tem resistido, mesmo que a duras penas, ao forte desmantelamento que outros setores têm sofrido. É importante que se diga, porém, que o setor privado de saúde, tido como complementar ao SUS, segue com poucas alterações na sua lógica de mercado, operando seja como prestador de serviços remunerados pelo poder público, seja como provedor de planos e seguros de saúde aos setores médios da população, com frágil regulação do Estado. Assim, o sistema público de saúde segue a tendência histórica de assistir preponderantemente a população pobre, estando marcado por longas filas, emergências lotadas, mau atendimento e pouca cidadania, apesar das ilhas de excelências e experiências de gestões localizadas dignas de nota 82. Acrescente-se que o SUS é responsável pelo atendimento de grande parcela da população pobre brasileira, com um volume de gastos, serviços e procedimentos expressivos. Sem se adentrar ainda na qualidade da atenção à saúde, marcada por fragmentação da assistência, institucionalização do cuidado (Pires, 2002), pouca resolutividade dos serviços e pulverização de recursos públicos, os números revelam o tamanho do desafio que se tem de enfrentar: i- a rede ambulatorial do SUS perfaz cerca de unidades, sendo realizadas, em média, 350 milhões de atendimento/ano; ii- são hospitais públicos, filantrópicos e privados, no total de leitos, onde são realizadas mais de 1 milhão de internações mês, perfazendo 12,5 milhões de internações por ano; Iii- no ano de 2000, foram realizados 2,4 milhões de partos, 72 mil cirurgias cardíacas, 420 internações psiquiátricas, 90 atendimentos politraumatizados em serviços de urgência, transplantes de órgãos, sendo de rim, 389 de fígado e 104 de coração; iv- são dispensados pelo Ministério da Saúde cerca de R$ 10, 5 bilhões por ano para custeio de atendimentos de média e alta Brasileira de economia da Saúde, CONASS, Conasems), houve recuo do governo federal, retirando esse item da proposta (Mendes e Marques, 2003). Volto a essa e outras questões inerentes ao financiamento do SUS, adiante. 82 Cite-se, por exemplo, o setor de transplantes e hemodiálise, além do tratamento do câncer e AIDS.
96 96 complexidade ambulatorial e hospitalares, e R$ 3 bilhões para a Atenção Básica. 83 Se a eqüidade na atenção à saúde ainda está longe de se efetivar, haja vista as enormes desigualdades sociais, epidemiológicas e de acesso aos serviços de saúde entre ricos e pobres, no âmbito da ampliação do acesso houve avanços, uma vez que se conseguiu romper com a cidadania regulada (Santos, 1987), típica da medicina previdenciária da década de 70. Mesmo sendo pouco para uma política de saúde que se pretende universal, justa e solidária, a gestão do SUS parece ter uma especificidade institucional importante no que se refere ao financiamento, à descentralização com comando único e ao estímulo ao pacto federativo democrático 84, servindo de exemplo para outras áreas, como assistência social e segurança pública, que igualmente criaram sistemas únicos. Nem completamente neoliberal, mas tão pouco universal, a política de saúde brasileira tem sérios problemas estruturais, uma vez que se insere num contexto de conformação da ajuda-poder marcado pela tutela, pela estatização das políticas sociais e pela incipiente democracia do país (Carvalho, Demo, Bravo, 2002). Uma das expressivas incoerências do SUS, que contradiz seus princípios universalizantes, é o fato de não ter conseguido romper com a histórica divisão entre saúde pública, gratuita e gerida primordialmente pelo Estado, e assistência médica 83 Números retirado do documento O Sistema Público de Saúde Brasileiro, do Ministério da Saúde, sistematizado por ocasião do Seminário Internacional Tendências e Desafios dos Sistemas de Saúde das Américas, realizado em São Paulo, Agosto/2002. Note-se que a atenção primária à saúde (atenção básica), amplamente discutida como estratégia de organização dos serviços de saúde por contribuir com a hierarquização e resolubilidade dos mesmos, não se reveste em prioridade orçamentária. A atualização destes valores ao orçamento de 2004 será realizada adiante, na análise da gestão do PSF à luz do triedro emancipatório do cuidar. Sobre as experiências inovadoras de gestões municipais e estaduais do SUS, consultar (com críticas): Brasil (2002a,b,c). 84 Sobre o processo de gestão institucional do SUS, há vasta legislação, sendo as mais relevantes a Lei 8080/90, a Norma Operacional Básica (NOB) 01/93, que estabelece as comissões intergestores bipartites (CIB) e tripartites (CIB) como fóruns de negociação privilegiados de pactuação entre esferas de governo, e a NOB 01/96, onde se tem um avanço na descentralização de recursos. Também a Norma Operacional de Assistência à Saúde NOAS 01/02, que pretende ordenar melhor a expressiva municipalização e fortalecer a gestão estadual como coordenador de uma rede hierarquizada e regionalizada de serviços. Excessivamente tecnocrática, essa norma está em processo de revisão. Uma versão comentada da gestão do SUS pode ser consultada em: Para entender a gestão do SUS, em coleção organizada pelo CONASS (Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde)- Progestores, Brasil (2003).
97 97 individual, eminentemente privada e liberal (Conh, Merhy, Campos, Mendes, 2001). Nesse sentido, o Estado brasileiro tende fortemente ao neoliberalismo, focalizando seletivamente políticas públicas, de baixa qualidade, para pobres, e subsidiando e/ou pouco regulando o setor privado, dando condições para que a saúde seja transformada em mercadoria. O setor privado em saúde do Brasil, formado tanto pela assistência médica supletiva como pelas indústrias farmacêuticas e laboratoriais, tem crescido expressivamente com a globalização, atuando com forte presença do capital financeiro e influenciando as tensões dentro do Estado em favor do mercado. Tal fato, evidentemente, não ocorre isolado de um contexto econômico maior, que faz com que o projeto de construção do SUS se torne contrário a interesses dentro da própria esfera pública governamental. Com um plano de estabilização da economia que emperrou o crescimento, e tendo que seguir o receituário do FMI para obter crédito e ganhar confiança dos investidores internacionais, o país se vê num contexto onde as políticas públicas vêm sendo cada vez mais restringidas, sobrando pobreza e desemprego 85. Para Cohn (2002), o setor privado da saúde, a partir da década de 80, torna-se relativamente independente do mercado instituído pelo Estado. Uma vez consolidado, essa área passa a se organizar independentemente da intermediação estatal por meio, sobretudo, dos planos e seguros de saúde. Tal comportamento, além de ter tido pouca regulação do poder público (bastando dizer que a lei que normatiza os planos e seguros privados no Brasil passou 10 anos no Congresso para ser aprovada 86 ), conta com 85 Em edição comemorativa dos 10 anos do Real, plano de estabilização da economia lançado em 1994, a Folha de São Paulo de 27 de junho de 2004 sintetiza o resultado dessa política na seguinte manchete: Plano vence inflação, mas não a desigualdade. Traduzindo em alguns números, o país parou de crescer (3,5% ao ano); a pobreza passou de 49 (33% da população). em para 57 milhões de pessoas (34% da população); a participação dos trabalhadores na renda nacional caiu de 37,7% do PIB para 31,4%, enquanto o capital subiu de 39% para 43,2%. O desemprego aumentou de 5,1%, em 1994, para 12,2% da população, em Refiro-me a Lei 9.656, de 3 de julho de 1998, que dispõe sobre os Planos e seguros privados de assistência à saúde.
98 98 isenções fiscais que estimulam tanto o consumo, quanto a prestação de serviços para o Estado. Discorrendo sobre o que considera os grandes dilemas do SUS, Mendes (2001), por sua vez, atualiza o que considera universalização excludente, termo utilizado em produção anterior (Mendes, 1993), para demarcar a profunda desigualdade que ainda perdura no sistema de saúde brasileiro. Vale ponderar, porém, algumas críticas a esse livro. O autor apresenta fragilidade teórica visível, em especial ao definir conceitos de forma ligeira e pouco argumentativa. Expressa linearidade nas discussões de questões marcadamente complexas, como, por exemplo, quando trata a sociedade dicotomicamente como cooperativa ou competitiva. Tal linearidade se expressa, inclusive, ao incorporar a noção simplista de dilema, entendido pelo autor como situação embaraçosa com duas saídas difíceis e reciprocamente excludentes (Mendes, 2001:29). Mesmo podendo se considerar que só existam duas saídas, o que por si contradiz a complexidade da realidade, as mesmas podem não ser excludentes, se entendidas como unidades dialéticas. Com as devidas e sérias ressalvas, o livro toca em questões nevrálgicas, atuais e polêmicas para a efetivação do SUS. Convive-se hoje com as contradições de uma política que se propõe universal, mas não regula efetivamente o mercado, traduzindo-se em ilhas de excelências para alguns, e programas de saúde pública para o resto da população. Para o que aqui interessa, a descrição que Mendes (2001) realiza acerca da composição do acesso aos serviços de saúde, sob a perspectiva dos usuários, ilustra com pertinência a contradição do SUS (dito solidário e universal, mas que se insere num contexto neoliberal, mercadológico e competitivo). Assim, os serviços de saúde brasileiro vêm encontrando saídas para as constantes crises reformistas e neoliberais na forma de fragmentação, tendo remodelando antigas demandas. O autor descreve essa pulverização analisando a migração que vem ocorrendo entre os dois
99 99 últimos modelos assistenciais - o médico-assistencial privatista (década de 40 até 80), que se consolidou com o processo de industrialização do Brasil e se caracterizava pelas caixas de previdências e pela compra de serviços pelo Estado - e o atual, dito segmentado por englobar vários outros sistemas. Esse sistema segmentado, incorporando antigas divisões do modelo médico-assistencial privatista, estrutura-se em três grandes sistemas, o SUS (Sistema Único de Saúde), o SAMS (Sistema de Assistência Médica Supletiva) e o SDD (Sistema de Desembolso Direto). O SUS, público e universal, é responsável por 48,6% dos atendimentos à saúde, tem uma clientela nominal de cerca de 110 milhões de usuários e teria incorporado a clientela do setor previdenciário e a população excluída dos serviços. O Sistema de Desembolso Direto (SDD) seria constituída por parcela da população que paga diretamente pelos serviços de saúde, sendo um sistema complementar tanto para os usuários do SUS, quanto de planos e seguros privados. O Sistema de Assistência Médica Supletiva, sistema privado com subsídios diretos e indiretos do Estado, é constituído por quatro modalidades assistenciais: a medicina de grupo, a autogestão, a cooperativa médica e o seguro-saúde, tendo crescido expressivamente nos últimos anos. O número de beneficiários passou de 16,2% dos brasileiros, em 2001, para 38,2 milhões, em 2004, o que significa 21,6% da população, embora a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) utilize as estimativas do PNAD/IBGE, de cerca de um quarto da população brasileira coberta com planos privados, em seus documentos 87. Ainda segundo a ANS, responsável pela regulação do setor, a população beneficiária encontra-se desigualmente distribuída, coincidindo com a pobreza regionalizada do país e concentrando-se nas regiões mais ricas. Para ilustrar melhor, somente o estado de São Paulo possui 44,65% do total nacional, a região sudeste corresponde a 69,23 % e a sul, 11,70%. Somando-se essas duas regiões, vê-se que cerca de 80,93% dos usuários dos Planos e seguros privados do país se 87 Informações obtidas no site em 25 de junho de 2004.
100 100 concentram nas regiões mais desenvolvidas (PNUD/Brasil, 2003). Saliente-se que o setor tem tido um aumento significativo do faturamento que, segundo Mendes (2001), correspondeu a US$ 16 bilhões em A frágil regulação do setor privado de planos e seguros de saúde no Brasil pode ser exemplificada pelo débil ressarcimento desses setores ao SUS. Ou seja, segundo a Lei 9.656/98, art. 32, as operadoras devem ressarcir ao SUS os serviços previstos em seus contratos que tenham sido prestados pela rede pública de saúde. O cumprimento desse dispositivo poderia evitar a duplicidade de receitas por parte das prestadoras de serviços, que usualmente recebem dos consumidores, por meio dos planos e seguros, e do próprio SUS, pelos serviços prestados. Racionaria também os gastos públicos em saúde, um dos grandes desafios do SUS. Porém, esse processo tende a ser moroso, excessivamente burocrático e pouco específico na identificação dos serviços a serem pagos 88. Outro ponto relevante para a análise da gestão da política de saúde do Brasil diz respeito à descentralização ou à transferência de responsabilidades e recursos federais para gestão e execução de políticas públicas 89, que se intensificou a partir da constituição de 1988 e que no SUS ganhou amplitude considerável a partir da publicação da NOB 01/96. Contrapondo-se ao regime autoritário e centralizador da ditadura militar, o movimento pela redemocratização do Brasil assumiu como bandeira de luta a autonomia de municípios na condução das políticas, bem como a participação da sociedade nas decisões da esfera pública. A descentralização de políticas públicas suscita argumentos fortes em seu favor, em geral associados à otimização na alocação de recursos, 88 Em documento apresentado pela ANS ao Conselho Nacional de Saúde, em junho de 2001, e em informação também facilmente verificada no site, registrou-se que apenas 1% do total de AIH s (Autorização de Internação Hospitalar) geradas pelo SUS são identificadas para ressarcimento. Dos R$ 21,6 milhões cobrados naquele ano, apenas R$ 3,4 milhões foram recebidos, uma vez os processos acabam na justiça, com a tramitação lenta em função de muitos recursos que impedem a agilidade no procedimento. 89 Entenda-se política pública como um compromisso com o que é de todos, sustentado por uma comunidade e expresso por um conjunto de decisões que são negociadas, geridas e implementadas nos espaços da política. O
101 101 melhor eficiência na execução dos serviços, oportunizando a participação da sociedade na fiscalização e priorizaçãos das políticas públicas locais. São implicações importantes para a cidadania, podendo fortalecer o exercício cotidiano dos atores sociais na arena política. Porém, a associação positiva e um tanto automática - que se tem feito entre descentralização e cidadania pode incorrer em freqüentes riscos ou reducionismos nas análises sobre o assunto (Arretche, 2002). A idéia de que não é bem assim, embora teoricamente ambos os termos se imbriquem, talvez seja a primeira desconfiança plausível, haja vista a frágil cidadania do Brasil já referida. Fundamentando-se no contexto da descentralização dos anos oitenta, marcado pela territorialização das políticas públicas, mudança no perfil urbano, incremento de recursos para unidade subnacionais e redemocratização, D ávila (2002) discorre que estaria ocorrendo uma transição para um novo pacto federativo dos anos noventa, com recentralização fiscal e política. A autora aponta vários percalços por quais tem passado a descentralização no Brasil, caracterizada pela perduração de formas arcaicas no exercício da política e na administração pública, pela ausência de ações coordenadas nos três níveis de governo e pelo não enfrentamento da reforma do Estado, resultando em padrões diferenciados de políticas setoriais. Diversas avaliações e análises sobre o processo de descentralização entre níveis de governo têm sido feitas na área da saúde 90. Refira-se em especial Arretche (2002), que examinou a extensão e os determinantes do processo de municipalização da saúde em municípios. Na análise desenvolvida, verificou-se o alcance da municipalização em duas dimensões: a oferta municipal de serviços de atenção básica (produção direta de serviços básicos) e a gestão da rede hospitalar local (capacidade de controle e regulação dos provedores privados e públicos). Atentou-se termo público, pois, não corresponde necessariamente a estatal, embora tenha o Estado como principal instrumento de viabilização das ações destinadas ao bem-comum. (Demo,2002c). 90 A revista Ciência e Saúde Coletiva, v7 n3 de 2002, por exemplo, cujo tema é Saúde: o desafio da gestão local, apresenta vários artigos, pesquisas e temas livres sobre o assunto.
102 102 para o impacto das seguintes variáveis sobre a decisão municipal em favor da municipalização: i- o porte e localização do município; ii- suas capacidades fiscais (gasto e arrecadação); iii- as preferências do eleitorado local; iv- a competição eleitoral; v- o contexto local para tomada de decisão; e vi- o impacto local da estratégia federal de descentralização. Dentre as principais conclusões do estudo, cita-se: i- o processo de descentralização ocorre de forma distinta nas duas dimensões analisadas, sendo que a oferta de serviços de atenção básica encontra-se bem mais avançada (influenciada pela política de descentralização induzida pelo Ministério da Saúde a partir de 1996) que a gestão da rede hospitalar local; iias diferenças de porte e localização dos municípios se mostraram relevantes: cidades de menor porte (até habitantes) tendem a oferecer uma quantidade per capta maior de serviços que as capitais. Tal característica estaria associada relativamente à maior capacidade de gasto municipal; iiia capacidade de gestão do sistema hospitalar local é relativamente mais avançada em cidades maiores (cidades-pólo ou de caráter regional). Influenciam esse fato a capacidade de arrecadação do município e o efeito cumulativo no tempo de adesão aos requisitos previstos na NOB/ 93. Sem esquecer o contexto sócio-histórico em que a política de saúde se insere, marcado tanto por peculiaridades regionais, quanto por influências nacionais e mundiais, pode-se dizer que as conclusões do estudo coincidem com vários outros no que se refere à caracterização das gestões municipais que têm tido melhores resultados com a descentralização. Assim, um município de pequeno ou médio porte, população menor, com aprendizado político em curso no exercício democrático-participativo, com capacidade técnica de arrecadação e gasto em saúde equilibrada, com laços de solidariedade mais fortalecidos, menos violência urbana e, possivelmente, problemas de saúde menos complexos, terá muitas chances de ter êxitos na organização de seus sistemas de saúde, a depender, claro, de sua trajetória sócio-econômica.
103 103 Em relação ao fato dos municípios conseguirem organizar com mais facilidade a atenção primária à saúde encontra justificativa na clássica divisão que sempre houve no Brasil entre saúde pública, centrada em programas normatizados pelo Estado e com baixa complexidade tecnológica, e atendimento individualizado, eminentemente hospitalar e atuando sob a lógica de produção de procedimentos, exames, consultas e internações diretamente relacionados com o viés mercadológico. É muito mais difícil organizar o setor hospitalar, por vários motivos, todos inscritos na intensa correlação de forças dos atores na esfera estatal. Cita-se alguns: i- as contradições entre trabalho e capital são mais intensas; ii os interesses do mercado em saúde (laboratórios, equipamentos, prestadores de serviço, assistência médica suplementar) são muito maiores e mais bem articulados com o legislativo e executivo; iii- a demanda da população pelos serviços hospitalares é maior e mais complexa, sendo necessário organizar o sistema de forma integrada e resolutiva em todos os níveis de atenção; iv- as resistências de profissionais em mudar a cultura organizacional das instituições hospitalares (e o próprio processo de trabalho em saúde), tradicionalmente hierárquicas, verticais, fragmentadas, rotinizadas, mecanizadas e com forte influencia do fordismo produtivo e alienante; v- a forte medicalização dos problemas sociais, com consequente pressão cultural por consultas, medicamentos e exames. Indubitavelmente, o setor saúde avançou muito no processo de descentralização de ações e recursos para os municípios. Hoje, praticamente todos os municípios brasileiros estão habilitados em uma das duas formas de gestão previstas na NOB 01/96 (1-plena da atenção básica; 2- plena do sistema municipal de saúde) ou NOAS 01/02 (1-plena da atenção básica ampliada; 2- plena do sistema municipal de saúde), que os possibilitam receber recursos diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos Fundos Municipais (Brasil, 2002b) 91. Mediante um Plano de 91 Sobre esse ponto em especial, a recente Portaria nº 2.023/GM, de 23 de setembro de 2004, extingue ambas as formas de gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, segundo a NOAS SUS 2002, e Plena da Atenção Básica, segundo a NOB 01/96. Vale dizer que, atualmente, apenas 15 municípios brasileiros não estão
104 104 saúde elaborado pelas secretarias de saúde e aprovados pelos respectivos conselhos, o gestor de saúde tem certa autonomia na alocação de recursos financeiros para a atenção básica, fazendo-a a partir das necessidades locais, sob as diretrizes do SUS. Com as transferências de recurso fundo-a-fundo ampliou-se o orçamento de municípios de pequeno e médio porte, melhorando os quadros técnicos das secretarias e a oferta de serviços básicos de saúde à população. Muitas experiências exitosas de SUS municipais foram estruturadas a partir da implantação da NOB 01/96, que incrementou o processo de descentralização com a transferência de responsabilidades e recurso financeiro, atendendo a antiga reivindicação dos defensores do SUS. Igualmente a criação do PAB (Piso da Atenção Básica) 92, valor per capta repassado aos municípios de acordo com a população, significou um avanço da municipalização do SUS, porque não está vinculado ao pagamento de procedimentos e consultas, mas a organização da atenção à saúde a partir das necessidades da população. Vale salientar, porém, que embora os recursos federais tenham sido priorizados na modalidade de repasse fundo-a-fundo sobre o pagamento por produção de serviços, passando de 10%, em 95, para mais de 60%, em 2002, manteve-se a lógica de produção para a assistência hospitalar individual, pouco reguladora (e até estimuladora) do mercado de bens e serviços em saúde. habilitados em uma das formas de gestão previstas pelas normas operacionais, o que demonstra a grande descentralização de recursos já implantada. Esse ato, que será discutido adiante na análise da gestão do PSF, tem grande potencial de avanço, uma vez que diminui a burocratização da descentralização, reconhece responsabilidades constitucionais do gestor local perante a atenção básica à saúde da população e prioriza a pactuação como instrumento de gestão e avaliação do SUS. 92 Atualmente, existe o PAB fixo, correspondente a R$ 13,00 per capta/ano (portaria 2024/GM, de 13 de setembro de 2004) e o PAB variável, que pode ir se agregando ao PAB fixo do município caso ela adira aos programas definidos pelo Ministério da Saúde (Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), Programa Saúde da Família (PSF), de combate às carências nutricionais, Farmácia Básica e Ações Básica em Vigilância Nutricional). Desta forma, a composição do PAB global (fixo+variável) pode chegar até a três vezes o valor que o município receberia apenas com o PAB fixo. Segundo levantamentos do Departamento de Atenção Básica, nos municípios onde estão implantados todos os programas do PAB variável, a média do PAB se eleva para R$29,00/habitante/ano.Uma das críticas que vem sendo feita a esta forma de financiamento é que ele induz a eleição das prioridades pelo município, perpetuando a lógica de saúde pública por recortes ou programas (Mendes e Marques, 2003), ranços históricos do sanitarismo campanhista (Mendes, Campos, ). Discutirei melhor a inserção do financiamento da atenção básica no SUS e suas repercussões adiante, na análise de dados sobre a gestão do PSF à luz do triedro emancipatório do cuidar, item 3.3.
105 105 A despeito dos consideráveis e relativos sucessos, o processo de descentralização do SUS vem recebendo outras tantas críticas pertinentes. A principal, e mais preocupante, é que a agilidade na transferência de recursos e responsabilidades para o município não veio agregada a uma política de acompanhamento, assessoria, apoio técnico e avaliação dos níveis estaduais e federais do SUS. Se o repasse de recurso é importante para a gestão local dos serviços de saúde, isso não implica em desobrigação das demais esferas de gestão. Ao contrário, tornam-os mais complexos e necessários, já que o pacto de gestão é tripartite, fundado na democratização das decisões e compromissos assumidos na esfera pública. O que ocorre, então, é que ao município cabe a maior parte do peso na execução dos serviços de saúde, tendo que garantir acesso com eqüidade, referência especializada e transferência do usuário para outros centros, quando não dispõe do atendimento no local. O nível estadual, por outro lado, se queixa do esvaziamento dos seus quadros técnicos para os municípios, que oferecerem, em geral, salários melhores, ficando as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) sem condições de assessorá-los na qualidade requerida. Ambos, então, reclamam do Ministério da Saúde, que em nome de um federalismo oportuno, se vê desobrigado em dar respostas mais firmes. Essa correlação de forças, rica em confrontos políticos eleitorais e, ao mesmo tempo, combativa e dinâmica, tem gerado os avanços e retrocessos do SUS. Em suma, se a descentralização for entendida como ajuda na construção de projetos próprios de saúde por gestões estaduais e municipais, favorecendo a gestão local, o pacto federativo e a participação social, cabe colocar que tal processo ocorre em contextos de dependências, sempre re-criadas. Dialeticamente falando, a parte, que não se reconhece em seu contrário não é totalidade, mas cartesianismo fragmentado e equivocado. Com isso se está querendo dizer que a ajuda nunca deixará de ser poder, podendo se travestir nas mais diferentes formas
106 106 de opressão, seja no paternalismo tutelador ou no liberalismo maquiado de democracia, por exemplo. Se o Estado centralizador e populista manipula e coage pelo assistencialismo paternalista, o neoliberalismo descompromissado com o público, fomentador de competições e individualidades, domina igualmente pela omissão velada. Em contraposição a esta bipolaridade opressora, a politicidade do cuidado não nega o componente de domínio presente na ajuda, reinventa-o cotidianamente de forma partilhada e responsável. E por falar em partilhamento, outra característica do SUS, inaugurada pela Constituição de 88, foi a constituição dos Conselhos de Saúde, paritários e deliberativos, que legalmente estão responsáveis pela fiscalização do Estado pela sociedade civil. Com o avanço do processo de descentralização, a maioria dos municípios foi obrigada a criar conselhos paritários para habilitar-se ao recebimento dos recursos federais. Observa-se então, a partir de 88, um crescimento numérico expressivo dos conselhos de políticas pública (saúde, educação, assistência, idoso, meio ambiente, criança e adolescente, etc). Com este fato público e notório, surgiu a figura do conselheiro profissional, especializado em representar a sociedade civil nos conselhos de controle democrático. Explica-se: diante da frágil cidadania e pouco exercício participativo da população brasileira, uma mesma pessoa acaba fazendo parte de quase todos os conselhos municipais, como se fosse possível ser representante de tantas demandas, ou mesmo dominar tantos assuntos. O que ocorre, que não é novidade pelo que até aqui já se argumentou (e pela realidade que se convive diariamente), é que essas instâncias se transformam em expedientes burocráticos do executivo, com raras experiências que contrariam esse perfil. Um grande equívoco relacionado aos conselhos de políticas públicas é que se costuma, em geral, aprisionar o controle social apenas a esse espaço institucional, como se fosse possível conter as demandas ou politicidades da sociedade por melhores oportunidades em fluxos normatizados pelo Estado
107 107 capitalista. O que se vê, na prática, é muito ao contrário disso. No setor saúde, o Programa Nacional de DST/AIDS, reconhecido internacionalmente pela qualidade da assistência prestada aos portadores do HIV, pode ser considerado um dos que melhor tem sido controlado pela sociedade civil, até porque a epidemia da AIDS não escolhe classe social, contaminando pobre e rico, anônimos e famosos. Ao contrário do que se poderia supor, a pressão é exercida muito mais pelas organizações não-governamentais (ONG s), e não pelos conselhos de saúde. Aliás, pode-se mesmo considerar que este programa tende a se distanciar dos fóruns de negociação e pactuação do SUS, como as CIB s e CIT, tanto é que hoje um dos seus maiores desafios se refere à questão da sua sustentabilidade, uma vez que o avanço de suas ações vem contando basicamente com financiamento do Banco Mundial. Sobre a relação entre Estado, sociedade civil e participação social nas políticas de saúde, cita-se novamente Cohn (2003), que a aborda num contexto destituído de direitos, com índices extremados de pobreza e desigualdades sociais, como no Brasil. Tecendo apontamentos sobre o processo de participação da sociedade nos conselhos de saúde, questiona: Em resumo, o que está em jogo é se indagar sobre até que ponto e em que sentido essa modalidade de participação de distintos segmentos organizados da sociedade nessas instâncias efetivamente avançam no processo de democratização da democracia,(...), ou reforçam a presença da dimensão privada e particularista no processo de formulação das políticas de saúde, dados os diferentes interesses aí presentes. (id, 2003:17). Destaca, ainda, algumas dinâmicas sobre a participação nos conselhos, relacionadas principalmente com a baixa representatividade dos membros - expressando provável insuficiência no exercício democrático e herança da reforma sanitária voltado mais para o Estado que para a sociedade civil e o crescente distanciamento de representantes e representados, com avanço da dimensão técnico-administrativo em
108 108 detrimento da dimensão política propriamente dita. Nesse sentido, refere que as pautas e discussões travadas naqueles espaços são muito mais operacionais do que propriamente negociação entre interesses contrários. Estaria em jogo, sobretudo, o questionamento se os Conselhos de Saúde constituem realmente arenas públicas no processo de tomada de decisão. Acrescenta que seria importante refletir sobre a construção de um padrão de civilidade na sociedade brasileira por meio da valorização da política, passando-se de uma prática política defensiva, para uma prática política ofensiva. Sobre a participação da academia nesse processo, conclui: E até que ponto a produção acadêmica tem buscado contemplar essas dimensões sem cair na armadilha de se retornar a antinomia entre Estado e sociedade ou, no outro extremo, de se retornar a coincidência entre ambos, confundindo-se o público com o estatal. (id., 2003:18) A partir da crítica colocada por Cohn, é possível observar em vários autores (Paim, Fleury, Noronha e Soares, 2001.), muitos deles também participantes do movimento que deu origem ao SUS, que a tônica da Reforma Sanitária tende a ser vista primordialmente no campo da correlação de forças, porém com certa tendência em eleger o Estado como ator privilegiado na consecução da política de saúde no Brasil. Tal concepção denuncia o tom profundamente estatal presente nas políticas públicas brasileiras (Carvalho, Vasconcelos, 2003), além de certa ingenuidade em supor que a mediação do Estado capitalista possa operar em bases radicalmente solidárias sem a efetiva pressão da cidadania ativa, como se fosse possível mudar o mundo apenas por meio desse campo de lutas que, historicamente, sempre atendeu ao capitalismo (Holloway, 2003). Em reflexão acerca da práxis da saúde coletiva, a partir do aprofundamento teórico sobre estrutura e sujeito nas ciências sociais, Minayo (2001) reconhece a Abrasco 93 (Associação Brasileira de Pós-graduação em 93 A Abrasco, à exemplo do CEBES Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, se origina sob os auspícios do movimento da Reforma Sanitária
109 109 Saúde Coletiva) como intelectual orgânico no âmbito do sujeito coletivo da saúde. Apesar de destacar a relevância inequívoca da entidade tanto para o Brasil, como para a América Latina, faz críticas pertinentes sobre seu objeto epistemológico e atuação: No que concerne à discussão sobre sujeito epistêmico, minha observação é de que o conceito de saúde coletiva e, por conseqüência, toda a práxis da ABRASCO continuam manietadas aos parâmetros fortemente estruturados da hegemonia médica. Seu centro é a doença (coletiva?); sua reflexão é sobre doença ou os problemas de saúde; e sua atuação ou é exercida em nível de formulação política ou no âmbito das predições para os serviços de saúde que, em última instância, tratam das enfermidades. (...) Na minha opnião, essa rede prisional que envolve o quadro da ação teórica e prática da saúde coletiva necessita ser revista. Ela carrega todo o peso que a criação da Abrasco buscou romper e conseguiu somente no âmbito sócio-político. (Minayo, 2001:17). O arrefecimento das grandes mobilizações nacionais e a transfiguração dos movimentos sociais, fruto da própria conjuntura social, política e econômica pautada na fragmentação, competitividade e individualismo que se vem discorrendo, teve repercussões para os desdobramentos do movimento de reforma sanitária. Dispersos, atuando principalmente nos espaços da gestão pública (comprometidos e/ou contestadores de governos), na academia e/ou no engajamento associativo, parece que os atores sociais que tiveram um protagonismo acentuado na implantação do SUS perderam o vigor da militância de outrora. Isso não significa total apatia, mas mudança significativa no panorama e distribuição das forças sociais que influenciam os rumos da política de saúde do Brasil. Diante de tão intrincado cenário, onde a ameaça de transformar saúde em mercadoria ronda a gestão da ajuda-poder diante da pulverização do controle social do Estado pela sociedade civil, cabe refletir em que medida a politicidade do cuidado poderia contribuir para forjar cenários propícios à autonomia de sujeitos. O cuidado aqui defendido estaria o mais próximo possível de sua desinstitucionalização, ou desalienação, para Marx, ou libertação do poder-fazer, para Holloway (2003). Assim, seja inserido no
110 110 contexto da assistência à saúde, onde o processo de trabalho dos profissionais tem mais sentido no encontro das intersubjetividades (Ayres, 2001), seja na formação de cidadãos onde a ajuda se fortalece na construção da crítica, ou na gestão de políticas sociais, onde o processo decisório tem como dimensão ética a questão pública controlada democraticamente, a politicidade do cuidado pode ser uma possibilidade de mediação entre a tutela e a autonomia, em sentido disruptivo, reconstrutor e emancipatório. - Buscando Politicidades na Forma de Organizar e Produzir Cuidados em Saúde Uma das grandes lutas advindas do movimento da Reforma Sanitária, a mudança do paradigma assistencial em saúde, permanece como utopia concretizável. Tal ideário, fundado nos princípios doutrinários do SUS (universalidade, eqüidade e integralidade), sofre influência das profundas mudanças que vêem ocorrendo na economia e na sociedade, nos valores e hábitos de saúde da população (consumismo e medicalização dos problemas sociais), além da própria formação e prática dos profissionais (tecnicista, cartesiana, positivista), inserindo-se, claro, no contexto macroestrutural bem mais amplo de conformação da ajuda-poder. A referida mudança consistiria em transcender a abordagem curativa, hospitalocêntrica, fragmentada em especialidades, fundada em processos de trabalhos rigidamente divididos, alienados e na hegemonia do médico sobre a equipe de saúde (Pires, Merhy, 1997). Em seu lugar, propõem-se abordagens interdisciplinares, com resgate da integralidade da atenção, centrada na saúde, na comunidade, no fortalecimento das redes solidárias, na participação social e na pessoa como sujeito do processo de saúdedoença, seja em nível individual ou coletivo.
111 111 O modelo 94 curativo e hospitalocêntrico envolve a pesada indústria farmacêutica, de equipamentos e insumos tecnológico para o setor, portanto lucros e acumulação do capital (mercado). Para a manutenção dessa forma de produzir cuidados em saúde, que coincide com a reprodução do sistema capitalista, estimula-se o consumo de serviços e equipamentos em saúde, bem como a medicalização dos problemas sociais 95 da população, que geram dividendos para o setor privado. Em conseqüência, o mercado de trabalho que se abre ao profissional de saúde exige justamente o que as universidades estão prontamente respondendo, ou seja, um profissional especializado e tecnicamente competente, embora alienado de seu processo de trabalho e politicamente frágil 96. O que se pleiteia, portanto, é influir na lógica do mercado, ampliando a cidadania para além dele, como costuma dizer Demo (1995). Interferir na lógica do mercado significa, dentre outras coisas, imbricar-se nas análises sobre o desenvolvimento e contradições do capital, para, a partir e sobre os mecanismos que regem a economia capitalista, solapar a dignidade dos direitos e garantias fundamentais de uma sociedade igualitária. Assim, além das análises políticas sobre a efetiva implantação do SUS, é preciso adentrar na face econômica, igualmente relevante. A mudança preterida só conseguirá ter êxito se mexer com o modo como vêm sendo produzidas ações e serviços de saúde que, se historicamente têm privilegiado o capital, urge voltar-se para o trabalho. O fortalecimento do controle da sociedade 94 Por modelo assistencial entendo a forma com que o cuidado em saúde é produzido e se organiza na política de saúde para atender às necessidades da população. Apesar do uso bastante consagrado na literatura do setor, mantenho uma ressalva crítica em relação à expressão modelo, por restringir politicidades libertárias. Assim, a utilização desse termo está restrita a uma determinada forma de organizar o cuidado, em geral vinculada à política oficial vigente, que por sua vez se insere no modo de produção capitalista. Não significa dizer que seja a única ou a mais importante, haja vista a diversidade de saberes, práticas e culturas que compõem a realidade. 95 Entenda-se por medicalização dos problemas sociais a forma com que questões de ordem pública, como direito ao saneamento básico e tratamento de água, são tomados restritamente em sua dimensão privada, sob a lógica do enfoque biomédico (Capra, 1982). Assim, no exemplo citado, ao invés de se problematizar a dimensão política e econômica da pobreza, tende-se a tratar apenas as doenças parasitárias advindas do problema, culpabilizando individualmente os cidadãos que não se cuidaram como deveriam, numa clara manifestação de poder tão própria das profissões da saúde (Donnangelo, Germano, Almeida, 1989) 96 Um exemplo de investigação sobre a fragilidade política dos profissionais de saúde, com recorte para o Enfermeiro, por historicamente influir nos diversos espaços que ocupa (gestão, gerência, ensino, pesquisa e assistência), para a operaciolização das políticas de saúde, foi realizada por ocasião da minha dissertação de mestrado (Pires, 2001). Sobre processo de trabalho, ver: Melo (1986), Pires (1989), Silva (1986).
112 112 sobre o Estado, por meio da politicidade do cuidado, aqui defendido, pode ser uma possibilidade para emancipar o cuidar das amarras que o coisificam. A discussão de que a atenção primária em saúde seria um lócus privilegiado para se desencadearem tais mudanças, por influir mais diretamente na organização e produção da demanda por bens e serviços de saúde, não é nova. Desde o lema da histórica Conferência Internacional de Alma Ata 97, Saúde para Todos no Ano 2000, países do mundo inteiro têm se preocupado em estruturar sistemas de saúde mais resolutivos, equânimes, universais e pautados na integralidade. A despeito da conjuntura política da época, marcada por fortes pressões sociais, vale ponderar que a crise econômica mundial do petróleo (1973), aliada à crise fiscal dos Estados de bem-estar social, também contribuíram para a discussão sobre a racionalidade de gastos em sistema de saúde, solicitando mudanças na forma com que os serviços e práticas se organizam para a assistência prestada à população. Uma análise consistente sobre a rede básica de saúde, entendendo-a como ponto estratégico para mudar a forma com que serviços e práticas se organizam para assistir à saúde da população, é realizada por Merhy (2002). Esse autor aborda a especificidade da rede básica como um lugar fecundo para se operarem mudanças no modelo assistencial, advogando que, diferentemente do hospital, ocorrem possibilidades de menor aprisionamento das práticas em saúde, podendo abrir-se a diversas alternativas. Chama a atenção para que não se confunda rede básica com espaço físico (centro de saúde, posto, unidade de saúde, etc), ampliando a discussão para o processo de trabalho em saúde. 97 A Conferência de Alma Ata, em 1978, se tornou um marco para a saúde pública por pactuar com os países membros da ONU o compromisso de que, até o ano 2000, toda a população teria acesso aos serviços e ações de saúde, independentemente de cor, raça, classe social ou religião. Passados quase 30 anos daquele evento mundial, constata-se que o lema instituído permanece mais atual do que nunca.
113 113 A partir de uma breve incursão histórica sobre a conformação da rede básica na saúde pública brasileira, propõe uma tipologia para entender as distintas conformações tecno-assistenciais da rede básica (id., 2002:216) fundada em três correntes advindas das críticas que foram surgindo, principalmente, a partir da década de 70. Seriam elas: a conservadora, a reformista e a transformadora. A primeira corrente, conservadora, defendia a privatização das ações médicas, com o Estado provendo a assistência aos mais necessitados e carentes, atuando com os tradicionais instrumentos da saúde pública, como campanhas de controle de epidemias e vacinação, educação sanitária em massa, saneamento, entre outros. A segunda, reformadora, preconizava, sobretudo, a racionalidade do sistema, defendendo a idéia de atenção básica como porta de entrada do SUS. Advém dessa linha as discussões sobre planejamento das ações e serviços de saúde, bem como a incorporação da assistência médica como instrumental de saúde pública, até então pautada preponderantemente na epidemiologia. A idéia de descentralização, regionalização e hierarquização dos serviços de saúde, fundada na clássica visão linear da História Natural da Doença 98, encontra certo respaldo nessa corrente. A concepção transformadora, por sua vez, defendia a reformulação do setor saúde por meio da democratização tecno-gerencial e da penetrabilidade do Estado pela sociedade civil, buscando sistemas únicos e universalizantes. O que é curioso na classificação proposta por Merhy é a percepção de que a realidade atual convive com elementos das três correntes, em rica disputa por espaços de hegemonia. Convive-se hoje com traços muito fortes do sanitarismo campanhista conservador da década de 30, marcado pelo forte militarismo das ações de controle de doenças presente nos serviços e prática dos profissionais de saúde. A idéia de que a rede básica deve atuar 98 O modelo da história natural da doença, de Leavell e Clark, difunde fortemente a concepção restrita e linear dos processos saúde-doença, definindo o curso natural da doença como uma evolução dos seguintes períodos: pré-patogênico patogênico- reabilitação-cura. A histórica divisão entre prevenção e tratamento de doenças, ou entre saúde pública e atenção hospitalar, como se uma não estivesse fundada na outra, advém dessa teoria amplamente introjetada sem críticas na maioria dos currículos dos profissionais de saúde. Sobre esse assunto, consultar (Filho &Rouqueirol, Teixeira, 2001).
114 114 isoladamente com prevenção e com os elementos clássicos da epidemiologia, bem como a visão tradicional de saúde pública para a população carente, denotam a influência dessa linha conservadora, bem próxima ao atual neoliberalismo. No segundo caso, a influência é ainda mais interessante, porque as versões atuais de atenção básica, muito evidenciadas a partir da implantação do PSF (Programa Saúde da Família) em 1994, concentram um misto de avanço e retrocesso. Assim, os discursos de que é preciso planejar os serviços a partir das necessidades e do perfil epidemiológico da população; a idéia da rede básica como porta de entrada do usuário, que poderia ter seu problema resolvido ali ou ser encaminhado para outros níveis de assistência do sistema; a visão de regionalização e descentralização dos serviços têm fortes características dessa vertente. O principal problema aqui é que a maquiagem de racionalidade do sistema tende facilmente a se desmanchar em borrões restritos aos limites de gasto em saúde, sob um discurso tecnicamente pertinente e sem maiores impacto na melhoria da saúde da população. Ademais, a concepção de porta de entrada tende a deixar o usuário esperando passivamente para adentrar no que lhe é de direito, denotando uma visão restrita de saúde-doença ao adotar o continuum da História Natural da Doença, cartesiano e positivista. A terceira corrente traz em seu bojo os elementos da Reforma Sanitária inconclusa, defendendo a democratização das esferas tecno-assistenciais e políticas do setor saúde. Concebe a rede básica não como porta de entrada, mas como lugar onde se realizam a integralidade das ações em saúde, onde o cuidar em saúde é concebido como prática social, historicamente situada e influenciada pelos múltiplos condicionantes do processo saúde-doença. Os ideais de se mudar a lógica capitalista com que são produzidas as ações em saúde, expresso pelo que se tem chamado modelo tecno-assistencial em saúde, encontram respaldo nessa linha crítica.
115 115 Falar em mudança do modelo assistencial pressupõe alterar a excessiva tecnificação e coisificação que o cuidado sofre no processo de trabalho dos profissionais em saúde. Tal aprisionamento do cuidado é expresso pela especialização alienante do todo, pelo modo fordista de produzir serviços, pela inibição das autonomias subjetivas presente na relação que se estabelece no ato de cuidar. Merhy (1997, 2002a), fundamentando-se na concepção marxista de trabalho abstrato adaptada ao campo da saúde, argumenta em torno do que chama micropolítica do trabalho vivo para designar a captura do trabalho vivo pelo morto e a intensa disputa que se estabelece a partir daí. Faz uma aposta: na possibilidade de se constituir tecnologias da ação do trabalho vivo em ato e mesmo de gestão desse trabalho, que provoquem ruídos, abrindo fissuras e possíveis linhas de fuga nos processos de trabalho instituídos, que possam implicar a busca de processos que focalizem o sentido da captura sofrido pelo trabalho vivo e o exponham às possibilidades de quebras em relação aos processos institucionais que o operam cotidianamente. (id., 2002:101). Apesar da análise bem fundamentada no marxismo de Merhy, principalmente no que se refere à micropolítica do trabalho vivo, observam-se certas tendências deterministas, como, por exemplo, quando propõe ferramentas analisadoras para as tecnologias em saúde. Esse viés se verifica principalmente na concepção de homem como máquina desejante (id, 2002:117) e no cotidiano operando em dobras. O homem não é máquina, nem se pode reduzir a rica complexidade do real a dobras, ruídos, fugas ou algo que opere sempre em padrões repetíveis. Depois da teoria das estruturas dissipativas e da irreversibilidade do tempo, em Prigogine (1997), fica difícil defender tais conceitos, fundados no cartesianismo e na racionalidade moderna. Ademais, refira-se a pertinência de Ayres (2000) nas críticas elegantemente colocadas à concepção de cuidado em Merhy (2000), que no artigo Um ensaio sobre o médico e suas valises tecnológicas considera o cuidado como uma modelagem tecnológica. Nesse caso, apesar de considerar diversos graus de rigidez tecnológica para explicar a produção do cuidado em saúde, Merhy tem
116 116 dado pouca importância tanto a intersubjetividade, quanto à autonomia dos sujeitos como foco da atuação dos profissionais de saúde. É por meio da relação estabelecida no cuidar, onde ajuda e poder se confrontam e se superam nas sínteses dos atos produzidos, que a emancipação se torna possível, sabendo-a relativa e processual. Pelo reconhecimento de saberes como meio para forjar poderes adormecidos, acreditando no fomento de projetos capazes de restabelecer corpo e subjetividades pasteurizadas, e apostando no incapturável do viver humano, a ajuda pode emancipar-se da tutela, produzindo efeito de poder mais igualitário. Emancipar pela ajuda pode ser possível pelo triedro emancipatório do cuidar conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar para emancipar - onde conhecimento, poder e autonomia se tencionam para libertar o fazer humano das amarras que o sucumbem, potencializando utopias concretizáveis. - Politicidade do Cuidado no Contexto do PSF: Entre a Estratégia de Mudança e a Saúde Pública Para Pobres O Programa Saúde da Família (PSF) surge em 1994 com o propósito de ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, numa conjuntura neoliberal que vinha pondo em risco a universalidade do sistema de saúde brasileiro. Por outro lado, assumiu diretrizes consoantes com o SUS ( integralidade, resolutividade e intersetorialidade das ações, trabalho em equipe, vínculo de co-responsabilidade as famílias assistidas e estímulo à participação social) e se propaga com o discurso de agente de transformação do modelo tecno-assistencial. Contextualizado nas tensões entre mercado e cidadania, presentes na política de saúde do Brasil, o PSF traz em seu bojo as contradições do próprio SUS, qual seja: pretender-se estratégia de mudança num cenário de mercantilização da saúde. A delimitação do PSF como campo de estudo remete às intempéries do próprio SUS, tornando seu aprofundamento não só pertinente aos objetivos
117 117 desta investigação, como meio apropriado para analisar a política de saúde do Brasil. Isso porque, além de coincidirem as tensões entre mercado e cidadania no escopo da ajuda-poder, o Saúde da Família vem vocalizando um discurso de se constituir numa estratégia para a organização da rede básica de serviços de saúde, com repercussões para todo o SUS. Sem se falar em afirmações mais entusiasmadas que promovem o PSF como estratégia de mudança do modelo assistencial, desconsiderando a profundidade teórico-analítica que isso envolveria. Entre programa de saúde pública e a estratégia de mudança, o Saúde da Família, programa/estratégia, segue os dilemas do SUS, de pretender-se universal e igualitário, numa realidade mercadológica e com pouca cidadania organizada para exigir oportunidades de vida. Com expressivo crescimento nos últimos anos, atualmente o PSF conta com ESF (Equipes Saúde da Família), Agentes Comunitários de Saúde e ESB (Equipes Saúde Bucal), distribuídas em municípios (ACS) e (ESF), cobrindo 39,4% da população brasileira 99. Vale dizer que em 2002 foi firmado um acordo de empréstimo internacional entre o governo brasileiro e o Banco Mundial (BIRD) para expansão e consolidação do PSF (Proesf Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família), tendo como meta chegar em 2009 com 60% da população brasileira coberta por este programa/estratégia. O financiamento do BIRD agrega um componente a mais de disputa entre mercado e trabalho, que se contemporiza na atual fase do capitalismo descrita anteriormente, marcada por transnacionalização do capital e redução do poder político do Estado. Assim, se a consecução das políticas públicas era focalizada na disputa entre Estado e classes sociais, agora surge um novo ator, `O Banco`, a quem o Estado, inclusive, tem que prestar conta. Tal especificidade do PSF o torna ainda mais periclitante, por sintetizar as contradições, disputas e sínteses das políticas sociais contemporâneas. 99 Dados referentes à setembro de 2004, fonte: SIAB Sistema de Informações da Atenção Básica/DAB/Ministério da Saúde.
118 118 A grande capilaridade que o PSF atinge, associada aos desafios gerados pelo rápido crescimento quantitativo, descompassado da devida qualidade necessária à consecução das diretrizes éticas que progama/estratégia assume, talvez seja a maior virtude e o maior pecado dessa proposta. É virtude porque a rápida expansão virou fato político no interior do SUS difícil de ser ignorado, levantando antigos e acalorados debates sobre política de saúde e modelo tecno-assistencial, como, por exemplo, a necessidade de mudar a formação de profissionais e a forma de produzir cuidado em saúde. Mas peca, sem penitência, quando reforma ranços antigos da saúde pública brasileira, embalados pelo conservadorismo neoliberal, qual seja, a tendência em se constituir em ação compensatória de baixo custo para grupos focalizados e marginalizados do acesso à qualidade nos serviços de saúde. De forma abreviada, o funcionamento do PSF ocorre por meio da implantação de equipes de saúde formadas por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde (ESF), podendo ainda contar com equipes de saúde bucal (ESB), composta por odontólogo, técnico e auxiliar de consultório dentário, que ficam responsáveis pela atenção básica à saúde da população (de a pessoas) adstrita ao território onde se localiza a unidade de saúde. Essa equipe realiza o diagnóstico de saúde da população que atende e planeja as ações a partir dos problemas priorizados. Desenvolve ações no âmbito individual (consultas, exames e protocolos assistenciais normatizados) e coletivo (educação em saúde, estímulo à participação social), podendo (e devendo) articular-se a outros setores de políticas para, junto com a comunidade, intervir nas demandas coletivas por saúde identificadas (lixo, esgoto, acesso à educação, dentre outros). O potencial de mudança do PSF reside tanto nas diretrizes que norteiam o processo de trabalho dos profissionais (integralidade, resolubilidade e intersetorialidade das ações, trabalho em equipe, vínculo de co-
119 119 responsabilidade com as famílias assistidas e estímulo à participação social), quanto na (re)organização de serviços e práticas que ele pode ensejar. Isso porque, ao delimitar a territorialização 100 como lócus de atuação da equipe saúde da família, pautada no trabalho em equipe, no cuidado integral à família e no vínculo de co-responsabilidade com a população assistida, pode organizar os serviços de saúde a partir da priorização dos problemas identificados, contribuindo para a hierarquização da demanda aos demais pontos da atenção. Dessa forma, além de fortalecer o vínculo entre profissionais, usuário, famílias e comunidade (ampliando as responsabilizações partilhadas e o fortalecimento de autonomias), se a equipe de saúde da família (ESF) estiver inserida num processo de educação permanente e contar com condições adequadas de trabalho 101, pode melhorar consideravelmente o acesso e a qualidade da assistência à saúde da população. Cabem algumas ponderações sobre as possibilidades de mudanças na forma com que o cuidado à saúde se organiza no âmbito da atenção básica, do qual o PSF vem assumindo um protagonismo crescente. Apesar da pertinência das diretrizes que segue, o programa/estratégia Saúde da Família vem enfrentando e realçando as dificuldades e contradições do próprio SUS, inscrito numa realidade socioeconômica bem mais ampla. No que se refere ao processo de trabalho dos profissionais, por exemplo, a dimensão do trabalho em equipe e a abordagem à família na perspectiva da integralidade são aspectos ainda distantes do cotidiano da maioria das 100 Território como reconhecimento de determinada área geográfica e populacional segundo a lógica das relações entre condições de vida, saúde e acesso às ações e serviços de saúde (Teixeira, 2002). 101 Entendidas como um conjunto de aspectos que vão desde infra-estrutura física das Unidades Básicas de Saúde, equipamentos, insumos e medicamentos em suficiência e qualidade, até uma retaguarda de uma rede de serviços de referência especializada e hierarquizada que dêem suporte às ações desenvolvidas na atenção básica. Uma rápida consulta ao relatório da avaliação normativa (tipo censitária) do Programa Saúde da Família do Brasil realizada em 2001/2002 pelo Ministério da Saúde, revela grandes disparidades regionais e iniqüidades nas condições de trabalho das ESF. A título de exemplo, o percentual de equipes no Brasil que conta com equipamentos básicos (balança adulto e infantil, termômetro, estetoscópio e tensiômetro), considerado o mínimo (ou o mínimo da pobreza) para o trabalho dos profissionais, corresponde a 81,4% do total. Porém, quando se observa por Unidades da Federação e regiões, vê-se que esse percentual caí para 42,6% em Rondônia, 52% no Maranhão, 59,3% no Distrito Federal, 75,6% no Espírito Santo e 89,9% no Paraná. Já o percentual de ESF do Brasil que conta com glicosímetro na UBS corresponde a apenas 59,3% (Brasil, 2002). Estes e outros números desta avaliação serão discutidos oportunamente, sempre que argumentação assim requerer.
120 120 ESF. Isso porque a formação do profissional de saúde está profundamente enraizada no paradigma biomédico de tom cartesiano e positivista. O foco na doença, nos procedimentos dissociados do contexto que os produzem e a visão linear do processo saúde-doença dominam o perfil de grande parte dos profissionais de saúde, fruto de uma formação 102 tecnicista e pouco crítica (Pires, Pires, Ribeiro et all, 2004). O entendimento uno/múltiplo da família, enquanto síntese da diversidade de afetos, tensões e contradições que as relações de ajudapoder assumem no espaço privado e doméstico das relações sociais, passa ao largo da maioria dos currículos de formação dos profissionais de saúde. Da mesma forma, a busca pela interdisciplinaridade dos processos de trabalho, que se interpenetram para conjugar novas abordagens à saúde da população, constituem vivências esporádicas e sem maior expressão no trabalho do PSF no SUS. Em geral, há dificuldades em lidar com as subjetividades dos sujeitos, porque os instrumentos, saberes e tecnologias apreendidas na formação e prática desses profissionais se encerram na racionalidade moderna, padronizadora e aprisionadora de subjetividades (Ayres, 2001). Se bem reparado, o PSF revela traços das três tipologias identificadas por Mehry para a conformação dos padrões tecno-assistenciais da rede básica, com primazia da vertente reformadora sobre as demais. Na linha conservadora, verifica-se a utilização dos clássicos instrumentos da saúde pública autoritária, verticalizada e recortada por programas, como a educação sanitária em massa, que desconsidera as singularidades dos sujeitos como o controle de endemias com enfoque epidemiológico estritamente centrado na doença; como as atitudes autoritárias do profissional de saúde, valoradas em concepções higienistas e lineares do processo saúde-doença; e a operacionalização de programas de renda 102 A série especial sobre formação profissional em saúde da Revista Radis (Reunião, Análise e Difusão de Informações sobre Saúde), números 3 out/2002, 4 nov/2002, 5 dez/2002 e 6 jan/fev/2003, uma publicação da Fiocruz, desenvolvida pela Escola Nacional de Saúde Pública, disponível no site sintetiza as principais discussões sobre o assunto.
121 121 mínima para a saúde, como distribuição de leite ou valores monetários irrisórios, assentes em critérios de barganha militarescos e verticalizados (cartão de vacina em dia, presença nas consultas, etc). Sob a influência do segundo tipo, a reformadora, observam-se semelhanças mais reveladoras, tais como: i- planejamento dos serviços ofertados a partir do padrão epidemiológico e social das famílias que, no mais das vezes, concentram-se eminentemente nas tradicionais consultas e exames protocolares do Ministério da Saúde; ii- concepção sistêmicofuncionalista na forma de produzir cuidado em saúde, com entendimento linear do PSF como porta de entrada do sistema, de atos simples e de baixa complexidade tecnológica; iii tentativa de associar saberes da epidemiologia e da clínica na prestação do cuidados individuais e coletivos, destituída de maiores visões de contexto que embasem um entendimento ampliado do processo saúde-doença, nas múltiplas dimensões e saberes que envolve; iv- processo de trabalho em saúde marcado por tecnificação e coisificação do cuidado, embrutecedoras de politicidades libertárias. A despeito desse cenário pouco inovador, inscrito na própria conjuntura da política de saúde brasileira que o PSF evidencia com maior amplitude, não sendo responsável direto por ele, há avanços localizados, influenciados pela tipologia transformadora proposta por Merhy. Diversas experiências de gestões municipais conseguiram reordenar seus sistemas de saúde a partir do PSF, tornando-os mais resolutivos, acessíveis e hierarquizados. Também dignos de nota são os vínculos estabelecidos entre profissionais de saúde e população que, se o modelo hospitalocêntrico há muito rompeu, o PSF vem conseguindo restaurar com belíssimos relatos, mesmo diante das inúmeras dificuldades. A mobilização das redes de solidariedade local e a forte penetração que o PSF consegue obter, adentrando no espaço privado das
122 122 relações familiares, é outro forte componente que seu trabalho consegue abrilhantar 103. Poder-se-ia mesmo dizer que a politicidade do cuidado que o PSF melhor pode oportunizar se insere no processo de trabalho da equipe, onde ajuda e poder se imiscuem das diversidades de saberes que permeiam o lócus privilegiado de atuação da equipe, a comunidade. Não raro, inclusive, se vê o extremo dessa relação de vínculo e responsabilização, quando a ESF se proclama salvadora da pátria da população que assiste, muitas vezes reproduzindo ações de tutela típicas do Estado brasileiro. Tal situação, além de frustrar profissionais e equipe, que não conseguem suportar as pressões das questões sociais que envolvem o cuidado à saúde, revela fragilidade da política visível, por não se ter uma visão mais ampla da conjuntura histórica, social e econômica em que são geradas tais relações desiguais. Sendo assim, apesar do processo de trabalho em saúde das ESF ser fundamental para a mudança requerida, não basta. Há de se levar em conta os cenários que propiciam, emperram, despertam ou embrutecem tais relações de cuidar, atentando-se ao seu fluxo social como totalidade histórica. Assim, a precariedade das relações de trabalho dos profissionais, as condições de trabalho insalubres, as influências políticas locais, bem como a baixa priorização na educação permanente dos trabalhadores em saúde 104, tendo em vista a mudança de perfil necessário para implementação do SUS, fazem parte da lógica capitalista que tem produzido mais retrocessos que avanços na política de saúde do Brasil, na qual o PSF se insere estrategicamente. Compreender o espaço estratégico da rede básica de saúde na mudança do modelo tecno-assistencial significa concebê-lo dentro de um 103 A despeito de ter que contemporizar o caráter ideológico presente nas publicações oficiais, em rápida incursão ao site da Biblioteca Virtual em Saúde, é possível identificar várias das experiências publicadas tanto pelo Ministério da Saúde, como por gestores municipais de saúde. Vale também adentrar nas diversas bases de dados científicos que se tem acesso desse e de outros portais, como o onde várias artigos sobre o PSF têm sido publicados. 104 Essas questões serão melhor aprofundadas na análise de dados sobre a gestão do PSF.
123 123 contexto mais amplo em que as relações de ajuda-poder se conformam, atentando para a correlação de forças entre mercado e trabalho, mediada pelo Estado capitalista. Torna-se necessário, igualmente, pensar que o capitalismo encontra nas políticas sócias um campo fecundo para amortização de tal conflito e que, no Brasil, a saúde pública, restrita à rede básica, tem se constituído num modus operandi ideal para suprir os anseios do mercado e amansar as pressões sociais (Merhy, 2002a). Nesse cenário intricado, cabe considerar a dimensão hologramática proposta por Morin (2002), onde o todo está nas partes que se integram ao todo, para entender as ambivalências do PSF, programa que se pretende estratégia de mudança. Assim, qualquer linearidade que se queira imprimir entre a noção de programa ou estratégia é restritiva, porque ambas se precisam para negarem-se numa dimensão transformadora. Ou seja, a mudança pretendida tanto precisa das normas, diretrizes e ordenações, presentes nas formulações dos programas de saúde pública, quanto da negociação, flexibilidade, confronto e criatividade, presentes na conformação das estratégias de organização dos serviços e práticas. Porque só permanece o que muda, e só se muda o que consegue resistir e perdurar, como nos informa a dialética auto-eco-reconstrutiva dos fenômenos vivos (Morin, Maturana, 1987). O problema é que, historicamente, a saúde pública brasileira se forjou na rigidez cartesiana e positivista da racionalidade moderna, onde a adoção de programas enclausurou-se na própria disciplina que lhes fundaram. A falência desse modelo agoniza na maioria das práticas presentes na rede básica de saúde, que continuam fazendo assistência à saúde de baixa qualidade para população pobre e menos cidadã. A ousadia do PSF consiste na proposição de contribuir para a mudança da forma de produzir cuidado em saúde, mesmo sendo programa que se assume como estratégia para (re)organizar os serviços e práticas de saúde no âmbito do SUS. Nesse sentido e na complexidade do contexto em que se
124 124 insere, tanto pode sucumbir à rigidez da norma programática focalizada e seletiva, como pode enfrentar e reordenar o mercado em favor da cidadania, conformando uma ajuda-poder tipicamente ambivalente. A aposta num cuidado de caris mais emancipatório, ou num manejo inteligente da ajuda-poder capaz de re-inaugurar potencialidades disruptivas, coloca a gestão de programas/estratégias prioritários para o SUS como um campo fértil para estudos, teorizações e proposições. Acredita-se que a politicidade do cuidado, ambientada no espaço estratégico da gestão pública e calcada na democratização de poderes, possa influir na conformação da política de saúde do Brasil. Talvez esse atrevimento seja o maior delito da tese que ora se constrói, mas também é utopia concretizável, fonte das politicidades que nutrem o conhecimento comprometido com a ética libertadora e cidadã.
125 PERCURSO METODOLÓGICO
126 CIÊNCIA E RECONSTRUÇÃO DO CUIDADO Para tentar traduzir os mistérios indecifráveis da natureza, a ciência intervém e destrói, classificando e reduzindo em partes o que só existe enquanto todo articulado e dinâmico. Desconsiderando outras formas de saber, desapegada de maiores subjetividades por acreditar na neutralidade científica e na compulsão sistemática de ordenar o caos, a ciência moderna tem procurado dominar a natureza com seus métodos, leis e procedimentos infalíveis. Assim atuando, mantém-se hegemônica e sustenta dominações espúrias. O entendimento linear da realidade, com a total separação entre ser humano e natureza, constitui o cerne do conhecimento científico moderno. Tal racionalidade se fundamentada principalmente em Decartes e no empirismo Balconiano, condensando-se no positivismo oitocentista (Santos, 2001). A crença exacerbada no homem, enquanto senhor da natureza e ser superior tem levado a atrocidades étnicas e desequilíbrios ecológicos de toda sorte. Essa presunção totalitária, que ignora a prudência, o bom senso e a modéstia, como reguladores dos excessos societais, não tem conseguido cumprir as promessas de liberdade e igualdade anunciadas pela modernidade. Por não terem sido cumpridas, exatamente porque os problemas sociais são de difícil solução pelo paradigma moderno, tais situações deixaram de ser pensados pela ciência como objeto de pesquisa. Santos (2001), na brilhante tese do conhecimento prudente para uma vida decente, fundamentada na reinvenção de um novo senso comum, defende que os problemas sociais são epistemológicos, sendo necessário reafirmar o conhecimento-emancipação 105. Outra grande tradição da modernidade tem sido o entendimento de que o conhecimento se funda no que é quantificável, mensurado, medido, descrito em minúncias e capturável pelo método. Levando aos extremos essa tendência, a ciência vai desqualificando tudo o que não cabe em seus 105 As idéias de Santos (2001) serão melhor discutidas adiante, no decorrer do texto.
127 127 pressupostos, descaracterizando outros saberes e práticas, normatizando maneiras de ver e viver em sociedade. Nesses termos, a singularidade do que é único, melhor capturável pela subjetividade qualitativa, vem sendo sistematicamente afastada do conhecimento científico. Tal rigor metodológico, apesar de central para a discussão epistemológica, vem se configurando numa verdadeira ditadura do método (Demo, 2000), aprisionando a diversidade e complexidade do real na obtusa capacidade de conhecer do ser humano. Nas palavras de Santos (2001: 73), cita-se: O rigor científico, porque fundado no rigor matemático, é um rigor que quantifica e que, ao quantificar, desqualifica, um rigor que, ao objetivar os fenômenos, os objetualiza e os degrada, que ao caracterizar os fenômenos, os caricaturiza. (...). O rigor metodológico é uma das centralidades constitutivas da ciência, portanto inerente à sua condição questionadora e reconstrutiva. Não se pretende contrapor-se a essa essencialidade epistemológica, mas criticarlhe a visão linear, intransigente e restritiva das diversas formas de conhecer. Outro destaque a ser feito, que será retomado adiante, é o entendimento da complementaridade dialética entre quantidade e qualidade, partes de uma mesma realidade turbulenta e dinâmica. A maneira mecanicista de enxergar, observar e intervir na realidade, tão bem denunciado por diversos autores 106, constitui uma discussão atual no campo das ciências. A crescente fragilidade da emancipação preconizada pela modernidade e sustentada pelo conhecimento científico, aliada às crises e transformações do capitalismo, vêm desvelando uma realidade socialmente injusta e desigual, onde a concentração de renda vem aumentando os fossos de pobreza em todo mundo. Igualmente relevante, a degradação desenfreada da natureza em nome do progresso produzido pelo ciência tem posto em risco a própria existência humana, 106 Boff (1999), Capra (1982), Demo (2002), Bauman (1999, 2000, 2001), Minayo (1992), Morin ( ).
128 128 expondo uma situação de crise e denunciando as fragilidades do paradigma moderno. Na crítica que faz à razão indolente da modernidade, Boaventura de Souza Santos diz que a modernidade está numa transição paradigmática. O autor defende que tal crise é tanto profunda como irreversível, e que vive-se uma revolução científica que começou com Einstein e a mecânica quântica, e que não se sabe quando acabará, mas que redondará no colapso do paradigma atual. Santos (2001) reafirma sua tese, já colocada em outras ocasiões (Id., 1997) de que a modernidade se assenta em dois pilares: o da regulação, constituído pelos princípios do mercado, estado e comunidade; e o da emancipação, sustentado pelas racionalidades weberianas (racionalidade estético-expressiva das artes e da literatura, racionalidade cognitivoinstrumental da ciência e da tecnologia e racionalidade moral-prática da ética e do direito). Pensados pela modernidade para produzir um relacionamento equilibrado e harmônico, os excessos do pilar da regulação sobre a emancipação, ocasionados principalmente pela hipertrofia dos princípios do mercado e estado, teriam desencadeado a crise atual. Autores como Bauman (1999, 2000 e 2001) e Harvey (1989) realizam consistente análise sobre a pós-modernidade. A partir deles, e ampliando brevemente a discussão para o escopo da ciência (ou sustentados por ela), é possível considerar pelo menos três argumentos centrais. Primeiro, que a pós-modernidade significa a convivência angustiada de uma modernidade consciente de sua impossibilidade. Segundo, que a pós-modernidade opera sobre as bases do capital. E terceiro, o paradigma da pós-modernidade vem operando uma significativa mudança nas relações de produção e na ética política da sociedade capitalista. Uma das razões para o sucesso da ciência moderna é que ela sempre esteve ao lado do capitalismo, alimentando-o com suas invenções prodigiosas. Seja ideologicamente comprometida com a burguesia, na visão de Prigogine (1991) - ou produzindo teorias que sustentam a mais valia, como
129 129 o evolucionismo Darwiniano, que naturaliza a competição (Maturana e Varela, 2001) a modernidade, o capitalismo e a ciência têm andado de mãos dadas. Diferente do que se poderia supor, a pós-modernidade não rompe com essa relação. Para Santos (2001), o paradigma da modernidade desaparecerá antes do capitalismo, argumento igualmente sustentado por Bauman e Harvey. Apesar das imposturas produzidas em nome da pós-modernidade, denunciadas por autores como Sokal e Bricmont (1999), e reconduzindo essa discussão para a ciência, poder-se-ia dizer que ela tem gerado boas polêmicas, principalmente por balançar suas certezas e introduzir a dúvida para dentro do cânone científico. Se a ciência se faz, sobretudo, com argumentos, críticas e reconstruções intersubjetivamente sustentáveis, uma boa polêmica pode ser muito bem vinda, a despeito das infindáveis discussões igualmente estéreis produzidas pela academia (Demo, 2000). A aceitação renunciada da inextirpável pluralidade da vida e a certeza de que a única coisa realmente segura no mundo é a provisoriedade constituem os dilemas atuais da racionalidade moderna. A convivência com o efêmero, com o estranho, com o diferente, com o inusitado, com o que não se classifica ou se define, sempre foi a principal obsessão da modernidade. A incansável tarefa de ordenar, de pôr regras claras e tangíveis a uma sociedade cada vez mais diferente e desigual, missão implacável da ciência, parece estar meio bamba das pernas, principalmente a partir de algumas descobertas recentes da física, da química e da biologia 107. Nessas condições, sejam denominadas pósmodernas ou de transição paradigmática, importa salientar que a ciência atual convive com a angústia da impossibilidade de realizar o projeto da modernidade e com a consciência, cada vez mais clara, da incerteza e da necessidade de manter-se fortemente discutível para sustentar-se. 107 Saliento, sobretudo, a física qüantica em Bohr (Strathern, 1999), a teoria das estruturas dissipativas de Prigogine (1991), bem como as análises recentes realizadas por Demo (2002 a, b,c) sobre sociobiologia.
130 130 Prigogine (1997), ao propor uma nova aliança entre natureza e cultura, aponta os equívocos e a impotência da ciência clássica, newtoniana, da mítica de um mundo simples e passivo. Segundo ele, esse aniquilamento se dará não pela crítica filosófica nem pela resignação empirista, mas pelo próprio desenvolvimento científico 108. Acrescenta que as tentativas de abandonar o mito newtoniano sem renunciar à compreensão da natureza suscitam alguns temas fundamentais. O primeiro diz respeito ao tempo, que a ciência clássica insiste em descrevê-lo como reversível, e que Prigogine reclassifica-o como irreversível. Os outros temas dizem respeito à atividade inovadora e à diversidade qualitativa, sistematicamente enclausurada ao determinismo e à aparência pela razão moderna. Com a tese das estruturas dissipativas, assente nas idéias de irreversibilidade dos fenômenos e na flecha do tempo, põe à prova o mecanicismo cartesiano que tem dominado o paradigma moderno. Segundo essa teoria, a história jamais pode ser reduzida a monotonia de um tempo único, uma vez que cada ser complexo é constituído por uma pluralidade de tempos. A obsessão compulsiva da ciência em ordenar e classificar o tempo, como se a realidade fosse sempre temporalmente comparável, é uma invenção artificial para suprir as necessidades humanas de recorrência e repetição (Morin, ). O tempo repetível, as horas marcadas, as ações pré-determinadas, os anos e as estações climáticas razoavelmente previsíveis confortam a segurança de que amanhã será um dia tecnicamente controlável, mesmo não sendo nunca dessa forma. A natureza não se move no ritmo inventado pela observação científica. Seus fenômenos são irreversíveis, embora apresentem certa regularidade, mais facilmente capturável pela cognição humana. Sua termodinâmica tende sempre a escapar da dominação e da clausura. Dinâmica, insubmissão e 108 Em suas palavras: Julgamos que a ciência hodierna escapa ao mito newtoniano por haver concluído teoricamente pela impossibilidade de reduzir a natureza à simplicidade oculta de uma realidade governada por leis universais. A ciência de hoje não pode mais dar-se o direito de negar a pertinência e o interesse de outros pontos de vista e, em particular, de recusar compreender os das ciências humanas, da filosofia e da arte (id., 1997:41).
131 131 flutuação são intrínsecas ao devir da natureza, e vêm tomando cada vez mais centralidade nas recentes produções teóricas 109. Flagre-se nessa discussão a politicidade pulsando na natureza, como ebulição inquieta e potencialmente transfomadora. Na termodinâmica dos processos irreversíveis, o acaso das flutuações nutre fenômenos de autoorganização expontânea, rupturas de simetria e evoluções no sentido de uma complexidade crescente. É a história pulsando na natureza como cultura intrinsecamente plantada, unindo os dois mundos que a ciência classicamente insiste em separar, e que Priogogine, propugnando o caráter aberto da ciência que denomina Nova Aliança, propõe fundir. Ou seja: O saber científico, extraído dos sonhos de uma revelação inspirada, quer dizer, sobrenatural, pode descobrir-se hoje simultaneamente como escuta poética da natureza e processo natural nela, processo aberto de produção e invenção, num mundo aberto, produtivo e inventivo. Chegou o tempo das novas alianças, desde sempre firmadas, durante muito tempo ignoradas, entre a história dos homens, de suas sociedades, de seus saberes, e a aventura exploradora da natureza." (id.,1997: 226). Defendida como ciência humana por Prigogine e ciência social por Santos (2001), esse debate aponta para a necessidade de repensar profundamente o fulcro que se tem feito entre ciências naturais e sociais. O conhecimento é natural e social, permeado de seres históricos convivendo e se conflitando na natureza, numa propulsão dialética produtora de sínteses e contrários. Nesses termos, o conhecimento humano acontece dentro da natureza, sendo parte nela e assim a escutando, a observando e a descreveendo. O distanciamento entre homem e natureza, entre sujeito e objeto, tão autoritariamente proclamado pela razão moderna está cada 109 Apesar de ganhar fôlego no último século, principalmente a partir de Einstein e a Física Quântica, essa discussão é mais antiga. Prigogine (1991:65) faz referência a vários cientistas e filósofos que já apontavem essa direção. Dentre outros, lembra Diderot, médico do século XVIII, que em seu protesto vitalista sustentava que a matéria é sensível, já que até a pedra tem surdas sensações, no sentido de que suas moléculas procuram certas combinações e evitam outras.
132 132 vez mais difícil de defender, apesar de ainda sustentar discursos hegemônicos. O entendimento de um mundo sempre mais complexo, caótico e irredutível às leis inventadas pela cognição humana revela-se coerente com essa discussão. Apesar de dinâmica e turbulenta, a realidade também apresenta certas regularidade na aparência e são elas, apenas, que a ciência consegue captar. A noção de que se conhece sempre parcialmente, posto que também se é parte, mostra-se pertinente, atual e, em certo sentido, paradigmático. É pertinente porque a própria ciência tem constatado sua incapacidade de compreender plenamente o real, por si incapturável. É atual porque se precisa reinventar um tempo mais ético e menos excludente, mais humano e cuidadoso. Por fim, mudar a forma como se conhece, se cuida e se participa do mundo rompe com padrões sociais e culturais historicamente conformados, traduzindo-se na transição paradigmática enunciada por Santos (2001). Para reconstruir compreensões de fenômenos humanos (sociais e naturais), cientes da incompletude desses, torna-se necessário abordagens igualmente dinâmicas, capazes de realizar sínteses sempre provisórias e aproximativas. A dialética parece corresponder a tal expectativa, uma vez que procura entender a realidade como a unidade de contrários e como totalidade, movendo-se na tentativa de articular a apreensão das partes no todo. A teoria das estruturas dissipativas de Prigogine, com sua proposição por uma ciência humana aberta, reacende polêmicas que pareciam superadas: o emprego do dialética como método de captação indiferenciado dos fenômenos da natureza e da sociedade Tal polêmica pode ser revisitada com profundidade em Haguete (1990). Por oportuno, é interessante observar a mudança de posição de alguns autores, como Demo ( ), sobre ao uso epistemológico da dialética. Se antes esse autor considerava que a dialética não cabia à natureza, (...) pelo que não faz sentido perguntar-se pela antítese de uma pedra. Uma pedra não é um ser histórico, marcado pelo conflito social. (id, 1995:91), recentemente refez sua opinião, considerando que seu retorno ao âmbito das ciências naturais poderia, ademais, indicar sua aplicabilidade à realidade inteira, pelo menos sob a ótica da lógica difusa (id, 2001:98).
133 133 No sentido de captar sínteses entre o objetivismo e o subjetivismo, ou entre o materialismo marxista e idealismo hegeliano 111, advoga-se em favor da dialética histórico-estrutural enquanto método apropriado para manejo e reconstrução da politicidade do cuidado. O entendimento de que estrutura é história, portanto que se move natural e socialmente, compõe uma realidade permeada tanto por revolta, turbulência e caos, quanto por estabilidades provisórias e recorrentes. A compreensão do todo, o qual nunca é captado plenamente, pressupõe evitar dicotomias ou fissuras de tom mais cartesiano, tipicamente modernas. Nesse sentido, teoria e prática, objetividade e subjetividade, quantidade e qualidade, linear e não-linear, são antes complementares dialéticos, portanto indissociáveis. A ciência é uma dentre tantas outras formas de conhecimento humano. Como as demais, capta parcialmente a realidade e o faz em relação ao sujeito que realiza a ação de compreender o fenômeno ao qual também faz parte. Não se pretende aqui fechar as possibilidades de interferências e interações externas, como o fez Maturana, mas priorizar uma direcionalidade no ato de conhecer. Assume-se, então, a centralidade no sujeito, inserido num contexto dinâmico, interativo e rico em correlações de forças, como premissa estruturante da ação de apreender e participar do mundo. A auto-referência, no sentido descrito por Santos (2001) de que todo conhecimento é autobiográfico, torna o conhecimento científico tão susceptível à crítica quanto os demais. O abatimento das certezas imperiosas e infalíveis da ciência moderna a traz forçosamente de volta à factibilidade, à vulnerabilidade e à modéstia. Quem sabe assim seja possível reconstruir com crítica e autocrítica as questões mais próximas dos problemas cotidianos da humanidade, coisa que o senso comum tem realizado bem melhor que a ciência. A esse respeito, veja-se na descrição do senso comum 111 Sobre dialética, consultar, dentre outros: Demo (1995, 1997,2001), Haguete (1990), Konder (1993), Kosik (1976), Minayo (1982), Triviños (1987).
134 134 realizada por Santos (2001:108) a presença de traços libertários, a despeito do teor tradicionalista que lhe é inerente: O senso comum é prático e pragmático; reproduz-se colado às trajetórias e às experiências de vida de um dado grupo social e, nessa correspondência, inspira confiança e confere confiança. O senso comum é transparente e evidente; desconfia da opacidade dos objetivos tecnológicos e do esoterismo do conhecimento em nome do princípio da igualdade do acesso ao discurso, à competência cognitiva e à competência linguística. O senso comum é superficial porque desdenha das estruturas que estão para além da consciência, mas, por isso mesmo é exímio em captar a complexidade horizontal das relações conscientes entre pessoas e entre pessoas e coisas. O senso comum é indisciplinar e não-metódico; não resulta de uma prática especificamente orientada para o produzir; reproduz-se espontaneamente no suceder quotidiano da vida. O senso comum privilegia a ação que não produza rupturas significativas no real. O senso comum é retórico e metafórico; não ensina, persuade ou convence.. O novo senso comum anunciado pelo autor, transformado pelo conhecimento-emancipação, deixaria ser conservador para se transformar numa estratégia de condução da condição de ignorância (concebida como colonialismo) para a condição ou momento de sabedoria (denominado de solidariedade). Tal proposição contrapõe-se ao conhecimento-regulação da modernidade, onde a ignorância coincide com o caos e o saber significa ordem. As estratégias para desequilibrar o conhecimento-regulação em favor do conhecimento-emancipação seriam: 1- a transformação da solidariedade como uma forma de saber e não de ignorância; e 2- a aceitação de um certo nível de caos. Compreender as relações solidárias como formas de conhecimento e reconstrução participativa, num mundo turbulento e contraditório, traduz-se em potencial emancipatório capaz de reordenar saberes, poderes e práticas. Caminhando nessa direção, propõe-se aqui uma epistemologia em que o cuidar seja priorizado por meio da reconstrução de relações solidárias capazes de forjar autonomias de sujeitos. A politicidade do cuidado, enquanto conhecimento científico, ampara-se nessa discussão, reconhecendo-se nos diversos saberes e práticas como partes constitutivas de seu próprio saber. Assume-se a processualidade, a intencionalidade, o
135 135 rigor metodológico e o caráter aproximativo de apreensão da realidade como centralidades ordenadoras de um discurso auto-referente, portanto sujeito a críticas e reordenamentos interpretativos. Nesse sentido, a retórica argumentativa ou discutibilidade figura como critério maior de validação epistemológica. A idéia da discutibilidade como critério científico surge a partir da teoria crítica da Escola de Frankfurt, em especial na crítica que Habermas realiza ao marxismo, principalmente no que se refere ao determinismo de não considerar o alto grau de diversidade das estruturas sociais, para além do caráter classista. É fruto também do questionamento que se tem feito sobre a adoção da prática social como o critério de cientificidade, no marxismo. Sendo a prática social um fenômeno complexo, desencadeado não só pela influência do conhecimento científico, mais por toda a subjetividade inerente ao ser social inserido em contextos sócio-histórico específicos, cabe considerá-la como um, dentre outros requisitos de validação científica (Thompson, Oliveira, 1990). A relação entre retórica 112 e ciência, ou de como o conhecimento científico moderno absolutizou a retórica em nome de uma ordem pretensamente universal, parece válida para a reinvenção do cuidar aqui proposta. A retórica na modernidade tem se caracterizado: i- pelo uso exacerbado da persuasão como estratégia para captação de adeptos; iipela utilização de artifícios calcados no sentimentalismo fácil, alienação ou dominação intimidatória como mecanismos de persuação; iii pelo detrimento do convencimento, do questionamento de causas e desvelamento de situações aparentes. Em nome de uma novíssima retórica capaz de reinventar o conhecimento-emancipação, Santos (2001) propõe 112 A retórica é uma forma de argumentar através de motivos razoáveis, no intuito de explicar resultados já consumados ou de procurar adesão à procura de resultados futuros. Esta é a dimensão ativa e irredutível da retórica. Mas esta dimensão pode ser mais ou menos saliente conforme o tipo de adesão pretendida: persuasão ou convencimento. A persuasão é uma adesão baseada na motivação para agir; a argumentação destinada a atingi-la tende a intensificar essa motivação recorrendo a argumentos emocionais, o elemento psicológico da retórica referido por Aristóteles no livro II da Retórica. O convencimento, por seu lado, é um tipo de adesão
136 136 que se privilegie o convencimento em detrimento da persuação, no sentido de acentuar as boas razões em detrimento da produção de resultados (id., p104). Assumir a discutibilidade como critério científico significa reconhecer saberes, poderes e práticas que sejam capazes de manter acesa a polêmica e o questionamento como motivadores de ações. A despeito da ordem do discurso da ciência apoiar-se fortemente em instituições que a sacralizam e a cristalizam como poder de coerção (Foucault, 1970), portanto difícil de superar, a transição paradigmática atual pode ser um momento oportuno de refundá-la em novas bases, menos assentes na imposição vertical, mais dialógica, solidária e cuidadosa. O reconhecimento dos limites do discurso científico tem surgido como argumento forte no interior da própria academia, portanto minando suas sólidas bases a partir de si própria. Se a tese tão amplamente defendida de que o aprendizado e as mudanças ocorrem preferencialmente de dentro para fora se mantiver tão fortemente discutível como agora (Hardt e Negri, Maturana e Varela, 2001), têm-se razões suficientes para acreditar na utopia de que o conhecimento pode ser uma das possibilidades para se cuidar melhor uns dos outros, como planeta que somos. A intersubjetividade inerente à discutibilidade, ou à própria relatividade que a constrói e reconstrói dinamicamente, encontra respaldo em autores tanto das ciências sociais, quanto naturais. Novamente o surpreendente e contraditório Maturana serve de exemplo. Na defesa das condições que devem ser satisfeitas na proposição das explicações científicas, ele consegue ser, ao mesmo tempo, positivista lógico, ao propor o método dedutivo como formalização metodológica, e hermenêutico, quando explicita a aceitabilidade da comunidade como critério para validade dos fenômenos explicados. Veja-se neste trecho (id, 2001: 34): baseada na avaliação das raízes para agir; por isso a argumentação cria um campo caótico, onde a ação pode ou não ocorrer. Santos (2001:104).
137 137 Desta maneira, podemos distinguir essencialmente quatro condições que devem ser satisfeitas na proposição de uma explicação científica, as quais não necessariamente ocorrem de modo seqüencial, mas sim de maneira imbricada: a- Descrição do fenômeno ou fenômenos a explicar, de maneira aceitável para a comunidade de observadores; b- Proposição de um sistema conceitual capaz de gerar o fenômeno a explicar de modo aceitável para a comunidade de observadores (hipótese explicativa); c- Dedução, a partir de b, de outros fenômenos não explicitamente considerados em sua proposição, bem como a descrição de suas condições de observação na comunidade de observadores; d- Observação desses outros fenômenos deduzidos de b. Importante destacar a relação dialética entre objetividade e subjetividade, entre tecnologia e ética, presente nas discussões sobre discutibilidade como critério de validação da ciência. Santos (2001), ao recorrer às antigas perguntas filosóficas para fundamentar a necessidade de reinventar o conhecimento-emancipação, remete-se a Rousseau e rediscute a questão por ele colocada: haveria alguma relação entre ciência e virtude? A grande crise da ciência moderna é justamente porque ela não conseguiu articular o bem comum com o progresso, tornando a questão roussoriana ainda atual 113. A par desse diálogo, e na tentativa de sintetizar o que até aqui fora dito, bucou-se defender a politicidade do cuidado como conhecimento científico a partir da interrelação dos seguintes parâmetros: Reconhecimento nos diversos saberes e práticas para transformar-se provisoriamente; Relatividade do discurso calcada na apreensão processual e aproximativa da realidade; Rigor metodológico, a serviço de uma realidade sempre mais complexa, como meio para reconstruir discutibilidades; 113 Para definir ciência, e nessa linha de análise, Demo (2001) articula os critérios formais (coerência, sistematicidade, consistência, originalidade, objetivação e discutibilidade), ligados ao formalismo lógico, aos políticos (intersubjetividade, autoridade por mérito, relevância social, ética), centrados no uso valorativo que se faz do conhecimento.
138 138 Intencionalidade no discurso como forma de manter-se criticável nas sínteses realizadas. Predisposição em rever posições de forma dialógica, em favor de um discurso eticamente fundado. A politicidade do cuidado, gestão da ajuda-poder para (re)construção da autonomia de sujeitos, pode orientar a conformação de políticas de saúde emancipatórias. A viabilidade dessa hipótese foi analisada a partir do triedro emancipatório do cuidar: conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar para emancipar. Com tal proposição advoga-se em favor de uma epistemologia em que o cuidar esteja calcado na reconstrução como forma natural de participar de um mundo socialmente fundado, permeado por correlações de forças e disrupção solidária Categorias e Formalizações Metodológicas - Triedro Emancipatório do Cuidar como Referência Analítica para a Gestão de Políticas de Saúde A politicidade do cuidado como referência teórico-analítica e emancipatória para políticas de saúde se fundamenta no triedro conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar e cuidar para emancipar. Com tal pressuposto, assumem-se as categorias poder, emancipação e cuidado como constructos teóricos que orientam a investigação em curso. Tais categorias de análise são vistas como conceitos centrais para compreender a forma com que as relações de ajuda-poder vêm sendo formuladas, conformadas e priorizadas no âmbito do SUS, inserido numa realidade histórico-estrutural permeada por confronto, ambivalências e sínteses sempre renovadas. Categorias, como fluxo de pensamentos abstratos vivenciados concretamente na realidade histórica (Marx, 1999), são utilizadas aqui como
139 139 parâmetros, balizas ou estruturas mais definidoras para apreensão reconstruível do campo-sujeito-objeto (Thompson, 1995) investigado. Assim, as faces mais subjetivas, integralizáveis e ontológicas dos fenômenos estudados têm como referência a conceituação que se vem fazendo sobre o cuidado, entendido como relação social de domínio e ajuda, que se reelabora dinamicamente para forjar atitudes libertárias. Para a vertente de confronto, disputa e correlações de forças inerente às dinâmicas sociais, delimita-se como foco a concepção de poder, sintetizado pela situação estratégica, vulnerável, corruptível e complexa entre domínio e antidomínio presente nas relações sociais. Toda vez em que as rupturas, reordenamentos e subversões do contexto analisado se mostrarem perceptíveis, seja em potencialidade, ou na conjuntura do concreto focado, pautar-se-á na concepção de emancipação, entendida como desconstrução progressiva de assimetrias de poder. O triedro do cuidar aqui defendido pretende articular sinteticamente as categorias cuidado, poder e emancipação numa perspectiva epistemológica, ética e política. Aposta-se num conhecimento que torne possível relações de ajuda-poder mais igualitárias. Para tanto, há de se promover um cuidar que faça emergir as tensões e contradições da arena política, numa perspectiva fortalecedora de sujeitos históricos e com resgate de subjetividades perdidas ou aprisionadas. Se se for cuidado por saberes eticamente fundados, e participando criticamente de confrontos (seja em nível micro ou macro) por melhores oportunidades de vida e cidadania, a emancipação por meio da ajuda-poder se torna possível. Na tentativa de visualizar melhor as três faces do triedro conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar para emancipar com as respectivas categorias analíticas que o compõe, apresenta-se-se a gravura a seguir. Ressalte-se que esta construção deve ser vista de forma integrada, aberta e articulável, como se supõe que seja a tese da politicidade do cuidado.
140 140 GRAVURA 1- TRIEDRO EMANCIPATÓRIO DO CUIDAR: CUIDADO, PODER E EMANCIPAÇÃO COMO CATEGORIAS DE ANÁLISE Conhecer para Cuidar Melhor Cuidado, Poder, Emancipação Cuidar para Confrontar Cuidar para Emancipar Visualizar como o cuidado vem sendo produzido e configurado no campo da política de saúde do Brasil requer um instrumental analítico que considere o contexto, as relações sociais e as dinâmicas que ocorrem na realidade estudada. Sob o desafio de buscar um referencial teóricometodológico que auxilie nessa empreitada, refira-se a Hermenêutica de Profundidade (HP), em Thompson (1995). Calcado na teoria crítica e teorizando sobre ideologia, cultura e comunicação de massas na sociedade moderna, esse autor propõe um arcabouço metodológico para instrumentalizar análises de discursos. Em linhas gerais, propõe interpretar como as formas simbólicas 114 são empregadas para manter relações de poder, ao que denomina ideologia. A partir de uma contextualização geral onde estariam presentes o mundo social ou a interpretação da doxa 115, e propondo uma ruptura metodológica com a hermenêutica da vida cotidiana 116, sistematiza o referencial em três 114 Formas simbólicas são construções significativas que exigem uma interpretação; elas são ações, falas, textos que, por serem construções significativas, podem ser compreendidas. (Thompson, 1995:357). 115 (...) uma interpretação das opniões, crenças e compreensões que são sustentadas e partilhadas pelas pessoas que constituem o mundo social. (id., p.364.) 116 Sem esquecer a interpretação da doxa, devemos ir além deste nível de análise, para tomar em conta outros aspectos das formas simbólicas, aspectos que brotam da constituição do campo-objeto. As formas simbólicas são construções significativas que são interpretadas e compreendidas pelas pessoas que as produzem e as recebem, mas elas são também contruções que são estruturadas de maneiras definidas e que estão inseridas em condições sociais e históricas específicas. (id., p365).
141 141 âmbitos: análise sócio-histórica, análise formal ou discursiva e interpretação/ reinterpretação. A análise sócio-histórica diz respeito às condições conjunturais em que as formas simbólicas são produzidas e conformadas. A análise formal ou discursiva procura desvelar a estrutura da complexidade dos objetos e expressões que circulam o campo social (op.cit., p 369). A interpretação ou re-interpretação procede na realização de sínteses possíveis a partir das etapas anteriores, procurando manter o caráter aberto ou a intenção de tentar se colocar no local do outro. Esquematicamente, tem-se o quadro a seguir, sintetizado pelo autor.
142 142 FORMAS DE INVESTIGAÇÃO HERMENÊUTICA Hermenêutica da Vida Quotidiana Referencial Metodológico da Hermenêutica de Profundidade (HP) Análise Sócio-Histórica Análise Formal ou Discursiva Interpretação da Doxa -Situações espaço-temporal; -Campos de Interação -Instituições sociais -Estrutura Social -Meios técnicos de transmissão -Análise semiótica -Análise de conversação -Análise sintática -Análise narrativa -Análise argumentativa Interpretação ou Re-interpretação Fonte: Fig. 6, Thompson (1995:365). O estudo das formas simbólicas, ou o desvelamento de discursos a serviço do poder (ideologia), pode ser utilizado não apenas para destrinchar depoimentos, mas igualmente outras formas de comunicação e linguagem 117. Demo (2001:45), na releitura que realiza da proposta de Thompson, reafirma: Ainda, pretendemos aplicar tais idéias metodológicas não só a dinâmicas, mas também a desempenhos qualitativos, como é avaliar a qualidade política de uma associação comunitária em sua atuação concreta histórica, por exemplo. A ideologia é tendencialmente entendida como discurso e, por vezes, a proposta de Thompson parece restringir-se às análises qualitativas de discursos. Acrescentamos aqui também a possibilidade de analisar práxis históricas (Vasquez, 1977), sempre que for o caso claro de fenômenos qualitativos intensos.. Tendo por suposto esse entendimento, e dialogando com a hermenêutica de profundidade, cabe dizer que o triedro emancipatório do
143 143 cuidar, calcado no conhecimento capaz de potencializar confrontos e reordenamentos de poderes, pode orientar a análise de políticas de saúde, centrando-se na interpretação das ideologias inseridas em contextos complexos. Inspirados no referencial metodológico de Thompson (1995) - e a partir das faces conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar para emancipar foram delimitadas três dimensões 118, que por sua vez geraram parâmetros de análises. Assim, as dimensões para a análise decorrem das seguintes interfaces do triedro emancipatório do cuidar com a HP: i- articulação do contexto sócio-histórico em que as práticas são produzidas com o conhecer para cuidar melhor; ii- as correlações de forças existentes no contexto e as disputas entre as produções sociais realizadas 119, por sua vez, se imbricam com o cuidar para confrontar; iii- a interpretação e reinterpretação das formas simbólicas operam movimentos dinâmicos, potencializando o cuidar para emanicipar. Uma possibilidade de desenho a ser adotado a partir dessa conversa poderia prever três dimensões: i- contexto da política; ii- relações institucionais; e iii- dinâmica operativa. De forma esquemática, tem-se a gravura a seguir: 117 Uma forma de proceder análises de textos, imagens e sons em pesquisa qualitativa pode ser consultada em Bauer, W.M e Gaskell, G., Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som Um Manual Prático. Petropolis- RJ: Vozes, Dimensão de análise como constructo metodológico constituído por características, atributos e matizes semelhantes ou complementares entre si que auxiliam a dar maior visibilidade ao que se quer investigar. São arranjos artificialmente montados para melhor dimensionar a realidade que se pretende averiguar, compreendendo-a sempre mais ampla. Parte-se da compreensão de que tais artifícios metodológicos nada mais são do que recortes possíveis e incompletos de um contexto sempre mais rico e imprevisível, como se supõe que sejam as relações sociais. 119 Cabe aqui a discussão de práxis, em Vasquez (1977), uma vez que as produções sociais enquanto atividade material humana correspondem à síntese entre teoria-prática, entre crítica e transformação de cotidianos.
144 144 GRAVURA 2- DIMENSÕES DE ANÁLISE PARA POLÍTICAS DE SAÚDE A PARTIR DA HERMENÊUTICA DE PROFUNDIDADE E TRIEDRO EMANCIPATÓRIO DO CUIDAR HERMENÊUTICA DE PROFUNDIDADE Hermenêutica da Vida Quotidiana/ Interpretação da Doxa - Análise Sócio-Histórica (Situações espaço-temporais; Campos de Interação; Instituições sociais; Estrutura Social; Meios técnicos de transmissão) Análise Formal ou Discursiva (Análise semiótica; Análise de conversação; Análise sintática; Análise narrativa; Análise argumentativa) Interpretação ou Re-interpretação TRIEDRO EMANCIPATÓRIO DO CUIDAR Conhecer Para Cuidar Melhor Cuidar para Confrontar Cuidar para Emancipar DIMENSÃO DE ANÁLISE Contexto da Política Relações Institucionais Dinâmica Operativa Apesar de terem sido concebidos de forma indissociável, tanto o triedro do cuidar articulado às formas de investigação da HP, quanto as dimensões de análise dele originadas, têm certas especificidades estruturáveis, embora imbricadas umas nas outras. Assim, a dimensão contexto da política, que, por si, congregaria todas as demais faces do triedro, pode ser priorizada em alguns aspectos do conhecer para cuidar melhor, uma vez que se está apostando no potencial emancipatório da epistemologia crítica do cuidar. Da mesma forma, cuidar para confrontar pode ser melhor correlacionado com a segunda dimensão, relações institucionais, tendo em vista o foco sobre as tensões dialéticas. Por último, cuidar para emancipar e dinâmica
145 145 operativa surgem como sínteses provisórias da análise. Especificando melhor as dimensões delimitadas para a análise, têm-se: a) Contexto da Política - Diz respeito às principais condições estruturais em que o campo-sujeito-objeto 120 está inserido. Aqui, Interessa, sobretudo, a conjuntura em que são geradas as ações da política pública, os atores estratégicos, as definições ou indefinições políticas, as condições sociais e econômicas que interferem na conformação da ajuda-poder. Essa dimensão corresponderia ao contexto geral e análise sócio-histórica da hermenêutica de profundidade, portanto com a intenção de abranger, além da conjuntura em que são produzidas as vivências do senso comum, os aspectos mais estruturados que constituem o campo-objeto (situações espaço-temporais; campos de Interação; instituições sociais; estrutura social; meios técnicos de transmissão). O propósito maior é compreender o contexto sócio-histórico onde se forja o cuidado à saúde, nas múltiplas possibilidades de domínio e subversão em que ele se funda. b) Relações Institucionais - Inseridas dialogicamente no contexto sócio-histórico, a dimensão relações institucionais diz respeito aos atores que fazem parte da política (incluindo a participação e organização da sociedade civil), suas articulações, interesses, correlações de força e significados. Elas seriam analisadas tendo por foco as disputas de poder e conquistas realizadas. Interessa captar a estruturação que as formas simbólicas podem adquirir no contexto das relações sociais, expressas por símbolos, falas, textos e discursos a serviço do poder. Tem relação com a análise formal da HP e procura interpretar a estrutura e o sentido do discurso gerado no interior das relações sociais. Instiga-se, principalmente, como as 120 O mundo sócio-histórico não é apenas um campo-objeto que está ali para ser observado; ele é também um campo-sujeito que é construído, em parte, por sujeitos que, no curso rotineiro de suas vidas quotidianas, estão constantemente preocupados em compreender a si mesmos e aos outros, e em interpretar falas e acontecimentos que estão ao seu redor. Thompson (1995:358).
146 146 tensões entre ajuda e poder se inserem no cotidiano das decisões governamentais da política, delineando-se poderes e contrapoderes. c) Dinâmica Operativa - Na tentativa de realizar sínteses provisórias, a dinâmica operativa se refere às ações produzidas, aos produtos e seus impactos sobre o contexto sócio-histórico. Diz respeito ao desempenho dos programas sociais no contexto analisado, estando intimamente correlacionada às dimensões anteriores (relações institucionais e contexto da política). Seria a interpretação ou reinterpretação da HP, mantendo-se aberta às reconstruções e reposicionamentos analíticos. De modo geral, observam-se as sínteses possíveis entre ajuda e poder, bem como as possibilidades de tutela e subversão aí presentes. Ou, de outra forma, estudar as possibilidades emanipatórias presentes nos cenários oportunizados pela gestão da ajuda-poder, captando dinamicidades e estruturas próprias de realidades complexas. Na tentativa de montar um instrumental que auxilie a análise da gestão de políticas de saúde, e dando aplicabilidade ao referencial da politicidade do cuidado, propõe-se o quadro a seguir, dentre tantas outras ordenações possíveis de serem feitas.
147 147 QUADRO 1- REFERÊNCIAS PARA ANÁLISE DA GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE A PARTIR DO TRIEDRO EMANCIPATÓRIO DO CUIDAR FACE MAIS VISÍVEL DO TRIEDRO Conhecer para Cuidar Melhor Cuidar para confrontar DIMENSÃO DE ANÁLISE ARTICULÁVEL A-Contexto da Política B- Relações Institucionais PARÂMETROS ANALISÁVEIS A1- Historicidade e conjuntura em que a política social se inseriria (características sociais, políticas e econômicas, cultura política, instituições, conquistas dos movimentos sociais e/ou da cidadania organizada, base parlamentar de apoio, nível de governo, relação com organismos internacionais, outros). A2- Política pública seguiria princípios, diretrizes e arcabouço jurídico-institucional consensuados na esfera pública e assentes na efetiva ampliação da participação da sociedade civil (cidadania). A3- A gestão do programa preocupar-se-ia constantemente em conhecer/compreender a conjuntura da política para melhor decidir/gerir cenários de cuidado à saúde. A4- Inserção do programa na política pública ocorreria de forma priorizada, traduzida no orçamento e na autonomia gerencial. A5- Ações intersetoriais permeariam o cotidiano institucional, constituindo-se em espaços dialogados de saberes. A6- Gestão das ações se organizariam a partir das forças sociais, com avaliações, reprogramações sistemáticas e controle democrático efetivamente delineado. A7- Política de formação profissional e educação permanente seria definida, gerida e forjada a partir da realidade dos sujeitos (foco na autonomia e construção de projetos próprios). B1- Panorama das forças sociais que influenciariam estrategicamente a política social (parlamentares, governo, empresas, setores organizados do mercado e da sociedade civil, sindicatos, universidades, conselhos de saúde, fóruns de negociação, outros). B2- Tensões e nós-críticos que influenciariam as relações entre atores do programa e demais participantes da política social (inferências internas e
148 148 Cuidar para Emancipar C- Dinâmica Operativa externas que geram conflitos e/ou emperram ações e desempenhos). B3- Efetivo Controle Democrático (de baixo para cima): - proposições demandadas pela sociedade civil que teriam sido atendidas pela gestão do programa; -conselhos de políticas públicas e setores organizados da sociedade civil teriam influência estratégica na priorização de ações, mobilizando atores e recursos para consecução das mesmas. B4- Democratização de poderes na esfera pública: - decisões e/ou deliberações de conselhos e/ou fóruns de negociação da política seriam condições estratégicas efetivas para a gestão e implementação do programa. C1- Gerência/condução do programa teria nível de decisão institucional elevado no que se refere a orçamento, projetos e ações. C2- Consonância/êxito dos princípios e diretrizes do programa seria oportunizado nos cenários produzidos e delineado em ações, avaliações, relatos, estudos e/ou indicadores existentes. C3- Avaliações sistemáticas seriam definidas e reprogramadas constantemente, operando a partir da demanda e em diálogo com as forças sociais. C4- Desenvolvimento de ações intersetoriais para intervenção nos problemas prioritários, com demarcação de atribuições e avaliações sistemáticas. C5- Proposições seriam desenvolvidas pela gestão do programa a partir dos conselhos de política pública ou setores organizados da sociedade. C6- Gestão da ajuda-poder centrar-se-ia na educação permanente e oportunizaria cenários onde a autonomia dos sujeitos se manifesta (construção de projetos próprios, pressão e disputa por espaços, luta por cidadania, outros).
149 149 - Pesquisa Teórica e Prática A investigação em curso segue a classificação proposta por Demo (2001) e se coloca como pesquisa teórica e prática. A face teórica se propôs a reconstruir teorias, concepções, visões e conceituações sobre ascategorias cuidado, emancipação e poder, no sentido de manter discutível formal e politicamente o triedro do cuidar. O lado prático da pesquisa focou-se nas ações, contradições e sínteses realizáveis no escopo da gestão do PSF, em nível central (federal). As faces teórica e prática da pesquisa são vistas como complementares e foram articuladas reconstrutivamente para fundamentar a hipótese de que a politicidade do cuidado pode ser uma referência teórico-analítica e emancipatória para a gestão de políticas de saúde. Tendo em vista a dimensão emancipatória escolhida, priorizou-se, tanto quanto possível, o lado teórico da investigação. Assim sendo, os enfoques no aprofundamento teórico e conceitual constituíram-se em bases epistêmicas importantes para a sustentação da tese da politicidade do cuidado, o que não significa, claro, desapego ou distanciamento de face prática investigada. Ao contrário, parte-se do suposto que para melhor compreender e participar das experiências cotidianas, há que se reconstruir dinamicamente os conceitos, concepções e discursos que iluminam a realidade. Ademais, como já referido, teoria e prática são partes de um mesmo fenômeno natural e social, não sendo mais possível sustentar dicotomias calcadas na racionalidade moderna. Isso posto, segue que a pesquisa teórica buscou fundamentar o triedro emancipatório do cuidar de forma sistematizada e criteriosa, norteando toda a construção do referencial teórico. Para tanto, a revisão bibliográfica foi realizada a partir de questões norteadoras previamente definidas a partir das faces do triedro emancipatório do cuidar. Apesar dos riscos restritivos envolvidos na escolha de diretivas, tal artifício mostrou-se oportuno, servindo para submeter leituras e aprofundamentos teóricos ao recorte da realidade que se pretendeu aprofundar. O importante, portanto, é considerar que esse
150 150 recorte jamais será o todo, mas parte nele. A seguir, são explicitadas e justificadas as questões que nortearam a investigação. A- CONHECER PARA CUIDAR MELHOR Nesta face do triedro, teorizou-se sobre a epistemologia emancipatória do cuidar, no sentido de fundamentar argumentos que pudessem contribuir para forjar autonomias de sujeitos a partir da reconstrução de saberes e práticas. Com esse intuito, a revisão bibliográfica foi orientada pelas seguintes questões: Como as principais concepções e teorias sobre poder, cuidado e emancipação vêm se articulando na produção de conhecimentos? Seria possível, à luz das vertentes estudadas, conceituar teoricamente uma epistemologia para o cuidado pautada na reconstrução da ajuda para autonomia relativa de sujeitos? B- CUIDAR PARA CONFRONTAR A tensão dialética entre o gesto de ajuda que, sendo relação de poder, tanto pode dominar quanto desconstruir assimetrias subjulgantes, é o principal foco deste lado do triedro. Concebido como cerne da politicidade do cuidado, procurou-se fortalecer discursos que referenciassem dialeticamente a tensão propulsiva e restritiva presente na relação do cuidar. Tal discussão pôde ser sintetizada a partir da seguinte questão: Que discussão ou diálogo teórico seria possível formular entre cuidado e poder, uma vez que a politicidade do cuidado subsiste na tensão dialética entre tutela e autonomia de sujeitos? C- CUIDAR PARA EMANCIPAR Esta dimensão constitui-se uma síntese provisória do triedro do cuidar e foi tratada no sentido de estabelecer maiores relações e interações entre as demais questões. Por traduzir com maior clareza a própria hipótese da tese,
151 151 requereu manuseio cuidadoso no sentido de rever posições, discursos ou concepções, procurando manter a argumentação sempre aberta, criticável e reconstrutiva, no caminho proposto por Thompson (1995). Como o cuidado pode se constituir numa referência emancipatória? Que teorias ou concepções sobre poder, cuidado e emancipação poderiam melhor fundamentar essa hipótese? Como o cuidar, sendo relação de poder, pode se constituir numa relação disruptiva e libertadora de fazeres? A seleção da literatura foi sistemática e tentou buscar dinamicamente sínteses possíveis às perguntas acima descritas. Importante não perder de vista o papel da hipótese como norte maior da pesquisa, tendo sido sempre a referência para o estudo. Dessa forma, não se deseja fortalecer concepções positivistas calcadas na infabilidade das teorias, mas garantir coerência e sistematicidade argumentativa. Ademais, a hipótese aqui formulada constitui uma, dentre tantas outras, forma de observar uma realidade, igualmente susceptível às críticas e desconstruções. Os critérios priorizados para seleção da literatura foram os seguintes: priorização de autores clássicos, com teorias que permaneçam profundamente discutíveis; foco em autores, concepções, estudos e teorizações que influenciam e/ou criticam a produção hegemônica do pensamento moderno - e que tenham certo respeito pela comunidade científica; pensamentos e teorias que auxiliem a fundamentar e teorizar sobre o triedro emancipatório do cuidar e questões norteadoras elaboradas; iintrodução, revisão e/ou substituição de autores sempre que a reconstrução das sínteses assim solicitar, mantendo a dinamicidade dos processos abertos.
152 152 - ESTUDO DE CASO A face prática da pesquisa foi realizada por meio da análise do Programa Saúde da Família (PSF) no contexto da gestão do Sistema Único de Saúde em nível federal. O propósito foi investigar se o PSF tem se constituído mais como estratégia de mudança amparada nos princípios do SUS ou como programa social focalizado e seletivo, do tipo saúde pública para pobres. Interessou, sobretudo, analisar as politicidades imbricadas na gestão do programa/estratégia prioritário para o SUS, desvendando-lhe o duplo caráter disruptivo e conformador. O triedro emancipatório do cuidar foi utilizado como referencia analítica, calcado nas dimensões e parâmetros apresentados no quadro 1. A escolha do Programa Saúde da Família (PSF) como campo-sujeito-objeto da face empírica desta pesquisa justificou-se pelos seguintes motivos: o PSF tem diretrizes consoantes com os princípios dos SUS e se operacionaliza a partir de seu arcabouço jurídico-institucional, constituindo-se em uma das estratégias prioritárias utilizadas pelo Ministério da Saúde na reorganização dos serviços e práticas de saúde do SUS; concebido inicialmente como programa, produz um discurso para firmar-se enquanto eixo estruturante na reorganização da atenção básica à saúde da população, com repercussões para o sistema de saúde; teve expressivo crescimento nos últimos anos em número de equipes, municípios e cobertura populacional, traduzindo-se numa extensão que tem gerado inovações, continuísmos e retrocessos; no ano de 2002, foi assinado um acordo de empréstimo internacional entre Brasil e Banco Mundial (BIRD) para expansão e consolidação do PSF (Proesf), que se estenderá até Esse projeto consta de 3 componentes (I-Apoio à Conversão do Modelo de Atenção Básica à
153 153 Saúde, II-Desenvolvimento de Recursos Humanos e III- Monitoramento e Avaliação) e pretende levar o PSF para 60% da população brasileira até o PSF é alvo de críticas e discussões teóricas importantes, em geral polarizadas entre os que o defendem enquanto estratégia de fortalecimento do SUS e os que o apontam como política setorial focalizada e seletiva, de tipo neoliberal, portanto permeado por politicidades. O delineamento da investigação foi feito por meio do estudo de caso (Bauer (2002), Minayo (1992), Demo (2001), Triviños (1987), Chizzotti (2003)), entendido como um recorte ou unidade de significação central para a pesquisa em curso. O caso em questão expressa um determinado foco no cenário de complexas condições socioenocnômicas e culturais da realidade, sendo parte dele na totalidade. Representa, pois, uma significação estratégica e exemplar para a investigação, devendo ser interpretado à luz das referências teóricas e do contexto sócio-histórico em que se insere (Thompson, 1995). A unidade-caso ou corpus 121 desta etapa investigativa compôs-se das informações formais e/ou informais produzidas pelos diversos atores que viabilizam ou influenciam a gestão do Programa Saúde da Família em nível federal. Ou seja, gestores e técnicos do Ministério da Saúde ligados ao PSF, representantes do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS), do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASSEMS), bem como de associações de classe dos profissionais. O intento perseguido foi o de contextualizar o PSF na política de saúde, investigando sua politicidade. Trata-se de uma abordagem qualitativa dos fenômenos priorizados, entendendo a unidade quantidade-qualidade como totalidade. A dimensão qualitativa da investigação, enfoque interpretativo dinâmico e 121 Para Orlandi (2001), a delimitação do corpus e a análise da pesquisa estão intimamente relacionadas, uma vez que decidir sobre a constituição do corpus envolve priorizar certas propriedades discursivas.
154 154 processual que prima pela compreensão discutível dos fenômenos estudados (Pires, 2001), não nega a quantidade enquanto componente dialeticamente complementar. Qualidade e quantidade co-existem nos fatos sociais enquanto unidade de contrários, superáveis e aperfeiçoáveis no mesmo espaço-tempo COLETA E ANÁLISE DE DADOS Delimitado o corpus do aprofundamento qualitativo, composto pelos atores que integram, viabilizam e/ou influenciam a gestão do PSF em nível federal, utilizou-se a análise de documentos e a observação participante como técnicas de coleta de dados, procurando confrontar informações para a (re)construção do argumento. O quadro 1, Referências para Análise da Gestão de Programas Sociais em Políticas Públicas a partir do Triedro Emancipatório do Cuidar, bem como os roteiros de observação 1 e 2 (anexos 1, 2, 3), balizaram a coleta e análise dos dados, constituindo-se num parâmetro central para o estudo. No que se refere à coleta e à análise de dados, fundamentaram-se nos seguintes itens: Análise de Documentos: Análise de planos, projetos, leis, normas, relatórios de pesquisa, bancos de dados referentes ao PSF no contexto do SUS. Dentre as fontes de informações, muitas delas disponíveis no site ou nas diversas instâncias e fóruns do SUS, citese: a- Avaliação Formativa das Equipes Saúde da Família 2001/2002. Tratase de um monitoramento realizado pelo Ministério da Saúde, do tipo censitário, que buscou caracterizar o processo de implantação das equipes de saúde da família e saúde bucal no Brasil, quanto à infraestrutura das unidades, processo de trabalho das equipes e capacitação de profissionais Refiro-me aqui a noção de espaço-tempo pós-moderno caracterizado por Santos (1997), entendido como locus privilegiado de produção da subjetividade. 123 Foram visitadas equipes de saúde da família e de saúde bucal, em (67,9%) municípios brasileiros Brasil, Ministério da Saúde, Informe da Atenção básica nº 18.
155 155 b- Resultados das pesquisas encomendadas pelo Ministério da Saúde, em 2002, sobre a implantação do PSF em grandes centros urbanos, que subsidiou a celebração do acordo de empréstimo internacional. c- Sistemas de informações em Saúde, em especial o SIAB, Sistema de Informação Atenção Básica e desempenho do processo de Pactuação dos Indicadores da Atenção Básica (instrumento de gestão negociado entre as três instâncias de governo pautado no alcance das metas de indicadores de saúde priorizados). d- Análise dos trabalhos premiados na II Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família, ocorrida em junho de 2004 em Brasília, onde constam experiências de gestões municipais e de equipes. Esse evento contou com a participação de mais de pessoas entre gestores, profissionais de saúde, entidades de classe, conselhos, instituições de ensino, docentes, associações e organizações da sociedade civil ligadas ao SUS. Foram enviados trabalhos, dos quais 477 concorreram à premiação. Após passar por um rico processo de análise que contou com 3 etapas, envolvendo 25 avaliadores ad hoc, 18 entidades e organizações ligadas ao SUS, 2 oficinas de trabalho para julgamento, foram escolhidos 14 trabalhos considerados exitosos. Os parâmetros utilizados para análise foram: contribuição para o fortalecimento da estratégia saúde da família, para reorganização dos serviços, novas práticas profissionais, trabalho em equipe, além de originalidade, criatividade e potencial de aplicabilidade 124. Tendo em vista a expressividade e representatividade desse movimento, os trabalhos premiados constituíram-se em fonte de informação exemplar para se perceber se a gestão do PSF tem forjado cenários propícios à autonomia de sujeitos. e- Planos, projetos, planilhas, normas técnicas, resoluções, portarias, leis e estudos realizados ou expedidos pelo DAB, Ministério da Saúde, CNS, CONASS, CONASSEMS, associações de classe, organismos internacionais (OPAS, OMS, Banco Mundial), que tenham relação com a questão norteadora levantada. Observação Participante 125 : Pautada na convivência relativamente freqüente com o grupo ou organização foco da análise (Becker, 1999), esta técnica mostra-se adequada aos propósitos da etapa empírica da pesquisa. Foi ancorada nos parâmetros analisáveis descritos no quadro 1 e realizada por meio de roteiros pre-estruturados (anexos 2 e 3). Teve como objetivo 124 Informações colhidas junto à equipe de organização da II Mostra Nacional de Produção em SF, do Departamento de Atenção Básica/Ministério da Saúde que, em breve, também estará disponível na biblioteca virtual daquele órgão. 125 Pelo fato de já ter trabalhado na gestão do PSF em nível central ( ), e de atualmente prestar consultorias eventuais a essa instância, a técnica de observação participante se adequou aos objetivos propostos.
156 156 principal desvelar discursos, identificar tensões e contradições presentes no cotidiano da organização gestora do PSF em nível central, o Ministério da Saúde. Foram feitas algumas conversas, em tom o mais informal possível, com os gestores e técnicos atuais e anteriores do programa/estratégia (anexo 3), no sentido de captar e contrastar informações. A análise dos dados primou pela contextualização e reinterpretação das informações, tendo sempre por base as categorias cuidado, emancipação e poder, além do referencial teórico delineado. A articulação das faces teórica e prática da pesquisa ocorreu durante todo o desenvolvimento da tese, sempre norteada pela pressuposto de que a politicidade do cuidado, gestão inteligente da ajuda-poder expressa pelo triedro do cuidar, pode ser uma referência teórico-analítica e emancipatória para a gestão de política de saúde.
157 3- ANÁLISE DOS DADOS
158 158 - GESTÃO DO PSF À LUZ DO TRIEDRO EMANCIPATÓRIO DO CUIDAR Optou-se por estruturar a discussão dos dados em três momentos complementares, na tentativa de correlacioná-los a cada uma das faces do triedro e dimensões de análises descritas. Primeiramente, o contexto em que a gestão do PSF se insere é priorizado, articulando-o ao referencial teórico onde as politicidades da política de saúde do Brasil foram devidamente aprofundadas. Num segundo momento, as tensões e contradições que influenciam e/ou conformam as decisões centrais do programa/estratégia são abordadas. Por fim, e articulando os momentos anteriores, as dinâmicas de ajuda-poder oportunizados pelo PSF, expressas tanto no cotidiano institucional, quanto nos trabalhos premiados na II Mostra Nacional de Saúde da Família, são esmiuçadas analiticamente, tendo por suposto as categorias cuidado, emancipação e poder. - Contexto da Gestão A conjuntura social, política e econômica em que a gestão do PSF se insere, conforme já referido, é tensa em disputas por espaços de poder, como em todas as polícias sociais. O centro dessas turbulências, que se insere no contexto de conformação da ajuda-poder nas sociedades capitalistas, ampara-se na luta entre o ideário do SUS de pretender-se política social universal, eqüânime e democrática, num cenário competitivo, desigual e influenciado pelas exigências do mercado. Amparado em diretrizes que se respaldam nos princípios do SUS, o PSF sintetiza conflitos inerentes à macropolítica que faz parte, com especificidades próprias de sua trajetória histórica. Uma das peculiaridades da gestão atual do PSF se inscreve na própria mudança de governo em curso, onde, pela primeira vez, um partido de esquerda, com forte trajetória de luta pelos direitos dos trabalhadores e ampliação da democracia, chega ao poder. A eleição de um metalúrgico
159 159 à Presidência da República, oriundo do sindicalismo e fundador de um partido (Partido dos Trabalhadores, PT) que congrega intelectuais, setores organizados da sociedade civil e a maioria dos movimentos sociais de esquerda do Brasil, é fato político inconteste na história do país. Trata-se da eleição de um projeto de país forjado ao longo de mais de vinte anos, cujo percurso guarda, no currículo, grandes mobilizações e manifestações populares por mudança e cidadania. A eleição de Lula - mesmo que para isso o PT tenha feito alianças com setores conservadores e com empresários liberais, comprometendo ideologicamente o projeto político original do partido - representou uma renovada na esperança do povo brasileiro. Milhares de pessoas foram às ruas para a posse do novo presidente, fato inédito até então, manifestando apoio e credibilidade nas promessas de governo, pautadas principalmente na retomada do crescimento econômico, na diminuição do desemprego e priorização das políticas sociais. Mas o PT não é mais o mesmo; o tempo das reivindicações e grandes mobilizações nacionais da década de oitenta ficou para trás e a globalização da economia, calcada na transnacionalização dos mercados e diminuição do poder regulatório do Estado, é realidade que interfere duramente nas decisões governamentais. Se a máxima que diz que todo revolucionário de hoje é um reacionário de amanhã, desde que chegue ao poder estiver correta, está em vias de ser comprovada, infelizmente. Passados dois anos de governo Lula, o país experimenta a mesma política econômica austera e neoliberal do governo anterior, com altas taxas de juros, elevação do superávit primário para pagamento da dívida externa, com conseqüente restrição orçamentária para as políticas sociais. Uma reforma previdenciária austera e restritiva das garantias trabalhistas foi aprovada no Congresso Nacional já no primeiro ano, coisa que nem o governo anterior, taxado de retrógado e neoliberal pelo próprio PT, teve coragem de encarar. Quanto às políticas sociais, encabeçadas por programas como o Fome Zero e o Bolsa Família (renda
160 160 mínima), além de não deslancharem, são alvo de recentes denúncias de desvio do dinheiro público devido à falta de monitoramento do governo federal. Para completar o cenário pouco animador, CPI s de casos de corrupção explícita envolvendo a alta cúpula, flagradas em fitas gravadas por empresário do ramo de jogos eletrônicos, são ofuscadas pelo governo mediante negociatas com a elite mais conservadora e corrupta do país. Apesar das alianças políticas com setores conservadores e da própria conjuntura econômica anunciar previamente que não seria possível profundas mudanças, não se esperava tanta contradição de um partido que teve toda uma trajetória centrada na luta dos direitos dos trabalhadores. Parece que a polêmica, introduzida por Holloway (2003), de que é impossível mudar o mundo por meio do poder, ronda como ameaça ao exercício democrático, haja vista a própria ambigüidade que sempre permeou a noção de democracia (Goyard-Fabre, 2003) ou a concepção do homo sapiens-demens (Morin, 2002). Ou, na re-interpretação oportuna de Demo (2004), quem propõe mudanças não as deveria gerir, a menos que possa ser democraticamente controlado. Buscando um possível arremate para essa conjuntura, cite-se o trecho a seguir, onde o autor analisa o novo governo: Intriga que o novo governo Lula se escude em política econômica tão ortodoxa, reavivando a controvérsia sobre a tendência conservadora de esquerdas que chegam ao poder. Parece claro que o PT tinha projeto de tomada de poder, não tinha de exercício de poder. Imaginávamos que estivesse melhor preparado para governar. No campo econômico não consegue ir além de uma versão piorada do governo anterior e que tanto combateu. Cada dia mais, o governo guina para a direita e é tutelado por ela, em parte, porque, não sabendo governar, perde-se em crises próprias, cai na vala comum da corrupção geral, não reage em tempo e vai insinuando que a expectativa de reeleição se sobrepõe às mudanças esperadas. Esperava-se, por exemplo, que o novo governo, ao fazer a reforma previdenciária, atacaria frontalmente disparates como aposentadorias de salário mínimo; na prática, girou apenas em torno de como lidar com privilégios públicos, como se aí estivesse o grande problema previdenciário os pobres da previdência nunca foram parte do debate. Esperava-se que um programa como o Fome Zero saísse logo do zero, ocupasse a cena e orientasse a ética política daqui para frente. O que ocorreu foi imensa prova de inépcia programática e gerencial. Esperava-se que, tendo tanto cacife político e
161 161 tendo angariado tamanha imagem externa, o novo governo negociasse com o FMI condições muito mais favoráveis para saldar dívidas sociais. Ao invés disso, assumiu metas fiscais ainda mais severas que engessam a economia a perder de vista. Parece maldição sociológica: o revolucionário de hoje será o reacionário de amanhã, desde que chegue ao poder. Quem propõe mudanças, não as deveria gerir. O gestor de mudanças está mais preocupado em mantê-las, do que em progredir mudando. Prefere o poder à mudança. Em parte, algo muito compreensível, no contexto da complexidade não linear. Mas torna-se estarrecedor, quando se vai de um extremo a outro, de tal sorte que o antes pareceria nada ter a ver com o depois. Era uma coisa na campanha eleitoral. É outra coisa, diametralmente oposta, no poder. O desemprego só faz crescer, porque soltar a economia geraria inflação. A política social gira em torno de migalhas assistencialistas, porque não há recursos disponíveis. A economia está parada, porque, parada, dá a impressão de economia sob controle para o capital externo e que por aqui passa apenas para especular. Os juros são altíssimos, acima de qualquer ganho real da economia, só para mostrar aos banqueiros internacionais que somos rígidos, tão rígidos que a população será sacrificada ao dólar. Intriga que gente que combatia o neoliberalismo seja, no poder, gente que com ele convive na subserviência mais frontal. Parecem mais neoliberais que os assumidos neoliberais. É desta amargura que surgem idéias como mudar o mundo sem tomar o poder, porque pareceria que a tomada de poder só pode ser coisa suja. Tem tudo para isso, mas a isso não se reduz. Não vale transformar utopias em utopismos, seja porque instituímos ditaduras ainda mais fundamentalistas, seja porque imobilizamos a população. Esta não pode apenas gritar. Precisa comer e sobretudo emancipar-se. (Demo, 2004:65). Para as pessoas emanciparem-se das condições indignas que lhes cercam, há de haver cuidado numa perspectiva de ajuda-poder que resgate a noção de sujeito, constituído a partir da uno/diversidade que lhe funda. A gestão de políticas públicas, viabilizada por programas sociais, para manter a chama da vulnerabilidade subversiva do poder, precisa aprender a gerir cenários que tornem possível o fortalecimento da cidadania ativa, capaz de pressionar o estado. Noutros termos, trata-se de reinventar a gestão pública onde o manejo do poder ocorra mais para ser controlada de fora para dentro, minimizando os riscos da mesmice e do autoritarismo autocentrdo.
162 162 Diante dessas ponderações, as práticas e discursos vivenciados na esplanada dos ministérios 126 parecem reavivar as mesmas incoerências que, outrora, eram alvo de denúncias pelo PT da oposição. Com contornos próximos a um certo partidarismo velado, o PT-governo insiste em apagar ou desconstruir tudo o que teve início na era FHC, sem a devida análise e avaliação técnica necessária para tal. Nessa varredura partidária, muitos projetos e programasvêm sendo afastados, desmontados e/ou descaracterizados sistematicamente, sem que se coloque em seu lugar proposta melhor. O governo FHC foi prioritariamente neoliberal e focalizou seletivamente as políticas sociais, aprofundando a miséria e desigualdades do país (Lesbaupin, 1999). Mas partir desse pressuposto, sem analisar criticamente o que fora feito, identificando propostas implantadas que possam ser reconduzidas e/ou aperfeiçoadas, otimizando resursos públicos, soa próximo ao fundamentalismo autoritário e retrógado. Nesse particular, o Ministério da Saúde, por ter sido gerido pelo principal opositor de Lula nas eleições (José Serra), vive intensamente esses conflitos. A questão central não é apenas desmanchar o que o outro governo fez, mas apagar qualquer marca que possa lembrar FHC e, principalmente, Serra. Ocorre que a gestão de Serra na pasta da saúde foi marcada por conquistas e avanços significativos, difíceis de negar e/ou desmantelar, ao lado de outras ações criticáveis 127. Como breve referência nesse sentido, a ameaça encabeçada pelo Brasil de quebra das patentes para produção de medicamentos para o HIV/AIDS, caso os laboratórios estrangeiros não reduzissem seus preços, além de vitoriosa em seus propósitos, ganhou notoriedade internacional. Outro exemplo oportuno foi a implantação da 126 Pelo fato de ter estado próxima ao Ministério da Saúde em ambas as gestões governamentais, posto que assessoro e/ou presto consultoria ao DAB desde 2000, a observação participativa realizada especificamente nesta pesquisa não se esgotam a este tempo (ou ao aqui e agora), mas complementa as vivências anteriores na gestão pública. 127 Cito, por exemplo, a criação do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde, PITS, que objetivava estimular a interiorização de profissionais de saúde. Completamente fora do contexto da descentralização em curso, essa proposta, além de equivocada, se sobrepunha às ações do próprio PSF.
163 163 política de medicamentos genéricos, onde o governo enfrentou o mercado das indústrias farmacêuticas multinacionais e estimulou a produção e venda de remédios com o nome do fármaco que o compõe, reduzindo os preços e intervindo na concorrência das marcas dos medicamentos que, na verdade, são feitos de uma mesma droga. Esses dois fatos têm particular relevância por intervir diretamente no mercado, submetendo-o em prol da cidadania. Além dessas conquistas, a aprovação da Emenda Constitucional 29, que estabelece a obrigatoriedade de percentuais a serem gastos na saúde com a devida vinculação orçamentarária pelas três instâncias gestoras do SUS, teve uma participação importante de Serra 128. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde iniciou a nova gestão com o discurso afinado da mudança e de fazer diferente. De início, a estrutura organizacional da pasta foi modificada 129, foram criadas três secretarias, extinta uma, modificadas áreas, programas, fundações e institutos vinculados. Antes, eram quatro Secretarias: Executiva, de Assistência à Saúde, de Políticas de Saúde e de Gestão e Investimentos em Saúde. Hoje, cinco: Secretaria Executiva, Secretaria de Atenção à Saúde (antiga Assistência à Saúde), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (antes, Secretaria de Gestão e Investimentos em Saúde), Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, Secretaria de Vigilância à Saúde e Secretaria de Gestão Participativa. O gráfico a seguir ilustra o atual organograma, com as devidas vinculações e subordinações. 128 Inicialmente contra, enquanto senador na época dacconstituinte, uma vez ministro reconheceu que estava errado e foi o grande articulador político para que a EC 29 fosse aprovada, enfrentando duramente, inclusive, o então Ministro da Fazenda, Malan. 129 Decreto presidencial nº 4726, de 9 de junho de 2003.
164 164 ORGANOGRAMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, De maneira abreviada, os principais objetos de atuação das atuais secretarias ministeriais são: i-secretaria de Atenção à Saúde (SAS): formulação e implementação das políticas de assistência à saúde da população, da atenção básica à média e alta complexidade; ii-secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde(SGTES): formular, induzir e articular processos de qualificação e educação dos profissionais de saúde, bem como regular as relações trabalhistas no âmbito do SUS; iii-secretaria de Gestão Participativa: coordenar a política de fortalecimento da gestão democrática do SUS, considerando a articulação com os diversos setores da sociedade civil; iv- Secretaria de Vigilância à Saúde(SVS): condução das políticas de vigilância à saúde da população, com ênfase nas estratégias de prevenção de agravos, riscos e danos; v- Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos: condução de políticas de fomento e investimentos em ciência e tecnologia para o setor saúde; vi- Secretaria Executiva: ligada 130 Retirado do site do ministério da saúde, em 6 de novembro de 2004.
165 165 diretamente ao Gabinete do Ministro, responde pelas ações centrais da pasta e pela supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ela vinculadas, além da coordenação do planejamento orçamentário e do gasto público 131. Essa lógica de organização inova por um lado e mantém tradições, por outro. A novidade reside na concepção de integração de projetos por grandes áreas de atuação, coerente com as atuais discussões de mudança do modelo assistencial, expresso principalmente na criação de uma secretaria específica para pensar os processos de educação e gestão do trabalho em saúde (uma das áreas mais críticas do SUS), bem como na reestruturação de programas e ações tradicionais da saúde pública brasileira (tuberculose, hanseníase, imunização) sob a concepção da vigilância à saúde, centrada no paradigma da promoção da saúde. Apesar disso, os velhos modelos burocráticos resistem, permeado por heranças de fragmentação entre o pensar e o fazer, exemplificada na manutenção de uma Secretaria Executiva (SE) onde se concentram setores estratégicos do órgão, como o orçamentário, o financeiro, o de planejamento, o de compras e licitações. Quanto à Secretaria de Gestão Participativa, cujo objetivo de criação mais imediato foi a organização da 12ª Conferência Nacional de Saúde, foi inicialmente ocupada por um renomado militante da reforma sanitária brasileira, Sérgio Arouca, que veio a falecer pouco antes da realização da citada conferência. A despeito da relevância inconteste do controle social na saúde, a simples criação de uma secretaria ministerial não amplia a participação efetiva da sociedade civil nas decisões governamentais, envolvendo questões bem mais profundas relativas à conformação da cidadania e do Estado brasileiro. A tendência de criar secretarias, seja ligada diretamente à presidência ou nos órgãos do executivo, tem sido uma 131 Supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de organização e modernização administrativa, de contabilidade, de administração financeira, de administração dos recursos de informação e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do Ministério, site acessado em 04/nov/2004
166 166 característica comum no governo Lula. Como se o fato de se ter um local na burocracia da gestão pública para tratar especificamente de cada desigualdade social (mulheres, negros, direitos humanos, etc), sem a devida dotação orçamentária, articulação intersetorial e decisão política, fosse suficiente para debelá-las. Além de onerar, sobremaneira, o gasto com cargos e pessoal, essa estratégia tem se mostrado ineficiente, contribuindo para sobreposições de ações. Esse re-ordenamento trouxe também alguns mapeamentos políticos de particular relevância para a análise da gestão do PSF. Isto porque, das seis secretarias, duas foram ocupadas por atores que faziam forte oposição ao PSF na gestão anterior (Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, SGTES, e Secretaria Executiva, SE), que por sua vez correspondem a setores importantes para a viabilidade técnica, financeira e política do PSF, enquanto estratégia de organização de serviços e práticas de saúde. Ainda sobre esse re-posicionamentos de cargos, é importante dizer que tanto a Secretaria de Vigilância à Saúde, quanto o Departamento de Atenção Básica (DAB), responsável pela condução do PSF, são atualmente ocupados por atores que também participaram da gestão anterior, portanto alvo de críticas pelo partidarismo de alguns novos dirigentes. Esse fato, diante do cenário de disputa político-partidária que se vem discorrendo, intensifica ainda mais os conflitos e disputas internas e externas à gestão do PSF, repercutindo tanto no cotidiano das práticas, quanto nas decisões e ações desenvolvidas. O Departamento de Atenção Básica (DAB) integra a SAS, juntamente com outros três departamentos: - Departamento de Atenção Especilizada (DAE), responsável pela média e alta complexidade, conseqüentemente especialidades; - Departamento de Regulação, Controle e Avaliação (Drac), imbuído de contratar, controlar, avaliar e regular a prestação de serviços ao SUS a partir das necessidades da população; e o Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, a quem compete articular, entre
167 167 outros, os programas de Saúde Mental, da Mulher, do Trabalhador, do Jovem e Adolescente, da Criança, do Idoso, do Penitenciário, dos Portadores de Deficiência, de Trauma e Violência, orientando estados, municípios e Distrito Federal na execução dos mesmos. Quanto ao DAB, congrega duas coordenações mais centrais, a de Gestão da Atenção Básica, responsável pela formulação de ações, projetos e políticas que orientem a organização dos serviços de atenção básica, tendo o PSF como estratégia prioritária; e a de Acompanhamento e Avaliação da Atenção Básica, cujo objeto centra-se na avaliação das ações e serviços desenvolvidos no âmbito da atenção básica à saúde. A execução do Proesf também conta com uma gerência específica vinculada à direção, constituindo-se numa área importante por se relacionar com os setores financeiros e jurídicos do MS, bem como intermediar as negociações junto ao Banco Mundial, financiador do projeto. Além dessas, as áreas técnicas de saúde bucal, alimentação e nutrição e diabetes e hipertensão arterial integram o DAB. No que se refere à dotação orçamentária para o ano de 2004, a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) tem o maior orçamento do Ministério da Saúde (e maior, inclusive, que o orçamento dos outros ministérios da área social 132 ), ficando com R$ ,00 (cerca de 64%) do total de R$ ,00 autorizado para a pasta. A distribuição dos recursos da SAS entre os seus departamentos, em ordem de prioridade orçamentária, é a seguinte: i- DERAC- cerca R$ 15,53 bilhões, ocorrendo o repasse fundo-afundo para que estados, municípios e DF realizem o pagamento e regulação dos serviços prestados pela rede de hospitais e ambulatórios especializados, credenciados ao SUS. Tem como incumbência também regular e pagar os procedimentos de alta complexidade interestaduais realizados fora dos domicílios; ii- DAB, ficando com aproximadamente R$ 4,36 bilhões, incluídos 132 Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento de Gestão. Site: acessado em 6 novembro, 2004.
168 168 os repasses fundo-a-fundo dos respectivos PAB s fixos e variáveis aos municípios; iii- DAE, R$ 464,07 milhões e iv- DAPE, R$ 198, 82 milhões 133. Observa-se que, mesmo distante do montante de recursos destinada à atenção hospitalar pública e conveniada do SUS (R$15,53 bilhões), onde a relação com o mercado é tensa, influente e estratégica, a atenção básica tem relativa importância na destinação de recursos, tendo, inclusive crescido expressivamente nos últimos anos. O orçamento do DAB, em 2004, é o segundo maior da SAS (atrás apenas do DRAC, onde está vinculada a assistência hospitalar de média e alta complexidade) e superior ao de todas as outras secretarias ministeriais (2,37 bilhões da SVS, 1,76 bilhões da SCTIE, 673,35 milhões da SE, 443,45 milhões da SGTES e 23,88 milhões da SGP 134 ). Esse fato demonstra que a prioridade do discurso se traduz na autorização dos gastos para a atenção básica, se constituindo numa situação institucional importante. Mas apenas a questão da alocação de recursos e gasto em saúde não é suficiente para análise da viabilidade do SUS. Há que se considerar todo o conjunto de bens, serviços, indústrias, equipamentos e tecnologias que envolvem o setor e, portanto, a lógica capitalista que lhe caracteriza, para uma leitura mais consistente da política social de saúde do Brasil. Nesse particular, Gadelha (2003) faz um estudo consistente sobre o complexo industrial da saúde, onde convergem e disputam espaços setores de atividades, empresas, indústrias, instituições públicas, privadas e da sociedade civil que geram investimento, consumo, inovação, renda e emprego. Do ponto de vista material, articulado à sua base epistêmica e tecnológica, o complexo produtivo da saúde conforma três grandes grupos de atividades. O primeiro, as indústrias de base química e biotecnológica, envolvendo as indústrias farmacêuticas, vacinas, hemoderivados e reagentes para diagnósticos. O segundo congrega atividades de base física, 133 Fonte: Coordenação-geral de Planejamento e Orçamento/SAS/MS, planilha Acompanhamento da execução orçamentária resumo por programações/ período: Jan à Jul/ Fonte: Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, 2004.
169 169 mecânica, eletrônica e de materiais, envolvendo fabricação de equipamentos e insumos para a saúde. No terceiro, estaria a prestação de serviços, conferindo organicidade ao setor e articulando o consumo dos cidadãos no espaço público e privado. O autor utiliza a figura abaixo para esquematizar o complexo industrial da saúde: Fonte: Gadelha (2003:524) Dentre as principais características desse complexo produtivo, cite-se (Id., 2002, 2003): o setor corresponde a 5% do PIB; o faturamento anual do sistema privado de planos e seguros - que atende cerca de 30% dos brasileiros, corresponde a R$ 16 bilhões. O restante utiliza o SUS; a área de saúde tem significativa participação nas atividades nacionais de ciência e tecnologia, recebendo 25% das verbas para esse fim; quanto às indústrias farmacêuticas, o mercado mundial se concentra nos países como EUA, Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido, que respondem a 75% das transações. O Brasil ocupa o 8 o lugar;
170 170 a produção de vacinas passa por grande reviravolta a partir da década de 80, aumentando sua capacidade instalada e diminuindo o volume de importações; no segmento de reagentes para dignósticos, a liderança é exercida por grandes empresas de alta tecnologia. Em 1998, apenas 8 companhias internacionais respondiam por 70% do mercado mundial; a responsabilidade pela oferta de sangue e hemoderivados, no Brasil, é do setor público, sendo proibida sua comercialização. As importações triplicaram no período de 1997 a 2001; as indústrias que compõem o complexo perderam competitividade internacional ao longo da década, tanto em tecnologia, como em inovação. O déficit comercial acumulado cresceu sete vezes entre 1980 a 2001, subindo de US$ 700 milhões para US$ 3,5 bilhões. Para o autor, a dinâmica do complexo produtivo da saúde deve ser compreendida a partir de duas dimensões interligadas: i- o alto grau de inovação e dinamismo nas taxas de crescimento econômico e competitividade dos segmentos que fazem parte da área; e ii- a saúde como valor humano associado à cidadania, com interesses sanitários legítimos voltados para a sua garantia. Critica, ainda, a forma tradicional com que o setor vem sendo trabalhado na teoria e na prática (ou a dicotomia entre a visão sanitária e a visão econômica), resultando numa vulnerabilidade da política de saúde frente às transformações do capital. Tal fragilidade se expressa, principalmente, pelo elevado grau de dependência do Brasil às importações, ao baixo grau de inovação e competitividade das indústrias, a uma desarticulação dessas com o setor de serviços, bem como a entrada passiva do complexo brasileiro na globalização. Diante dessa conjuntura, propõe que o reconhecimento da natureza capitalista da área da saúde é essencial para políticas que almejem submeter o mercado em favor do atendimento às necessidades sociais e individuais: Não é desconsiderando ou negando a dinâmica capitalista que se poderá conceber políticas sociais adequadas. Ao contrário, somente pela compreensão de sua lógica de funcionamento é possível buscar meios eficazes para que as finalidades sociais sejam atingidas nos marcos deste sistema. (...) Para tanto, torna-se premente a integração dos grandes segmentos do complexo (produção de serviços e de bens
171 171 industriais), numa perspectiva de que são, simultaneamente, espaços capitalistas de acumulação, inovação e crescimento e de geração de bem-estar, incorporando interesses sociais legítimos, não subordinados à lógica do mercado. (Id., 2003:533). Noutros termos, gerir cenários de ajuda-poder para desconstruir assimetrias de poder pressupõe entender os mecanismos pelos quais a dinâmica de produção do cuidado se aliena na lógica capitalista. A partir dessa compreensão, e utilizando o mesmo instrumental que domina e submete, é possível fomentar complexos produtivos, mediados pela politicidade do cuidado, que sejam capazes de submeter o lucro ao interesse do bem-comum. A inovação, aqui, tanto pode alimentar interesses mercantis, como nutrir um conhecimento criativo e reconstrutivo das condições de saúde da população, propondo formas de cuidar calcadas na busca inconteste de superações das desigualdades sociais. Tendo por suposto essa tensão entre mercado e Estado na conformação das políticas públicas, parece oportuno referir algumas análises relacionadas ao percurso institucional do SUS e a situação do PSF nessa conjuntura. Tal delineamento é importante para que se possa analisar, com maior clareza, o nível de prioridade que a atenção básica tem recebido nos últimos anos e que se traduz, em especial, nos recursos destinados para operacionalizar as ações inerentes à reorganização dos serviços de saúde, tendo o Saúde da Família como eixo. Mendes e Marques (2003), ao analisarem os (des)caminhos do financiamento do SUS, traçam um panorama recheado de tensões entre a área econômica do governo, preocupada em cumprir metas do FMI e ampliar o superavit para pagamento das dívidas, e os defensores da universalidade no direito à saúde, cuja base legislativa, a Frente Parlamentar da Saúde da Câmara Federal, tem atuado ativamente para a definição de recursos vinculados para o setor saúde.
172 172 Nesse particular, o processo em curso para regulamentação da Emenda Constitucional n 29 (EC-29) aprovada em 2000 e que estabelece a vinculação de recursos para a saúde no orçamento federal, de estados e municípios (definindo os percentuais das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais devem ser destinados), bem como progressividades nos gastos em saúde tem sido palco de acirrados embates com o governo. Na visão de Mendes e Marques (2003), essas disputas têm como centralidade um duplo movimento de princípios contrários, o da construção da universalidade e o da contenção de gastos (defesa da racionalidade econômica). Ainda sem regulamentação específica 137, a EC-29 tem sido interpretada de distintos modos, a começar pela definição do que seja gasto em saúde. Assim, muitas manobras têm sido feitas para que se considere no cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados em saúde ações diversas, como as de saneamento, habitação, merenda escolar, recursos hídricos, alimentação de presos, despesas com inativos e outras que, apesar de terem relação com a concepção ampliada de saúde, em termos de programação físicofinanceira diminuem o percentual recursos efetivamente destinados à assistência à saúde, conforme estabelece a Lei 8080/90. Um dos frutos da ampla mobilização de setores da saúde para a definição de parâmetros consensuais 138 para a implementação da EC-29 foi a Resolução nº 322, de 8/05/2003, do Conselho Nacional de Saúde, homologada pelo Ministério da 135 A construção e definição do que seja gasto em saúde tem sido objeto de várias discussões e seminários, ocorridos entre 2001 a 2003, do qual participam os Tribunais de Contas, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conasems (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde), Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), Ministério da Saúde e outras entidades vinculadas ao SUS (Mendes, 2003). 136 Segundo a EC-29, estados e municípios devem alocar, no primeiro ano, pelo menos 7% das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais para o gasto em saúde. Esse percentual deveria chegar a 12% em 2004 e 15% para os municípios. No que se refere à União, são definidos para o primeiro ano 5% em relação ao orçamento empenhado do período anterior e, para os seguintes, o valor apurado no ano anterior é corrigido pela variação do PIB nominal. Para a União, a EC-29 não explicita qual a origem dos recursos, gerando interpretações diversas. 137 Um projeto de lei está em processo de discussão e negociação com os distintos atores e setores mencionados. 138 Um grupo técnico formado por representantes do Ministério da Saúde, Ministério Público Federal, do CNS, Conass, Conasems, da Comissão de Seguridade social da Câmara dos Deputados, da Comissão de Assuntos Sociais do Senado e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), resultou na elaboração do documento Parâmetros Consensuais sobre a Implementação e Regulamentação da Emenda Constitucional 29, que referenciou a elaboração da Resolução 322/2003 do CNS.
173 173 Saúde. Esse documento estabelece nove diretrizes que versam sobre os assuntos centrais para a implementação da Emenda, quais sejam: i- a base de cálculo para definição dos recursos mínimos a serem aplicados em saúde; ii-os recursos mínimos a serem aplicados; iii- as ações e serviços públicos de saúde; e iv- os instrumentos de acompanhamento, fiscalização e controle. No que diz respeito à definição das despesas em saúde, especifica: Quinta Diretriz: Para efeito da aplicação da Emenda Constitucional nº 29, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas com pessoal ativo e outras despesas de custeio e de capital, financiadas pelas três esferas de governo, conforme o disposto nos artigos 196 e 198, 2º, da Constituição Federal e na Lei n 8080/90, relacionadas a programas finalísticos e de apoio, inclusive administrativos, que atendam, simultaneamente, aos seguintes critérios: I sejam destinadas às ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito; II estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente federativo; III sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se confundindo com despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que com reflexos sobre as condições de saúde. Único Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, as despesas com ações e serviços de saúde, realizadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios deverão ser financiadas com recursos alocados por meio dos respectivos Fundos de Saúde, nos termos do Art. 77, 3º do ADCT.. Com relação aos instrumentos de acompanhamento, fiscalização e controle, os dados constantes no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, SIOPS, do Ministério da Saúde, são utilizados como referência. Apesar da riqueza conceitual e técnica dessa resolução, a maioria dos estados, alguns municípios e o próprio Ministério da Saúde vêm descumprindo os preceitos constitucionais no que se refere às despesas com saúde. Em rápida consulta ao SIOPS 139, constata-se que 17 (63%) das 27 Unidades Federadas, não aplicaram recursos próprios nos percentuais devidos. No que refere aos municípios, porém, vê-se uma situação bem diferente, resultado do processo de descentralização desarticulado do SUS 139 Nota Técnica nº 10/2004, atualizada em 22/04/2004, Departamento de Economia da Saúde/SCTIE/MS, disponível no site: ou acessado em 06/11/2004. Unidades Federadas que cumpriram a EC-29 em 2002: AC, AM, PA, AP, TO, RN, PB, AL, SP, MS.
174 174 que, de modo geral, sobrecarrega o poder local e contribui para um recuo das esferas estaduais e federais com o financiamento do setor. Cerca de 65% dos municípios brasileiros vêm cumprindo a EC-29, 18,7% não, e outros 17,6% não vêm informando e/ou enviando os dados adequadamente ao SIOPS. Quanto ao orçamento da União, verifica-se restrição de recursos, repetidas investidas à concepção de integralidade da Seguridade Social e desvios no cumprimento da EC-29 (Mendes e Marques, 2003). No período de , o gasto líquido (excluindo valores da dívida, inativos e pensionistas) cresceu apenas 2,1%, resultando numa redução do per capita de R$ 180,56 em 1995 para R$ 164,53 em Os constantes atropelos ao entendimento de que nenhuma fonte de recurso da Seguridade Social pode ser utilizada exclusivamente por quaisquer um de seus ramos (Previdência, Saúde ou Assistência) vêm comprometendo o financiamento tanto da saúde, quanto da assistência social (Boschetti, 2001), ambos prejudicados para cobrir os polêmicos deficits da Previdência. Este ano, o atual orçamento do Ministério da Saúde sofreu as conseqüências do veto presidencial ao art. 59 da LDO/2004, que passou a considerar como ações e serviços públicos de saúde as despesas realizadas com Encargos Previdenciários da União (EPU), serviço da dívida, bem como os recursos do fundo de combate e erradiação da pobreza. Após reação contrária do CNS e da Frente Parlamentar da Saúde, o governo recuou e criou um parágrafo onde são deduzidos a EPU e serviços da dívida, porém foi mantido o Fundo para Pobreza no orçamento da saúde. Além dessa façanha, o governo não cumpriu o disposto da EC-29, deixando de alocar R$ 449 milhões que, somados aos R$ milhões do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, perfazem R$ milhões de desfinanciamento do SUS (Mendes e Marques, 2003). Esse valor daria para duplicar os recursos para a atenção básica, investindo maciçamente nas mudanças re-
175 175 organizacionais e de educação permanente que a atenção básica necessita, por exemplo. A par desse diálogo e de volta ao financiamento das ações da política de saúde, verifica-se contradições e ambiguidades. No que tange à média e alta complexidade da atenção 140, onde se concentra a rede de prestadores de serviços do SUS e onde é alocado maior aporte de recursos 141, a despeito do repasse fundo-a-fundo, o mecanismo de financiamento da rede hospitalar se baseia primordialmente na lógica da produtividade, fragmentando o cuidado em procedimentos, desarticulado do todo a que faz parte. A lógica da produção contrapõe-se aos princípios do SUS, seja porque estimula a ênfase na competição em detrimento da qualidade da atenção, seja porque dificulta a mudança e re-organização do modelo tecno-assistencial em saúde. Confirmando análises anteriores de que o SUS, a exemplo do modelo médico-assistencial privatista (Mendes, 1993), constitui-se no maior provedor do setor privado de serviços (Conh, 2002), pode-se observar que, passados 15 anos desde sua implantação, a relação com os prestadores privados segue marcada por inoperância e pouca visão estratégica gerencial ou 140 Publicações recentes do DAB (Brasil, 2004b) concebem a atenção básica como integralidade das ações de promoção, diagnóstico, tratamento e reabilitação à saúde, desenvolvidas por meio de processos de trabalho interdisciplinares, democráticos e participativos, com utilização de tecnologias de alta complexidade (nível de conhecimento) e baixa densidade (uso de equipamentos). Segundo a NOAS 01/02, a média complexidade é definida como um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica demande profissionais especializados e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico/terapêutico e que não justifiquem sua oferta em todos os municípios do país. Já a alta complexidade é vista como assistência de alta densidade tecnológica e alto custo, baseada na economia de escala, escassez de profissionais especializados e concentração de oferta em poucos municípios. Algumas críticas têm sido feitas sobre essas denominações e entendimentos, principalmente por sugerir que a atenção básica deve ser de baixo custo e qualidade. Outra consideração importante se refere à hierarquização e linearidade desses conceitos, sendo proposto em seu lugar a idéia de redes horizontalizadas com pontos de atenção especializados (Mendes, 2002). Tais críticas são pertinentes, oportunas e, no que se referem principalmente à atenção básica, resultaram em algumas discussões e oficinas, envolvendo serviço e academia, que resultaram na ratificação de uma conceituação menos reducionista da atenção básica nos documentos oficiais. 141 O DRAC, Departamento de Regulação Controle e Avaliação, da SAS, é o responsável pelo credenciamento, controle, regulação e avaliação da rede de prestadores do SUS, quer repassando recursos fundo-a-fundo para estados e municípios habilitados em Gestãp Plena do Sistema de Saúde, quer remunerando serviços de alta complexidade realizados fora do estado de origem, cuja responsabilidade ordenadora cabe ao MS. Contando com um orçamento de R$15,58 bilhões, esse setor é estratégico para no MS, pela possibilidade de intervir diretamente no mercado de bens e serviços de saúde.
176 176 pós-patrimonialista. Neste particular, o estudo de Matos e Pompeu (2003) é revelador, demonstrando impropriedades na relação das instâncias gestoras com a rede de hospitais públicos, privados, filantrópicos e federais (Hospitais Universitários) vinculados ao SUS. Segundo a constituição federal, a iniciativa privada participa da política de saúde de forma complementar, vendendo-lhe serviços para a oferta pública da assistência à saúde da população brasileira. Ocorre que, conforme devidamente analisado no item 2.3, o parque hospitalar privado brasileiro foi conformado basicamente mediante incentivo estatal. Ou seja, quer financiando sua expansão, quer comprando serviços de maneira desordenada e mal planejada, o Estado continua intervindo no mercado de bens e serviços privados de saúde de maneira pouco regulatória, sem ter por finalidade maior as necessidades de saúde da população. No panorama traçado por Matos e Pompeu (2003), dos hospitais vinculados ao SUS, 3.481, privados (sendo com fins lucrativos e filantrópicos) são públicos, e 147 universitários. Em termos de distribuição geográfica, a rede segue as desigualdades do país, concentrando-se na região Sudeste (28,64%). Quanto ao faturamento, o número de AIH s (Autorização de Internação Hospitalar) pagas pelo SUS aos hospitais privados (R$ 251, 98 milhões) é praticamente o dobro do que se paga aos hospitais públicos (122, 35 milhões), com o agravante de que o valor médio destas AIH s pagas é maior para o privado, talvez por realizarem os procedimentos mais caros. Outro dado interessante é que, proporcionalmente ao número de leitos hospitalares, os hospitais universitários são os que mais faturam com o SUS (95,69 milhões). No que se refere à caracterização da rede de prestadores privadas complementares ao SUS, vê-se que a rede hospitalar aparece em maior número (75,71% dos hospitais especializados, 83,5% dos gerais e 66,67% dos públicos), já os consultórios têm uma participação menor na composição da rede de
177 177 prestadores, uma vez que a oferta da atenção básica no país é eminentemente pública. Fonte: (Matos e Pompeu, 2003:634) Quanto aos instrumentos de formalização da vinculação da rede de prestadores ao poder público, ou seja, os contratos de prestação de serviços recomendados pela administração pública, vê-se que apenas 13,11% da rede privada vinculada ao SUS têm essa situação regularizada. A maioria dos hospitais que prestam serviços ao SUS não são regidos por nenhum contrato, com formalização de metas controladas pelo setor público. O máximo que ocorre é um cadastramento do serviço no SIH/SUS, na melhor tradição do modelo médico-assistencial privatista. Assim, o gestor, que deveria esgotar sua oferta pública para somente então recorrer ao setor privado, compra tudo, de maneira acrítica, não planejada, não avaliada, distorcida e de acordo com o que o prestador oferece. Inverte-se a relação
GESTÃO DO CUIDADO NO ÂMBITO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE: IMPLICAÇÕES PARA O ENFERMEIRO
 GESTÃO DO CUIDADO NO ÂMBITO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE: IMPLICAÇÕES PARA O ENFERMEIRO Profa. Dra. Maria Raquel Gomes Maia Pires Professora Adjunta Departamento de Enfermagem/FS/UnB SUMÁRIO 1 Concepção
GESTÃO DO CUIDADO NO ÂMBITO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE: IMPLICAÇÕES PARA O ENFERMEIRO Profa. Dra. Maria Raquel Gomes Maia Pires Professora Adjunta Departamento de Enfermagem/FS/UnB SUMÁRIO 1 Concepção
Água em Foco Introdução
 Água em Foco Introdução O Água em Foco tem como principais objetivos: (I) a formação inicial, com os alunos do Curso de Licenciatura em Química da UFMG, e continuada de professores, para trabalhar com
Água em Foco Introdução O Água em Foco tem como principais objetivos: (I) a formação inicial, com os alunos do Curso de Licenciatura em Química da UFMG, e continuada de professores, para trabalhar com
ANAIS DO II SEMINÁRIO SOBRE GÊNERO: Os 10 anos da lei Maria da Penha e os desafios das políticas públicas transversais
 A FUNCÃO SOCIAL DO PROFESSOR NA CONCEPÇÃO DE ISTVÁN MÉSZÁROS NA OBRA A EDUCAÇÃO PARA ALÉM DO CAPITAL Fernando Krueger (Pedagogia) fernandokruegerdacruz623@gmail.com Unespar/Fafipa Campus Paranavaí Resumo:
A FUNCÃO SOCIAL DO PROFESSOR NA CONCEPÇÃO DE ISTVÁN MÉSZÁROS NA OBRA A EDUCAÇÃO PARA ALÉM DO CAPITAL Fernando Krueger (Pedagogia) fernandokruegerdacruz623@gmail.com Unespar/Fafipa Campus Paranavaí Resumo:
22/08/2014. Tema 7: Ética e Filosofia. O Conceito de Ética. Profa. Ma. Mariciane Mores Nunes
 Tema 7: Ética e Filosofia Profa. Ma. Mariciane Mores Nunes O Conceito de Ética Ética: do grego ethikos. Significa comportamento. Investiga os sistemas morais. Busca fundamentar a moral. Quer explicitar
Tema 7: Ética e Filosofia Profa. Ma. Mariciane Mores Nunes O Conceito de Ética Ética: do grego ethikos. Significa comportamento. Investiga os sistemas morais. Busca fundamentar a moral. Quer explicitar
TÍTULO: 100% PERIFERIA - O SUJEITO PERIFÉRICO: UM OBJETO DE ESTUDO DA PSICOLOGIA SOCIAL?
 TÍTULO: 100% PERIFERIA - O SUJEITO PERIFÉRICO: UM OBJETO DE ESTUDO DA PSICOLOGIA SOCIAL? CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: PSICOLOGIA INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
TÍTULO: 100% PERIFERIA - O SUJEITO PERIFÉRICO: UM OBJETO DE ESTUDO DA PSICOLOGIA SOCIAL? CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: PSICOLOGIA INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
CURRÍCULO DO ENSINO RELIGIOSO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. Prof. Elcio Cecchetti
 CURRÍCULO DO ENSINO RELIGIOSO NA EDUCAÇÃO BÁSICA Prof. Elcio Cecchetti elcio.educ@terra.com.br ENSINO RELIGIOSO? Como? Outra vez? O quê? Por quê? Para quê? O ENSINO RELIGIOSO NA ESCOLA PÚBLICA DO PASSADO
CURRÍCULO DO ENSINO RELIGIOSO NA EDUCAÇÃO BÁSICA Prof. Elcio Cecchetti elcio.educ@terra.com.br ENSINO RELIGIOSO? Como? Outra vez? O quê? Por quê? Para quê? O ENSINO RELIGIOSO NA ESCOLA PÚBLICA DO PASSADO
Paradigmas filosóficos e conhecimento da educação:
 Paradigmas filosóficos e conhecimento da educação: Limites atual do discurso filosófico no Brasil na abordagem da temática educacional Fonte: SEVERINO, Antonio Joaquim (USP) A preocupação do texto Os discursos
Paradigmas filosóficos e conhecimento da educação: Limites atual do discurso filosófico no Brasil na abordagem da temática educacional Fonte: SEVERINO, Antonio Joaquim (USP) A preocupação do texto Os discursos
EMENTAS DAS DISCIPLINAS
 EMENTAS DAS DISCIPLINAS CURSO DE GRADUAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL Introdução ao Serviço Social A prática profissional no Serviço Social na atualidade: o espaço sócioocupacional que a particulariza e identifica;
EMENTAS DAS DISCIPLINAS CURSO DE GRADUAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL Introdução ao Serviço Social A prática profissional no Serviço Social na atualidade: o espaço sócioocupacional que a particulariza e identifica;
6. Conclusão. Contingência da Linguagem em Richard Rorty, seção 1.2).
 6. Conclusão A escolha de tratar neste trabalho da concepção de Rorty sobre a contingência está relacionada ao fato de que o tema perpassa importantes questões da reflexão filosófica, e nos permite termos
6. Conclusão A escolha de tratar neste trabalho da concepção de Rorty sobre a contingência está relacionada ao fato de que o tema perpassa importantes questões da reflexão filosófica, e nos permite termos
NOTA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA DE REFLEXÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
 NOTA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA DE REFLEXÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE Para refletir... A educação seja doravante permanente, isto é, um processo
NOTA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA DE REFLEXÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE Para refletir... A educação seja doravante permanente, isto é, um processo
Referência Bibliográfica: SOUSA, Charles Toniolo de. Disponível em <http://www.uepg.br/emancipacao>
 Referência Bibliográfica: SOUSA, Charles Toniolo de. Disponível em 1. À funcionalidade ao projeto reformista da burguesia; 2. À peculiaridade operatória (aspecto instrumental
Referência Bibliográfica: SOUSA, Charles Toniolo de. Disponível em 1. À funcionalidade ao projeto reformista da burguesia; 2. À peculiaridade operatória (aspecto instrumental
Os Sociólogos Clássicos Pt.2
 Os Sociólogos Clássicos Pt.2 Max Weber O conceito de ação social em Weber Karl Marx O materialismo histórico de Marx Teoria Exercícios Max Weber Maximilian Carl Emil Weber (1864 1920) foi um intelectual
Os Sociólogos Clássicos Pt.2 Max Weber O conceito de ação social em Weber Karl Marx O materialismo histórico de Marx Teoria Exercícios Max Weber Maximilian Carl Emil Weber (1864 1920) foi um intelectual
A ESCOLA ATUAL, A GESTÃO DEMOCRÁTICA E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
 A ESCOLA ATUAL, A GESTÃO DEMOCRÁTICA E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO Josemary Morastoni Renato José Casagrande Atualmente, a gestão é vista como uma nova forma de administrar de maneira democrática, onde
A ESCOLA ATUAL, A GESTÃO DEMOCRÁTICA E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO Josemary Morastoni Renato José Casagrande Atualmente, a gestão é vista como uma nova forma de administrar de maneira democrática, onde
EMENTAS DAS DISCIPLINAS
 EMENTAS DAS DISCIPLINAS CURSO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIA POLÍTICA Planejamento de Campanha Eleitoral Estudo dos conteúdos teóricos introdutórios ao marketing político, abordando prioritariamente os aspectos
EMENTAS DAS DISCIPLINAS CURSO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIA POLÍTICA Planejamento de Campanha Eleitoral Estudo dos conteúdos teóricos introdutórios ao marketing político, abordando prioritariamente os aspectos
Saúde e espaço social: reflexões Bourdieusianas. Ligia Maria Vieira da Silva Instituto de Saúde Coletiva - UFBa
 Saúde e espaço social: reflexões Bourdieusianas Ligia Maria Vieira da Silva Instituto de Saúde Coletiva - UFBa Plano da exposição Lacunas no conhecimento Conceitos de saúde e de normatividade em Canguilhem
Saúde e espaço social: reflexões Bourdieusianas Ligia Maria Vieira da Silva Instituto de Saúde Coletiva - UFBa Plano da exposição Lacunas no conhecimento Conceitos de saúde e de normatividade em Canguilhem
EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (Currículo iniciado em 2015)
 EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (Currículo iniciado em 2015) ANTROPOLOGIA 68 h/a 3210 A relação dialética entre o material e o simbólico na construção das identidades sociais e da
EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (Currículo iniciado em 2015) ANTROPOLOGIA 68 h/a 3210 A relação dialética entre o material e o simbólico na construção das identidades sociais e da
PORTARIA Nº 249, DE 10 DE MAIO DE 2013
 Página 1 de 6 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA PORTARIA Nº 249, DE 10 DE MAIO DE 2013 O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Página 1 de 6 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA PORTARIA Nº 249, DE 10 DE MAIO DE 2013 O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
ESTRUTURA, FORMATO E OBJETIVOS DA ESCOLA DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO (EPEM)
 1 REDEENSINAR JANEIRO DE 2001 ESTRUTURA, FORMATO E OBJETIVOS DA ESCOLA DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO (EPEM) Guiomar Namo de Mello Diretora Executiva da Fundação Victor Civita Diretora de Conteúdos da
1 REDEENSINAR JANEIRO DE 2001 ESTRUTURA, FORMATO E OBJETIVOS DA ESCOLA DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO (EPEM) Guiomar Namo de Mello Diretora Executiva da Fundação Victor Civita Diretora de Conteúdos da
LABORATÓRIO DE COMPORTAMENTO MOTOR LACOM Prof. Dr. Luciano Basso
 Tani, G. (2006). Comportamento motor e sua relação com a Educação Física. Brazilian Journal of Motor Behavior, v.1, n.1, p 20-31. Autor da resenha: Gil Oliveira da Silva Junior Revisão da resenha: Aline
Tani, G. (2006). Comportamento motor e sua relação com a Educação Física. Brazilian Journal of Motor Behavior, v.1, n.1, p 20-31. Autor da resenha: Gil Oliveira da Silva Junior Revisão da resenha: Aline
SIG Colaborativo em Saúde do Trabalhador. Estado e Saúde: desafios a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora
 SIG Colaborativo em Saúde do Trabalhador Estado e Saúde: desafios a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora Fiocruz Rede Rute Maria Juliana Moura Corrêa Secretaria Municipal
SIG Colaborativo em Saúde do Trabalhador Estado e Saúde: desafios a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora Fiocruz Rede Rute Maria Juliana Moura Corrêa Secretaria Municipal
1ª Fase PROVA OBJETIVA FILOSOFIA DO DIREITO
 1ª Fase PROVA OBJETIVA FILOSOFIA DO DIREITO P á g i n a 1 QUESTÃO 1 - Admitindo que a história da filosofia é uma sucessão de paradigmas, a ordem cronológica correta da sucessão dos paradigmas na história
1ª Fase PROVA OBJETIVA FILOSOFIA DO DIREITO P á g i n a 1 QUESTÃO 1 - Admitindo que a história da filosofia é uma sucessão de paradigmas, a ordem cronológica correta da sucessão dos paradigmas na história
Escritos de Max Weber
 Escritos de Max Weber i) 1903-1906 - A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1ª parte, em 1904; 2ª parte em 1905; introdução redigida em 1920); - A objetividade do conhecimento nas Ciências Sociais
Escritos de Max Weber i) 1903-1906 - A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1ª parte, em 1904; 2ª parte em 1905; introdução redigida em 1920); - A objetividade do conhecimento nas Ciências Sociais
Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de Apresentado por: Luciane Pinto, Paulo Henrique Silva e Vanessa Ferreira Backes.
 Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998 Apresentado por: Luciane Pinto, Paulo Henrique Silva e Vanessa Ferreira Backes. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. O Presidente
Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998 Apresentado por: Luciane Pinto, Paulo Henrique Silva e Vanessa Ferreira Backes. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. O Presidente
OS PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E OS REBATIMENTOS NO SERVIÇO SOCIAL
 OS PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E OS REBATIMENTOS NO SERVIÇO SOCIAL Keline Borges, RosaneSampaio, Solange Silva dos Santos Fidelis, Vânia Frigotto 1. Este trabalho foi elaborado a partir de estudos
OS PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E OS REBATIMENTOS NO SERVIÇO SOCIAL Keline Borges, RosaneSampaio, Solange Silva dos Santos Fidelis, Vânia Frigotto 1. Este trabalho foi elaborado a partir de estudos
O ESTADO MODERNO COMO PROCESSO HISTÓRICO A formação do Estado na concepção dialética de Hegel
 1 O ESTADO MODERNO COMO PROCESSO HISTÓRICO A formação do Estado na concepção dialética de Hegel ELINE LUQUE TEIXEIRA 1 eline.lt@hotmail.com Sumário:Introdução; 1. A dialética hegeliana; 2. A concepção
1 O ESTADO MODERNO COMO PROCESSO HISTÓRICO A formação do Estado na concepção dialética de Hegel ELINE LUQUE TEIXEIRA 1 eline.lt@hotmail.com Sumário:Introdução; 1. A dialética hegeliana; 2. A concepção
PLANO DE ENSINO DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
 PLANO DE ENSINO DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR Nome: Educação Física Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio Série: 1º, 2º, 3º Ano Carga Horária: 80h/a (67/H) Docente Responsável: EMENTA
PLANO DE ENSINO DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR Nome: Educação Física Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio Série: 1º, 2º, 3º Ano Carga Horária: 80h/a (67/H) Docente Responsável: EMENTA
DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística. e Estudos Sócio-Econômicos PROJETO DIEESE SINP/PMSP
 DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos PROJETO DIEESE SINP/PMSP INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINP/PMSP
DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos PROJETO DIEESE SINP/PMSP INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINP/PMSP
Filosofia e Política
 Filosofia e Política Aristóteles e Platão Aristóteles Política deve evitar a injustiça e permitir aos cidadãos serem virtuosos e felizes. Não há cidadania quando o povo não pode acessar as instituições
Filosofia e Política Aristóteles e Platão Aristóteles Política deve evitar a injustiça e permitir aos cidadãos serem virtuosos e felizes. Não há cidadania quando o povo não pode acessar as instituições
Movimentos sociais e Cidadania Palavras Chave: cidadania, educação, direitos 1
 Movimentos Sociais e Direitos Humanos Prof. Ma. Laura Santos Movimentos sociais e Cidadania Palavras Chave: cidadania, educação, direitos 1 Objetivos Compreender e exercitar o significado da palavra cidadania
Movimentos Sociais e Direitos Humanos Prof. Ma. Laura Santos Movimentos sociais e Cidadania Palavras Chave: cidadania, educação, direitos 1 Objetivos Compreender e exercitar o significado da palavra cidadania
Elementos para uma teoria libertária do poder. Felipe Corrêa
 Elementos para uma teoria libertária do poder Felipe Corrêa Seminário Poder e Estado Florianópolis, março de 2012 DEFINIÇÕES DE PODER - Poder é toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação
Elementos para uma teoria libertária do poder Felipe Corrêa Seminário Poder e Estado Florianópolis, março de 2012 DEFINIÇÕES DE PODER - Poder é toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação
R e s e n h a SÁNCHEZ, Celso. Ecologia do corpo. Rio de Janeiro: Wak Editora, p.
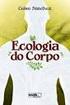 R e s e n h a SÁNCHEZ, Celso. Ecologia do corpo. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011. 87p. Zilda DOURADO 1 A ecolinguística está firmando-se como uma nova epistemologia nos estudos da linguagem, pois estuda
R e s e n h a SÁNCHEZ, Celso. Ecologia do corpo. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011. 87p. Zilda DOURADO 1 A ecolinguística está firmando-se como uma nova epistemologia nos estudos da linguagem, pois estuda
A Liderança das Mulheres no Terceiro Milênio
 A Liderança das Mulheres no Terceiro Milênio ANITA PIRES EMAIL: anitap@matrix.com.br FONE/FAX: (48) 223 5152 Características Históricas Ontem: Relações autoritárias; Trabalho escravo; Patrimônio: tangível
A Liderança das Mulheres no Terceiro Milênio ANITA PIRES EMAIL: anitap@matrix.com.br FONE/FAX: (48) 223 5152 Características Históricas Ontem: Relações autoritárias; Trabalho escravo; Patrimônio: tangível
Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Clássica. Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes
 Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Clássica Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes Conteúdo (a) Nascimento da filosofia (b) Condições históricas para seu nascimento (c) Os principais períodos
Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Clássica Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes Conteúdo (a) Nascimento da filosofia (b) Condições históricas para seu nascimento (c) Os principais períodos
Oficina: Gestão do Trabalho no SUAS Competências e (Re)Organização
 Oficina: Gestão do Trabalho no SUAS Competências e (Re)Organização Jucimeri Isolda Silveira Qual o significado do trabalho combinado na assistência social? A que projeto político os trabalhadores se vinculam?
Oficina: Gestão do Trabalho no SUAS Competências e (Re)Organização Jucimeri Isolda Silveira Qual o significado do trabalho combinado na assistência social? A que projeto político os trabalhadores se vinculam?
Universidade de São Paulo Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Enf. Psiquiátrica e Ciências Humanas. Profa. Karina de M. Conte
 Universidade de São Paulo Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Enf. Psiquiátrica e Ciências Humanas Profa. Karina de M. Conte 2017 DIDÁTICA II Favorecer a compreensão do processo de elaboração, gestão,
Universidade de São Paulo Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Enf. Psiquiátrica e Ciências Humanas Profa. Karina de M. Conte 2017 DIDÁTICA II Favorecer a compreensão do processo de elaboração, gestão,
MANIFESTO DA ABEPSS 15 DE MAIO DIA DA/O ASSISTENTE SOCIAL 2013
 MANIFESTO DA ABEPSS 15 DE MAIO DIA DA/O ASSISTENTE SOCIAL 2013 ABEPSS MANIFESTO MAY 15th SOCIAL WORKER S DAY 2013 O contexto mundial de reestruturação produtiva não é somente resultado da crise do capital
MANIFESTO DA ABEPSS 15 DE MAIO DIA DA/O ASSISTENTE SOCIAL 2013 ABEPSS MANIFESTO MAY 15th SOCIAL WORKER S DAY 2013 O contexto mundial de reestruturação produtiva não é somente resultado da crise do capital
À VANGLÓRIA PERDIDA: Complexo de Inferioridade GILDEMAR DOS SANTOS
 À VANGLÓRIA PERDIDA: Complexo de Inferioridade GILDEMAR DOS SANTOS VITORIA DA CONQUISTA - BA AGO / 2016 1 Gildemar dos Santos Pr. Presidente: Assembleia de Deus Ministerio Pentecostal Chamas do Espirito
À VANGLÓRIA PERDIDA: Complexo de Inferioridade GILDEMAR DOS SANTOS VITORIA DA CONQUISTA - BA AGO / 2016 1 Gildemar dos Santos Pr. Presidente: Assembleia de Deus Ministerio Pentecostal Chamas do Espirito
REFLETINDO UM POUCO MAIS SOBRE OS PCN E A FÍSICA
 REFLETINDO UM POUCO MAIS SOBRE OS PCN E A FÍSICA Aula 4 META Apresentar os PCN+ Ensino Médio. OBJETIVOS Ao nal da aula, o aluno deverá: re etir sobre contextualização e interdisciplinaridade; re etir sobre
REFLETINDO UM POUCO MAIS SOBRE OS PCN E A FÍSICA Aula 4 META Apresentar os PCN+ Ensino Médio. OBJETIVOS Ao nal da aula, o aluno deverá: re etir sobre contextualização e interdisciplinaridade; re etir sobre
Teoria Realista das Relações Internacionais (I)
 Teoria Realista das Relações Internacionais (I) Janina Onuki janonuki@usp.br BRI 009 Teorias Clássicas das Relações Internacionais 25 de agosto de 2016 Realismo nas RI Pressuposto central visão pessimista
Teoria Realista das Relações Internacionais (I) Janina Onuki janonuki@usp.br BRI 009 Teorias Clássicas das Relações Internacionais 25 de agosto de 2016 Realismo nas RI Pressuposto central visão pessimista
ENSINO DE LÍNGUA E ANÁLISE LINGUÍSTICA: PRESCRUTANDO OS DOCUMENTOS OFICIAIS
 ENSINO DE LÍNGUA E ANÁLISE LINGUÍSTICA: PRESCRUTANDO OS DOCUMENTOS OFICIAIS Maria Eliane Gomes Morais (PPGFP-UEPB) lia_morais.jta@hotmail.com Linduarte Pereira Rodrigues (DLA/PPGFP-UEPB) linduarte.rodrigues@bol.com.br
ENSINO DE LÍNGUA E ANÁLISE LINGUÍSTICA: PRESCRUTANDO OS DOCUMENTOS OFICIAIS Maria Eliane Gomes Morais (PPGFP-UEPB) lia_morais.jta@hotmail.com Linduarte Pereira Rodrigues (DLA/PPGFP-UEPB) linduarte.rodrigues@bol.com.br
Estratégia de Luta. Tel./Fax:
 Estratégia de Luta Neste texto buscaremos refletir sobre alguns desafios que as alterações em curso no mundo do trabalho colocam para as instancias de representação dos trabalhadores. Elementos como desemprego
Estratégia de Luta Neste texto buscaremos refletir sobre alguns desafios que as alterações em curso no mundo do trabalho colocam para as instancias de representação dos trabalhadores. Elementos como desemprego
Proposta Curricular de Duque de Caxias
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,
A gaiola de ferro revisitada: isomorfismo institucional e racionalidade coletiva nos campos organizacionais Paul J. DiMaggio; Walter W.
 A gaiola de ferro revisitada: isomorfismo institucional e racionalidade coletiva nos campos organizacionais Paul J. DiMaggio; Walter W. Powell Apresentação por Gislaine Aparecida Gomes da Silva Mestranda
A gaiola de ferro revisitada: isomorfismo institucional e racionalidade coletiva nos campos organizacionais Paul J. DiMaggio; Walter W. Powell Apresentação por Gislaine Aparecida Gomes da Silva Mestranda
10 Ensinar e aprender Sociologia no ensino médio
 A introdução da Sociologia no ensino médio é de fundamental importância para a formação da juventude, que vive momento histórico de intensas transformações sociais, crescente incerteza quanto ao futuro
A introdução da Sociologia no ensino médio é de fundamental importância para a formação da juventude, que vive momento histórico de intensas transformações sociais, crescente incerteza quanto ao futuro
EMENTAS DAS DISCIPLINAS CURSO DE GRADUAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANGA
 EMENTAS DAS DISCIPLINAS CURSO DE GRADUAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANGA 1) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO O mapeamento do campo de atuação em assessoria e consultoria em comunicação, baseado na
EMENTAS DAS DISCIPLINAS CURSO DE GRADUAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANGA 1) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO O mapeamento do campo de atuação em assessoria e consultoria em comunicação, baseado na
MICHEL FOUCAULT ( ) ( VIGIAR E PUNIR )
 AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. RUBENS Todo RAMIRO exemplo JR (TODOS citado
AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. RUBENS Todo RAMIRO exemplo JR (TODOS citado
CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE GEOGRAFIA PARA A FORMAÇÃO DO CIDADÃO ATIVO EM ESCOLAS DE URUAÇU-GO
 CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE GEOGRAFIA PARA A FORMAÇÃO DO CIDADÃO ATIVO EM ESCOLAS DE URUAÇU-GO Gabriella Aguiar Valente IFG-Campus Uruaçu-GO, e-mail: gabiaguiarv@hotmail.com Rafaela Gomes Araujo IFG-Campus
CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE GEOGRAFIA PARA A FORMAÇÃO DO CIDADÃO ATIVO EM ESCOLAS DE URUAÇU-GO Gabriella Aguiar Valente IFG-Campus Uruaçu-GO, e-mail: gabiaguiarv@hotmail.com Rafaela Gomes Araujo IFG-Campus
EMENTA OBJETIVOS DE ENSINO
 Sociologia I PLANO DE DISCIPLINA COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia I CURSO: Técnico em Segurança do Trabalho (Integrado) SÉRIE: 1ª CARGA HORÁRIA: 67 h (80 aulas) DOCENTE: EMENTA A introdução ao pensamento
Sociologia I PLANO DE DISCIPLINA COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia I CURSO: Técnico em Segurança do Trabalho (Integrado) SÉRIE: 1ª CARGA HORÁRIA: 67 h (80 aulas) DOCENTE: EMENTA A introdução ao pensamento
AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS. A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos
 AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos fundamentais da concepção atual de aprendizagem. Esta participação deve, porém, ser orientada tendo
AS PREOCUPAÇÕES METODOLÓGICAS A participação do aluno na elaboração de seu conhecimento é um dos pontos fundamentais da concepção atual de aprendizagem. Esta participação deve, porém, ser orientada tendo
ANÁLISE DE DISCURSO de origem francesa. Circulação e textualização do conhecimento científico PPGECT maio 2015 Henrique César da Silva
 ANÁLISE DE DISCURSO de origem francesa Circulação e textualização do conhecimento científico PPGECT maio 2015 Henrique César da Silva Por que análise de discurso no campo da educação científica? Análise
ANÁLISE DE DISCURSO de origem francesa Circulação e textualização do conhecimento científico PPGECT maio 2015 Henrique César da Silva Por que análise de discurso no campo da educação científica? Análise
Didática e Formação de Professores: provocações. Bernardete A. Gatti Fundação Carlos Chagas
 Didática e Formação de Professores: provocações Bernardete A. Gatti Fundação Carlos Chagas Vivemos tensões nas propostas e concretizações da formação inicial de professores, com padrões culturais formativos
Didática e Formação de Professores: provocações Bernardete A. Gatti Fundação Carlos Chagas Vivemos tensões nas propostas e concretizações da formação inicial de professores, com padrões culturais formativos
Capítulo 8 Proposição de dois de modelos para compreensão da história: Entendimento como o paradigma do social.
 Honneth, Crítica do Poder, Capítulos 8 ("Proposição de dois de modelos para compreensão da história: Entendimento como o paradigma do social") e 9 ("A teoria da sociedade de Habermas: Uma transformação
Honneth, Crítica do Poder, Capítulos 8 ("Proposição de dois de modelos para compreensão da história: Entendimento como o paradigma do social") e 9 ("A teoria da sociedade de Habermas: Uma transformação
Teorias éticas. Capítulo 20. GRÉCIA, SÉC. V a.c. PLATÃO ARISTÓTELES
 GRÉCIA, SÉC. V a.c. Reflexões éticas, com um viés político (da pólis) _ > como deve agir o cidadão? Nem todas as pessoas eram consideradas como cidadãos Reflexão metafísica: o que é a virtude? O que é
GRÉCIA, SÉC. V a.c. Reflexões éticas, com um viés político (da pólis) _ > como deve agir o cidadão? Nem todas as pessoas eram consideradas como cidadãos Reflexão metafísica: o que é a virtude? O que é
KARL JENSEN E OS MOVIMENTOS SOCIAIS
 KARL JENSEN E OS MOVIMENTOS SOCIAIS Nildo Viana Sociólogo, Filósofo, Professor da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás, Doutor em
KARL JENSEN E OS MOVIMENTOS SOCIAIS Nildo Viana Sociólogo, Filósofo, Professor da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás, Doutor em
Revista Filosofia Capital ISSN Vol. 1, Edição 2, Ano BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO AO CONTEMPORÂNEO
 30 BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO AO CONTEMPORÂNEO Moura Tolledo mouratolledo@bol.com.br Brasília-DF 2006 31 BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO
30 BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO AO CONTEMPORÂNEO Moura Tolledo mouratolledo@bol.com.br Brasília-DF 2006 31 BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA DA PESSOA HUMANA DO PERÍODO CLÁSSICO
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS
 1 ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS Cristina Ionácy Rodrigues e Souza 1 INTRODUÇÃO Ao fomentar que a assistência social é uma política que junto com as políticas setoriais,
1 ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS Cristina Ionácy Rodrigues e Souza 1 INTRODUÇÃO Ao fomentar que a assistência social é uma política que junto com as políticas setoriais,
CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL E FORTE DUQUE DE CAXIAS (CEP/FDC) CURSO DE PSICOPEDAGOGIA ESCOLAR (CPE) Aprovado pelo BI/ N, de / /.
 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL E FORTE DUQUE DE CAXIAS (CEP/FDC) CURSO DE PSICOPEDAGOGIA ESCOLAR (CPE) Aprovado pelo BI/ N, de / /. DISCIPLINA (Fundamentação) PLADIS FUNDAMENTOS DA PSICOPEDAGOGIA ESCOLAR
CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL E FORTE DUQUE DE CAXIAS (CEP/FDC) CURSO DE PSICOPEDAGOGIA ESCOLAR (CPE) Aprovado pelo BI/ N, de / /. DISCIPLINA (Fundamentação) PLADIS FUNDAMENTOS DA PSICOPEDAGOGIA ESCOLAR
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio
 Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio TEMA CADERNO 3 : O CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO, SEUS SUJEITOS E O DESAFIO DA FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL Moderadora: Monica Ribeiro da Silva Produção: Rodrigo
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio TEMA CADERNO 3 : O CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO, SEUS SUJEITOS E O DESAFIO DA FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL Moderadora: Monica Ribeiro da Silva Produção: Rodrigo
Associação Catarinense das Fundações Educacionais ACAFE
 Associação Catarinense das Fundações Educacionais ACAFE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÂO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO 2017 PARECERES DOS RECURSOS PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 11) De acordo com a Proposta
Associação Catarinense das Fundações Educacionais ACAFE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÂO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO 2017 PARECERES DOS RECURSOS PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 11) De acordo com a Proposta
Disciplina: Novas Lógicas e Literacias Emergentes no Contexto da Educação em Rede:
 Escola de Comunicação e Artes Universidade de São Paulo Disciplina: Novas Lógicas e Literacias Emergentes no Contexto da Educação em Rede: Práticas, Leituras e Reflexões Docente: Brasilina Passarelli Aluna:
Escola de Comunicação e Artes Universidade de São Paulo Disciplina: Novas Lógicas e Literacias Emergentes no Contexto da Educação em Rede: Práticas, Leituras e Reflexões Docente: Brasilina Passarelli Aluna:
II MÓDULO PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS Modelos e Práticas. Paula Marilia Cordeiro Caiana Silva 2016
 II MÓDULO PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS Modelos e Práticas 2016 Parece improvável que a Humanidade em geral seja algum dia capaz de dispensar os paraísos artificiais, isto é, a busca pela
II MÓDULO PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS Modelos e Práticas 2016 Parece improvável que a Humanidade em geral seja algum dia capaz de dispensar os paraísos artificiais, isto é, a busca pela
O CONSTRUTIVISMO NA SALA DE AULA PROFA. DRA. PATRICIA COLAVITTI BRAGA DISTASSI - DB CONSULTORIA EDUCACIONAL
 O CONSTRUTIVISMO NA SALA DE AULA 1. OS PROFESSORES E A CONCEPÇÃO CONSTRUTIVISTA Construtivismo é um referencial explicativo que norteia o planejamento, a avaliação e a intervenção; A concepção construtivista
O CONSTRUTIVISMO NA SALA DE AULA 1. OS PROFESSORES E A CONCEPÇÃO CONSTRUTIVISTA Construtivismo é um referencial explicativo que norteia o planejamento, a avaliação e a intervenção; A concepção construtivista
CADERNO IV ÁREAS DE CONHECIMENTO E INTEGRAÇÃO CURRICULAR
 CADERNO IV ÁREAS DE CONHECIMENTO E INTEGRAÇÃO CURRICULAR CURRÍCULO PROJETO DE FORMAÇÃO CULTURAL PARA A NAÇÃO. QUEM DOMINA O CURRÍCULO ESCOLAR, DOMINA A NAÇÃO (FOUCAULT) PROCESSO DE CONTRUÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO
CADERNO IV ÁREAS DE CONHECIMENTO E INTEGRAÇÃO CURRICULAR CURRÍCULO PROJETO DE FORMAÇÃO CULTURAL PARA A NAÇÃO. QUEM DOMINA O CURRÍCULO ESCOLAR, DOMINA A NAÇÃO (FOUCAULT) PROCESSO DE CONTRUÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
 Unidade IV FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL Prof. José Junior A evoluçao do Serviço Social Nas décadas de 1980 e 1990, o serviço social encontra seu ápice, pois a revisão
Unidade IV FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL Prof. José Junior A evoluçao do Serviço Social Nas décadas de 1980 e 1990, o serviço social encontra seu ápice, pois a revisão
Psicologia Aplicada à Nutrição
 Psicologia Aplicada à Nutrição Objetivos Abordar alguns conceitos da psicologia existentes no contexto social e da saúde. De psicólogo e louco todo mundo tem um pouco Psicologia e o conhecimento do Senso
Psicologia Aplicada à Nutrição Objetivos Abordar alguns conceitos da psicologia existentes no contexto social e da saúde. De psicólogo e louco todo mundo tem um pouco Psicologia e o conhecimento do Senso
Disciplina: Ética e Serviço Social. Professora Ms. Márcia Rejane Oliveira de Mesquita Silva
 Disciplina: Ética e Serviço Social Professora Ms. Márcia Rejane Oliveira de Mesquita Silva Conhecendo o Código de Ética de 1993 Duas dimensões 1) Conteúdo dos princípios: conjunto de Valores fundamentais
Disciplina: Ética e Serviço Social Professora Ms. Márcia Rejane Oliveira de Mesquita Silva Conhecendo o Código de Ética de 1993 Duas dimensões 1) Conteúdo dos princípios: conjunto de Valores fundamentais
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E O CONTROLE SOCIAL
 ISSN 2359-1277 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E O CONTROLE SOCIAL Denise Santos Borges, dehtaa@hotmail.com; Prof.ª Dr.ª Maria Inez Barboza Marques (Orientadora), marques@sercomtel.com.br. UNESPAR/Campus
ISSN 2359-1277 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E O CONTROLE SOCIAL Denise Santos Borges, dehtaa@hotmail.com; Prof.ª Dr.ª Maria Inez Barboza Marques (Orientadora), marques@sercomtel.com.br. UNESPAR/Campus
2014/2015 PLANIFICAÇÃO ANUAL
 GRUPO DE ECONOMIA E CONTABILIDADE Cursos Científico-Humanísticos Ano Letivo 2014/2015 PLANIFICAÇÃO ANUAL SOCIOLOGIA (12º ano) Página 1 de 6 Competências Gerais Desenvolver a consciência dos direitos e
GRUPO DE ECONOMIA E CONTABILIDADE Cursos Científico-Humanísticos Ano Letivo 2014/2015 PLANIFICAÇÃO ANUAL SOCIOLOGIA (12º ano) Página 1 de 6 Competências Gerais Desenvolver a consciência dos direitos e
Fundamentos Pedagógicos e Estrutura Geral da BNCC. BNCC: Versão 3 Brasília, 26/01/2017
 Fundamentos Pedagógicos e Estrutura Geral da BNCC BNCC: Versão 3 Brasília, 26/01/2017 1 INTRODUÇÃO 1.3. Os fundamentos pedagógicos da BNCC Compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global (dimensões
Fundamentos Pedagógicos e Estrutura Geral da BNCC BNCC: Versão 3 Brasília, 26/01/2017 1 INTRODUÇÃO 1.3. Os fundamentos pedagógicos da BNCC Compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global (dimensões
6 Considerações Finais
 6 Considerações Finais Nesta tese pesquisamos as concepções das categorias de empowerment, participação e dialogicidade, no contexto da Promoção da Saúde, como política pública proposta por alguns países
6 Considerações Finais Nesta tese pesquisamos as concepções das categorias de empowerment, participação e dialogicidade, no contexto da Promoção da Saúde, como política pública proposta por alguns países
CURSO INTEGRAL DE EXPERIMENTAÇÃO CORPORAL FACILITADOR
 CURSO INTEGRAL DE EXPERIMENTAÇÃO CORPORAL PARA O EA. 2017 FACILITADOR é uma metodologia integral que concebe a expressão corporal e cênica como campo propício à ampliação da consciência do indivíduo sobre
CURSO INTEGRAL DE EXPERIMENTAÇÃO CORPORAL PARA O EA. 2017 FACILITADOR é uma metodologia integral que concebe a expressão corporal e cênica como campo propício à ampliação da consciência do indivíduo sobre
Autor: Edgar Morin Aluna: Fernanda M. Sanchez Disciplina Conhecimento, complexidade e sociedade em rede, prof Aires J Rover
 Ciência com Consciência Autor: Edgar Morin Aluna: Fernanda M. Sanchez Disciplina Conhecimento, complexidade e sociedade em rede, prof Aires J Rover Primeira Parte: Ciência com consciência A ciência tem
Ciência com Consciência Autor: Edgar Morin Aluna: Fernanda M. Sanchez Disciplina Conhecimento, complexidade e sociedade em rede, prof Aires J Rover Primeira Parte: Ciência com consciência A ciência tem
Mesa redonda: A política educacional e seus objetos de estudos Dia 20/08/2014 Quarta-feira Horário: das 10:30 às 12:30 Título
 Mesa redonda: A política educacional e seus objetos de estudos Dia 20/08/2014 Quarta-feira Horário: das 10:30 às 12:30 Título do trabalho: Considerações epistemológicas da política educacional brasileira:
Mesa redonda: A política educacional e seus objetos de estudos Dia 20/08/2014 Quarta-feira Horário: das 10:30 às 12:30 Título do trabalho: Considerações epistemológicas da política educacional brasileira:
A ÉTICA NA HISTÓRIA DO PENSAMENTO
 SOFISTAS Acreditavam num relativismo moral. O ceticismo dos sofistas os levava a afirmar que, não existindo verdade absoluta, não poderiam existir valores que fossem validos universalmente. A moral variaria
SOFISTAS Acreditavam num relativismo moral. O ceticismo dos sofistas os levava a afirmar que, não existindo verdade absoluta, não poderiam existir valores que fossem validos universalmente. A moral variaria
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. Educação infantil Creche e pré escolas
 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS Educação infantil Creche e pré escolas O QUE É? Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN - são referências de qualidade para os Ensinos Fundamental e Médio do país,
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS Educação infantil Creche e pré escolas O QUE É? Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN - são referências de qualidade para os Ensinos Fundamental e Médio do país,
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1
 NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
BREVE HISTÓRICO DA ARTE-EDUCAÇÃO
 BREVE HISTÓRICO DA ARTE-EDUCAÇÃO 1. Arte-educação breve histórico (Avancini, 1995) Definição do que é arte-educação, como movimento social: Inicia na década de 80, especialmente com a Profª Drª. Ana Mae
BREVE HISTÓRICO DA ARTE-EDUCAÇÃO 1. Arte-educação breve histórico (Avancini, 1995) Definição do que é arte-educação, como movimento social: Inicia na década de 80, especialmente com a Profª Drª. Ana Mae
GESTÃO ESCOLAR. Profª Sandra Santos Aula 1
 GESTÃO ESCOLAR Profª Sandra Santos Aula 1 Segundo Libâneo o estudo da escola como organização de trabalho não é novo, há toda uma pesquisa sobre administração escolar que remonta aos pioneiros da educação
GESTÃO ESCOLAR Profª Sandra Santos Aula 1 Segundo Libâneo o estudo da escola como organização de trabalho não é novo, há toda uma pesquisa sobre administração escolar que remonta aos pioneiros da educação
Conceito de Moral. O conceito de moral está intimamente relacionado com a noção de valor
 Ética e Moral Conceito de Moral Normas Morais e normas jurídicas Conceito de Ética Macroética e Ética aplicada Vídeo: Direitos e responsabilidades Teoria Exercícios Conceito de Moral A palavra Moral deriva
Ética e Moral Conceito de Moral Normas Morais e normas jurídicas Conceito de Ética Macroética e Ética aplicada Vídeo: Direitos e responsabilidades Teoria Exercícios Conceito de Moral A palavra Moral deriva
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONHECIMENTOS TECIDOS NO COTIDIANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA REGIÃO SUL FLUMINENSE
 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONHECIMENTOS TECIDOS NO COTIDIANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA REGIÃO SUL FLUMINENSE Educação ambiental e conhecimentos tecidos no cotidiano de uma escola pública da região Sul Fluminense.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONHECIMENTOS TECIDOS NO COTIDIANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA REGIÃO SUL FLUMINENSE Educação ambiental e conhecimentos tecidos no cotidiano de uma escola pública da região Sul Fluminense.
ABERTURA Boa noite a todas e a todos!
 ABERTURA Boa noite a todas e a todos! É com imensa satisfação que a Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde - CCSHS da Associação Brasileira de Saúde Coletiva abre seu 7º Congresso, aqui em Cuiabá,
ABERTURA Boa noite a todas e a todos! É com imensa satisfação que a Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde - CCSHS da Associação Brasileira de Saúde Coletiva abre seu 7º Congresso, aqui em Cuiabá,
ORIGEM DA PALAVRA. A palavra Ética
 ÉTICA ORIGEM DA PALAVRA A palavra Ética é originada do grego ethos,, (modo de ser, caráter) através do latim mos (ou no plural mores) (costumes, de onde se derivou a palavra moral.)[1] [1].. Em Filosofia,
ÉTICA ORIGEM DA PALAVRA A palavra Ética é originada do grego ethos,, (modo de ser, caráter) através do latim mos (ou no plural mores) (costumes, de onde se derivou a palavra moral.)[1] [1].. Em Filosofia,
SABERES DOCENTES NECESSÁRIOS À PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL TECNOLÓGICA
 SABERES DOCENTES NECESSÁRIOS À PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL TECNOLÓGICA Carmen Célia Barradas Correia Bastos- UNIOESTE/Cascavel/PR Nelci Aparecida
SABERES DOCENTES NECESSÁRIOS À PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL TECNOLÓGICA Carmen Célia Barradas Correia Bastos- UNIOESTE/Cascavel/PR Nelci Aparecida
O processo de ensino e aprendizagem em Ciências no Ensino Fundamental. Aula 2
 O processo de ensino e aprendizagem em Ciências no Ensino Fundamental Aula 2 Objetivos da aula Conhecer os a pluralidade de interpretações sobre os processos de ensino aprendizagem em Ciências; Discutir
O processo de ensino e aprendizagem em Ciências no Ensino Fundamental Aula 2 Objetivos da aula Conhecer os a pluralidade de interpretações sobre os processos de ensino aprendizagem em Ciências; Discutir
CONTEÚDOS EXIN SERVIÇO SOCIAL
 CONTEÚDOS EXIN 2016.2 4MA E 4NA DISCIPLINA CONTEÚDO DISCIPLINAS CUMULATIVAS -Etapas do processo de trabalho: Elementos constitutivos. - O significado do Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho;
CONTEÚDOS EXIN 2016.2 4MA E 4NA DISCIPLINA CONTEÚDO DISCIPLINAS CUMULATIVAS -Etapas do processo de trabalho: Elementos constitutivos. - O significado do Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho;
O MOVIMENTO DO PENSAMENTO PARA APROPRIAÇÃO CONCEITUAL EM DAVÝDOV
 1 O MOVIMENTO DO PENSAMENTO PARA APROPRIAÇÃO CONCEITUAL EM DAVÝDOV Educação e Produção do Conhecimento nos Processos Pedagógicos Daiane de Freitas 1 Ademir Damazio 2 Introdução O presente trabalho tem
1 O MOVIMENTO DO PENSAMENTO PARA APROPRIAÇÃO CONCEITUAL EM DAVÝDOV Educação e Produção do Conhecimento nos Processos Pedagógicos Daiane de Freitas 1 Ademir Damazio 2 Introdução O presente trabalho tem
Educar para a Cidadania Contributo da Geografia Escolar
 Iª JORNADAS IGOT DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA Educar para a Cidadania Contributo da Geografia Escolar Maria Helena Esteves 7 de Setembro de 2013 Apresentação O que é a Educação para a Cidadania Educação
Iª JORNADAS IGOT DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA Educar para a Cidadania Contributo da Geografia Escolar Maria Helena Esteves 7 de Setembro de 2013 Apresentação O que é a Educação para a Cidadania Educação
O ENSINO RELIGIOSO NA ESCOLA ORIENTAÇÕES LEGAIS
 O ENSINO RELIGIOSO NA ESCOLA ORIENTAÇÕES LEGAIS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 210 DETERMINA O ENSINO RELIGIOSO, MESMO FACULTATIVO PARA O ALUNO, DEVE ESTAR PRESENTE COMO DISCIPLINA DOS HORÁRIOS NORMAIS DA
O ENSINO RELIGIOSO NA ESCOLA ORIENTAÇÕES LEGAIS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 210 DETERMINA O ENSINO RELIGIOSO, MESMO FACULTATIVO PARA O ALUNO, DEVE ESTAR PRESENTE COMO DISCIPLINA DOS HORÁRIOS NORMAIS DA
Aula Véspera UFU Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Professor Uilson Fernandes Uberaba 16 Abril de 2015
 Aula Véspera UFU 2015 Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Professor Uilson Fernandes Uberaba 16 Abril de 2015 NORTE DA AVALIAÇÃO O papel da Filosofia é estimular o espírito crítico, portanto, ela não pode
Aula Véspera UFU 2015 Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Professor Uilson Fernandes Uberaba 16 Abril de 2015 NORTE DA AVALIAÇÃO O papel da Filosofia é estimular o espírito crítico, portanto, ela não pode
Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho DIREITO, FILOSOFIA E A HUMANIDADE COMO TAREFA
 Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho DIREITO, FILOSOFIA E A HUMANIDADE COMO TAREFA São Paulo 2009 Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho DIREITO, FILOSOFIA E A HUMANIDADE COMO TAREFA Tese de Livre
Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho DIREITO, FILOSOFIA E A HUMANIDADE COMO TAREFA São Paulo 2009 Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho DIREITO, FILOSOFIA E A HUMANIDADE COMO TAREFA Tese de Livre
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE HISTÓRIA - ENSINO FUNDAMENTAL
 D1 Identificar a constituição de identidades culturais em diferentes contextos Identificar as diferentes representações sociais e culturais no espaço paranaense no contexto brasileiro. Identificar a produção
D1 Identificar a constituição de identidades culturais em diferentes contextos Identificar as diferentes representações sociais e culturais no espaço paranaense no contexto brasileiro. Identificar a produção
Foucault e a educação. Tecendo Gênero e Diversidade Sexual nos Currículos da Educação Infantil
 Foucault e a educação Tecendo Gênero e Diversidade Sexual nos Currículos da Educação Infantil Prefácio A educação abrange os processos de ensinar e de aprender e se desenvolve em todos os espaços possíveis:
Foucault e a educação Tecendo Gênero e Diversidade Sexual nos Currículos da Educação Infantil Prefácio A educação abrange os processos de ensinar e de aprender e se desenvolve em todos os espaços possíveis:
CURSO: PEDAGOGIA EMENTAS º PERÍODO
 CURSO: PEDAGOGIA EMENTAS - 2016.1 1º PERÍODO DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO Estudo da história geral da Educação e da Pedagogia, enfatizando a educação brasileira. Políticas ao longo da história engendradas
CURSO: PEDAGOGIA EMENTAS - 2016.1 1º PERÍODO DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO Estudo da história geral da Educação e da Pedagogia, enfatizando a educação brasileira. Políticas ao longo da história engendradas
SERVIÇO SOCIAL NA POLÍTICA DE SAÚDE: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA. Eixo temático: Política Social e Trabalho
 ISSN 2359-1277 SERVIÇO SOCIAL NA POLÍTICA DE SAÚDE: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA Autora: Karine Beletatti, ka_kuty@hotmail.com Karima Omar Hamdan (orientadora), karimamga@hotmail.com Unespar Campus
ISSN 2359-1277 SERVIÇO SOCIAL NA POLÍTICA DE SAÚDE: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA Autora: Karine Beletatti, ka_kuty@hotmail.com Karima Omar Hamdan (orientadora), karimamga@hotmail.com Unespar Campus
1. Quanto às afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA : I O direito é autônomo, enquanto a moral é heterônoma.
 P á g i n a 1 PROVA DAS DISCIPLINAS CORRELATAS TEORIA GERAL DO DIREITO 1. Quanto às afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA : I O direito é autônomo, enquanto a moral é heterônoma. II O valor jurídico
P á g i n a 1 PROVA DAS DISCIPLINAS CORRELATAS TEORIA GERAL DO DIREITO 1. Quanto às afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA : I O direito é autônomo, enquanto a moral é heterônoma. II O valor jurídico
Notas prévias à 12ª edição 7 Agradecimentos (1ª edição) 9 Abreviaturas 11 Prefácio (1ª edição) 15 Sumário 19 Notas introdutórias 21
 Índice geral Notas prévias à 12ª edição 7 Agradecimentos (1ª edição) 9 Abreviaturas 11 Prefácio (1ª edição) 15 Sumário 19 Notas introdutórias 21 1ª P A R T E O Sistema dos Direitos Fundamentais na Constituição:
Índice geral Notas prévias à 12ª edição 7 Agradecimentos (1ª edição) 9 Abreviaturas 11 Prefácio (1ª edição) 15 Sumário 19 Notas introdutórias 21 1ª P A R T E O Sistema dos Direitos Fundamentais na Constituição:
CURRÍCULO MÍNIMO 2013
 CURRÍCULO MÍNIMO 2013 (Versão preliminar) Componente Curricular: SOCIOLOGIA (Curso Normal) Equipe de Elaboração: COORDENADOR: Prof. Luiz Fernando Almeida Pereira - PUC RJ ARTICULADOR: Prof. Fábio Oliveira
CURRÍCULO MÍNIMO 2013 (Versão preliminar) Componente Curricular: SOCIOLOGIA (Curso Normal) Equipe de Elaboração: COORDENADOR: Prof. Luiz Fernando Almeida Pereira - PUC RJ ARTICULADOR: Prof. Fábio Oliveira
ENADE E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA
 1 ENADE E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA Luciana Schwengber Unisc Dr. Cláudio José de Olieira - Unisc Resumo: Este artigo consiste na problematização da produtividade das Provas do ENADE - Exame
1 ENADE E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA Luciana Schwengber Unisc Dr. Cláudio José de Olieira - Unisc Resumo: Este artigo consiste na problematização da produtividade das Provas do ENADE - Exame
PROPOSTA TRANSFORMADORA FINALIDADE DA EDUCAÇÃO
 FINALIDADE DA EDUCAÇÃO Proporcionar aos homens e as mulheres o desenvolvimento da vivacidade, da invenção e reinvenção, a participação política, a sua condição de sujeito histórico. O saber sistematizado
FINALIDADE DA EDUCAÇÃO Proporcionar aos homens e as mulheres o desenvolvimento da vivacidade, da invenção e reinvenção, a participação política, a sua condição de sujeito histórico. O saber sistematizado
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010
 NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010 12 Daniel José Crocoli * A obra Sobre ética apresenta as diferentes formas de se pensar a dimensão ética, fazendo
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010 12 Daniel José Crocoli * A obra Sobre ética apresenta as diferentes formas de se pensar a dimensão ética, fazendo
