Sobre a dissociação da razão moderna: a busca hegeliana por uma conciliação entre criticidade e saber absoluto
|
|
|
- Larissa Melgaço Franca
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Filosofia Unisinos 7(1):62-71, jan/abr by Unisinos Sobre a dissociação da razão moderna: a busca hegeliana por uma conciliação entre criticidade e saber absoluto On the dissociation of modern reason: HegelÊs search for a conciliation between critical attitude and absolute knowledge Eduardo Luft 1 eluft@terra.com.br RESUMO: Tendo em mente a constituição de uma filosofia verdadeiramente crítica, Hegel se distancia de Schelling e de sua pretensão de obter o saber absoluto a partir da intuição intelectual e retoma o diálogo com Kant e Fichte. A sua meta era superar os conflitos da razão moderna, promovendo a conciliação entre criticidade e sistematicidade absoluta. Deve-se perguntar, todavia, se esta conciliação é de fato possível. Palavras-chave: Hegel, Schelling, criticidade, sistematicidade absoluta. ABSTRACT: Aiming at the constitution of a truly critical philosophy, Hegel took distance from Schelling and his claim to achieve absolute knowledge on the basis of intellectual intuition and resumes the dialogue with Kant and Fichte. Hegel s goal was to overcome the conflicts of modern reason by promoting the conciliation between the critical attitude and absolute sistematicity. It should be asked, however, whether such a conciliation is actually possible. Key words: Hegel, Schelling, Critical attitude, Absolute sistematicity. O presente estudo investiga a crítica hegeliana ao apelo à intuição intelectual como suposta via de acesso direto ao absoluto. É em nome da elaboração de uma filosofia efetivamente crítica que Hegel se afasta de Schelling e renova o diálogo com a Filosofia da Reflexão, ou seja, com Kant e Fichte. Era preciso conciliar duas preten- 1 Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS. Porto Alegre, RS, Brasil. 05_FILO_ART3_Luft.indd 62 24/5/ :02:28
2 Sobre a dissociação da razão moderna sões antagônicas da modernidade: a elaboração de um saber crítico e a construção de um sistema da razão pura enquanto saber absoluto. Mas não se trata de uma tarefa fácil: não por acaso criticidade e sistematicidade absoluta permaneceram não conciliadas nas obras de Descartes, Kant e mesmo Fichte. Esse conflito da razão consigo mesma deixará suas marcas na oposição entre Lógica e Metafísica nos escritos hegelianos de Iena. Ao assumir a função de introdução ao sistema, antes deixada ao cargo da Lógica, a Fenomenologia do Espírito abrirá espaço para a elaboração de uma obra que é simultaneamente metafísica e crítica à metafísica. A Ciência da lógica assume com isso a tarefa da conciliação da razão moderna consigo mesma. Mas essa conciliação será mesmo possível? Seguem as seguintes seções: 1) Hegel e Schelling: proximidade e distanciamento; 2) A Fenomenologia do espírito: a vida da substância é revelar-se subjetividade; 3) Em diálogo com a filosofia da reflexão: sobre o conflito da razão moderna consigo mesma; 4) A tarefa conciliadora da Ciência da lógica: é possível a unidade da razão (moderna)? 1 Hegel iniciou sua carreira vinculado a Schelling. Ambos aceitavam o sistema de Fichte como a radicalização do projeto kantiano de filosofia, como o seu melhoramento e aprofundamento. Mas o idealismo subjetivo deixara não tematizada uma questão decisiva: como sustentar a soberania e independência plena do princípio do sistema de filosofia, ou seja, a autoconsciência, se o eu só pode ser tematizado sob a pressuposição prévia de um não-eu a ele contraposto? A Doutrina da ciência de Fichte estava assentada nos seguintes princípios: 1) o eu põe a si mesmo; 2) ao eu é contraposto um não-eu; 3) o eu põe em si mesmo uma divisão entre eu (sujeito) e não-eu (objeto). Sem o postulado expresso na segunda proposição, ou seja, sem a contraposição do não-eu, a construção da experiência não seria possível. Ora, enquanto esta oposição é originária, ela não pode ao mesmo tempo ser superada no interior do próprio sistema idealista entendendo superar como a possibilidade de provar um dado elemento como constituído pela própria subjetividade e somente por ela condicionado. Nesse ponto, Fichte é conseqüente: a subjetividade (o eu) pode superar, sim, as determinações por ela postas no decorrer do processo de construção da experiência ela o faz reconhecendo o mundo fenomênico como mera aparência, como meio por ela produzido para a realização de seus próprios fins; mas a subjetividade não é capaz de superar aquela contraposição originária entre ela mesma e o mundo, entre eu e não-eu. O não-eu não foi constituído nem é condicionado pela própria ação da subjetividade; pelo contrário, a subjetividade somente pode se realizar como autoconsciência ao ser condicionada previamente por aquela pressuposição. Ou seja, a conciliação definitiva entre subjetividade e objetividade é uma idéia reguladora, o dever-ser de todo o sistema, o fim último a que tudo tende, todavia jamais realizado plenamente. A proposta de Schelling é superar o idealismo subjetivo fichtiano em um idealismo absoluto cujo ponto de partida é a eliminação da dualidade entre sujeito e objeto em nome de um saber absoluto. Ao tematizar os fundamentos do sistema fichtiano, Schelling procurará expandir a investigação do não-eu tendo em vista a construção de uma filosofia da natureza. Se fôssemos capazes de explicitar os elementos implícitos na noção fichtiana de não-eu, poderíamos mostrar o quanto a dicotomia originária eu/não-eu não passa de uma oposição relativa e não absoluta. Schelling procurará demonstrar que, subjacente à dicotomia entre natureza e cultura, entre não-eu e eu, há um princípio comum de organização, o princípio da identidade absoluta. Os opostos são revelados como momentos, modos específicos de manifestação de uma mesma substância única _FILO_ART3_Luft.indd 63 24/5/ :02:31
3 Eduardo Luft Em seu escrito de 1801, Diferença dos sistemas de filosofia de Fichte e Schelling, Hegel louvará a alternativa proposta por seu ex-colega de Tübingen, destacando a possibilidade por ele inaugurada de realizar a conciliação dos reinos da natureza e da cultura. Em lugar da estrutura em dever-ser do sistema fichtiano, fundada na meta sempre postergada da resolução do antagonismo entre eu e não-eu, surge um modelo de filosofia capaz de superar os estreitos limites do idealismo subjetivo. A oposição entre duas ciências diversas, uma filosofia da natureza e uma filosofia transcendental, ainda presente nas primeiras obras de Schelling, não é absoluta: natureza e espírito são apenas expressões diversas de uma única substância: Ambas as ciências somente são possíveis porque um e o mesmo [objeto] é por elas construído nas formas necessárias de sua existência. (Hegel, 1990a, p. 101). O saber absoluto parte da identidade de ser e pensar. Nesse ponto, e também no que diz respeito à recusa da estrutura em dever-ser do sistema de filosofia, Hegel está de pleno acordo com Schelling. O distanciamento entre ambos dar-se-á por outros motivos. O mais evidente deles reside na paulatina problematização, por parte de Hegel, do apelo à intuição intelectual como forma de acesso ao absoluto. Em suas obras maduras, Hegel não economizará adjetivos na luta contra o postulado da intuição intelectual. Tratar-se-ia de um procedimento obscuro, um simples mandamento, o oráculo que devemos aceitar porque é feita a exigência de que se intua intelectualmente (Hegel, 1990b, p. 435). Este tipo de exigência contrariaria a essência mesma de todo empreendimento científico, caracterizada pela possibilidade de aferição intersubjetiva da validade das afirmações teóricas. Uma aferição que só pudesse ser realizada na intimidade obscura de cada indivíduo, mas jamais nas águas relativamente claras do discurso público, não poderia dar fundamento à ciência. Se permitíssemos algo do gênero, estaríamos relegando a tarefa científica e filosófica àquelas poucas pessoas capazes de uma tal intuição, como se a sua condição exigisse um talento, gênio ou estado de ânimo especial, algo em geral contingente (Hegel, 1990b, p. 439). Deve-se salientar que Hegel não se afasta de Schelling abruptamente. Tanto no escrito sobre a Diferença, como em Crença e saber, bem como nas preleções sobre Lógica e metafísica de 1801/02, a intuição intelectual joga ainda um papel decisivo. Este modo de conhecimento, denominado por Hegel também intuição transcendental, era visto como o ponto em comum entre as perspectivas antagônicas de Schelling e Fichte (cf. Hegel, 1990a, p. 114), capaz de sustentar, no caso da radicalização do projeto fichtiano, a elevação para além dos limites da oposição sujeito/objeto, e de todas as demais oposições resultantes desta diferença originária (Hegel, 1990a, p. 115) O confronto teórico com Schelling será consumado na Fenomenologia do espírito, acarretando inclusive o rompimento afetivo dos dois filósofos (ao menos por parte de Schelling). Nesta obra, encontramos a famosa afirmação sarcástica igualando o absoluto concebido por Schelling à noite em que todas as vacas são pretas (1990c, p. 22). A Fenomenologia torna explícitas as conseqüências da recusa não só da intuição intelectual, mas de toda e qualquer forma de acesso supostamente imediato ao princípio do sistema. Se não há um conhecimento imediato do absoluto, então conhecê-lo só é possível depois de um determinado processo de mediação, ao fim e não ao início da atividade de conhecimento. Por outro lado, se também ao fim não é possível uma apreensão direta do absoluto, a partir da qual pudéssemos dispensar os diversos momentos do caminho percorrido, isso só ocorre porque o absoluto ele mesmo não 05_FILO_ART3_Luft.indd 64 24/5/ :02:31
4 Sobre a dissociação da razão moderna é a identidade indiferenciada defendida por Schelling. No contexto de Hegel, a Idéia revelar-se-á não apenas como uma categoria entre outras, mas como a totalidade em movimento cujo processo de autodeterminação engendra o complexo sistema categorial exposto na Lógica. Vemos, portanto, que a recusa do apelo à intuição intelectual é muito mais do que uma mera disputa pelo método da nova metafísica: é a base mesma do sistema de filosofia que está em jogo, como, aliás, não poderia deixar de ser no contexto de concepções que pressupõem a identidade última entre ser e pensamento. Hegel problematiza o conceito de absoluto de Schelling, propondo em lugar da identidade absoluta uma estrutura dinâmica caracterizada pelo processo de automanifestação da razão; a substância é viva porque está em contínuo processo de auto-revelação; a vida da substância é revelar-se subjetividade. Só na mediação mostra-se o verdadeiro. Em lugar do salto cego no ponto de vista do saber absoluto, a Fenomenologia do espírito nos brinda com uma prodigiosa apresentação da longa e difícil marcha da cultura humana rumo à ciência. Se todos iniciamos desde sempre do ponto de vista do senso comum e não do saber absoluto, ou seja, da perspectiva de quem percebe o mundo dos objetos como independente do sujeito que o conhece, então de nada adianta o filósofo reivindicar dogmaticamente a verdade de seu próprio modo de investigação. É inútil postar-se do ponto de vista de quem defende a identidade estrutural de ser e pensamento, sem oferecer uma prova concreta do caráter privilegiado desta postura. Se o filósofo quer provar a adequação de sua perspectiva, só há um modo: a superação imanente do olhar oposto propiciado pelo senso comum. É preciso demonstrar onde reside o erro do senso comum, e em que consiste a necessidade de aceitar a tese da identidade entre sujeito e objeto. Para tanto, Hegel não nos coloca diante de um diálogo entre o defensor e o oponente daquela tese. O que está em questão não é o modo de pensar deste ou daquele indivíduo, mas as idéias constitutivas do próprio espírito (da cultura humana em geral) em cada uma das fases de seu desenvolvimento em direção ao saber científico. A Fenomenologia narrará a história do desenvolvimento do saber humano não como a caminhada serena de quem desde sempre possui a verdade, mas como desbravamento tenso da única via correta entre os caminhos e descaminhos da consciência na busca do saber absoluto. A cada passo uma nova figura da consciência, ou seja, um novo estágio de desenvolvimento do saber humano é superado, alcançando-se um nível superior de inquirição. Modos de pensar são refutados enquanto novas perspectivas são iluminadas. Becos sem saída são desvelados enquanto novas portas são abertas. Só ao final do largo desenvolvimento, da difícil reconstrução da história do progresso do pensamento humano, o cético poderá vislumbrar a plausibilidade da tese da identidade entre ser e pensar. É no estágio denominado por Hegel razão que se manifesta esta verdade, pois nesse contexto a razão é revelada como a certeza da consciência de ser toda a realidade (1990c, p. 179). Só agora o oponente seria capaz de reconhecer que o modo de comportar-se dos fenômenos naturais possui a mesma lógica de desenvolvimento inerente à sua própria atividade de pensamento. A identidade entre sujeito e objeto, meramente dada no sistema de Schelling, estaria aqui provada, constituindo-se como o pressuposto primeiro da Ciência da lógica. 3 Onde podemos encontrar os antecedentes da renovação metódica explorada pela Fenomenologia do espírito? Acredito que R. Haym tenha razão ao afirmar: [de acordo com Hegel] a essência universal do mundo não deve ser apreendida 65 05_FILO_ART3_Luft.indd 65 24/5/ :02:31
5 Eduardo Luft 66 assim como a filosofia romântica, a [filosofia] de Schelling a compreendeu, mas este ponto de vista deve ser corrigido através da filosofia do entendimento kantiana e fichtiana (1962, p. 220). É o diálogo com a filosofia da reflexão kantiano-fichtiana que está na gênese não apenas da inovadora abordagem do problema do conhecimento desenvolvida na Fenomenologia do espírito, mas mesmo de todo o projeto sistemático hegeliano. Pelo menos duas tarefas tinham de ser cumpridas para levar a bom termo este projeto: a) provar crítica e mediatamente a legitimidade da tese da identidade de ser e pensar, ou seja, do saber absoluto; b) elaborar uma metafísica que se constituiria simultaneamente como crítica a toda metafísica do entendimento e como sistema da razão pura autofundamentado de modo último. A primeira tarefa caberá, como vimos, à ciência da experiência da consciência desenvolvida na Fenomenologia do espírito. A segunda ficará a cargo do método original elaborado por Hegel capaz de conciliar as dimensões crítica e especulativa da razão em um movimento único de autofundamentação absoluta do sistema das categorias na Ciência da lógica. Para compreender tudo o que está aqui em jogo, é preciso ter em mente a relevância do projeto hegeliano para o destino da modernidade. Para a obra de Hegel convergiram duas tendências antagônicas ou, por que não dizer, contraditórias, que residiam no cerne mesmo do racionalismo moderno: de um lado, a criticidade emanada da atitude reflexiva e dubitativa característica do cogito cartesiano, mediada pela reestruturação da Metafísica em Kant e aprofundada por Fichte; de outro, a sistematicidade absoluta proveniente do apriorismo cartesiano e radicalizada nos grandes sistemas monistas de Espinosa, Fichte e do jovem Schelling. Não é casual que a dialética hegeliana seja tão dificilmente catalogável: ela busca, em plena modernidade, conciliar antigas vertentes antagônicas dentro da própria dialética: o ramo crítico-dialógico, que alcança seu maior refinamento no élenchos socrático, e o ramo sistemático-especulativo da dialética platônica enquanto ciência do nexo lógico entre as formas. Desde Descartes tornou-se premente a necessidade de estabelecer com clareza e rigor em que consistia exatamente a especificidade da nova filosofia, em que ela se distinguia do empreendimento metafísico legado pela tradição. A própria filosofia cartesiana trouxera à luz esta marca diferenciadora: o saber legítimo tem de ser capaz de resistir à força negativa da dúvida racional. Nenhuma suposição poderia permanecer imune à crítica racional, pois nada há fora da razão [...] (Schelling, 1995, p. 47), para dizer com Schelling. E o projeto de um criticismo universal não encontraria dificuldades intransponíveis, pois o que a razão produz plenamente a partir de si mesma não pode permanecer oculto, mas é trazido à luz pela própria razão, como enfatizara Kant (1990, A XX). Em sua tarefa de auto-esclarecimento, a razão é oniabrangente e potente em grau máximo. Justamente a crença na potência máxima da razão estabelece a segunda premissa do racionalismo moderno: o conhecimento filosófico tem de ser inteiramente a priori, autofundamentado de modo absoluto, e imune a toda dúvida possível. Ora, como pode a razão ser ao mesmo tempo a raiz da criticidade originária de todo saber legítimo e o fundamento a priori de todo saber certo e indubitável? Como pode a razão articular em seu próprio âmago exigências tão divergentes? Eis a questão que deve orientar a pergunta pelas pressuposições mais íntimas e inconfessáveis da nova metafísica. Saliente-se que nenhum filósofo anterior a Hegel levou a suas últimas conseqüências a exigência de unificar as duas dimensões da racionalidade: criticidade e sistematicidade absoluta permaneceram dissociadas no coração dos sistemas de filosofia. Tomemos o caso de Descartes. É verdade que a dúvida exerce uma função-chave no sistema de filosofia cartesiano. As meditações cartesianas são motivadas pela descrença frente às pretensões da antiga metafí- 05_FILO_ART3_Luft.indd 66 24/5/ :02:31
6 Sobre a dissociação da razão moderna sica. O erro não residiria propriamente na ambição do esclarecimento da essência do mundo, para falarmos com Schopenhauer, mas nos alicerces frágeis do saber tradicional. A dúvida metódica foi elaborada tendo por meta averiguar que tipo de saber é capaz de resistir a ela, mostrando-se então devidamente seguro. Todavia, se a dúvida está ao início do empreendimento cartesiano, ao final encontraremos a certeza do cogito. A dúvida é universalizada não para permanecer como o referencial último e incontornável da razão, no processo potencialmente infinito de superação de possíveis erros na busca pela compreensão da essência do mundo; ela é universalizada para atestar sua impotência perante a estrutura auto-referencial do pensamento; o pensar dubitativo, quando voltado sobre si mesmo, se desfaz enquanto dúvida e permanece enquanto pensamento, agora certo de si mesmo. A dúvida é como a escada wittgensteiniana, que se usa para depois jogar fora. A razão moderna é inaugurada por esse ato de esquecimento. O dualismo entre criticidade e sistematicidade absoluta permanecerá vivo na Filosofia da Reflexão. Kant restringirá o procedimento crítico (e, ao menos em parte, regressivo 2 ) à propedêutica do sistema da razão pura (à sua primeira Crítica), destinando ao sistema propriamente dito o procedimento dogmático (e progressivo) da metafísica tradicional. A Crítica é um tratado do método, e não um sistema da ciência propriamente dito (Kant, 1990, B XXII). Ela é o ato prévio necessário para a promoção de uma metafísica fundamental como ciência, que deve ser realizada de modo necessariamente dogmático e estritamente sistemático, por conseguinte escolástico (não popular) (Kant, 1990, B XXXVI). E o próprio Fichte, tão incisivo quando o que estava em jogo era a conciliação das dimensões teórica e prática da razão, permaneceu refém de um dualismo metódico semelhante. Na obra Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, de 1794, vemos Fichte distinguir entre a atividade de autotematização daquele que realiza a Doutrina da ciência, o filósofo, e a atividade de autoposição originária do próprio eu enquanto produtor do mundo das representações. O filósofo tem por tarefa examinar a seqüência de atos da subjetividade mediante os quais todas as representações são construídas. Estes atos procedem por oposições dialéticas, como vemos logo ao início da Doutrina da ciência na contraposição estabelecida entre eu e não-eu. O procedimento adotado pelo filósofo consta da tematização inicial de um certo ato tético da subjetividade por exemplo, aquele que garante a efetivação da categoria eu e da procura subseqüente do ato antitético e seu produto (a categoria não-eu ) sem o qual a construção da tese não seria possível. Mas como poderíamos encontrar este oposto sem desde sempre sabê-lo como o oposto buscado? A tematização de qualquer relação de opostos desde sempre pressupõe uma síntese já acontecida esta a posição de Fichte. Ou seja, o procedimento é aqui analítico (ou regressivo): parte-se de elementos mutuamente condicionados (eu e não-eu), sempre pressupondo a atividade sintética mediante a qual a oposição realizada pôde ser constituída: vai-se do condicionado ao condicionante. A síntese 2 Nesse contexto, devemos ter em mente a distinção kantiana entre procedimento regressivo (ou analítico) e progressivo (ou sintético) (1993, p. 26, nota): enquanto no primeiro caso a cadeia argumentativa se movimenta do condicionado ao condicionante, no segundo caso dá-se o contrário. Kant enfatizara que, na Crítica da Razão Pura, havia procedido de modo progressivo ou sintético. Todavia, em momentos decisivos da Crítica, Kant utiliza claramente argumentação regressiva. Observe-se, por exemplo, a prova do espaço como forma pura da intuição enquanto condição necessária de possibilidade da Geometria enquanto ciência sintética a priori, em B 40. A argumentação parte do fato de que a Geometria é uma ciência sintética a priori e se movimenta na direção das condições de possibilidade de uma tal ciência. Trata-se mesmo de uma tendência geral da Crítica, enquanto parte do fato da presença de juízos sintéticos a priori em ciências puras (como a Matemática e a Física puras) e investiga suas condições transcendentais. Sobre a dedução transcendental enquanto argumentação regressiva, cf. K. Ameriks (1978). Para a discussão em torno do sentido da dedução transcendental em Kant, cf. M. Niquet (1991, p. 88ss) _FILO_ART3_Luft.indd 67 24/5/ :02:32
7 Eduardo Luft instaurada entre eu e não-eu é, no caso, o eu divisível capaz de conter em si subjetividade e objetividade como elementos mutuamente limitados. Fichte, no entanto, faz questão de precisar um ponto: o procedimento é regressivo só no contexto da pesquisa realizada pelo filósofo, mas o eu propriamente dito, a subjetividade tematizada procede sempre progressivamente, constituindo sínteses de opostos. Somente por meio das ações sintéticas desta subjetividade prova-se de fato que os elementos construídos são verdadeiros: As ações que são expostas são sintéticas, mas a reflexão que as expõe é analítica (Fichte, 1971a, p. 124). O mesmo esclarecimento aparece no artigo Comparação do sistema exposto pelo senhor professor Schmid com a Doutrina da ciência, de 1795: Apenas o procedimento do filósofo é, em referência ao primeiro princípio, analítico, mas o procedimento e a ação do eu subjacente à investigação é sintético (Fichte, 1971b, p. 444, nota). Sendo assim, no sistema fichtiano a dualidade metódica a oposição entre procedimento analítico-regressivo e problemático, e procedimento sintético-progressivo e apodítico associa-se diretamente ao dualismo metafísico entre o eu individual do pesquisador que investiga o princípio do sistema de filosofia e o eu universal e absoluto que é o fundamento mesmo do sistema do espírito humano. O conflito da razão consigo mesma não é, portanto, superado, mas aprofundado 3. 4 No fragmento de Iena (1801/2) denominado Logica et metaphysica, vemos Hegel acompanhando de perto o dualismo típico da filosofia da reflexão. Criticidade e sistematicidade absoluta permanecerão dissociadas e darão origem à oposição entre duas ciências com pretensões distintas. À Metafísica cabe o conhecimento especulativo da Idéia e a constituição do sistema da razão pura propriamente dito. A Lógica é uma ciência introdutória 4 que tem por função efetivar a crítica ao pensar do entendimento: [...] o conhecimento da razão, enquanto pertence à Lógica, é, portanto, apenas um conhecimento negativo da mesma (Hegel, 1968, p. 272). O sistema metafísico proposto por Hegel já constava, nessa época, de uma investigação dos conceitos universais ou categorias pressupostos em todo conhecimento objetivo. Enquanto ciência introdutória, a Lógica deveria tematizar previamente estas mesmas categorias com o intuito não de fornecer um sistema categorial propriamente dito, mas de pôr em xeque um determinado modo de pensar: o entendimento: O objeto de uma verdadeira Lógica será, portanto, (I) expor as formas da finitude [categorias], e de fato não empiricamente, mas como resultam da razão, todavia roubadas da razão pelo entendimento e aparecendo apenas em sua finitude (Hegel, 1968, p. 272). Ao revelar as paradoxias do modo de tematização das categorias via entendimento, a obra terminaria não apenas por lançar luzes sobre os limites intrínsecos à filosofia da reflexão, mas ao mesmo tempo deixaria 68 3 Sem dúvida, o déficit teórico fundamental da filosofia fichtiana é nunca ter esclarecido satisfatoriamente o status do eu e se quisermos aceitar um eu supra-individual a relação entre este eu e as pessoas individuais (P. Rohs, 1991, p. 127). 4 Acredito que, levando-se em conta apenas o ponto de vista especulativo, a Lógica pode servir como introdução à filosofia, enquanto ela fixa as formas finitas, enquanto ela reconhece plenamente a reflexão e a retira do caminho, livrando a especulação de todo obstáculo (Hegel, 1968, p ). Sobre o caráter introdutório da Lógica no período de Jena, cf. J.H. Trede (1972, p. 127), e especialmente, K. Düsing (1976, p. 75ss). O problema do encontro de uma ciência com função introdutória ao sistema é nuclear no pensamento hegeliano: a função coberta pela Lógica em Jena (1801/2) será ocupada posteriormente pela Fenomenologia do Espírito. Mas a questão do início do sistema permanecerá crucial mesmo com a alteração do lugar da Fenomenologia no interior do sistema, realizada por Hegel na Enciclopédia. Sobre isto, cf. Fulda (1975). 05_FILO_ART3_Luft.indd 68 24/5/ :02:32
8 Sobre a dissociação da razão moderna aberto o espaço para uma verdadeira ciência do absoluto ou nova metafísica 5. Se a Lógica é vista como a ciência da reflexão (externa) e das paradoxias inevitáveis dela resultantes, a Metafísica propriamente dita é a ciência da especulação e do conhecimento da Idéia em sua verdade. Esta dicotomia é o último fio que liga o pensamento hegeliano ao dualismo metódico da filosofia da reflexão: cortá-lo significará, por um lado, superar dilemas específicos dos sistemas de Kant, Fichte e Schelling, por outro, construir os alicerces de uma tentativa inovadora de conciliar a razão moderna consigo mesma. Em 1807, a Fenomenologia do espírito assumirá a função de introdução ao sistema de filosofia e deixará o campo aberto para a unificação de Lógica e Metafísica em uma única obra. A futura Ciência da lógica 6 terá dois objetivos básicos: a) realizar a crítica 7 à metafísica clássica; b) elaborar um sistema categorial autofundamentado de modo absoluto. Para a consecução destes objetivos, Hegel elabora uma nova concepção metódica. O método não é concebido apenas como o procedimento externo utilizado para a construção do sistemas categorias, mas a logicidade interna ao processo de autodesenvolvimento do sistema categorial ou, em terminologia hegeliana, o lógico. Assim concebido, o método contém três dimensões ou momentos: a dimensão abstrativa do entendimento, e as dimensões negativa e positiva da razão. Vemos, portanto, Hegel procurando integrar em uma mesma concepção metódica criticidade e especulação (sistematicidade absoluta). Sendo assim, a construção da nova metafísica e a crítica da antiga metafísica (a metafísica do entendimento) são momentos indissociáveis de um mesmo processo dialético. A Ciência da lógica é uma teoria dos primeiros princípios, ou melhor, do primeiro princípio responsável pela organização intrínseca às esferas do ser e do pensamento. Este primeiro princípio somente se revela de modo pleno ao pensamento que pensa a si mesmo, pois apenas nesse ambiente inteiramente reflexivo a Idéia alcança sua consolidação. Ao tematizar a si mesmo, o pensamento engendra um sistema complexo de categorias capaz de tornar explícita a Idéia e todas as suas determinações. Mas o método, o modo como o pensamento tematiza a si mesmo, não é apenas positivo; ou seja, não se trata aqui de proceder dedutivamente a partir de princípios supostos como evidentes, nem se trata simplesmente do engendramento sistemático de um sistema das categorias. O proceder guarda em si um momento de criticidade. Para Hegel, esta criticidade é uma conseqüência necessária do modo como se manifesta a dimensão abstrativa do entendimento no processo de tematização das categorias. Segundo Hegel, o pensamento como entendimento permanece na determinidade fixa e na diferença de uma [determinidade] diante da outra; um tal abstrato limitado vale, para ele, como algo para si subsistente e existente (1990d, v. 8, p. 168). A ação abstrativa do entendimento tematiza cada categoria de modo isolado, sem relacioná-la com outra(s) categoria(s). Ocorre que o sentido de cada categoria depende de sua inserção em uma rede de relações semânticas, em um campo semântico complexo. Hegel defende uma ontologia relacional: toda determinação e isso vale também para a determinação de sentido supõe relação. Abstrair certa categoria de sua relação com outra(s) categoria(s) conduz à perda de sentido. A função do momento dialético ou negativo da razão não é propriamente negar a atividade do entendimento, mas levá-la a suas últimas conseqüências: trata-se de acompanhar a diluição do sentido de certa categoria e a transição necessária 5 A partir desta terceira parte da Lógica, ou seja, o lado negativo ou aniquilador da razão, será realizada a transição para a filosofia verdadeira ou para a Metafísica [...] (Hegel, 1968, p. 274). 6 Para a relação entre a Lógica hegeliana e a filosofia transcendental kantiana, cf. K. de Boer (2004, p ). 7 Sobre a Lógica enquanto crítica à Metafísica, cf. M. Theunissen (1994) _FILO_ART3_Luft.indd 69 24/5/ :02:32
9 Eduardo Luft desta categoria àquela outra cujo sentido lhe é oposto: O momento dialético é o superar-se de tais determinações finitas e sua passagem em seu oposto (1990d, v. 8, p. 172). Em um terceiro momento, ambas as categorias serão compreendidas em sua relação de condicionamento mútuo enquanto instâncias de uma categoria sintética: por exemplo, ser e nada concebidas como momentos do devir. Desvendamos, então, o último dos momentos do lógico: O especulativo ou positivo-racional apreende a unidade das determinações em sua oposição [...] (1990d, v. 8, p. 176). Este desenvolvimento metódico triádico será reafirmado a cada novo ato de tematização do pensamento pelo próprio pensamento, promovendo a reconstrução racional do sistema das categorias. A cada momento o entendimento é conduzido a seus extremos e se refuta a si mesmo enquanto perspectiva unilateral. Como a metafísica clássica movia-se inteiramente na esfera do entendimento, a crítica ao entendimento é crítica a toda metafísica que não se eleva ao nível do pensamento dialético. A razão critica o caráter unilateral da atividade do entendimento e lança os alicerces para a construção de um sistema da razão pura dialeticamente estruturado. E é a própria razão, enquanto especulação, a responsável pela síntese dialética dos opostos e, ao final da Lógica, a responsável pela autofundamentação absoluta do saber. Esse momento ocorrerá com o encontro daquela categoria que não é condicionada externamente por nenhuma outra categoria, a Idéia Absoluta. Temos aqui uma teoria do método que representa a realização plena do projeto moderno de conciliar criticidade e sistematicidade absoluta. A criticidade da razão põe em crise a metafísica clássica e seu modo próprio de tematizar as categorias. A sistematicidade absoluta derivada da estrutura circular da Idéia emancipa a nova metafísica de qualquer pressuposição a ela externa e possibilita a autofundamentação última do saber. Tendo em mente o projeto hegeliano de consumação (Vollendung) do racionalismo moderno, resta a pergunta: o conceito de razão derivado da perspectiva hegeliana é de fato consistente? A criticidade da razão é de fato preservada no círculo absoluto do saber? Não é verdade que a dúvida legítima pressupõe possibilidade de problematização? Se a Lógica, enquanto saber plenificado, abole toda a possibilidade de revisão e problematização, não é verdade que ela exclui de si a dúvida? E se a Idéia exclui de si a dúvida, ela não exclui com isso o momento negativo-racional do lógico e resulta incompatível consigo mesma? Uma dialética renovada deve levar em conta esta problemática: o verdadeiro criticismo não pode se tornar refém do dogmatismo, tampouco do ceticismo. Ele precisa se provar como uma posição sustentável intermediária. Mas estas são questões a serem enfrentadas em outra ocasião. Referências 70 AMERIKS, K Kant s transcendental deduction as a regressive argument. Kant-Studien, 69: DE BOER, K Hegel s ontological Logic. The Review of Metaphysics, LVII(4): DÜSING, K Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik: Systematische und entwicklunsgeschichtliche Untersuchungen zum Prinzip des Idealismus und zur Dialektik. Bonn, Bouvier. [Hegel-Studien, Beiheft, 15]. FICHTE, J.G. 1971a. [Wl-1794] Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. In: Fichtes Werke. V. 1, Berlin, de Gruyter. FICHTE, J.G. 1971b. [Verg] Vergleichung des vom Herrn Prof. Schmid aufgestellten Systems mit der Wissenschaftslehre. In: J.G. FICHTE, Fichtes Werke. V. 2, Berlin, de Gruyter. FULDA, H. F Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik. 2ª ed., Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann. 05_FILO_ART3_Luft.indd 70 24/5/ :02:32
10 Sobre a dissociação da razão moderna HAYM, R Hegel und seine Zeit. 2ª ed., Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. HEGEL, G.W.F. 1968ss. [LM] Logica et Metaphysica. In: G. W. F. Hegel. Gesammelte Werke. V. 5, Hamburg, Meiner. HEGEL, G.W.F. 1990a. [Diff] Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie. In: G. W. F. Hegel: Werke in 20 Bänden. 2ª ed., V. 2, Frankfurt am Main, Suhrkamp. HEGEL, G.W.F. 1990b. [VGPh] Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. In: G. W. F. Hegel: Werke in 20 Bänden. 2ª ed., V. 20, Frankfurt am Main, Suhrkamp. HEGEL, G.W.F. 1990c. [PhG] Phänomenologie des Geistes. In: G. W. F. Hegel: Werke in 20 Bänden. V. 3, 2ª ed., Frankfurt am Main, Suhrkamp. HEGEL, G.W.F. 1990d. [Enz] Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. In: G. W. F. Hegel: Werke. V. 8-10, 2ª ed., Frankfurt am Main, Suhrkamp. KANT, I [KrV] Kritik der reinen Vernunft. 3ª ed., Hamburg, Meiner. KANT, I [Prol] Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. 7ª ed., Hamburg, Meiner. NIQUET, M Transzendentale Argumente. Frankfurt am Main, Suhrkamp. ROHS, P Johann Gottlieb Fichte. München, Beck. SCHELLING, F.W.J [DSPh] Darstellung meines Systems der Philosophie. In: F. W. J. Schelling. Ausgewählte Schriften. V. 2, 2ª ed., Frankfurt am Main, Suhrkamp. THEUNISSEN, M Sein und Schein: Die kritische Funktion der Hegelschen Logik. 2ª ed., Frankfurt am Main, Suhrkamp. TREDE, J.H Hegels Frühe Logik ( /4). Hegel-Studien, 7: _FILO_ART3_Luft.indd 71 24/5/ :02:32
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura
 O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
1. A dialética de Hegel a) envolve duas etapas, formadas por opostos encontrados na natureza (dia-noite, claro-escuro, friocalor).
 Exercícios sobre Hegel e a dialética EXERCÍCIOS 1. A dialética de Hegel a) envolve duas etapas, formadas por opostos encontrados na natureza (dia-noite, claro-escuro, friocalor). b) é incapaz de explicar
Exercícios sobre Hegel e a dialética EXERCÍCIOS 1. A dialética de Hegel a) envolve duas etapas, formadas por opostos encontrados na natureza (dia-noite, claro-escuro, friocalor). b) é incapaz de explicar
Sócrates: após destruir o saber meramente opinativo, em diálogo com seu interlocutor, dava início ã procura da definição do conceito, de modo que, o
 A busca da verdade Os filósofos pré-socráticos investigavam a natureza, sua origem de maneira racional. Para eles, o princípio é teórico, fundamento de todas as coisas. Destaca-se Heráclito e Parmênides.
A busca da verdade Os filósofos pré-socráticos investigavam a natureza, sua origem de maneira racional. Para eles, o princípio é teórico, fundamento de todas as coisas. Destaca-se Heráclito e Parmênides.
IDEALISMO ESPECULATIVO E A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO CURSO DE EXTENSÃO 22/10/ Prof. Ricardo Pereira Tassinari
 IDEALISMO ESPECULATIVO E A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO CURSO DE EXTENSÃO 22/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 20 Se tomarmos o pensar na sua representação mais próxima, aparece, α) antes
IDEALISMO ESPECULATIVO E A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO CURSO DE EXTENSÃO 22/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 20 Se tomarmos o pensar na sua representação mais próxima, aparece, α) antes
1) O problema da crítica do conhecimento: a distinção acrítica de sujeito-objeto
 TEORIA DAS CIÊNCIAS HUMANAS II 2º Semestre de 2014 Disciplina Optativa Destinada: alunos de filosofia Código: FLF0279 Pré-requisito: FLF0278 Prof. Dr. Luiz Repa Carga horária: 120h Créditos: 06 Número
TEORIA DAS CIÊNCIAS HUMANAS II 2º Semestre de 2014 Disciplina Optativa Destinada: alunos de filosofia Código: FLF0279 Pré-requisito: FLF0278 Prof. Dr. Luiz Repa Carga horária: 120h Créditos: 06 Número
Curso de extensão em Teoria do Conhecimento Moderna
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO Curso de extensão em Teoria do Conhecimento Moderna (Curso de extensão)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO Curso de extensão em Teoria do Conhecimento Moderna (Curso de extensão)
A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações
 A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações Marcio Tadeu Girotti * RESUMO Nosso objetivo consiste em apresentar a interpretação de Michelle
A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações Marcio Tadeu Girotti * RESUMO Nosso objetivo consiste em apresentar a interpretação de Michelle
TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant ( )
 TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant (1724-1804) Obras de destaque da Filosofia Kantiana Epistemologia - Crítica da Razão Pura (1781) Prolegômenos e a toda a Metafísica Futura (1783) Ética - Crítica da
TEORIA DO CONHECIMENTO Immanuel Kant (1724-1804) Obras de destaque da Filosofia Kantiana Epistemologia - Crítica da Razão Pura (1781) Prolegômenos e a toda a Metafísica Futura (1783) Ética - Crítica da
Textos de referência: Prefácio à Fenomenologia do Espírito, de G.W.F. Hegel.
 Textos de referência: Prefácio à Fenomenologia do Espírito, de G.W.F. Hegel. Totalidade e conceito A emergência do conceito de saber absoluto, ou de ciência em geral, é apresentada por Hegel na sua ciência
Textos de referência: Prefácio à Fenomenologia do Espírito, de G.W.F. Hegel. Totalidade e conceito A emergência do conceito de saber absoluto, ou de ciência em geral, é apresentada por Hegel na sua ciência
FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA PROFESSOR: REINALDO SOUZA
 FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA PROFESSOR: REINALDO SOUZA Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. G. W. F. HEGEL (1770-1831) Século XIX Revolução Industrial (meados do século XVIII) Capitalismo; Inovações
FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA PROFESSOR: REINALDO SOUZA Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. G. W. F. HEGEL (1770-1831) Século XIX Revolução Industrial (meados do século XVIII) Capitalismo; Inovações
TEORIA DO CONHECIMENTO. Aulas 2, 3, 4,5 - Avaliação 1 Joyce Shimura
 TEORIA DO CONHECIMENTO Aulas 2, 3, 4,5 - Avaliação 1 Joyce Shimura - O que é conhecer? - Como o indivíduo da imagem se relaciona com o mundo ou com o conhecimento? Janusz Kapusta, Homem do conhecimento
TEORIA DO CONHECIMENTO Aulas 2, 3, 4,5 - Avaliação 1 Joyce Shimura - O que é conhecer? - Como o indivíduo da imagem se relaciona com o mundo ou com o conhecimento? Janusz Kapusta, Homem do conhecimento
ROMANTISMO E IDEALISMO (Século XIX)
 ROMANTISMO E IDEALISMO O Idealismo alemão sofreu forte influência, na sua fase inicial, do Romantismo, movimento cultural que se manifestou na Arte, na Literatura e na Filosofia. No seu ponto culminante,
ROMANTISMO E IDEALISMO O Idealismo alemão sofreu forte influência, na sua fase inicial, do Romantismo, movimento cultural que se manifestou na Arte, na Literatura e na Filosofia. No seu ponto culminante,
Aula Véspera UFU Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Professor Uilson Fernandes Uberaba 16 Abril de 2015
 Aula Véspera UFU 2015 Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Professor Uilson Fernandes Uberaba 16 Abril de 2015 NORTE DA AVALIAÇÃO O papel da Filosofia é estimular o espírito crítico, portanto, ela não pode
Aula Véspera UFU 2015 Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Professor Uilson Fernandes Uberaba 16 Abril de 2015 NORTE DA AVALIAÇÃO O papel da Filosofia é estimular o espírito crítico, portanto, ela não pode
Análise da crítica hegeliana de Fichte em Glauben und Wissen
 Análise da crítica hegeliana de Fichte em Glauben und Wissen An analysis of Hegel s critique of Fichte in Glauben und Wissen Thiago Suman Santoro 1 RESUMO No seu livro intitulado Glauben und Wissen, Hegel
Análise da crítica hegeliana de Fichte em Glauben und Wissen An analysis of Hegel s critique of Fichte in Glauben und Wissen Thiago Suman Santoro 1 RESUMO No seu livro intitulado Glauben und Wissen, Hegel
Dedução transcendental do tempo? uma dificuldade no sistema fichteano
 Dedução transcendental do tempo? uma dificuldade no sistema fichteano Thiago Suman Santoro 1 O projeto da Wissenschaftslehre de Fichte pretende ser um acabamento teórico do sistema de filosofia transcendental
Dedução transcendental do tempo? uma dificuldade no sistema fichteano Thiago Suman Santoro 1 O projeto da Wissenschaftslehre de Fichte pretende ser um acabamento teórico do sistema de filosofia transcendental
Teoria do Conhecimento:
 Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
Beckenkamp, Joãosinho. Entre Kant e Hegel. Porto Alegre: Edipucrs, 2004, 288 p.
 Beckenkamp, Joãosinho. Entre Kant e Hegel. Porto Alegre: Edipucrs, 2004, 288 p. Pedro Geraldo Aparecido Novelli 1 Entre Kant e Hegel tem por objetivo mostrar a filosofia que vai além de Kant e Hegel, mas
Beckenkamp, Joãosinho. Entre Kant e Hegel. Porto Alegre: Edipucrs, 2004, 288 p. Pedro Geraldo Aparecido Novelli 1 Entre Kant e Hegel tem por objetivo mostrar a filosofia que vai além de Kant e Hegel, mas
BuscaLegis.ccj.ufsc.br
 BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
A questão da Expressão no processo de criação artístico na Estética de Hegel.
 A questão da Expressão no processo de criação artístico na Estética de Hegel. Paulo Roberto Monteiro de Araujo. Professor do Programa em Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade
A questão da Expressão no processo de criação artístico na Estética de Hegel. Paulo Roberto Monteiro de Araujo. Professor do Programa em Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade
Lógica e estética em Hegel
 Marco Aurélio Werle Universidade de São Paulo (USP) Pretendo a seguir lançar algumas ideias sobre a relação entre lógica e estética na filosofia de Hegel, ou seja, tentar pensar essa parte da filosofia
Marco Aurélio Werle Universidade de São Paulo (USP) Pretendo a seguir lançar algumas ideias sobre a relação entre lógica e estética na filosofia de Hegel, ou seja, tentar pensar essa parte da filosofia
IDEALISMO ESPECULATIVO, FELICIDADE E ESPÍRITO LIVRE CURSO DE EXTENSÃO 24/10/ Prof. Ricardo Pereira Tassinari
 IDEALISMO ESPECULATIVO, FELICIDADE E ESPÍRITO LIVRE CURSO DE EXTENSÃO 24/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 PSICOLOGIA: O ESPÍRITO 440 ( ) O Espírito começa, pois, só a partir do seu
IDEALISMO ESPECULATIVO, FELICIDADE E ESPÍRITO LIVRE CURSO DE EXTENSÃO 24/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 PSICOLOGIA: O ESPÍRITO 440 ( ) O Espírito começa, pois, só a partir do seu
DESCARTES E A FILOSOFIA DO. Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson
 DESCARTES E A FILOSOFIA DO COGITO Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson René Descartes (1596 1650) 1650) Ponto de partida - Constatação da crise das ciências e do saber em
DESCARTES E A FILOSOFIA DO COGITO Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson René Descartes (1596 1650) 1650) Ponto de partida - Constatação da crise das ciências e do saber em
A noção de vontade livre na Filosofia do Direito de Hegel
 A noção de vontade livre na Filosofia do Direito de Hegel Luiz Fernando Barrére Martin Universidade Federal do ABC (UFABC). Ao começarmos a ler o prefácio à Filosofia do Direito 1, observamos Hegel ocupado
A noção de vontade livre na Filosofia do Direito de Hegel Luiz Fernando Barrére Martin Universidade Federal do ABC (UFABC). Ao começarmos a ler o prefácio à Filosofia do Direito 1, observamos Hegel ocupado
O ESTADO MODERNO COMO PROCESSO HISTÓRICO A formação do Estado na concepção dialética de Hegel
 1 O ESTADO MODERNO COMO PROCESSO HISTÓRICO A formação do Estado na concepção dialética de Hegel ELINE LUQUE TEIXEIRA 1 eline.lt@hotmail.com Sumário:Introdução; 1. A dialética hegeliana; 2. A concepção
1 O ESTADO MODERNO COMO PROCESSO HISTÓRICO A formação do Estado na concepção dialética de Hegel ELINE LUQUE TEIXEIRA 1 eline.lt@hotmail.com Sumário:Introdução; 1. A dialética hegeliana; 2. A concepção
PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02
 PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02 2 A EPISTEMOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO Ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. Como podemos conhecer
PROFESSOR: MAC DOWELL DISCIPLINA: FILOSOFIA CONTEÚDO: TEORIA DO CONHECIMENTO aula - 02 2 A EPISTEMOLOGIA: TEORIA DO CONHECIMENTO Ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento. Como podemos conhecer
Universidade Federal de São Carlos
 Código e nome da disciplina: História da Filosofia Moderna 2 2017/1 Professor responsável: Paulo R. Licht dos Santos Objetivos gerais: Fazer com que o estudante adquira uma prática de leitura aprofundada
Código e nome da disciplina: História da Filosofia Moderna 2 2017/1 Professor responsável: Paulo R. Licht dos Santos Objetivos gerais: Fazer com que o estudante adquira uma prática de leitura aprofundada
IDEALISMO ESPECULATIVO E ESPÍRITO ABSOLUTO ARTE, RELIGIÃO E FILOSOFIA CURSO DE EXTENSÃO 24/10/ Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1
 IDEALISMO ESPECULATIVO E ESPÍRITO ABSOLUTO ARTE, RELIGIÃO E FILOSOFIA CURSO DE EXTENSÃO 24/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 535 O Estado é a substância ética autoconsciente - a unificação
IDEALISMO ESPECULATIVO E ESPÍRITO ABSOLUTO ARTE, RELIGIÃO E FILOSOFIA CURSO DE EXTENSÃO 24/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 535 O Estado é a substância ética autoconsciente - a unificação
A REVOLUÇÃO CARTESIANA. Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV.
 A REVOLUÇÃO CARTESIANA Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV. Descartes (1596-1650) foi educado por jesuítas. Ele iniciou a filosofia moderna com um
A REVOLUÇÃO CARTESIANA Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV. Descartes (1596-1650) foi educado por jesuítas. Ele iniciou a filosofia moderna com um
Introdução ao pensamento de Marx 1
 Introdução ao pensamento de Marx 1 I. Nenhum pensador teve mais influência que Marx, e nenhum foi tão mal compreendido. Ele é um filósofo desconhecido. Muitos motivos fizeram com que seu pensamento filosófico
Introdução ao pensamento de Marx 1 I. Nenhum pensador teve mais influência que Marx, e nenhum foi tão mal compreendido. Ele é um filósofo desconhecido. Muitos motivos fizeram com que seu pensamento filosófico
RESENHA. Arte e Filosofia no Idealismo Alemão, organizado por Marco Aurélio Werle e Pedro Fernandes Galé. (São Paulo, Barcarolla, 2009)
 RESENHA. Arte e Filosofia no Idealismo Alemão, organizado por Marco Aurélio Werle e Pedro Fernandes Galé. (São Paulo, Barcarolla, 2009) Mario Videira Doutor em Filosofia (FFLCH-USP) A arte [...] consegue
RESENHA. Arte e Filosofia no Idealismo Alemão, organizado por Marco Aurélio Werle e Pedro Fernandes Galé. (São Paulo, Barcarolla, 2009) Mario Videira Doutor em Filosofia (FFLCH-USP) A arte [...] consegue
A filosofia da história hegeliana e a trindade cristã
 A filosofia da história hegeliana e a trindade cristã Resumo: Lincoln Menezes de França 1 A razão, segundo Hegel, rege o mundo. Essa razão, ao mesmo tempo em que caracteriza o homem enquanto tal, em suas
A filosofia da história hegeliana e a trindade cristã Resumo: Lincoln Menezes de França 1 A razão, segundo Hegel, rege o mundo. Essa razão, ao mesmo tempo em que caracteriza o homem enquanto tal, em suas
Doutrina Transcendental do Método, muito díspares em extensão. 2 ADORNO, T. W. Metaphysics. Stanford: Stanford University Press, 2001, p. 25.
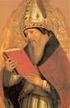 10 1 Introdução Esta dissertação se concentra no marco do pensamento de Kant, a obra Crítica da Razão Pura, embora recorra a trabalhos pré-críticos, à correspondência de Kant, bem como a textos de História
10 1 Introdução Esta dissertação se concentra no marco do pensamento de Kant, a obra Crítica da Razão Pura, embora recorra a trabalhos pré-críticos, à correspondência de Kant, bem como a textos de História
O Conceito em Movimento na Lógica Especulativa: Uma Perspectiva Crítica da Lógica Hegeliana
 O Conceito em Movimento na Lógica Especulativa: Uma Perspectiva Crítica da Lógica Hegeliana The concept under Movement on the Especutative Logics: A Hegelian Critic Logics Perspective João Miguel Back
O Conceito em Movimento na Lógica Especulativa: Uma Perspectiva Crítica da Lógica Hegeliana The concept under Movement on the Especutative Logics: A Hegelian Critic Logics Perspective João Miguel Back
A Crítica e Transformação da Filosofia da Subjetividade na Fenomenologia do Espírito
 Artigos Revista Eletrônica Estudos Hegelianos Ano 5, nº8, Junho-2008: 25-35 A Crítica e Transformação da Filosofia da Subjetividade na Fenomenologia do Espírito Christian Klotz RESUMO: Na Fenomenologia
Artigos Revista Eletrônica Estudos Hegelianos Ano 5, nº8, Junho-2008: 25-35 A Crítica e Transformação da Filosofia da Subjetividade na Fenomenologia do Espírito Christian Klotz RESUMO: Na Fenomenologia
O sistema filosófico criado por Hegel (1770 a 1831), o hegelianismo, é tributário, de modo especial, da filosofia grega, do racionalismo cartesiano e
 HEGEL O sistema filosófico criado por Hegel (1770 a 1831), o hegelianismo, é tributário, de modo especial, da filosofia grega, do racionalismo cartesiano e do idealismo alemão, do qual representa o desfecho
HEGEL O sistema filosófico criado por Hegel (1770 a 1831), o hegelianismo, é tributário, de modo especial, da filosofia grega, do racionalismo cartesiano e do idealismo alemão, do qual representa o desfecho
Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen
 1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
A teoria do conhecimento
 conhecimento 1 A filosofia se divide em três grandes campos de investigação. A teoria da ciência, a teoria dos valores e a concepção de universo. Esta última é na verdade a metafísica; a teoria dos valores
conhecimento 1 A filosofia se divide em três grandes campos de investigação. A teoria da ciência, a teoria dos valores e a concepção de universo. Esta última é na verdade a metafísica; a teoria dos valores
Teorias do conhecimento. Profª Karina Oliveira Bezerra
 Teorias do conhecimento Profª Karina Oliveira Bezerra Teoria do conhecimento ou epistemologia Entre os principais problemas filosóficos está o do conhecimento. Para que investigar o conhecimento? Para
Teorias do conhecimento Profª Karina Oliveira Bezerra Teoria do conhecimento ou epistemologia Entre os principais problemas filosóficos está o do conhecimento. Para que investigar o conhecimento? Para
KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA. Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense
 KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense marcos_giusti@uol.com.br Resumo: A crítica kantiana à metafísica, diferentemente do que exprimem
KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense marcos_giusti@uol.com.br Resumo: A crítica kantiana à metafísica, diferentemente do que exprimem
filosofia alemã: idealismo e romantismo
 filosofia alemã: idealismo e romantismo não possuímos conceitos do entendimento e, portanto, tão-pouco elementos para o conhecimento das coisas, senão quando nos pode ser dada a intuição correspondente
filosofia alemã: idealismo e romantismo não possuímos conceitos do entendimento e, portanto, tão-pouco elementos para o conhecimento das coisas, senão quando nos pode ser dada a intuição correspondente
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010
 NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010 12 Daniel José Crocoli * A obra Sobre ética apresenta as diferentes formas de se pensar a dimensão ética, fazendo
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010 12 Daniel José Crocoli * A obra Sobre ética apresenta as diferentes formas de se pensar a dimensão ética, fazendo
"O verdadeiro é o todo." Georg Hegel
 "O verdadeiro é o todo." Georg Hegel Hegel: o evangelista do absoluto By zéck Biografia Georg Wilhelm F. Hegel (1770-1831) 1831) Nasceu em Stuttgart. Foi colega de Schelling. Influências Spinoza, Kant
"O verdadeiro é o todo." Georg Hegel Hegel: o evangelista do absoluto By zéck Biografia Georg Wilhelm F. Hegel (1770-1831) 1831) Nasceu em Stuttgart. Foi colega de Schelling. Influências Spinoza, Kant
Turma/Disciplina /História da Filosofia Moderna /1. Número de Créditos Teóricos Práticos Estágio Total
 Seção 1. Caracterização complementar da turma/disciplina Turma/Disciplina 1001074/História da Filosofia Moderna 2 2018/1 Professor Responsável: Objetivos Gerais da Disciplina Paulo R. Licht dos Santos
Seção 1. Caracterização complementar da turma/disciplina Turma/Disciplina 1001074/História da Filosofia Moderna 2 2018/1 Professor Responsável: Objetivos Gerais da Disciplina Paulo R. Licht dos Santos
Preocupações do pensamento. kantiano
 Kant Preocupações do pensamento Correntes filosóficas Racionalismo cartesiano Empirismo humeano kantiano Como é possível conhecer? Crítica da Razão Pura Como o Homem deve agir? Problema ético Crítica da
Kant Preocupações do pensamento Correntes filosóficas Racionalismo cartesiano Empirismo humeano kantiano Como é possível conhecer? Crítica da Razão Pura Como o Homem deve agir? Problema ético Crítica da
Origem do conhecimento
 1.2.1. Origem do conhecimento ORIGEM DO CONHECIMENTO RACIONALISMO (Racionalismo do século XVII) EMPIRISMO (Empirismo inglês do século XVIII) Filósofos: René Descartes (1596-1650) Gottfried Leibniz (1646-1716)
1.2.1. Origem do conhecimento ORIGEM DO CONHECIMENTO RACIONALISMO (Racionalismo do século XVII) EMPIRISMO (Empirismo inglês do século XVIII) Filósofos: René Descartes (1596-1650) Gottfried Leibniz (1646-1716)
4 - Considerações finais
 4 - Considerações finais Eduardo Ramos Coimbra de Souza SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros SOUZA, ERC. Considerações finais. In: Schopenhauer e os conhecimentos intuitivo e abstrato: uma teoria
4 - Considerações finais Eduardo Ramos Coimbra de Souza SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros SOUZA, ERC. Considerações finais. In: Schopenhauer e os conhecimentos intuitivo e abstrato: uma teoria
O conceito de espírito como a esfera autorreferente do indivíduo Um momento da noção hegeliana de subjetividade
 O conceito de espírito como a esfera autorreferente do indivíduo Um momento da noção hegeliana de subjetividade Fábio C. Malaguti, M.A., doutorando ( Centro de Pesquisa de Filosofia Clássica Alemã Ruhr-Universität
O conceito de espírito como a esfera autorreferente do indivíduo Um momento da noção hegeliana de subjetividade Fábio C. Malaguti, M.A., doutorando ( Centro de Pesquisa de Filosofia Clássica Alemã Ruhr-Universität
COLÉGIO MAGNUM BURITIS
 COLÉGIO MAGNUM BURITIS PROGRAMAÇÃO DE 1ª ETAPA 2ª SÉRIE PROFESSOR (A): Alair Matilde Naves DISCIPLINA: Filosofia TEMA TRANSVERSAL: A ESCOLA E AS HABILIDADES PARA A VIDA NO SÉCULO XXI DIMENSÕES E DESENVOLVIMENTO
COLÉGIO MAGNUM BURITIS PROGRAMAÇÃO DE 1ª ETAPA 2ª SÉRIE PROFESSOR (A): Alair Matilde Naves DISCIPLINA: Filosofia TEMA TRANSVERSAL: A ESCOLA E AS HABILIDADES PARA A VIDA NO SÉCULO XXI DIMENSÕES E DESENVOLVIMENTO
CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA
 CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA O GRANDE RACIONALISMO O termo RACIONALISMO, no sentido geral, é empregado para designar a concepção de nada existe sem que haja uma razão para isso. Uma pessoa
CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA O GRANDE RACIONALISMO O termo RACIONALISMO, no sentido geral, é empregado para designar a concepção de nada existe sem que haja uma razão para isso. Uma pessoa
Plano de Ensino. Seção 1. Caracterização complementar da turma/disciplina. Turma/Disciplina: História da Filosofia Moderna /2
 Plano de Ensino Seção 1. Caracterização complementar da turma/disciplina Turma/Disciplina: História da Filosofia Moderna 3 2018/2 Professor Responsável: Francisco Prata Gaspar Objetivos Gerais da Disciplina.
Plano de Ensino Seção 1. Caracterização complementar da turma/disciplina Turma/Disciplina: História da Filosofia Moderna 3 2018/2 Professor Responsável: Francisco Prata Gaspar Objetivos Gerais da Disciplina.
Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões
 Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões Questão nº 1 - Resposta B Justificativa: O amante do mito é de certo modo também um filósofo, uma vez que o mito se compõe de maravilhas
Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões Questão nº 1 - Resposta B Justificativa: O amante do mito é de certo modo também um filósofo, uma vez que o mito se compõe de maravilhas
Kant e o Princípio Supremo da Moralidade
 Kant e o Princípio Supremo da Moralidade ÉTICA II - 2017 16.03.2018 Hélio Lima LEITE, Flamarion T. 10 Lições sobre Kant. Petrópolis: Vozes, 2013 O Sistema kantiano Estética Transcendental Experiência Lógica
Kant e o Princípio Supremo da Moralidade ÉTICA II - 2017 16.03.2018 Hélio Lima LEITE, Flamarion T. 10 Lições sobre Kant. Petrópolis: Vozes, 2013 O Sistema kantiano Estética Transcendental Experiência Lógica
Filosofia. IV Conhecimento e Racionalidade Científica e Tecnológica 1. DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA ACTIVIDADE COGNOSCITIVA JOÃO GABRIEL DA FONSECA
 Filosofia IV Conhecimento e Racionalidade Científica e Tecnológica 1. DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA ACTIVIDADE COGNOSCITIVA JOÃO GABRIEL DA FONSECA 1.2 Teorias Explicativas do Conhecimento René Descartes
Filosofia IV Conhecimento e Racionalidade Científica e Tecnológica 1. DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA ACTIVIDADE COGNOSCITIVA JOÃO GABRIEL DA FONSECA 1.2 Teorias Explicativas do Conhecimento René Descartes
Racionalismo. René Descartes Prof. Deivid
 Racionalismo René Descartes Prof. Deivid Índice O que é o racionalismo? René Descartes Racionalismo de Descartes Nada satisfaz Descartes? Descartes e o saber tradicional Objetivo de Descartes A importância
Racionalismo René Descartes Prof. Deivid Índice O que é o racionalismo? René Descartes Racionalismo de Descartes Nada satisfaz Descartes? Descartes e o saber tradicional Objetivo de Descartes A importância
Pensamento do século XIX
 Pensamento do século XIX Século XIX Expansão do capitalismo e os novos ideais Considera-se a Revolução Francesa o marco inicial da época contemporânea. Junto com ela, propagaram-se os ideais de liberdade,
Pensamento do século XIX Século XIX Expansão do capitalismo e os novos ideais Considera-se a Revolução Francesa o marco inicial da época contemporânea. Junto com ela, propagaram-se os ideais de liberdade,
A Modernidade e o Direito
 A Modernidade e o Direito A Modernidade e o Direito 1. A proposta ética de Habermas não comporta conteúdos. Ela é formal. Ela apresenta um procedimento, fundamentado na racionalidade comunicativa, de resolução
A Modernidade e o Direito A Modernidade e o Direito 1. A proposta ética de Habermas não comporta conteúdos. Ela é formal. Ela apresenta um procedimento, fundamentado na racionalidade comunicativa, de resolução
O conceito de reflexão de Hegel como crítica aos conceitos de essência e de reflexão tradicionais 1
 O conceito de reflexão de Hegel como crítica aos conceitos de essência e de reflexão tradicionais 1 Hegel s Concept of Reflection as a Criticism to The Traditional Concepts of Essence and Reflection CHRISTIAN
O conceito de reflexão de Hegel como crítica aos conceitos de essência e de reflexão tradicionais 1 Hegel s Concept of Reflection as a Criticism to The Traditional Concepts of Essence and Reflection CHRISTIAN
AGRUPAMENTDE ESCOLAS DE CARVALHOS. Planificação Filo sofia 10º ano. Iniciação à atividade filosófica O que é a filosofia?
 Iniciação à atividade filosófica O que é a filosofia? 1. O que é a filosofia? 1.1 O problema da definição. A origem etimológica. A filosofia como atitude interrogativa Problemas/áreas da filosofia 1.2
Iniciação à atividade filosófica O que é a filosofia? 1. O que é a filosofia? 1.1 O problema da definição. A origem etimológica. A filosofia como atitude interrogativa Problemas/áreas da filosofia 1.2
A ontologização da lógica em Hegel enquanto resgate da ontologia
 92 A ontologização da lógica em Hegel enquanto resgate da ontologia Regenaldo da Costa Neste capítulo, pretendo apresentar uma pequena introdução à concepção da ontologização da lógica na compreensão do
92 A ontologização da lógica em Hegel enquanto resgate da ontologia Regenaldo da Costa Neste capítulo, pretendo apresentar uma pequena introdução à concepção da ontologização da lógica na compreensão do
Filosofia (aula 13) Dimmy Chaar Prof. de Filosofia. SAE
 Filosofia (aula 13) Prof. de Filosofia SAE leodcc@hotmail.com (...) embora todo conhecimento comece com a experiência, nem por isso ele se origina justamente da experiência. Pois poderia bem acontecer
Filosofia (aula 13) Prof. de Filosofia SAE leodcc@hotmail.com (...) embora todo conhecimento comece com a experiência, nem por isso ele se origina justamente da experiência. Pois poderia bem acontecer
Filosofia da Comunicação:
 MÍLOVIC, Míroslav. Filosofia da Comunicação: Para uma crítica da Modernidade. Tradução do manuscrito em inglês por Verrah Chamma. Brasília: Plano Editora, 2002, 310 p. Paulo Roberto Andrade de Almeida
MÍLOVIC, Míroslav. Filosofia da Comunicação: Para uma crítica da Modernidade. Tradução do manuscrito em inglês por Verrah Chamma. Brasília: Plano Editora, 2002, 310 p. Paulo Roberto Andrade de Almeida
Mario Farina, Critica, símbolo e storia in Hegel. La determinazione hegeliana dell estetica
 Revista de Estud(i)os sobre Fichte 11 2016 Verano/Verão 2015 Mario Farina, Critica, símbolo e storia in Hegel. La determinazione hegeliana dell estetica Giorgia Cecchinato Edição electrónica URL: http://journals.openedition.org/ref/653
Revista de Estud(i)os sobre Fichte 11 2016 Verano/Verão 2015 Mario Farina, Critica, símbolo e storia in Hegel. La determinazione hegeliana dell estetica Giorgia Cecchinato Edição electrónica URL: http://journals.openedition.org/ref/653
Faculdade de ciências jurídicas. e sociais aplicadas do Araguaia Carolina e Maria Rosa
 Faculdade de ciências jurídicas e sociais aplicadas do Araguaia Carolina e Maria Rosa TEORIA GERAL DO CONHECIMENTO 06/47 20/03 Formas do Conhecimento SENSAÇÃO PERCEPÇÃO IMAGINAÇÃO MEMÓRIA LINGUAGEM RACIOCÍNIO
Faculdade de ciências jurídicas e sociais aplicadas do Araguaia Carolina e Maria Rosa TEORIA GERAL DO CONHECIMENTO 06/47 20/03 Formas do Conhecimento SENSAÇÃO PERCEPÇÃO IMAGINAÇÃO MEMÓRIA LINGUAGEM RACIOCÍNIO
O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura
 O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura Jean Carlos Demboski * A questão moral em Immanuel Kant é referência para compreender as mudanças ocorridas
O caminho moral em Kant: da transição da metafísica dos costumes para a crítica da razão prática pura Jean Carlos Demboski * A questão moral em Immanuel Kant é referência para compreender as mudanças ocorridas
As concepções do Ser humano na filosofia contemporânea
 As concepções do Ser humano na filosofia contemporânea A concepção do ser humano no Idealismo alemão Pré Romantismo - séc. XVIII Resistência à Ilustração: mecanicismo de newtoniamo e empirismo de Locke
As concepções do Ser humano na filosofia contemporânea A concepção do ser humano no Idealismo alemão Pré Romantismo - séc. XVIII Resistência à Ilustração: mecanicismo de newtoniamo e empirismo de Locke
Descartes filósofo e matemático francês Representante do racionalismo moderno. Profs: Ana Vigário e Ângela Leite
 Descartes filósofo e matemático francês 1596-1650 Representante do racionalismo moderno Razão como principal fonte de conhecimento verdadeiro logicamente necessário universalmente válido Inspiração: modelo
Descartes filósofo e matemático francês 1596-1650 Representante do racionalismo moderno Razão como principal fonte de conhecimento verdadeiro logicamente necessário universalmente válido Inspiração: modelo
O CONCEITO DE NATUREZA EM SCHELLING: Um estudo sobre os escritos de
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CENTRO DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA (MESTRADO) O CONCEITO DE NATUREZA EM SCHELLING: Um estudo sobre os escritos de 1797-1799.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CENTRO DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA (MESTRADO) O CONCEITO DE NATUREZA EM SCHELLING: Um estudo sobre os escritos de 1797-1799.
IMMANUEL KANT ( )
 CONTEXTO HISTÓRICO Segunda metade do século XVIII época de transformações econômicas, sociais, políticas e cultural-ideológicas. A Revolução Industrial e a consolidação do Capitalismo. A Revolução Científica,
CONTEXTO HISTÓRICO Segunda metade do século XVIII época de transformações econômicas, sociais, políticas e cultural-ideológicas. A Revolução Industrial e a consolidação do Capitalismo. A Revolução Científica,
CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA. Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon.
 CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA Artur Bezzi Gunther Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon. 1. Duração: 02 horas e 15 minutos. 2. Recursos didáticos:
CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA Artur Bezzi Gunther Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon. 1. Duração: 02 horas e 15 minutos. 2. Recursos didáticos:
A IMAGINAÇÃO PRODUTORA NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA 1
 A IMAGINAÇÃO PRODUTORA NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA 1 Hálwaro Carvalho Freire PPG Filosofia Universidade Federal do Ceará (CAPES) halwarocf@yahoo.com.br Resumo O seguinte artigo tem como principal objetivo
A IMAGINAÇÃO PRODUTORA NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA 1 Hálwaro Carvalho Freire PPG Filosofia Universidade Federal do Ceará (CAPES) halwarocf@yahoo.com.br Resumo O seguinte artigo tem como principal objetivo
Relação entre a contradição e o finito na Ciência da Lógica
 Relação entre a contradição e o finito na Ciência da Lógica Luiz Fernando Barrére Martin Doutor em Filosofia Universidade Federal do ABC GT Hegel Palavras-chave: Hegel dialética contradição finito - lógica
Relação entre a contradição e o finito na Ciência da Lógica Luiz Fernando Barrére Martin Doutor em Filosofia Universidade Federal do ABC GT Hegel Palavras-chave: Hegel dialética contradição finito - lógica
O FUNDAMENTO LÓGICO DA PASSAGEM DO ARBÍTRIO PARA A LIBERDADE ÉTICA EM HEGEL
 O FUNDAMENTO LÓGICO DA PASSAGEM DO ARBÍTRIO PARA A LIBERDADE ÉTICA EM HEGEL The Logical Foundation of the Path from Arbitrariness to Ethical Freedom in Hegel 5 Hans Christian Klotz* RESUMO O presente trabalho
O FUNDAMENTO LÓGICO DA PASSAGEM DO ARBÍTRIO PARA A LIBERDADE ÉTICA EM HEGEL The Logical Foundation of the Path from Arbitrariness to Ethical Freedom in Hegel 5 Hans Christian Klotz* RESUMO O presente trabalho
AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que
 AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. RUBENS Todo RAMIRO exemplo JR (TODOS citado
AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. RUBENS Todo RAMIRO exemplo JR (TODOS citado
Unidade 2: História da Filosofia. Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes
 Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes Períodos Históricos da Filosofia Filosofia Grega ou Antiga (Séc. VI a.c. ao VI d.c.) Filosofia Patrística (Séc. I ao VII) Filosofia
Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes Períodos Históricos da Filosofia Filosofia Grega ou Antiga (Séc. VI a.c. ao VI d.c.) Filosofia Patrística (Séc. I ao VII) Filosofia
CONVERSA SOBRE A CONCILIAÇÃO ENTRE NATUREZA E ESPÍRITO EM HEGEL (OU: O QUE CONVERSAR EM UMA KNEIPE DE BERLIM)
 CONVERSA SOBRE A CONCILIAÇÃO ENTRE NATUREZA E ESPÍRITO EM HEGEL (OU: O QUE CONVERSAR EM UMA KNEIPE DE BERLIM) FRANCISCO LUCIANO TEIXEIRA FILHO n o 9 - semestre 1-2016 166 T arde quente! Nada de muito urgente
CONVERSA SOBRE A CONCILIAÇÃO ENTRE NATUREZA E ESPÍRITO EM HEGEL (OU: O QUE CONVERSAR EM UMA KNEIPE DE BERLIM) FRANCISCO LUCIANO TEIXEIRA FILHO n o 9 - semestre 1-2016 166 T arde quente! Nada de muito urgente
3 Tempo e Espaço na Estética transcendental
 3 Tempo e Espaço na Estética transcendental 3.1. Exposição metafísica dos conceitos de tempo e espaço Kant antecipa então na Dissertação alguns argumentos que serão posteriormente, na Crítica da razão
3 Tempo e Espaço na Estética transcendental 3.1. Exposição metafísica dos conceitos de tempo e espaço Kant antecipa então na Dissertação alguns argumentos que serão posteriormente, na Crítica da razão
Kant e a filosofia crítica. Professora Gisele Masson UEPG
 Kant e a filosofia crítica Programa de Pós-Graduação em Educação Professora Gisele Masson UEPG Immanuel Kant (1724-1804) Principais obras Crítica da razão pura - 1781 Fundamentação da Metafísica dos Costumes
Kant e a filosofia crítica Programa de Pós-Graduação em Educação Professora Gisele Masson UEPG Immanuel Kant (1724-1804) Principais obras Crítica da razão pura - 1781 Fundamentação da Metafísica dos Costumes
Resenha ISSN ISBN EDER SOARES SANTOS. Universidade Estadual de Londrina.
 Resenha Serra, Alice Mara (2010). Archäologie des (Un)bewussten: Freuds frühe Untersuchung der Errinerungschichtung und Husserls Phänomenologie des Unbewussten. Freiburg (AL): Ergon Verlag, 2010. ISSN
Resenha Serra, Alice Mara (2010). Archäologie des (Un)bewussten: Freuds frühe Untersuchung der Errinerungschichtung und Husserls Phänomenologie des Unbewussten. Freiburg (AL): Ergon Verlag, 2010. ISSN
Kant e a Razão Crítica
 Kant e a Razão Crítica Kant e a Razão Crítica 1. Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei (independentemente da natureza dos objetos do querer). O princípio
Kant e a Razão Crítica Kant e a Razão Crítica 1. Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei (independentemente da natureza dos objetos do querer). O princípio
BuscaLegis.ccj.ufsc.br
 BuscaLegis.ccj.ufsc.br Hermenêutica jurídica Maria Luiza Quaresma Tonelli* Hermenêutica é um vocábulo derivado do grego hermeneuein, comumente tida como filosofia da interpretação. Muitos autores associam
BuscaLegis.ccj.ufsc.br Hermenêutica jurídica Maria Luiza Quaresma Tonelli* Hermenêutica é um vocábulo derivado do grego hermeneuein, comumente tida como filosofia da interpretação. Muitos autores associam
Ferrer, Diogo, O sistema da incompletude. A Doutrina da Ciência de 1794 a 1804
 Revista de Estud(i)os sobre Fichte 13 2017 Verano/Verão 2016 Ferrer, Diogo, O sistema da incompletude. A Doutrina da Ciência de 1794 a 1804 Luis Fellipe Garcia Edição electrónica URL: http://journals.openedition.org/ref/718
Revista de Estud(i)os sobre Fichte 13 2017 Verano/Verão 2016 Ferrer, Diogo, O sistema da incompletude. A Doutrina da Ciência de 1794 a 1804 Luis Fellipe Garcia Edição electrónica URL: http://journals.openedition.org/ref/718
contextualização com a intenção de provocar um melhor entendimento acerca do assunto. HEGEL E O ESPÍRITO ABSOLUTO
 AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. Todo exemplo citado em aula é, meramente,
AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. Todo exemplo citado em aula é, meramente,
Filosofia Moderna. Antecedentes e pensamento cartesiano (epistemologia racionalista)
 Filosofia Moderna Antecedentes e pensamento cartesiano (epistemologia racionalista) O projeto moderno se define, em linhas gerais, pela busca da fundamentação da possibilidade de conhecimento e das teorias
Filosofia Moderna Antecedentes e pensamento cartesiano (epistemologia racionalista) O projeto moderno se define, em linhas gerais, pela busca da fundamentação da possibilidade de conhecimento e das teorias
Aula 19. Bora descansar? Filosofia Moderna - Kant
 Aula 19 Bora descansar? Filosofia Moderna - Kant Kant (1724-1804) Nasceu em Könisberg, 22/04/1724 Estudos Collegium Fredericiacum Universidade Könisberg Docência Inicialmente aulas particulares Nomeado
Aula 19 Bora descansar? Filosofia Moderna - Kant Kant (1724-1804) Nasceu em Könisberg, 22/04/1724 Estudos Collegium Fredericiacum Universidade Könisberg Docência Inicialmente aulas particulares Nomeado
FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES
 1 FIL001 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 8 h FIL063 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 68 h O que é Filosofia; problemas gerais: conhecimento, ciência, política, moral, estética, antropologia filosófica, lógica, correntes
1 FIL001 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 8 h FIL063 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 68 h O que é Filosofia; problemas gerais: conhecimento, ciência, política, moral, estética, antropologia filosófica, lógica, correntes
O PROBLEMA DO COMEÇO DA LÓGICA EM HEGEL
 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE FILOSOFIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DOUTORADO EM FILOSOFIA JOÃO MIGUEL BACK O PROBLEMA DO COMEÇO DA LÓGICA EM HEGEL Prof.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE FILOSOFIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DOUTORADO EM FILOSOFIA JOÃO MIGUEL BACK O PROBLEMA DO COMEÇO DA LÓGICA EM HEGEL Prof.
OBRA DA ÉPOCA MODERNA: FUNDAMENTAÇÃO DA METAFÍSICA DOS COSTUMES, DE KANT
 Ano lectivo de 2004 / 2005 FILOSOFIA 12º ANO PLANIFICAÇÃO OBRA DA ÉPOCA MODERNA: FUNDAMENTAÇÃO DA METAFÍSICA DOS COSTUMES, DE KANT ESCOLA SECUNDÁRIA ALBERTO SAMPAIO 1 Ano lectivo de 2004 / 2005 FILOSOFIA
Ano lectivo de 2004 / 2005 FILOSOFIA 12º ANO PLANIFICAÇÃO OBRA DA ÉPOCA MODERNA: FUNDAMENTAÇÃO DA METAFÍSICA DOS COSTUMES, DE KANT ESCOLA SECUNDÁRIA ALBERTO SAMPAIO 1 Ano lectivo de 2004 / 2005 FILOSOFIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 Teoria das Ciências Humanas I 1º Semestre de 2007 Disciplina Obrigatória Destinada: alunos de Filosofia e de outros departamentos Código: FLF0278 Pré-requisito: FLF0113 e FLF0114 Prof. Vladimir Pinheiro
Teoria das Ciências Humanas I 1º Semestre de 2007 Disciplina Obrigatória Destinada: alunos de Filosofia e de outros departamentos Código: FLF0278 Pré-requisito: FLF0113 e FLF0114 Prof. Vladimir Pinheiro
PROBLEMA DA ORIGEM DO CONHECIMENTO
 PROBLEMA DA ORIGEM DO CONHECIMENTO Questão Problema: O conhecimento alcança-se através da razão ou da experiência? (ver página 50) Tipos de conhecimento acordo a sua origem Tipos de juízo de acordo com
PROBLEMA DA ORIGEM DO CONHECIMENTO Questão Problema: O conhecimento alcança-se através da razão ou da experiência? (ver página 50) Tipos de conhecimento acordo a sua origem Tipos de juízo de acordo com
A. Independência e dependência da consciência de si: dominação e escravidão
 A. Independência e dependência da consciência de si: dominação e escravidão [Primeira secção do capítulo IV A verdade da certeza de si mesmo] As etapas do itinerário fenomenológico: 1. CONSCIÊNCIA (em
A. Independência e dependência da consciência de si: dominação e escravidão [Primeira secção do capítulo IV A verdade da certeza de si mesmo] As etapas do itinerário fenomenológico: 1. CONSCIÊNCIA (em
A gramática de extremos patológicos: um estudo possível acerca do Sofrimento de Indeterminação
 A gramática de extremos patológicos: um estudo possível acerca do Sofrimento de Indeterminação Trabalho elaborado por: André Ricardo Nader, Delia Maria De Césaris e Maria Letícia Reis Laurino A proposta
A gramática de extremos patológicos: um estudo possível acerca do Sofrimento de Indeterminação Trabalho elaborado por: André Ricardo Nader, Delia Maria De Césaris e Maria Letícia Reis Laurino A proposta
FILOSOFIA MODERNA (XIV)
 FILOSOFIA MODERNA (XIV) CORRENTES EPSTEMOLÓGICAS (I) Racionalismo Inatismo: existem ideias inatas, ou fundadoras, de onde se origina todo o conhecimento. Ideias que não dependem de um objeto. Idealismo:
FILOSOFIA MODERNA (XIV) CORRENTES EPSTEMOLÓGICAS (I) Racionalismo Inatismo: existem ideias inatas, ou fundadoras, de onde se origina todo o conhecimento. Ideias que não dependem de um objeto. Idealismo:
MESTRADO EM ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARTE
 MESTRADO EM ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARTE Deleuze e as Artes Prof. ª Cíntia Vieira da Silva Terça-feira: 14:00às 18:00 O curso pretende mostrar como a filosofia deleuziana pode ser vista como um dos momentos
MESTRADO EM ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARTE Deleuze e as Artes Prof. ª Cíntia Vieira da Silva Terça-feira: 14:00às 18:00 O curso pretende mostrar como a filosofia deleuziana pode ser vista como um dos momentos
TINLAND, Olivier. L idéalisme hégélien. Paris: CNRS Editions,
 Resenhas / Reviews TINLAND, Olivier. L idéalisme hégélien. Paris: CNRS Editions, 2013. 1 Danilo Vaz-Curado R. M. Costa 2 O presente livro de Olivier Tinland, que ora se resenha, constitui uma versão modificada
Resenhas / Reviews TINLAND, Olivier. L idéalisme hégélien. Paris: CNRS Editions, 2013. 1 Danilo Vaz-Curado R. M. Costa 2 O presente livro de Olivier Tinland, que ora se resenha, constitui uma versão modificada
TEMA: tipos de conhecimento. Professor: Elson Junior
 Ciências Humanas e suas Tecnologias. TEMA: tipos de conhecimento. Professor: Elson Junior Plano de Aula Conhecimento O que é? Como adquirir Características Tipos Recordar é Viver... Processo de pesquisa
Ciências Humanas e suas Tecnologias. TEMA: tipos de conhecimento. Professor: Elson Junior Plano de Aula Conhecimento O que é? Como adquirir Características Tipos Recordar é Viver... Processo de pesquisa
Descartes. Colégio Anglo de Sete Lagoas - Professor: Ronaldo - (31)
 Descartes René Descartes ou Cartesius (1596-1650) Naceu em La Haye, França Estudou no colégio jesuíta de La Flèche Ingressa na carreira militar Estabeleceu contato com Blayse Pascal Pai da filosofia moderna
Descartes René Descartes ou Cartesius (1596-1650) Naceu em La Haye, França Estudou no colégio jesuíta de La Flèche Ingressa na carreira militar Estabeleceu contato com Blayse Pascal Pai da filosofia moderna
Pensamento do século XIX
 Pensamento do século XIX SÉCULO XIX Expansão do capitalismo e novos ideais De acordo com a periodização tradicional, considera-se a Revolução Francesa o marco inicial da época contemporânea. Esse movimento
Pensamento do século XIX SÉCULO XIX Expansão do capitalismo e novos ideais De acordo com a periodização tradicional, considera-se a Revolução Francesa o marco inicial da época contemporânea. Esse movimento
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA I 1º Semestre de 2015 Disciplina Obrigatória Destinada: alunos de Filosofia Código: FLF0115 Sem pré-requisito Prof. Dr. Mauríco Cardoso Keinert Carga horária: 120h Créditos: 06 Número
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA I 1º Semestre de 2015 Disciplina Obrigatória Destinada: alunos de Filosofia Código: FLF0115 Sem pré-requisito Prof. Dr. Mauríco Cardoso Keinert Carga horária: 120h Créditos: 06 Número
Objetividade do conhecimento nas ciências sociais. - primeiro passo: evitar confusões entre juízos de fato e juízos de valor.
 Objetividade do conhecimento nas ciências sociais Objetividade +> rejeição à posição positivista no que se refere à neutralidade valorativa: rígida separação entre fatos e valores; => demarcação entre
Objetividade do conhecimento nas ciências sociais Objetividade +> rejeição à posição positivista no que se refere à neutralidade valorativa: rígida separação entre fatos e valores; => demarcação entre
Resolução da Questão 1 Texto definitivo
 Questão A filosofia não é outra coisa senão o exercício preparatório para a sabedoria. Não se trata de opor nem de separar a filosofia como modo de vida, por um lado, e um discurso filosófico
Questão A filosofia não é outra coisa senão o exercício preparatório para a sabedoria. Não se trata de opor nem de separar a filosofia como modo de vida, por um lado, e um discurso filosófico
