PAUL HORWICH: SIGNIFICADO COMO USO
|
|
|
- Amélia de Abreu Oliveira
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 PAUL HORWICH: SIGNIFICADO COMO USO Paul Horwich: Meaning as Use Juliano Santos do Carmo UFPEL Resumo: Este artigo tem por objetivo geral destacar alguns aspectos fundamentais para o entendimento adequado do significado linguístico centrado na ideia de uso. A noção de uso enquanto determinante do significado foi proposta pela primeira vez por Wittgenstein nas Investigações Filosóficas (1953). Desde então, surgiram muitas tentativas de compatibilizar a noção de uso com as demais perspectivas oferecidas pelo filósofo naquela obra, não obstante, a questão ainda permanece distante de atingir um consenso. Recentemente, a teoria do significado como uso proposta por Paul Horwich, reacendeu o debate a respeito das noções de uso, significado e naturalismo semântico. A abordagem inspiradora de Horwich tem se revelado uma excelente estratégia tanto no que se refere a evidenciar a pertinência da proposta wittgensteiniana, como no sentido de oferecer soluções eficazes às objeções recorrentes que ela enfrenta. O objetivo específico deste trabalho é mostrar o modo como Horwich pretende resolver algumas daquelas objeções. Palavras-chave: Wittgenstein, Paul Horwich, Significado, Uso, Propriedades do Significado. Abstract: This paper aims to highlight some general aspects to the proper understanding of linguistic meaning focused on the Idea of use. The notion of use as a determinant of meaning was first proposed by Wittgenstein in the Philosophical Investigations (1953). Since, there have been many attempts to make compatible the notion of use with other perspectives offered by the philosopher in that work, however, the question still remains open. Recently, the theory of meaning as use proposed by Paul Horwich, has rekindled the debate about the notions of use, meaning and semantic naturalism. The Horwich inspiring approach has proved an excellent strategy both in regard to highlight the relevance of the proposal wittgensteinian, as in order to offer effective solutions to recurring objections it faces. The specific aim of this work is to show how Horwich seeks to resolve some of those objections. Keywords: Wittgenstein, Paul Horwich, Meaning, Use, Meaning Properties. 1. Background A estratégia de defender que o significado é uma noção completamente determinada pelo uso que fazemos de palavras na linguagem parece ser apresentada pela primeira vez nas Investigações Filosóficas (1953) de Wittgenstein. O novo lema o 172 Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
2 significado é o uso entusiasmou grande parte dos filósofos insatisfeitos com as explicações platônicas e empiristas 1 a respeito do significado. Com efeito, uma nova filosofia parecia estar sendo suposta com as considerações essencialmente pragmáticas daquela obra. A nova maneira de entender a tarefa da filosofia, e mesmo as noções de linguagem e critério de significação, acabou por contribuir no sentido de alimentar suspeitas sobre a questão da homogeneidade do pensamento de Wittgenstein. Uma peculiaridade da análise de Wittgenstein sobre a noção de uso, apresentada nas Investigações Filosóficas, é justamente sua relação intrínseca com a noção de compreensão. Compreender e seguir uma regra são atividades completamente imediatas 2 (não há nenhum intermediário explicativo entre elas). A nova estratégia consistia em indicar imagens como que num álbum de figuras, abordadas sistematicamente a partir de diversos ângulos. O que o leitor encontra naquela obra é na verdade uma inovadora metodologia filosófica: o objetivo não é oferecer novas e surpreendentes teorias ou elucidações, mas, antes, examinar o uso da linguagem e mostrar que boa parte de nossos problemas filosóficos são originados de mal-entendidos a respeito da lógica de nossa linguagem 3. De qualquer modo, uma das passagens onde a noção de uso aparece de modo explícito é a seguinte: Para uma grande classe de casos senão para todos nos quais utilizamos a palavra significado ela pode ser definida assim: o significado de uma palavra é seu uso na linguagem. 4 A interpretação standard 5 do pensamento de Wittgenstein costuma insistir que o ponto central nas Investigações Filosóficas são as considerações sobre seguir regras e não propriamente sobre o uso que fazemos das expressões na linguagem. Este é, sem dúvidas, um dos grandes equívocos exegéticos da obra do filósofo. Uma nova perspectiva de leitura tem sido oferecida por Katrin Glüer e Asa Wikforss (2009) 6, onde as regras não são essenciais para a determinação do significado. Na verdade, como sugerem as autoras, na fase final do pensamento de Wittgenstein (leia-se os textos a partir da elaboração do Brown Book) ele passou a defender a tese de que a 1 Os ataques do segundo Wittgenstein estavam concentrados em duas das teorias tradicionais do significado: (1) aquela que defende a ideia de que a linguagem é uma espécie de nomenclatura e que aprender uma língua equivale essencialmente a aprender a associar palavras a coisas através da definição ostensiva; e (2), a teoria que defende que o significado é identificado com imagens mentais. 2 MCGINN, C. Wittgenstein on Meaning: An Interpretation. Oxford: Blackwell, WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. New York: Oxford University Press, 2009, WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. New York: Oxford University Press, Tenho em mente aqui pelo menos os trabalhos de Daniel Whiting (2010), Alan Millar (2000), Jaroslav Peregrin (2008), Robert Brandom (1994), Tim Thornton (2007), Saul Kripke (1982), Hans-Johann Glock (1998), Hannah Ginsborg (2012), Adrian Haddock (2012) e Wilfrid Sellars (1969). 6 GLÜER, K. WIKFORSS, A. Es Brauch Die Regel Nicht: Wittgenstein on Rules and Meaning. In: The Later Wittgenstein on Language, ed. Daniel Whiting, Palgrave, Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
3 linguagem não é uma atividade essencialmente regrada. A nova perspectiva, contudo, também não é menos controversa, porém, ela potencialmente acaba por eliminar completamente uma série de equívocos assumidos por Kripke 7 ao defender que o significado é uma noção intrinsecamente normativa 8. A identificação do significado com o uso alimenta um tipo de investigação essencialmente pragmática da linguagem, contrapondo-se a qualquer tentativa de se oferecer uma caracterização puramente metafísica do significado, e concentrando seus esforços na pesquisa a respeito dos fenômenos reais da linguagem. É por isso que não pode haver descobertas em filosofia (novas e surpreendentes teorias), pois tudo aquilo que é relevante para um problema filosófico está à vista de todos em nosso uso de expressões na linguagem. Tudo o que é necessário está contido em nosso conhecimento de como é que usamos as palavras que usamos, e isso, diz Hacker, é algo que precisamos apenas ser lembrados 9. É importante ressaltar que a posição defendida por Wittgenstein na segunda fase de seu pensamento é bastante radical no que se refere a sua primeira posição: é uma ilusão pensar que as palavras compartilham uma forma lógica idêntica com o mundo (isomorfismo lógico). No entanto, a tese central da virada linguística, ou seja, a tese de que há uma maneira correta de descrever o mundo, embora bastante plausível sobre múltiplos aspectos, também não estava isenta de problemas. Nós dificilmente concluiríamos que o mundo consiste de palavras apenas porque com elas fazemos as descrições verdadeiras, mas, às vezes supomos que a estrutura do mundo é igual à estrutura da descrição. Esta tendência pode chegar ao ponto do linguomorfismo, quando concebemos o mundo como composto de objetos atômicos correspondendo a nomes próprios determinados e fatos atômicos correspondendo a sentenças atômicas. (...) uma descrição coerente seria uma distorção a menos que o mundo fosse coerente 10. Por outro lado, a virada pragmática traz consigo a ideia da substituição da distinção entre aparência e realidade e entre a natureza intrínseca de algo e suas características meramente relacionais pela distinção entre descrições mais úteis e descrições menos úteis do mundo. Dito de outro modo, o pragmatismo contemporâneo supõe que o progresso intelectual não envolve a representação fiel da natureza intrínseca de algo (algo como a normatividade intrínseca do significado, por exemplo), mas sim a descoberta de descrições cada vez mais úteis das coisas 11. É claro, no entanto, que esta posição não representa necessariamente o ponto de vista de 7 KRIPKE, S. Wittgenstein on Rules and Private Language. Cambridge: Harvard U. Press, 1982, p Sobre este ponto, ver: CARMO, J. Sobre a Normatividade do Significado. Revista Kínesis (UNESP), 2012 vol. 4, n. 7, p HACKER, P.M.S. Wittgenstein on Human Nature. Phoenix: Orion, 1997, p GOODMAN, N. The Way the World is. Review of Metaphysics, 14, 1960 (48-56), p RORTY, R. Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982, p Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
4 Wittgenstein nas Investigações Filosóficas e, também, a tese de Rorty a respeito da noção de utilidade não está, obviamente, livres de objeções. De qualquer forma, como veremos a seguir, a abordagem de Paul Horwich é um tipo de naturalismo-pragmático, sobretudo quanto às noções de normas do significado e normas da verdade. O projeto wittgensteiniano nos textos do período tardio não é certamente um projeto naturalista de ordem reducionista, porém, existem boas razões para pensá-lo como um tipo de naturalismo social 12 (ou pragmático) onde as reduções se dão a partir de habilidades que surgem, se proliferam e se perpetuam completamente em nossas práticas sociais, e é a partir deste ponto que Horwich desenvolve sua concepção a respeito de significado como uso. É importante notar que a posição de Horwich não pode ser considerada como propriamente uma exegese do pensamento de Wittgenstein, pois em muitos casos parece pouco provável encontrar uma leitura das Investigações Filosóficas que acomode ao menos duas importantes restrições: (1) que a identificação do significado com o uso seja de fato pertinente (esclarecedora) e (2) que não seja uma teoria controversa (que esteja de acordo com sua visão terapêutica da linguagem e sua perspectiva não-teórica 13 ). Ao invés disso, a posição de Horwich seria mais bem compreendida se tomada como uma teoria não-revisionista fortemente influenciada pelos insights de Wittgenstein a respeito da determinação do significado através do uso. 2. Paul Horwich: Significado como Uso Existem ao menos três maneiras razoáveis de se considerar a natureza do significado: ou bem (1) o significado é um produto exclusivamente humano e nãonatural (é livre de qualquer determinação natural), ou (2) o significado é um produto natural regido por leis naturais ou, (3), ele é explicado através de uma terceira via, onde se diz que o significado é um produto natural pertencente ao reino das razões. A visão naturalizada do significado defendida por Horwich afilia-se, de certo modo, ao último sentido de significado (3). 12 Sobre este ponto ver: STRAWSON, P. Ceticismo e Naturalismo: Algumas Variedades. São Leopoldo: Unisinos, Mas, fundamentalmente: MEDINA, J. Wittgenstein s Social Naturalism. In: The Third Wittgenstein. Burlington: Ashgate, A perspectiva não-teórica de Wittgenstein gerou uma série de mal-entendidos que ainda hoje não foram completamente superados. A complexidade da investigação a respeito da linguagem e suas consequências para o estudo do significado levou Wittgenstein a considerar novamente a própria concepção geral acerca da tarefa da filosofia enquanto tal. O resultado bastante conhecido e controverso é este: a filosofia não deveria elaborar teorias para resolver problemas filosóficos, mas sim elucidar proposições, ou ainda, expor as confusões linguísticas que surgem da má utilização ou da má compreensão da linguagem. 175 Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
5 Existem vários desafios que uma teoria do significado centrada na noção de uso deve enfrentar para que seja de fato pertinente. Poucos autores contemporâneos apresentam, de forma clara e sumarizada, os principais problemas relacionados a esta temática como o faz Paul Horwich. Em Meaning (1998) é possível encontrar uma série de desafios e respostas para tais problemas, de modo que aqui vou apresentar apenas os mais importantes. Diferente de algumas posições semânticas tradicionais, a teoria do significado como uso 14, delineada por Paul Horwich, se caracteriza pela defesa do ponto de vista contextual 15, onde o significado de uma palavra é o uso dela em um contexto dado. O significado linguístico não é identificado com algum objeto (não é constituído por objetos de um tipo especial), assim como também não é identificado com imagens mentais (como é usual na tradição empirista de entender o significado como ideia 16 ), e, também não é um ente de terceiro reino. Desse modo, o significado linguístico não é reduzido à mera referência 17, ou seja, a teoria do significado como uso não reduz o papel dos nomes próprios ao mero ato de fornecer a referência, ou o objeto 14 Em From a Deflationary Point of View (2004), Horwich oferece uma discussão acurada sobre o modo adequado de se entender as caracterizações mais comuns do uso linguístico. Uma maneira de entender o uso consiste em pensar que o uso envolve noções intencionais noções estreitamente ligadas com a noção de sentido (por exemplo, É usado para se referir a livros ; É usado para expressar uma crença de que a neve é branca, etc.). No entanto, isso acarretaria negar algo que Wittgenstein defendeu fortemente: a desmistificação do sentido e de seus conceitos relacionados. Por outro lado, se o uso é interpretado de modo não-intencional se alguém insiste que o uso de um termo é caracterizado de modo puramente comportamental e físico então embora a tese prometa desmitificar o significado, ela parece estar longe de representar uma solução pacífica para o problema do uso. A conclusão de Horwich nos leva a pensar que Wittgenstein acreditava que os critérios definitivos para que alguém utilize expressões significativamente estejam em seus próprios comportamentos, e que por isso o significado de uma palavra estaria baseado em aspectos não-intencionais de seu uso. Não deveríamos, no entanto, considerar o caráter polêmico desta ideia como um sintoma de teorização filosófica, mas sim como consequência de confusões que nos levam para longe do que está na verdade implícito no discurso. Para mais detalhes, ver: HORWICH, P. From a Deflationary Point of View. New York: Oxford University Press, Segundo Michael Dummett, a própria virada linguística tornou-se possível primeiramente por meio do famoso princípio de contexto de Frege (ver DUMMETT, M. Wittgenstein on Necessity: Some Reflections. New York: Oxford University Press, pp. 4-5). 16 Esta tese, que remonta a Aristóteles, prevê que as palavras significam uma espécie de movimento da mente que, por sua vez, se referem aos objetos. John Locke retoma este tema naquela que podemos chamar de teoria ideacional do significado ou teoria do significado como ideia. Ele defende que as palavras na sua identificação primária, estão simplesmente no lugar de ideias na mente de quem as usa (ver LOCKE, J. An Essay Concerning Human Understanding. New York: Prometeus Books, Book II, II, 2). 17 Uma diferença fundamental entre as teorias da referência da década de 50 do século passado e as teorias da referência contemporânea é o fato de que a referência é uma relação entre falantes e objetos, entre uma expressão e aquilo que o falante quer referir-se na específica ocasião de uso. A redução de seu papel central na determinação do significado, adotada pelas teorias contemporâneas do uso, deve-se fundamentalmente ao problema da intencionalidade. 176 Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
6 denotado 18. A referência, assim como queria o segundo Wittgenstein, possui um papel na determinação do significado nulo ou pelo menos extremamente reduzido. Em outras palavras, o significado é determinado completamente pelo uso e não pela referência. Em linhas gerais, a estratégia de Horwich é oferecer uma abordagem deflacionista da referência. Não é meu objetivo aqui, no entanto, tratar das minúcias do argumento de Horwich sobre a questão da referência, pois isso exigiria um espaço maior do aquele que efetivamente temos. Mas, limito-me a indicar que sua abordagem prevê a análise de quatro aspectos distintos, mas intimamente relacionados: (1) uma consideração do significado de referência ; (2) uma consideração da utilidade de nosso conceito de referência; (3) uma consideração da natureza subscrita da referência, ou ainda, do modo como sabemos que a referência não tem uma natureza subscrita; e (4) uma consideração dos significados dos nomes (termos singulares). Todas estas considerações estarão enraizadas na ideia de aceitação, ou ainda em nossa disposição natural para aceitar instâncias do esquema- T 19. A defesa de que o significado não é uma entidade abstrata ou psíquica tem como implicação direta a ideia de que o uso é observável objetivamente 20. Nisso estão de acordo boa parte dos filósofos inferencialistas, naturalistas e convencionalistas. Desse modo, a teoria do significado como uso busca oferecer uma descrição objetiva dos usos linguísticos (dos significados de nossas expressões), e ela depende fundamentalmente da análise do contexto em que os significados são utilizados. Este 18 Wittgenstein critica rigorosamente os diversos aspectos da definição ostensiva como determinante do significado linguístico. Ele mostrou que para se compreender a definição ostensiva é necessário já estar de posse de um certo tipo de noção. Por exemplo, para se compreender um enunciado do tipo Isto é sépia é necessário que se saiba que se está falando de uma cor e não de outra propriedade qualquer. 19 HORWICH, P. Meaning. Oxford: Oxford University Press, 1998, p (O tópico sobre a referência é amplamente discutido especialmente no capítulo 5). 20 Embora esta ideia remeta a algo que Quine defendeu quando escreveu Pursuit of Truth, a saber: as orações observacionais; não deveríamos confundi-la com o que é aqui exigido pela teoria do uso. Quine pretende encontrar um tipo específico de orações, diretamente associadas com nossos estímulos, que possam atuar como elos iniciais da cadeia que conecta estímulo e teoria. Alguns exemplos deste tipo de orações são: chove, está esfriando, é um coelho. Segundo Quine, uma oração como os homens são mortais é uma oração ocasional, ou seja, ela somente é verdadeira em ocasiões específicas. Mas uma oração como chove, por exemplo, envolve uma aceitação imediata daqueles que estão envolvidos na conversa. Ele concorda que a observação possui limites imprecisos, pois envolve nossa disposição em concordar com a oração, o que por sua vez é algo que pode ocorrer em níveis distintos de sujeito para sujeito. A teoria do uso, por outro lado, exige uma identificação imediata do uso correto de uma expressão: é uma condição de sentido de uma conversa que aquilo que nela é dito possa ser claramente entendido. Neste caso, se eu digo é um coelho quando você está apontando para uma vaca, é óbvio que algo de estranho acontece: poderia ser o caso de que eu não saiba utilizar adequadamente as palavras coelho e vaca. Ambos os modelos concordariam, no entanto, quanto ao caráter da dependência do contexto: uma oração observacional está sempre condicionada a um contexto restrito. Ver: QUINE, W.V. Pursuit of Truth. Cambridge: Harvard University Press, Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
7 ponto também permanece fiel ao lema de Wittgenstein: Numerosos mal-entendidos da linguagem ocorrem pelo uso de uma expressão em contextos inadequados 21. A investigação pragmática do uso precisa explicar como fatos sobre o significado são compreendidos, pois parece trivial que para se conhecer uma linguagem é essencial conhecer o que suas palavras significam. É desejável, também, que ela explique a relação entre as palavras e seus significados, ou ainda, ela precisa justificar sentenças do tipo x significa y. Perceba que redução do papel da referência na determinação do significado não exime a teoria do significado como uso de oferecer uma explicação a respeito da relação entre palavras e objetos (significados e referências), ou seja, ela precisa dar conta da questão representacional, do modo como a linguagem pode representar a realidade. Ela deve oferecer uma análise que explique como, em virtude de seus significados, termos singulares são utilizados para referir objetos no mundo; predicados (termos gerais) são utilizados para referir conjuntos de objetos e como sentenças são utilizadas para expressar pensamentos que são verdadeiros ou falsos. Atualmente muito tem se falado a respeito da normatividade do significado. Alguns filósofos consideram a normatividade semântica como uma espécie de critério decisivo para a adequação de uma teoria do significado. Se a teoria do significado não passa pelo teste, então ela não é uma opção razoável. Obviamente, existem muitas razões para se recusar este ponto. Um dos motivos é relativamente simples: a tese de que a normatividade do significado é extrínseca (derivada) pode oferecer explicações razoáveis (pragmáticas) para justificar os motivos pelos quais S utiliza verde para coisas verdes (e não para coisas amarelas), sem que com isso seja necessário apelar para a noção de normatividade intrínseca 22, já que ela parece contradizer de certo modo nossa concepção intuitiva de significado. A teoria do significado como uso de Horwich consegue explicar, a partir da análise dos benefícios práticos envolvidos na utilização padrão da linguagem, o motivo pelo qual a palavra verde, por exemplo, é aplicada para coisas verdes e não para amarelas. O critério de significação, de cunho naturalista, está baseado na ideia de que certas regularidades básicas de uso (convenções naturais) definem o significado de uma expressão. Em última análise, tais regularidades seriam explicadas pela identificação de certas propriedades não-semânticas do significado, ou seja, através 21 Não é nenhuma novidade dizer que para Wittgenstein a filosofia era uma luta contra o enfeitiçamento da linguagem, contra os mal-entendidos que provém do mau uso da linguagem cotidiana. A filosofia é um trabalho de esclarecimento conceitual e deve ajudar a distinguir os usos descritivos (empíricos) e os usos normativos da linguagem (nesse caso, gramatical). 22 O intenso debate atual a respeito da normatividade gira em torno da necessidade de encontrar uma explicação razoável da conexão entre uso, significado e correção. Por um lado, os principais defensores da tese forte da normatividade do significado são Kripke, Thorton, Glock, Brandom, Peregrin, Whiting, Millar e Connelly. Por outro lado, seus principais opositores são Horwich, Boghossian, Hattiangadi, Grüer e Wikforss. 178 Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
8 daquilo que Horwich chama de propriedade de aceitação. Antes de procurar delimitar o que Horwich entende por essa propriedade, deixe-me dizer algumas palavras a respeito da redução de fatos semânticos a fatos não-semânticos. A noção de fato semântico é extremamente problemática, do mesmo modo que a noção de fato moral parece ser. Anandi Hattiangadi 23 tem sugerido que o realismo moral, ao comprometer-se com a existência objetiva dos fatos morais, enfrenta um dilema: se os fatos morais são fatos naturais, então o realista se compromete com a falácia naturalista. Se os fatos morais não são naturais, então eles seriam o contrário dos fatos empíricos ordinários, e, assim, seriam incognoscíveis. Não é óbvia a identificação de fatos morais com fatos semânticos, porém, a aproximação se deve ao modo como devemos conceber estes fatos. A pergunta comum tanto ao realismo moral quanto ao realismo semântico é justamente essa: o que são estes fatos e como podemos justificá-los caso não sejam análogos a fatos naturais? Da mesma forma, se o significado é intrinsecamente normativo, como querem os normativistas, então alguém poderia dizer que o realismo semântico enfrenta um problema análogo ao enfrentado pelo realismo moral: se o realismo defende que os fatos semânticos são naturais ele comete uma falácia, e se diz que os fatos semânticos não são naturais, ele os torna misteriosos e incognoscíveis. Ocorre, no entanto, que contrariando a tese bastante popular de Kripke, poderíamos supor que a normatividade semântica e a normatividade moral não podem ser casos perfeitamente análogos. Uma prova disso é justamente o fato de que a normatividade semântica só poderia ser concebida no sentido de correção (ou como diz Hattiangadi, no sentido de norma-relativa ), enquanto que a normatividade moral seria essencialmente prescritiva (diz o que se deve fazer, ou evitar, a quem admirar ou condenar). Note que, ainda assim, o problema de se supor a existência de fatos morais ou semânticos, como tipos de fatos diferentes dos naturais ainda não está, completamente, superado. Dizer que a normatividade dos fatos semânticos é diferente da normatividade dos fatos morais, é apenas dizer que eles não podem ser análogos e que, aparentemente, eles escapam da lei de Hume. Resta oferecer uma caraterização razoável de tais fatos, ou seja, oferecer um modo de explicar como surgem e quais são de fato os ganhos explicativos quando assumimos este recurso em nossas análises. Uma maneira particularmente esclarecedora de resolver o problema é supor que fatos semânticos (ou propriedades semânticas) podem ser legitimamente reduzidos a propriedades não-semânticas, ou, neste caso, propriedades naturais. Uma longa tradição 24 tem dirigido numerosas objeções contra este modelo de pensamento, em especial aqueles que defendem que as propriedades são 23 HATTIANGADI, A. Oughts and Toughts: Rule-Following and the Normativity of Content. New York: Oxford, Principalmente os filósofos que assumem a posição de John McDowell. Ver: MCDOWELL, J. Mind and World. Harvard: Harvard University Press, Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
9 metafisicamente independentes de propriedades naturais. Ocorre, no entanto, que esta suposição parece tornar o problema ainda mais difícil de resolver, pois se as propriedades semânticas são independentes de propriedades naturais, então parece difícil imaginar como as propriedades semânticas poderiam determinar de algum modo nossos comportamentos. (Como utilizar verde apenas para coisas verdes, por exemplo). Paul Horwich supõe, no entanto, que a redução é de fato possível e que as propriedades semânticas são frutos de propriedades naturais. Perceba que ao proceder dessa forma Horwich evita de modo particularmente eficaz a objeção de que as concepções naturalistas não conseguem explicar adequadamente o fenômeno da normatividade do significado, pois ou suas considerações não teriam sentido ou teriam que pressupor a própria normatividade na explicação (petição de princípio). A posição de Horwich explica a questão da normatividade através de seus elementos pragmáticos, ou seja, através dos benefícios práticos envolvidos na utilização comum de palavras significativas. De fato, parece bastante razoável supor que é bom utilizar as palavras de modo correto, pois assim seremos mais facilmente compreendidos em nossa comunidade linguística. Morar no Brasil sugere, entre outras coisas, que se utilize a língua portuguesa quando se quer obter sucesso na comunicação de um modo mais eficaz, pois é isso que os demais brasileiros fazem e é isso que esperam dos demais sujeitos. Ou seja, existem benefícios práticos em utilizar a língua-padrão. A redução de uma propriedade semântica a uma propriedade não-semântica (natural) não implica necessariamente em um tipo de naturalismo fisicalista. Horwich defende, antes, um tipo de naturalismo-deflacionista onde o resultado da redução de nossas propriedades semânticas é o reconhecimento de certas regularidades básicas de uso que, em última análise, são explicadas por uma propriedade não-semântica e não-intencional: uma propriedade de aceitação. As regularidades do uso (que estou sugerindo) constituem o significado das palavras referem-se às circunstâncias nas quais sentenças específicas são aceitas privadamente (ou seja, proferidas assertivamente para si mesmo). Portanto, na medida em que o objetivo da teoria é oferecer uma explicação geral das propriedades do significado através de uma análise redutiva não-semântica deles, é essencial para torná-la plausível que a relação psicológica o sujeito S aceita a sentença p possa ser explicada em termos não semânticos 25. Horwich chama a atenção para o fato de que a palavra aceitação não está sendo utilizada aqui em sentido comum. O sentido comum de aceitação está intimamente relacionado à ideia de uma atitude proposicional, no mesmo sentido em 25 HORWICH, P. Meaning. New York: Oxford University Press, pp Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
10 que o sujeito S está disposto a aceitar que pássaros voam. O sentido de aceitação utilizado aqui, diz Horwich, é o mesmo utilizado por Donald Davidson quando se refere a manter a verdade. A aceitação, portanto, neste sentido especial, permite que S aceite (mantendo a verdade) que pássaros voam e, assim, aceite (também no sentido comum) a proposição que ela expressa 26. A estratégia de Horwich é primeiramente recusar a noção standard de aceitação (aquela que afirma que ela é um conceito semântico) e, em seguida, esboçar uma noção positiva de aceitação: mostrando que ela não é propriamente uma noção semântica. Em geral os filósofos assumem a posição standard em função de considerarem a aceitação como semelhante à noção de verdade. Nesse caso, diz Horwich, a diferença entre aceitar uma sentença e meramente proferi-la (como uma brincadeira), consiste na presença ou ausência de um compromisso para com a verdade da sentença, logo, sendo a verdade uma noção semântica, então a aceitação também deveria ser. Ocorre, no entanto, que nesta concepção aceitar uma sentença parece ser equivalente a aceitar sua verdade. Ora, se esta concepção estiver correta, então alguém poderia supor a mesma equivalência entre duvidar de algo e duvidar de sua verdade, e assim por diante. Todas essas correlações poderiam ser completamente explicadas pela obviedade do esquema-t ( p é verdadeiro p ). Desse modo, a concepção standard de aceitação pressupõe um relacionamento estreito com a noção de verdade. Mas isso, obviamente, não está completamente correto, pois o relacionamento da aceitação com a verdade não parece ser aquilo que distingue propriamente a noção de aceitação de outras atitudes tais como conjecturar, por exemplo. O correto, segundo Horwich, seria dizer que a noção de aceitação não pressupõe a noção de verdade. A aceitação é, na abordagem naturalista de Horwich, uma noção nãosemântica. Uma das razões para defender esta posição é o fato de que ela poderia ser explicada em termos puramente físicos, psicológicos ou comportamentais 27. Desse modo, a teoria do significado como uso aproxima-se das concepções oferecidas por Jerry Fodor e Ruth Millikan na medida em que supõem uma espécie peculiar de funcionalismo que é suficientemente capaz de explicar as noções de aceitação, desejo, observação e ação 28. Horwich está interessado em revelar as condições pelas quais aceitamos certas sentenças, sua estratégia é mostrar que nossa aceitação de sentenças é governada por certas leis básicas (regularidades básicas de uso) que explicam todos os nossos usos de expressões, o que fica evidente nos seguintes casos: (1) Verdade: em geral estamos dispostos a provisoriamente aceitar cada instância do esquema p é verdadeiro p (regularidade sentencial). 26 HORWICH, P. Meaning. New York: Oxford University Press, p. 95, n HORWICH, P. Meaning. New York: Oxford University Press, pp HORWICH, P. Meaning. New York: Oxford University Press, p Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
11 (2) Vermelho: estamos dispostos a aceitar isto é vermelho em resposta ao tipo de experiência visual normalmente provocada por superfícies vermelhas (regularidade perceptual); (3) E: estamos dispostos a aceitar uma das duas vias do esquema p,q//p&q (regularidade inferencial); (4) Água: estamos dispostos a aceitar x é água ela tiver a natureza subscrita do material de nossos mares, rios, etc. (regularidade natural) 29. De acordo com estes exemplos, fortemente ligados às ideias de inferência e decisão racional, fica fácil perceber que a aceitação (assim como outros fenômenos) poderia ser explicada sem a pressuposição de qualquer fato semântico. Aceitar uma sentença envolve algo mais do apenas aceitar sua verdade, pois a aceitação pode estar relacionada a certas regularidades de comportamento, ao aceitar, por exemplo, a sentença isto é vermelho quando se está na presença de algo evidentemente vermelho. A teoria do significado como uso, assim concebida, teria a peculiaridade de explicar facilmente como surgem fatos semânticos a partir de propriedades completamente não-semânticas do significado. Por outro lado, poderíamos oferecer uma explicação convencionalista para o fenômeno da aceitação em moldes muito semelhantes aos de Horwich: as palavras são utilizadas na linguagem para significar o que elas significam ou para transportar os significados que elas transportam; pois de alguma maneira, de forma gradual e informalmente, os agentes chegaram a um entendimento de que é isso que se deve fazer para dizer o que eles dizem. Desse modo, com essa caracterização da linguagem fortemente convencional poderíamos explicar também o motivo pelo qual as palavras são utilizadas de múltiplas maneiras, ou mesmo o motivo pelo qual palavras diferentes são utilizadas para significar ou transportar os mesmos conteúdos. Dizer isso não é dizer muito. Não é representar a linguagem como o modelo de um cálculo, rígido e preciso. Não é defender a linguagem correta contra a linguagem coloquial, ou viceversa. Isso também não quer dizer que todas as línguas que possamos imaginar sejam igualmente boas, ou que todos os recursos de uma linguagem útil poderiam ter sidos cunhados de um modo diferente. Não é dizer que as verdades necessárias são criadas por convenções: apenas que verdades necessárias, como verdades geológicas, são convencionalmente declaradas com estas palavras, ao invés de naquelas. Não é exaltar os poderes das convenções como fazem os filósofos convencionalistas, mas apenas insistir que elas estão lá. A trivialidade de que existem convenções da linguagem não é um dogma de qualquer escola filosófica, mas 29 HORWICH, P. Meaning. New York: Oxford University Press, p.p Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
12 comanda a aprovação imediata de qualquer pessoa pensante a menos que ela seja um filósofo. 30 As convenções surgem em função de problemas de coordenação 31 e, como tal, envolvem a suposição de que regularidades na ação ou em crenças não são originadas através de acordos explícitos, no sentido de um pacto ou contrato social. Uma razão para isso é o fato incontroverso de que os agentes nem sempre respeitam ou se conformam às regras estipuladas por acordos explícitos. Se as convenções da linguagem fossem realmente originadas por acordos, então seria realmente difícil garantir que o acordo hoje praticado fosse o mesmo do momento em que ele foi firmado 32. A posição de Horwich não é convencionalista nesse sentido, pois ela defende que a linguagem necessita de regularidades básicas de uso que não sejam completamente arbitrárias. Uma justificativa para adotar a aceitação como propriedade não-semântica do significado é o fato de que além de conseguir explicar o modo como as palavras adquirem seus significados, ela também permanece coerente com o projeto naturalista, uma vez que não pressupõe a própria coisa na explicação. O significado é derivado de uma propriedade não-semântica na medida em que existem benefícios e justificações práticas envolvidas na utilização de palavras na linguagem. Considere a utilização da palavra verde para coisas verdes. (1) S deseja usar verde para verde se e somente se P utilizar verde para coisas verdes; (2) S espera que P use verde para coisas verdes; (3) S tem uma razão para desejar usar verde para coisas verdes; (4) S usa verde para coisas verdes. 30 LEWIS, D. Convention: a Philosophical Study. Oxford: Blackwell Publishers, p Um problema de coordenação, segundo a análise de Lewis, é uma espécie de problema coletivo que exige uma normatização ou uma coordenação, pois sem ela os indivíduos obteriam mais prejuízos do que benefícios práticos. Um dos exemplos oferecidos por Lewis é o caso da ligação telefônica interrompida. Imagine que os sujeitos S e P estão conversando ao telefone e que subitamente a ligação é interrompida contra o desejo dos dois de continuar o diálogo. Nesse caso, para que houvesse um equilíbrio de coordenação um dos dois deveria voltar a chamar enquanto o outro deveria aguardar. Se ambos resolvem praticar a mesma ação, então a chance de restabelecer a conexão é praticamente nula. Se este problema de coordenação fosse recorrente, então uma perfeita convenção poderia se estabelecer e proliferar entre os membros de uma comunidade. A convenção poderia ser algo do tipo: toda vez que uma chamada for subitamente interrompida, contrariando o desejo dos agentes em questão, então, para atingir o equilíbrio de coordenação, o chamador original deve voltar a chamar, enquanto o recebedor original deve aguardar. Denunciando o caráter essencialmente arbitrário das convenções, poderíamos dizer que qualquer outra combinação para aquela convenção poderia funcionar igualmente bem desde que os agentes pratiquem ações diferentes: um deve chamar e o outro aguardar. Para uma análise detalhada ver LEWIS, D. Convention: a Philosophical Study. Oxford: Blackwell Publishers, Os motivos são os mais diversos: o tempo passa; as pessoas estipulam novos significados; a memória pode falhar; a comunidade recebe novos integrantes (alheios ao acordo inicial); etc. 183 Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
13 Note que S usa a palavra verde para coisas verdes porque é isso que os membros de sua comunidade linguística costumam fazer. Que os membros de uma comunidade utilizem uma palavra de uma determinada maneira é uma boa razão para que alguém se conforme a sua regularidade de uso. Quando a maioria utiliza uma palavra de uma maneira particular, uma convenção pode surgir e se proliferar de modo eficiente. Em outras palavras, S tem mais chances de ser compreendido se utilizar as palavras de modo padronizado em sua cultura. Pode-se dizer que os membros de uma comunidade desejam utilizar as palavras de um modo padronizado, pois é isso que possibilita o sucesso da comunicação. Portanto, o que determina os usos eficientes e ineficientes de uma palavra não é uma estrutura normativa intrínseca, mas, antes, o que determina o conteúdo conceitual das palavras é o próprio uso, e há razões para pensar que em muitos casos isso ocorre de modo completamente independente da intencionalidade dos agentes. O que caracteriza propriamente as expressões significativas é o fato de que elas possuem propriedades constituintes 33 (regularidades básicas de uso) que são especificadas a partir de uma generalização que fornece as circunstâncias nas quais as sentenças são consideradas verdadeiras ou falsas. Considere os seguintes exemplos: (a) S está disposto a afirmar que x é vermelho na presença de algo evidentemente vermelho 34 ; (b) S está disposto a aceitar que a proposição de que p é verdadeira se e somente se p. É fácil perceber que (a) e (b) dependem do posicionamento de S a respeito da noção de verdade. Nesse caso, o que explica o uso da palavra verdade seria a tendência natural de S em aceitar instâncias de a proposição de que p é verdadeira se e somente se p. Desse modo, poderíamos derivar o seguinte esquema: ϕ é constituída por uma regularidade básica do tipo: todos os usos de ϕ são derivados do fato de que A(ϕ) onde A(ϕ) é uma propriedade de aceitação. Esta é outra maneira de dizer que o uso não precisa estar restrito a inferências 35 ou a outros fenômenos estritamente internos. É certo, no entanto, que para muitos casos o significado de uma expressão pode ser determinado por 33 HORWICH, P. Meaning. New York: Oxford University Press, p Semelhantemente ao tipo de enunciados de que fala Quine ao buscar resolver o problema da tradução, aqui se fala em enunciados observacionais, ou seja, aqueles enunciados que são emitidos em concomitância com um fenômeno claramente perceptível. 35 Toda argumentação é constituída tipicamente por uma inferência ou mesmo por uma série delas. Usa-se o termo inferência para se falar do ato de passar das premissas às conclusões segundo determinadas regras e também para se falar da estrutura desta passagem. Muitos filósofos buscaram explicitar algumas dessas regras, em especial aquelas regras que, tendo em vista a verdade das premissas, garantem a verdade da conclusão. 184 Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
14 regularidades do uso puramente internas (como é o caso da verdade, por exemplo), mas na maioria dos casos ele é determinado por uma regularidade externa (vermelho, por exemplo, faz referência a uma afetação externa). A teoria de Horwich, portanto, tem como peculiaridade o fato de que as regularidades do uso não são explicitamente formuladas e nem mesmo deliberadamente seguidas através de regras. Esta estratégia permite evitar qualquer objeção em razão de circularidade viciosa, já que a ideia de regularidade do uso não é caracterizada utilizando-se do próprio termo 36. A regularidade do uso de uma palavra transmite sua ocorrência às ocorrências de outras palavras. Ou seja, as regularidades que governam a aplicação de diferentes palavras não são inteiramente separadas umas das outras. É por isso que em uma proposição a regularidade do uso diz respeito a todas as expressões constituintes 37. Para concluir, perceba que esse caráter dinâmico da teoria de Horwich acaba por revelar a inexistência de uma única propriedade que dê conta de todos os significados, em outras palavras, não existe uma propriedade uniforme que constitua todas as relações do significado. Existem, no entanto, regularidades básicas que são capazes de explicar o uso de todas as palavras. Um exemplo dessas regularidades é revelado pela propriedade da aceitação, que varia de acordo com o tipo de expressão cujo significado está sendo explicado. Nas palavras de Horwich, varia se estivermos interessados em explicar, por exemplo, o significado de cachorro, elétron ou neutrino. Referências BRANDOM, R. Making it Explicit. Cambridge: Harvard U. Press, CANFIELD, J. Philosophy of Meaning. New York: Routledge, CARMO, J. Sobre a Normatividade do Significado. Revista Kínesis (UNESP), 2012 vol. 4, n.7. DUMMETT, M. Wittgenstein on Necessity. New York: Oxford University Press, 1993 GLOCK, H. J. Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, GLÜER, K. WIKFORSS, A. Es Brauch Die Regel Nicht. Palgrave, GOODMAN, N. The Way the World is. Review of Metaphysics, 14, 1960 (48-56). GRICE, H.P. Studies in the Ways of Words. Cambridge: Harvard U. Press, Eric Swanson (2009) discorda em vários aspectos da teoria de Horwich, em especial quanto à propriedade (ou condições) de aceitação. Para ele este termo técnico deve ser mais bem explicado, a mera caracterização desta propriedade como uma relação psicológica entre uma sentença e o uso que dela fazemos não seria suficiente para fornecer um entendimento adequado. 37 Robert Brandom, o principal defensor do inferencialismo contemporâneo, certamente discorda desta ideia, pois para ele o significado é atribuído através de um tipo de composicionalidade fraca, ou seja, o significado é atribuído apenas a frases completas e não a cada termo isolado como parece defender Horwich. 185 Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
15 HACKER, P.M.S. Wittgenstein on Human Nature. Phoenix: Orion, HATTIANGADI, A. Oughts and Thoughts. New York: Oxford University Press, HORWICH, P. From a Deflationary Point of View. New York: Oxford U. Press, 2004., Meaning. New York: Oxford U. Press, 1998., Reflections on Meaning. New York: Oxford U. Press, LEWIS, D. Convention: a Philosophical Study. Oxford: Blackwell Publishers, LOCKE, J. An Essay Concerning Human Understanding. New York: Prometeus Books, 1995 MCDOWELL, J. Mind and World. Harvard: Harvard University Press, MCGINN, C. Wittgenstein on Meaning: An Interpretation. Oxford: Blackwell, MEDINA, J. Wittgenstein s Social Naturalism. Burlington: Ashgate, QUINE, W.V. Pursuit of Truth. Cambridge: Harvard University Press, RORTY, R. Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press, STRAWSON, P. Ceticismo e Naturalismo: Algumas Variedades. São Leopoldo: Unisinos, SOAMES, S. Reference and Description. New Jersey: Princeton University Press, WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. New York: Oxford University Press, 1953., Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Unesp, Doutorando em Filosofia (PUCRS) Professor do Departamento de Filosofia-UFPEL juliano.ufpel@gmail.com 186 Pensando Revista de Filosofia Vol. 3, Nº 5, 2012 ISSN X
O que é uma convenção? (Lewis) Uma regularidade R na acção ou na acção e na crença é uma convenção numa população P se e somente se:
 Convenções Referências Burge, Tyler, On knowledge and convention, The Philosophical Review, 84 (2), 1975, pp 249-255. Chomsky, Noam, Rules and Representations, Oxford, Blackwell, 1980. Davidson, Donald,
Convenções Referências Burge, Tyler, On knowledge and convention, The Philosophical Review, 84 (2), 1975, pp 249-255. Chomsky, Noam, Rules and Representations, Oxford, Blackwell, 1980. Davidson, Donald,
SOBRE A NORMATIVIDADE DO SIGNIFICADO ON THE NORMATIVITY OF MEANING
 SOBRE A NORMATIVIDADE DO SIGNIFICADO ON THE NORMATIVITY OF MEANING Juliano Santos do Carmo 1 Resumo: Os aspectos normativos da linguagem impõem uma restrição substancial sobre as teorias aceitáveis do
SOBRE A NORMATIVIDADE DO SIGNIFICADO ON THE NORMATIVITY OF MEANING Juliano Santos do Carmo 1 Resumo: Os aspectos normativos da linguagem impõem uma restrição substancial sobre as teorias aceitáveis do
Grice: querer dizer. Projecto de Grice: explicar a significação em termos de intenções.
 Grice: querer dizer Referências: Grice, Paul, Meaning, in Studies in the Way of Words, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1989, pp 213-223. Schiffer, Stephen, Meaning, Oxford, Oxford University
Grice: querer dizer Referências: Grice, Paul, Meaning, in Studies in the Way of Words, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1989, pp 213-223. Schiffer, Stephen, Meaning, Oxford, Oxford University
WITTGENSTEIN E A NOÇÃO MINIMALISTA DA VERDADE 1. INTRODUÇÃO
 WITTGENSTEIN E A NOÇÃO MINIMALISTA DA VERDADE PEREIRA, Julio Henrique Carvalho ; DO CARMO, Juliano Santos Universidade Federal de Pelotas juliohenrique-pereira@hotmail.com Universidade Federal de Pelotas
WITTGENSTEIN E A NOÇÃO MINIMALISTA DA VERDADE PEREIRA, Julio Henrique Carvalho ; DO CARMO, Juliano Santos Universidade Federal de Pelotas juliohenrique-pereira@hotmail.com Universidade Federal de Pelotas
constituímos o mundo, mais especificamente, é a relação de referência, entendida como remissão das palavras às coisas que estabelece uma íntima
 1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis
 77 Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis Renato Mendes Rocha 1 mendesrocha@gmail.com Resumo: O discurso a respeito dos Mundos Possíveis pode ser uma ferramenta bastante
77 Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis Renato Mendes Rocha 1 mendesrocha@gmail.com Resumo: O discurso a respeito dos Mundos Possíveis pode ser uma ferramenta bastante
OPERADORES MODAIS (NA INTERFACE LÓGICA E LINGUAGEM NATURAL)
 OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
Quine e Davidson. Tradução radical, indeterminação, caridade, esquemas conceituais e os dogmas do empirismo
 Quine e Davidson Tradução radical, indeterminação, caridade, esquemas conceituais e os dogmas do empirismo Historiografia e Filosofia das Ciências e Matemática ENS003 Prof. Valter A. Bezerra PEHFCM UFABC
Quine e Davidson Tradução radical, indeterminação, caridade, esquemas conceituais e os dogmas do empirismo Historiografia e Filosofia das Ciências e Matemática ENS003 Prof. Valter A. Bezerra PEHFCM UFABC
O que é o conhecimento?
 Disciplina: Filosofia Ano: 11º Ano letivo: 2012/2013 O que é o conhecimento? Texto de Apoio 1. Tipos de Conhecimento No quotidiano falamos de conhecimento, de crenças que estão fortemente apoiadas por
Disciplina: Filosofia Ano: 11º Ano letivo: 2012/2013 O que é o conhecimento? Texto de Apoio 1. Tipos de Conhecimento No quotidiano falamos de conhecimento, de crenças que estão fortemente apoiadas por
Lógica dos Conectivos: validade de argumentos
 Lógica dos Conectivos: validade de argumentos Renata de Freitas e Petrucio Viana IME, UFF 16 de setembro de 2014 Sumário Razões e opiniões. Argumentos. Argumentos bons e ruins. Validade. Opiniões A maior
Lógica dos Conectivos: validade de argumentos Renata de Freitas e Petrucio Viana IME, UFF 16 de setembro de 2014 Sumário Razões e opiniões. Argumentos. Argumentos bons e ruins. Validade. Opiniões A maior
Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein
 Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein NOME DO AUTOR: Priscilla da Veiga BORGES; André da Silva PORTO. UNIDADE ACADÊMICA: Universidade Federal de
Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein NOME DO AUTOR: Priscilla da Veiga BORGES; André da Silva PORTO. UNIDADE ACADÊMICA: Universidade Federal de
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1
 NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
5 Conclusão. ontologicamente distinto.
 5 Conclusão Considerando a força dos três argumentos anti-materialistas defendidos por Chalmers e a possibilidade de doutrinas alternativas não materialistas, devemos definitivamente abandonar o materialismo?
5 Conclusão Considerando a força dos três argumentos anti-materialistas defendidos por Chalmers e a possibilidade de doutrinas alternativas não materialistas, devemos definitivamente abandonar o materialismo?
Searle: Intencionalidade
 Searle: Intencionalidade Referências: Searle, John, The background of meaning, in Searle, J., Kiefer, F., and Bierwisch, M. (eds.), Speech Act Theory and Pragmatics, Dordrecht, Reidel, 1980, pp 221-232.
Searle: Intencionalidade Referências: Searle, John, The background of meaning, in Searle, J., Kiefer, F., and Bierwisch, M. (eds.), Speech Act Theory and Pragmatics, Dordrecht, Reidel, 1980, pp 221-232.
A AUTORIDADE DE PRIMEIRA PESSOA, NO TEMPO PRESENTE: A ESCUTA E A INTERPRETAÇÃO DA ESCUTA
 A AUTORIDADE DE PRIMEIRA PESSOA, NO TEMPO PRESENTE: A ESCUTA E A INTERPRETAÇÃO DA ESCUTA Mariluze Ferreira de Andrade e Silva Laboratório de Lógica e Epistemologia DFIME - UFSJ Resumo: Propomos investigar
A AUTORIDADE DE PRIMEIRA PESSOA, NO TEMPO PRESENTE: A ESCUTA E A INTERPRETAÇÃO DA ESCUTA Mariluze Ferreira de Andrade e Silva Laboratório de Lógica e Epistemologia DFIME - UFSJ Resumo: Propomos investigar
BIOÉTICA: É POSSÍVEL GUIAR-SE POR REGRAS OU UM PARTICULARISMO MORAL É INEVITÁVEL?
 BIOÉTICA: É POSSÍVEL GUIAR-SE POR REGRAS OU UM PARTICULARISMO MORAL É INEVITÁVEL? BIOETHICS: IS IT POSSIBLE TO BE GUIDED BY RULES OR A MORAL PARTICULARISM IS INEVITABLE? DAIANE MARTINS ROCHA (UFSC - Brasil)
BIOÉTICA: É POSSÍVEL GUIAR-SE POR REGRAS OU UM PARTICULARISMO MORAL É INEVITÁVEL? BIOETHICS: IS IT POSSIBLE TO BE GUIDED BY RULES OR A MORAL PARTICULARISM IS INEVITABLE? DAIANE MARTINS ROCHA (UFSC - Brasil)
Robert Brandom: Inferência Material e conteúdo conceitual
 Robert Brandom: Inferência Material e conteúdo conceitual Juliano Santos do Carmo* RESUMO: Este ensaio tem por objetivo apresentar alguns aspectos de uma das versões da teoria do significado como uso que,
Robert Brandom: Inferência Material e conteúdo conceitual Juliano Santos do Carmo* RESUMO: Este ensaio tem por objetivo apresentar alguns aspectos de uma das versões da teoria do significado como uso que,
O Positivismo de Augusto Comte. Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior
 O Positivismo de Augusto Comte Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior Augusto Comte (1798-1857). Um dos pais fundadores da Sociologia. Obras principais: Curso de Filosofia Positiva. 6 volumes. (1830-1842).
O Positivismo de Augusto Comte Professor Cesar Alberto Ranquetat Júnior Augusto Comte (1798-1857). Um dos pais fundadores da Sociologia. Obras principais: Curso de Filosofia Positiva. 6 volumes. (1830-1842).
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura
 O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
A RECUSA DE UMA RELAÇÃO DE DETERMINAÇÃO NAS INVESTIGAÇÕES FILOSÓFICAS
 A RECUSA DE UMA RELAÇÃO DE DETERMINAÇÃO NAS INVESTIGAÇÕES FILOSÓFICAS Raphaela Silva de Oliveira Universidade Ferderal de São Paulo Mestranda Resumo: Pretendo expor panoramicamente, a partir da apresentação
A RECUSA DE UMA RELAÇÃO DE DETERMINAÇÃO NAS INVESTIGAÇÕES FILOSÓFICAS Raphaela Silva de Oliveira Universidade Ferderal de São Paulo Mestranda Resumo: Pretendo expor panoramicamente, a partir da apresentação
Negação em Logical Forms.
 Negação em Logical Forms 125 Oswaldo Chateaubriand 1 Negação em Logical Forms Negação em Logical Forms. Oswaldo Chateaubriand Resumo Neste artigo enumero e discuto brevemente algumas teses centrais de
Negação em Logical Forms 125 Oswaldo Chateaubriand 1 Negação em Logical Forms Negação em Logical Forms. Oswaldo Chateaubriand Resumo Neste artigo enumero e discuto brevemente algumas teses centrais de
6. Conclusão. Contingência da Linguagem em Richard Rorty, seção 1.2).
 6. Conclusão A escolha de tratar neste trabalho da concepção de Rorty sobre a contingência está relacionada ao fato de que o tema perpassa importantes questões da reflexão filosófica, e nos permite termos
6. Conclusão A escolha de tratar neste trabalho da concepção de Rorty sobre a contingência está relacionada ao fato de que o tema perpassa importantes questões da reflexão filosófica, e nos permite termos
UNIDADE IV - LEITURA COMPLEMENTAR
 UNIDADE IV - LEITURA COMPLEMENTAR Alunos (as), Para que vocês encontrem mais detalhes sobre o tema Métodos Científicos, sugerimos a leitura do seguinte texto complementar, desenvolvido pelos professores
UNIDADE IV - LEITURA COMPLEMENTAR Alunos (as), Para que vocês encontrem mais detalhes sobre o tema Métodos Científicos, sugerimos a leitura do seguinte texto complementar, desenvolvido pelos professores
Introdução. Eduardo Ramos Coimbra de Souza
 Introdução Eduardo Ramos Coimbra de Souza SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros SOUZA, ERC. Introdução. In: Schopenhauer e os conhecimentos intuitivo e abstrato: uma teoria sobre as representações
Introdução Eduardo Ramos Coimbra de Souza SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros SOUZA, ERC. Introdução. In: Schopenhauer e os conhecimentos intuitivo e abstrato: uma teoria sobre as representações
Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen
 1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
LIVRO PRINCÍPIOS DE PSICOLOGIA TOPOLÓGICA KURT LEWIN. Profª: Jordana Calil Lopes de Menezes
 LIVRO PRINCÍPIOS DE PSICOLOGIA TOPOLÓGICA KURT LEWIN Profª: Jordana Calil Lopes de Menezes PESSOA E AMBIENTE; O ESPAÇO VITAL Todo e qualquer evento psicológico depende do estado da pessoa e ao mesmo tempo
LIVRO PRINCÍPIOS DE PSICOLOGIA TOPOLÓGICA KURT LEWIN Profª: Jordana Calil Lopes de Menezes PESSOA E AMBIENTE; O ESPAÇO VITAL Todo e qualquer evento psicológico depende do estado da pessoa e ao mesmo tempo
Expressões e enunciados
 Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 2 Expressões e enunciados Sumário 1 Expressões e enunciados 2 1.1 Observações................................ 2 1.2 Exercício resolvido............................
Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 2 Expressões e enunciados Sumário 1 Expressões e enunciados 2 1.1 Observações................................ 2 1.2 Exercício resolvido............................
Metáfora. Companion to the Philosophy of Language, Oxford, Blackwell, 1998, pp
 Metáfora Referências: Aristóteles, Retórica, Lisboa, INCM, 2005. Black, Max, More about metaphor, in Ortony, Andrew (ed.), Metaphor and Thought (2 nd ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1993,
Metáfora Referências: Aristóteles, Retórica, Lisboa, INCM, 2005. Black, Max, More about metaphor, in Ortony, Andrew (ed.), Metaphor and Thought (2 nd ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1993,
FILOSOFIA COMENTÁRIO DA PROVA DE FILOSOFIA
 COMENTÁRIO DA PROVA DE FILOSOFIA Mais uma vez a UFPR oferece aos alunos uma prova exigente e bem elaborada, com perguntas formuladas com esmero e citações muito pertinentes. A prova de filosofia da UFPR
COMENTÁRIO DA PROVA DE FILOSOFIA Mais uma vez a UFPR oferece aos alunos uma prova exigente e bem elaborada, com perguntas formuladas com esmero e citações muito pertinentes. A prova de filosofia da UFPR
PROGRAMA ANUAL DE CONTEÚDOS ENSINO FUNDAMENTAL II - 7ª SÉRIE PROFESSOR EDUARDO EMMERICK FILOSOFIA
 FILOSOFIA 1º VOLUME (separata) FILOSOFIA E A PERCEPÇÃO DO MUNDO Unidade 01 Apresentação O Começo do Pensamento - A coruja é o símbolo da filosofia. - A história do pensamento. O que é Filosofia - Etimologia
FILOSOFIA 1º VOLUME (separata) FILOSOFIA E A PERCEPÇÃO DO MUNDO Unidade 01 Apresentação O Começo do Pensamento - A coruja é o símbolo da filosofia. - A história do pensamento. O que é Filosofia - Etimologia
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE. O que é Ciência?
 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE O que é Ciência? O QUE É CIÊNCIA? 1 Conhecimento sistematizado como campo de estudo. 2 Observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo de fenômenos
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE O que é Ciência? O QUE É CIÊNCIA? 1 Conhecimento sistematizado como campo de estudo. 2 Observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo de fenômenos
TESTE SEUS CONHECIMENTOS sobre o MESTRE GENEBRINO! Faça o teste, conte os pontos e veja no final comentários sobre a sua pontuação.
 TESTE SEUS CONHECIMENTOS sobre o MESTRE GENEBRINO! Faça o teste, conte os pontos e veja no final comentários sobre a sua pontuação. Você encontra as leituras de apoio ao exercício neste link: http://www.revel.inf.br/pt/edicoes/?mode=especial&id=13
TESTE SEUS CONHECIMENTOS sobre o MESTRE GENEBRINO! Faça o teste, conte os pontos e veja no final comentários sobre a sua pontuação. Você encontra as leituras de apoio ao exercício neste link: http://www.revel.inf.br/pt/edicoes/?mode=especial&id=13
LÓGICA I. André Pontes
 LÓGICA I André Pontes 1. Conceitos fundamentais O que é a Lógica? A LÓGICA ENQUANTO DISCIPLINA Estudo das leis de preservação da verdade. [Frege; O Pensamento] Estudo das formas válidas de argumentos.
LÓGICA I André Pontes 1. Conceitos fundamentais O que é a Lógica? A LÓGICA ENQUANTO DISCIPLINA Estudo das leis de preservação da verdade. [Frege; O Pensamento] Estudo das formas válidas de argumentos.
Wittgenstein e o Princípio do Contexto
 Wittgenstein e o Princípio do Contexto Ana Falcato, IFL FCSH/UNL FLUP 7 de Dezembro de 2012 O Princípio do Contexto Frege, 1882: Introdução aos Fundamentos da Aritmética: «Nunca (devemos) perguntar pelo
Wittgenstein e o Princípio do Contexto Ana Falcato, IFL FCSH/UNL FLUP 7 de Dezembro de 2012 O Princípio do Contexto Frege, 1882: Introdução aos Fundamentos da Aritmética: «Nunca (devemos) perguntar pelo
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER
 RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
IME, UFF 4 de novembro de 2013
 Lógica IME, UFF 4 de novembro de 2013 Sumário e ferramentas Considere o seguinte texto, da aritmética dos números naturais. Teorema: Todo número inteiro positivo maior que 1 tem um fator primo. Prova:
Lógica IME, UFF 4 de novembro de 2013 Sumário e ferramentas Considere o seguinte texto, da aritmética dos números naturais. Teorema: Todo número inteiro positivo maior que 1 tem um fator primo. Prova:
Enunciados Quantificados Equivalentes
 Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 15 Enunciados Quantificados Equivalentes Sumário 1 Equivalência de enunciados quantificados 2 1.1 Observações................................
Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 15 Enunciados Quantificados Equivalentes Sumário 1 Equivalência de enunciados quantificados 2 1.1 Observações................................
SENTIDOS E PROPRIEDADES 1. Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2
 Abstracta 1:1 pp. 40 51, 2004 SENTIDOS E PROPRIEDADES 1 Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2 Abstract: This article proposes an interpretation of the sense/reference distinction, especially regarding predicates.
Abstracta 1:1 pp. 40 51, 2004 SENTIDOS E PROPRIEDADES 1 Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2 Abstract: This article proposes an interpretation of the sense/reference distinction, especially regarding predicates.
Aula 02 CONCEITO DE RAÇA, ETNICIDADE E SAÚDE. 1. Definição de raça
 Aula 02 CONCEITO DE RAÇA, ETNICIDADE E SAÚDE Nas últimas décadas, diversos estudos tem mostrado diferenças raciais marcantes na morbimortalidade, no comportamento ante a doença e saúde, no acesso e uso
Aula 02 CONCEITO DE RAÇA, ETNICIDADE E SAÚDE Nas últimas décadas, diversos estudos tem mostrado diferenças raciais marcantes na morbimortalidade, no comportamento ante a doença e saúde, no acesso e uso
A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA
 MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
WITTGENSTEIN PSICÓLOGO?
 WITTGENSTEIN PSICÓLOGO? JOSELÍ BASTOS DA COSTA Resumo: Wittgenstein critica a Psicologia de sua época, particularmente o mentalismo formulado numa perspectiva essencialista e o uso de uma linguagem fisicalista
WITTGENSTEIN PSICÓLOGO? JOSELÍ BASTOS DA COSTA Resumo: Wittgenstein critica a Psicologia de sua época, particularmente o mentalismo formulado numa perspectiva essencialista e o uso de uma linguagem fisicalista
RESENHA. LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp.
 RESENHA LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp. Pedro Merlussi 1 Eis aqui mais ou menos o que a academia brasileira parece pensar acerca da metafísica nos dias
RESENHA LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp. Pedro Merlussi 1 Eis aqui mais ou menos o que a academia brasileira parece pensar acerca da metafísica nos dias
O DUALISMO ESQUEMA-CONTEÚDO EM QUINE 1
 O DUALISMO ESQUEMA-CONTEÚDO EM QUINE 1 NAIDON, Karen Giovana Videla da Cunha 2 ; ROMANINI, Mateus 3 1 Trabalho de Pesquisa _UFSM 2 Curso de Pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria
O DUALISMO ESQUEMA-CONTEÚDO EM QUINE 1 NAIDON, Karen Giovana Videla da Cunha 2 ; ROMANINI, Mateus 3 1 Trabalho de Pesquisa _UFSM 2 Curso de Pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria
Desenvolvimento de um modelo de ensino da Física
 Desenvolvimento de um modelo de ensino da Física Modelação ou desenvolvimento de um modelo Processo cognitivo de aplicação dos princípios de uma teoria para produzir um modelo de um objecto físico ou de
Desenvolvimento de um modelo de ensino da Física Modelação ou desenvolvimento de um modelo Processo cognitivo de aplicação dos princípios de uma teoria para produzir um modelo de um objecto físico ou de
PROVA TEMÁTICA/2013 GERAÇÃO CONTEMPORÂNEA: desafios e novas possibilidades
 PROVA TEMÁTICA/2013 GERAÇÃO CONTEMPORÂNEA: desafios e novas possibilidades 7 ANO / ENSINO FUNDAMENTAL MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS (LÍNGUA PORTUGUESA, REDAÇÃO, ARTES E
PROVA TEMÁTICA/2013 GERAÇÃO CONTEMPORÂNEA: desafios e novas possibilidades 7 ANO / ENSINO FUNDAMENTAL MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS (LÍNGUA PORTUGUESA, REDAÇÃO, ARTES E
A ciência deveria valorizar a pesquisa experimental, visando proporcionar resultados objetivos para o homem.
 FRANCIS BACON Ocupou cargos políticos importantes no reino britânico; Um dos fundadores do método indutivo de investigação científica; Saber é poder ; A ciência é um instrumento prático de controle da
FRANCIS BACON Ocupou cargos políticos importantes no reino britânico; Um dos fundadores do método indutivo de investigação científica; Saber é poder ; A ciência é um instrumento prático de controle da
A REVOLUÇÃO CARTESIANA. Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV.
 A REVOLUÇÃO CARTESIANA Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV. Descartes (1596-1650) foi educado por jesuítas. Ele iniciou a filosofia moderna com um
A REVOLUÇÃO CARTESIANA Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV. Descartes (1596-1650) foi educado por jesuítas. Ele iniciou a filosofia moderna com um
Revisão de Metodologia Científica
 Revisão de Metodologia Científica Luiz Eduardo S. Oliveira Universidade Federal do Paraná Departamento de Informática http://lesoliveira.net Luiz S. Oliveira (UFPR) Revisão de Metodologia Científica 1
Revisão de Metodologia Científica Luiz Eduardo S. Oliveira Universidade Federal do Paraná Departamento de Informática http://lesoliveira.net Luiz S. Oliveira (UFPR) Revisão de Metodologia Científica 1
1. Quanto às afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA : I O direito é autônomo, enquanto a moral é heterônoma.
 P á g i n a 1 PROVA DAS DISCIPLINAS CORRELATAS TEORIA GERAL DO DIREITO 1. Quanto às afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA : I O direito é autônomo, enquanto a moral é heterônoma. II O valor jurídico
P á g i n a 1 PROVA DAS DISCIPLINAS CORRELATAS TEORIA GERAL DO DIREITO 1. Quanto às afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA : I O direito é autônomo, enquanto a moral é heterônoma. II O valor jurídico
POR QUE ENSINAR GRAMÁTICA
 POR QUE ENSINAR GRAMÁTICA José Fernandes Vilela (UFMG) Quando se indaga por que ensinar teoria gramatical, está-se, na verdade, indagando para que ensiná-la. Ou seja, estão-se buscando, em linguagem pedagógica,
POR QUE ENSINAR GRAMÁTICA José Fernandes Vilela (UFMG) Quando se indaga por que ensinar teoria gramatical, está-se, na verdade, indagando para que ensiná-la. Ou seja, estão-se buscando, em linguagem pedagógica,
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
 UM ESTUDO DESCRITIVO E COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS PROPOSTAS GERATIVAS Marcela Cockell (UERJ) marcelacockell@hotmail.com RESUMO O presente artigo procura desenvolver um breve estudo descritivo e comparativo
UM ESTUDO DESCRITIVO E COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS PROPOSTAS GERATIVAS Marcela Cockell (UERJ) marcelacockell@hotmail.com RESUMO O presente artigo procura desenvolver um breve estudo descritivo e comparativo
Cálculo proposicional
 O estudo da lógica é a análise de métodos de raciocínio. No estudo desses métodos, a lógica esta interessada principalmente na forma e não no conteúdo dos argumentos. Lógica: conhecimento das formas gerais
O estudo da lógica é a análise de métodos de raciocínio. No estudo desses métodos, a lógica esta interessada principalmente na forma e não no conteúdo dos argumentos. Lógica: conhecimento das formas gerais
AULA 2. Texto e Textualização. Prof. Daniel Mazzaro Vilar de Almeida 2013/1º
 AULA 2 Texto e Textualização Prof. Daniel Mazzaro Vilar de Almeida 2013/1º daniel.almeida@unifal-mg.edu.br O QUE É TEXTO? Para Costa Val, texto = discurso. É uma ocorrência linguística falada ou escrita,
AULA 2 Texto e Textualização Prof. Daniel Mazzaro Vilar de Almeida 2013/1º daniel.almeida@unifal-mg.edu.br O QUE É TEXTO? Para Costa Val, texto = discurso. É uma ocorrência linguística falada ou escrita,
AULA Nº 7 METODOLOGIA CIENTÍFICA ALGUNS TIPOS DE PESQUISAS E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS. Prof. MSc. Fernando Soares da Rocha Júnior
 AULA Nº 7 METODOLOGIA CIENTÍFICA ALGUNS TIPOS DE PESQUISAS E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Prof. MSc. Fernando Soares da Rocha Júnior 1 AGENDA DA AULA O que é uma pesquisa?; Pesquisa quanto à abordagem;
AULA Nº 7 METODOLOGIA CIENTÍFICA ALGUNS TIPOS DE PESQUISAS E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Prof. MSc. Fernando Soares da Rocha Júnior 1 AGENDA DA AULA O que é uma pesquisa?; Pesquisa quanto à abordagem;
Modelagem de Sistemas. Análise de Requisitos. Modelagem
 Modelagem de Sistemas Teoria Geral de Sistemas TADS 2. Semestre Prof. André Luís Para abordarmos de forma mais profunda os conceitos de Modelagem de Sistemas de Informação, precisamos também falar na Engenharia
Modelagem de Sistemas Teoria Geral de Sistemas TADS 2. Semestre Prof. André Luís Para abordarmos de forma mais profunda os conceitos de Modelagem de Sistemas de Informação, precisamos também falar na Engenharia
Mundos sucientes e tempo, aula 2 de Aulas Informais de Semântica Formal (Bach 1987) Luiz Arthur Pagani
 Mundos sucientes e tempo, aula 2 de Aulas Informais de Semântica Formal (Bach 1987) Luiz Arthur Pagani 1 Que tipo de estrutura de modelos é apropriada ou adequada para as línguas naturais? (p. 15) gramática
Mundos sucientes e tempo, aula 2 de Aulas Informais de Semântica Formal (Bach 1987) Luiz Arthur Pagani 1 Que tipo de estrutura de modelos é apropriada ou adequada para as línguas naturais? (p. 15) gramática
Linguagem Coloquial e Culta. Prof.: Michele Nasu Tomiyama Bucci
 Linguagem Coloquial e Culta Prof.: Michele Nasu Tomiyama Bucci Introdução Os critérios que determinam a norma (padrões de uso)de uma língua se estabelecem ao longo do tempo principalmente pela ação da
Linguagem Coloquial e Culta Prof.: Michele Nasu Tomiyama Bucci Introdução Os critérios que determinam a norma (padrões de uso)de uma língua se estabelecem ao longo do tempo principalmente pela ação da
RESUMO. Filosofia. Psicologia, JB
 RESUMO Filosofia Psicologia, JB - 2010 Jorge Barbosa, 2010 1 Saber se o mundo exterior é real e qual a consciência e o conhecimento que temos dele é um dos problemas fundamentais acerca do processo de
RESUMO Filosofia Psicologia, JB - 2010 Jorge Barbosa, 2010 1 Saber se o mundo exterior é real e qual a consciência e o conhecimento que temos dele é um dos problemas fundamentais acerca do processo de
INTRODUÇÃO À NATUREZA DA CIÊNCIA. O conhecimento científico é uma forma específica de conhecer e perceber o mundo!!! 2. A PRINCIPAL QUESTÃO: Modelos
 INTRODUÇÃO À NATUREZA DA CIÊNCIA 2. A PRINCIPAL QUESTÃO: 1. INTRODUZINDO A QUESTÃO: O QUE É CIÊNCIA, AFINAL????? Modelos Leis Por que estudar natureza da ciência???? Qual a importância desses conhecimentos
INTRODUÇÃO À NATUREZA DA CIÊNCIA 2. A PRINCIPAL QUESTÃO: 1. INTRODUZINDO A QUESTÃO: O QUE É CIÊNCIA, AFINAL????? Modelos Leis Por que estudar natureza da ciência???? Qual a importância desses conhecimentos
Evento: Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação Edital N 144/2016 PARECER
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COORDENADORIA DE CONCURSOS CCV Evento: Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação Edital N 144/2016 PARECER A Comissão Examinadora da Prova
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COORDENADORIA DE CONCURSOS CCV Evento: Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação Edital N 144/2016 PARECER A Comissão Examinadora da Prova
A PROPRIEDADE DE SUPOSIÇÃO NA LÓGICA DE OCKHAM
 A PROPRIEDADE DE SUPOSIÇÃO NA LÓGICA DE OCKHAM THE PROPERTY OF SUPPOSITION IN THE LOGIC OF OCKHAM Magno de Souza Simões (LABLE/FAPEMIG UFSJ) Mariluze Ferreira de Andrade e Silva - Orientadora (LABLE/DFIME-UFSJ)
A PROPRIEDADE DE SUPOSIÇÃO NA LÓGICA DE OCKHAM THE PROPERTY OF SUPPOSITION IN THE LOGIC OF OCKHAM Magno de Souza Simões (LABLE/FAPEMIG UFSJ) Mariluze Ferreira de Andrade e Silva - Orientadora (LABLE/DFIME-UFSJ)
CRÍTICA DE HEIDEGGER A DESCARTES
 CRÍTICA DE HEIDEGGER A DESCARTES Guilherme Devequi Quintilhano Orientador: Prof. Dr. Eder Soares Santos RESUMO Nesta comunicação será apresentada uma crítica de Martin Heidegger, filósofo contemporâneo,
CRÍTICA DE HEIDEGGER A DESCARTES Guilherme Devequi Quintilhano Orientador: Prof. Dr. Eder Soares Santos RESUMO Nesta comunicação será apresentada uma crítica de Martin Heidegger, filósofo contemporâneo,
A TEORIA SÓCIO-CULTURAL DA APRENDIZAGEM E DO ENSINO. Leon S. Vygotsky ( )
 A TEORIA SÓCIO-CULTURAL DA APRENDIZAGEM E DO ENSINO Leon S. Vygotsky (1896-1934) O CONTEXTO DA OBRA - Viveu na União Soviética saída da Revolução Comunista de 1917 - Materialismo marxista - Desejava reescrever
A TEORIA SÓCIO-CULTURAL DA APRENDIZAGEM E DO ENSINO Leon S. Vygotsky (1896-1934) O CONTEXTO DA OBRA - Viveu na União Soviética saída da Revolução Comunista de 1917 - Materialismo marxista - Desejava reescrever
MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA REDAÇÃO DETALHAMENTO POR COMPETÊNCIA FUVEST
 MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA REDAÇÃO DETALHAMENTO POR COMPETÊNCIA FUVEST C1- Desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo-argumentativo (Peso 4) Aqui são avaliados se o aluno cumpriu todos
MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA REDAÇÃO DETALHAMENTO POR COMPETÊNCIA FUVEST C1- Desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo-argumentativo (Peso 4) Aqui são avaliados se o aluno cumpriu todos
Indução e filosofia da ciência 1
 O equilíbrio dos indícios Indução e filosofia da ciência 1 Stephen Law Algumas das questões mais centrais e importantes colocadas por filósofos da ciência dizem respeito ao problema da confirmação. Os
O equilíbrio dos indícios Indução e filosofia da ciência 1 Stephen Law Algumas das questões mais centrais e importantes colocadas por filósofos da ciência dizem respeito ao problema da confirmação. Os
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COORDENADORIA DE CONCURSOS CCV
 Questão: 02 O candidato alega que, na questão 02, tanto a alternativa E como a alternativa A apresentam-se corretas, visto que as linhas 12 e 13 mostram que os violinistas mais relaxados também tinham
Questão: 02 O candidato alega que, na questão 02, tanto a alternativa E como a alternativa A apresentam-se corretas, visto que as linhas 12 e 13 mostram que os violinistas mais relaxados também tinham
Aula 3 - Modelo Entidade-Relacionamento
 Aula 3 - Modelo Entidade-Relacionamento 1. Conceitos básicos O modelo Entidade-Relacionamento (E-R) tem por base a percepção de que o mundo real é formado por um conjunto de objetos chamados de entidades
Aula 3 - Modelo Entidade-Relacionamento 1. Conceitos básicos O modelo Entidade-Relacionamento (E-R) tem por base a percepção de que o mundo real é formado por um conjunto de objetos chamados de entidades
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
 EMENTAS DO CURSO DE FILOSOFIA Currículo Novo (a partir de 2010/1) NÍVEL I HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA Reflexão acerca da transição do pensamento mítico ao filosófico. Estudo de problemas, conceitos e
EMENTAS DO CURSO DE FILOSOFIA Currículo Novo (a partir de 2010/1) NÍVEL I HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA Reflexão acerca da transição do pensamento mítico ao filosófico. Estudo de problemas, conceitos e
Aula demonstrativa Apresentação... 2 Modelos de questões resolvidas IBFC... 4
 Aula demonstrativa Apresentação... 2 Modelos de questões resolvidas IBFC... 4 1 Apresentação Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Finalmente saiu o edital do TCM/RJ Para quem ainda não me conhece, meu nome
Aula demonstrativa Apresentação... 2 Modelos de questões resolvidas IBFC... 4 1 Apresentação Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Finalmente saiu o edital do TCM/RJ Para quem ainda não me conhece, meu nome
John Locke. Trabalho apresentado pela aluna Luciana Cidrim. Recife, 08 de Setembro de 2015
 Universidade Católica de Pernambuco Programa de Pós- Graduação em Ciências da Linguagem Disciplina: Filosofia da Linguagem Prof. Dr. Karl Heinz EGen John Locke Trabalho apresentado pela aluna Luciana Cidrim
Universidade Católica de Pernambuco Programa de Pós- Graduação em Ciências da Linguagem Disciplina: Filosofia da Linguagem Prof. Dr. Karl Heinz EGen John Locke Trabalho apresentado pela aluna Luciana Cidrim
8 A L B E R T E I N S T E I N
 7 PREFÁCIO Este livro pretende dar uma idéia, a mais exata possível, da Teoria da Relatividade àqueles que, de um ponto de vista geral científico e filosófico, se interessam pela teoria mas não dominam
7 PREFÁCIO Este livro pretende dar uma idéia, a mais exata possível, da Teoria da Relatividade àqueles que, de um ponto de vista geral científico e filosófico, se interessam pela teoria mas não dominam
Epistemologia deriva de episteme, que significa "ciência", e Logia que significa "estudo", etimologia como "o estudo da ciência".
 Epistemologia deriva de episteme, que significa "ciência", e Logia que significa "estudo", etimologia como "o estudo da ciência". Epistemologia é a teoria do conhecimento, é a crítica, estudo ou tratado
Epistemologia deriva de episteme, que significa "ciência", e Logia que significa "estudo", etimologia como "o estudo da ciência". Epistemologia é a teoria do conhecimento, é a crítica, estudo ou tratado
Aula demonstrativa Apresentação... 2 Modelos de questões resolvidas IBFC... 3
 Aula demonstrativa Apresentação... 2 Modelos de questões resolvidas IBFC... 3 www.pontodosconcursos.com.br 1 Apresentação Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Em breve teremos o concurso do TCM/RJ e sabemos
Aula demonstrativa Apresentação... 2 Modelos de questões resolvidas IBFC... 3 www.pontodosconcursos.com.br 1 Apresentação Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Em breve teremos o concurso do TCM/RJ e sabemos
Palavras-Chave: Filosofia da Linguagem. Significado. Uso. Wittgenstein.
 SIGNIFICADO E USO NO TRACTATUS Igor Gonçalves de Jesus 1 Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar o que Wittgenstein, em sua primeira fase de pensamento, mais especificamente em seu Tractatus
SIGNIFICADO E USO NO TRACTATUS Igor Gonçalves de Jesus 1 Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar o que Wittgenstein, em sua primeira fase de pensamento, mais especificamente em seu Tractatus
Filosofia COTAÇÕES GRUPO I GRUPO II GRUPO III. Teste Intermédio de Filosofia. Teste Intermédio. Duração do Teste: 90 minutos
 Teste Intermédio de Filosofia Teste Intermédio Filosofia Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março 1. 2. COTAÇÕES GRUPO I 1.1.... 10 pontos
Teste Intermédio de Filosofia Teste Intermédio Filosofia Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março 1. 2. COTAÇÕES GRUPO I 1.1.... 10 pontos
PLATÃO E O MUNDO IDEAL
 Introdução: PLATÃO E O MUNDO IDEAL - A importância do pensamento de Platão se deve justamente por conseguir conciliar os mundos: dos Pré-Socráticos, com suas indagações sobre o surgimento do Cosmo (lê-se:
Introdução: PLATÃO E O MUNDO IDEAL - A importância do pensamento de Platão se deve justamente por conseguir conciliar os mundos: dos Pré-Socráticos, com suas indagações sobre o surgimento do Cosmo (lê-se:
Aula 3: Como formular um problema de pesquisa? Disciplina: Métodos de Pesquisa
 Aula 3: Como formular um problema de pesquisa? Disciplina: Métodos de Pesquisa 1.1 O que é mesmo um problema? O dicionário Houaiss da Língua Portuguesa indica diversos significados de problema e nós escolheremos
Aula 3: Como formular um problema de pesquisa? Disciplina: Métodos de Pesquisa 1.1 O que é mesmo um problema? O dicionário Houaiss da Língua Portuguesa indica diversos significados de problema e nós escolheremos
O que é pesquisa? inquietações, ou para um problema;
 Metodologia da Pesquisa: A construção do conhecimento O que é pesquisa? 1. Pesquisar é procurar respostas para inquietações, ou para um problema; 2. Atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta
Metodologia da Pesquisa: A construção do conhecimento O que é pesquisa? 1. Pesquisar é procurar respostas para inquietações, ou para um problema; 2. Atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta
Reflexões críticas: na cama com Madonna. Thierry de Duve
 Reflexões críticas: na cama com Madonna. Thierry de Duve O que, então, me incita a escrever sobre uma dada obra ou um conjunto de obras? Preciso gostar dela, eis o primeiro ponto. Ou, talvez, não. Gostar
Reflexões críticas: na cama com Madonna. Thierry de Duve O que, então, me incita a escrever sobre uma dada obra ou um conjunto de obras? Preciso gostar dela, eis o primeiro ponto. Ou, talvez, não. Gostar
TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIA SÉCULO XX
 TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIA SÉCULO XX Abordagens extrínsecas Literatura e Biografia Tese: a biografia do autor explica e ilumina a obra. Objeções: 1) O conhecimento biográfico pode ter valor exegético,
TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIA SÉCULO XX Abordagens extrínsecas Literatura e Biografia Tese: a biografia do autor explica e ilumina a obra. Objeções: 1) O conhecimento biográfico pode ter valor exegético,
TEORIA DA LINGUAGEM O REALISMO - NORMAN GEISLER. vivendopelapalavra.com. Revisão e diagramação por: Helio Clemente
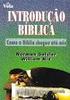 TEORIA DA LINGUAGEM O REALISMO - NORMAN GEISLER vivendopelapalavra.com Revisão e diagramação por: Helio Clemente REALISMO: UMA ALTERNATIVA AO ESSENCIALISMO E AO CONVENCIONALISMO A visão convencionalista
TEORIA DA LINGUAGEM O REALISMO - NORMAN GEISLER vivendopelapalavra.com Revisão e diagramação por: Helio Clemente REALISMO: UMA ALTERNATIVA AO ESSENCIALISMO E AO CONVENCIONALISMO A visão convencionalista
COMENTÁRIO DA PROVA DE FILOSOFIA. Professores Daniel Hortêncio de Medeiros, Eduardo Emerick e Ricardo Luiz de Mello
 COMENTÁRIO DA PROVA DE FILOSOFIA Professores Daniel Hortêncio de Medeiros, Eduardo Emerick e Ricardo Luiz de Mello Excelente prova. Clara, direta, coerente e consistente. Os alunos e alunas prepararam-se
COMENTÁRIO DA PROVA DE FILOSOFIA Professores Daniel Hortêncio de Medeiros, Eduardo Emerick e Ricardo Luiz de Mello Excelente prova. Clara, direta, coerente e consistente. Os alunos e alunas prepararam-se
O texto de L. Carroll pode ser resumido assim: Dado um argumento (E) do tipo euclidiano como o abaixo
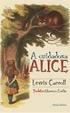 A Lógica da Conversação na Conversação sobre a Lógica Jorge Campos PUCRS Uma interessante questão de filosofia da linguagem surge com as inconsistências que podem ser identificadas quando o tema da racionalidade
A Lógica da Conversação na Conversação sobre a Lógica Jorge Campos PUCRS Uma interessante questão de filosofia da linguagem surge com as inconsistências que podem ser identificadas quando o tema da racionalidade
Trabalho sobre: René Descartes Apresentado dia 03/03/2015, na A;R;B;L;S : Pitágoras nº 28 Or:.Londrina PR., para Aumento de Sal:.
 ARBLS PITAGORAS Nº 28 Fundação : 21 de Abril de 1965 Rua Júlio Cesar Ribeiro, 490 CEP 86001-970 LONDRINA PR JOSE MARIO TOMAL TRABALHO PARA O PERÍODO DE INSTRUÇÃO RENE DESCARTES LONDRINA 2015 JOSE MARIO
ARBLS PITAGORAS Nº 28 Fundação : 21 de Abril de 1965 Rua Júlio Cesar Ribeiro, 490 CEP 86001-970 LONDRINA PR JOSE MARIO TOMAL TRABALHO PARA O PERÍODO DE INSTRUÇÃO RENE DESCARTES LONDRINA 2015 JOSE MARIO
Agenealogia dos Estudos Culturais é objeto de dissenso
 Cinqüentenário de um discurso cultural fundador WILLIAMS, R. Culture and society 1780-1950. [Londres, Longman, 1958]. Cultura e sociedade. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1969. Agenealogia dos Estudos
Cinqüentenário de um discurso cultural fundador WILLIAMS, R. Culture and society 1780-1950. [Londres, Longman, 1958]. Cultura e sociedade. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1969. Agenealogia dos Estudos
Pessoa e o Valor da Reflexão
 Pessoa e o Valor da Reflexão Ana Margarete B. de Freitas 1. O Problema A palavra pessoa tem um significado especial na designação dos seres humanos nos discursos ordinários. O conceito de pessoa possui
Pessoa e o Valor da Reflexão Ana Margarete B. de Freitas 1. O Problema A palavra pessoa tem um significado especial na designação dos seres humanos nos discursos ordinários. O conceito de pessoa possui
CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA. Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon.
 CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA Artur Bezzi Gunther Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon. 1. Duração: 02 horas e 15 minutos. 2. Recursos didáticos:
CONHECIMENTO, CETICISMO E CIÊNCIA Artur Bezzi Gunther Organizadores: Artur Bezzi Günther, Eduardo Antonielo de Avila e Maria Eugênia Zanchet Bordignon. 1. Duração: 02 horas e 15 minutos. 2. Recursos didáticos:
Locke ( ) iniciou o movimento chamado de EMPIRISMO INGLÊS. Material adaptado, produzido por Cláudio, da UFRN, 2012.
 Locke (1632-1704) iniciou o movimento chamado de EMPIRISMO INGLÊS. Material adaptado, produzido por Cláudio, da UFRN, 2012. Racionalismo x Empirismo O que diz o Racionalismo (Descartes, Spinoza, Leibiniz)?
Locke (1632-1704) iniciou o movimento chamado de EMPIRISMO INGLÊS. Material adaptado, produzido por Cláudio, da UFRN, 2012. Racionalismo x Empirismo O que diz o Racionalismo (Descartes, Spinoza, Leibiniz)?
ÍNDICE. Bibliografia CRES-FIL11 Ideias de Ler
 ÍNDICE 1. Introdução... 5 2. Competências essenciais do aluno... 6 3. Como ler um texto... 7 4. Como ler uma pergunta... 8 5. Como fazer um trabalho... 9 6. Conteúdos/Temas 11.º Ano... 11 III Racionalidade
ÍNDICE 1. Introdução... 5 2. Competências essenciais do aluno... 6 3. Como ler um texto... 7 4. Como ler uma pergunta... 8 5. Como fazer um trabalho... 9 6. Conteúdos/Temas 11.º Ano... 11 III Racionalidade
PC Polícia Civil do Estado de São Paulo PAPILOSCOPISTA
 PC Polícia Civil do Estado de São Paulo PAPILOSCOPISTA Concurso Público 2016 Conteúdo Teoria dos conjuntos. Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Porcentagem. Regras de três simples. Conjuntos numéricos
PC Polícia Civil do Estado de São Paulo PAPILOSCOPISTA Concurso Público 2016 Conteúdo Teoria dos conjuntos. Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Porcentagem. Regras de três simples. Conjuntos numéricos
PÊCHEUX E A PLURIVOCIDADE DOS SENTIDOS 1
 1 PÊCHEUX E A PLURIVOCIDADE DOS SENTIDOS 1 Silmara Cristina DELA-SILVA Universidade Estadual Paulista (Unesp)... as palavras, expressões, proposições etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas
1 PÊCHEUX E A PLURIVOCIDADE DOS SENTIDOS 1 Silmara Cristina DELA-SILVA Universidade Estadual Paulista (Unesp)... as palavras, expressões, proposições etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas
Construindo uma tese científica: pesquisa e argumentação
 1 1. Artigo Tema: Ensino de argumentação filosófica Construindo uma tese científica: pesquisa e argumentação Gabriel Goldmeier Conhecimento: crença verdadeira corretamente justificada A Teoria do Conhecimento
1 1. Artigo Tema: Ensino de argumentação filosófica Construindo uma tese científica: pesquisa e argumentação Gabriel Goldmeier Conhecimento: crença verdadeira corretamente justificada A Teoria do Conhecimento
A FILOSOFIA DA LINGUAGEM DE WITTGENSTEIN E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
 A FILOSOFIA DA LINGUAGEM DE WITTGENSTEIN E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL Carlos André de Lemos Faculdade dos Guararapes Carlosdelemos1@hotmail.com Maiara Araújo de Santana Faculdade dos Guararapes
A FILOSOFIA DA LINGUAGEM DE WITTGENSTEIN E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL Carlos André de Lemos Faculdade dos Guararapes Carlosdelemos1@hotmail.com Maiara Araújo de Santana Faculdade dos Guararapes
Teoria do Conhecimento:
 Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
COMENTÁRIO SOBRE O CONCEITO DE SENTIMENTO NO MONISMO DE TRIPLO ASPECTO DE ALFREDO PEREIRA JR.
 COMENTÁRIO SOBRE O CONCEITO DE SENTIMENTO NO MONISMO DE TRIPLO ASPECTO DE ALFREDO PEREIRA JR. Cláudia Passos-Ferreira 1 Embora muito esforço já tenha sido dispendido na tentativa de resolver o problema
COMENTÁRIO SOBRE O CONCEITO DE SENTIMENTO NO MONISMO DE TRIPLO ASPECTO DE ALFREDO PEREIRA JR. Cláudia Passos-Ferreira 1 Embora muito esforço já tenha sido dispendido na tentativa de resolver o problema
Interpretações, cap. 8 de Introdução à Lógica (Mortari 2001) Luiz Arthur Pagani
 Interpretações, cap. 8 de Introdução à Lógica (Mortari 2001) Luiz Arthur Pagani 1 1 Signicado e verdade condições para verdadeiro ou falso: Como um argumento é (intuitivamente) válido se não é possível
Interpretações, cap. 8 de Introdução à Lógica (Mortari 2001) Luiz Arthur Pagani 1 1 Signicado e verdade condições para verdadeiro ou falso: Como um argumento é (intuitivamente) válido se não é possível
Profa. Dra. Elizabeth Teixeira. Objeto de estudo e Problema de pesquisa
 Profa. Dra. Elizabeth Teixeira Objeto de estudo e Problema de pesquisa OBJETO DE ESTUDO [...] se propõe aqui que a definição do objeto seja feita por meio de uma frase curta e precisa[...] (SALOMON, 2000,
Profa. Dra. Elizabeth Teixeira Objeto de estudo e Problema de pesquisa OBJETO DE ESTUDO [...] se propõe aqui que a definição do objeto seja feita por meio de uma frase curta e precisa[...] (SALOMON, 2000,
Guia de Leitura em Ciências Sociais: Como lidar com exercícios de leituras longas
 Guia de Leitura em Ciências Sociais: Como lidar com exercícios de leituras longas Ao defrontar-se com uma longa lista de leituras em qualquer campo das ciências sociais, é preciso aprender a ler tanto
Guia de Leitura em Ciências Sociais: Como lidar com exercícios de leituras longas Ao defrontar-se com uma longa lista de leituras em qualquer campo das ciências sociais, é preciso aprender a ler tanto
Um Estudo da Concepção de Self em William James: Uma Reavaliação de seus Escritos Psicológicos
 Apresentação oral Um Estudo da Concepção de Self em William James: Uma Reavaliação de seus Escritos Psicológicos Camila Soares Carbogim 1 ; Jaqueline Ferreira Condé de Melo 2 & Saulo de Freitas Araujo
Apresentação oral Um Estudo da Concepção de Self em William James: Uma Reavaliação de seus Escritos Psicológicos Camila Soares Carbogim 1 ; Jaqueline Ferreira Condé de Melo 2 & Saulo de Freitas Araujo
Possibilidade relativa
 Page 1 of 7 criticanarede.com ISSN 1749-8457 30 de Setembro de 2003 Metafísica e lógica filosófica Possibilidade relativa Três concepções Desidério Murcho Segundo a concepção de Bob Hale (1997) e Ian McFetridge
Page 1 of 7 criticanarede.com ISSN 1749-8457 30 de Setembro de 2003 Metafísica e lógica filosófica Possibilidade relativa Três concepções Desidério Murcho Segundo a concepção de Bob Hale (1997) e Ian McFetridge
