UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE LETRAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM CAMILLA RAMALHO DUARTE
|
|
|
- Manuella Leão Andrade
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE LETRAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM CAMILLA RAMALHO DUARTE DESENCANNES E PENSA NO ESSENCIAL: UMA ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DE PUBLICIDADE ÀS AVESSAS NITERÓI, RJ 2016
2 CAMILLA RAMALHO DUARTE DESENCANNES E PENSA NO ESSENCIAL: UMA ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DE PUBLICIDADE ÀS AVESSAS Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Estudos de Linguagem. Linha de Pesquisa: Teorias do Texto, do Discurso e da Interação. Orientadora: Profª. Drª. Rosane Santos Mauro Monnerat NITERÓI, RJ 2016
3 D812 Duarte, Camilla Ramalho. Desencannes e pensa no essencial : uma análise semiolinguística de publicidade às avessas / Camilla Ramalho Duarte f. : il. Orientadora: Rosane Santos Mauro Monnerat. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras, Bibliografia: f Linguística. 2. Publicidade. 3. Desencannes (Site da Web). I. Monnerat, Rosane Santos Mauro. II. Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras. III. Título.
4 CAMILLA RAMALHO DUARTE DESENCANNES E PENSA NO ESSENCIAL: UMA ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DE PUBLICIDADE ÀS AVESSAS Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Estudos de Linguagem. Linha de Pesquisa: Teorias do Texto, do Discurso e da Interação. BANCA EXAMINADORA Prof.ª Dr.ª Rosane Santos Mauro Monnerat Orientadora Universidade Federal Fluminense UFF Prof.ª Dr.ª Patrícia Ferreira Neves Ribeiro Universidade Federal Fluminense UFF Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Lino Pauliukonis Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Profª Drª Nadja Pattresi de Souza e Silva Suplente - Universidade Federal Fluminense UFF Profº Drº Wagner Alexandre dos Santos Costa Suplente - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ Niterói 2016
5 SINOPSE Análise de peças publicitárias, veiculadas pelo site do Desencannes, chamadas de publicidades às avessas, por conta da subversão da principal estratégia da publicidade canônica: a venda de uma marca. Uso de conceitos da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, de Patrick Charaudeau, bem como das noções de ethos e pathos e das particularidades da publicidade tradicional para a realização de tal análise.
6 A toda minha família, em especial ao meu querido Tio Peres (in memoriam), cujo sonho sempre foi viver para ver alguém se tornando doutor na família. Espero ser a primeira...
7 AGRADECIMENTOS Agradeço, em primeiro lugar, a Deus que nunca me desamparou: mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Depois, agradeço aos meus pais, por todo amor incondicional que a mim dispensam: sem eles, não sou. Ao meu irmão, tios e tias, primos e primas, sou grata pela família que temos e por todo amor e preocupação que temos uns pelos outros. Minha vida não seria a mesma sem vocês... À minha querida orientadora Rosane, sempre tão carinhosa e paciente, que me acompanha desde o Português VII. Ela viu potencial em mim e no meu trabalho já na primeira reunião em que conversamos sobre o Jornal Sensacionalista. Rosane acredita em mim quando eu mesma me esqueço de que sou capaz. Muito obrigada, de coração! À querida professora Patrícia que me acolheu como se fosse sua orientanda, desde a primeira aula à qual assisti. Ninguém mais poderia ser minha supervisora de estágio, minha banca de qualificação e, agora, de defesa. Muito obrigada! À professora Aparecida que muito contribuiu para a realização da minha pesquisa, tanto na qualificação, quanto na defesa. Sem a sua ajuda, teria sido ainda mais difícil... À melhor prima/amiga/irmã que alguém pode ter: Ranninha. Nunca se esqueça de que you're my person. Ao meu primo Fefo, melhor amigo, confidente e companheiro por estar sempre ao meu lado, me apoiando e amparando. Às minhas amigas de uma vida inteira, Sandra e Daiana, por todo amor e companheirismo que partilhamos. Às minhas amigas de vida e de UFF, Débora e Tatiana. É como eu sempre digo: a minha trajetória é mais bonita porque vocês estão comigo. Às queridas amigas que fiz no mestrado, Sabrina, Gisella e Eveline que foram essenciais ao longo desses dois anos. Só quem passa por essa experiência entende a importância delas nos dias mais caóticos. A todos aqueles que já trabalharam comigo e que, de alguma maneira, ajudaram a traçar meu caminho até aqui, em especial, Franco, Fezinha, Carlinha, Duda, Mari, Bethinha, Anna e Pereira.
8 À Universidade Federal Fluminense que virou minha segunda casa em 2007, na graduação, e que continuou sendo meu lar durante a especialização e o mestrado. Sou grata demais por ter tido a oportunidade de fazer parte da história de uma das melhores universidades do país. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior pela bolsa concedida durante esses dois anos que tanto me ajudou a manter a tão temida produtividade acadêmica. Enfim, a todos e todas que conviveram e compartilharam da minha vida durante esse tempo de mestrado, serei profundamente grata. A vida é mais feliz porque tenho vocês por perto!
9 Ela que descobriu o mundo E sabe vê-lo do ângulo mais bonito Canta e melhora a vida, descobre sensações diferentes Sente e vive intensamente Aprende e continua aprendiz (...) Despreocupa-se e pensa no essencial Gerânio - Marisa Monte
10 LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 1: Peça publicitária do preservativo Jontex, publicada pelo Desencannes 19 Figura 2: Peça publicitária da Sega, publicada pelo Desencannes 20 Figura 3: Peça publicitária da Anvisa, publicada pelo Desencannes 21 Figura 4: Peça publicitária do biscoito Bono, publicada pelo Desencannes 65 Figura 5: Peça publicitária do Governo Federal, publicada pelo Desencannes 75 Figura 6: Peça publicitária da Igreja Universal, publicada pelo Desencannes 78 Figura 7: Peça publicitária do Viagra, publicada pelo Desencannes 98 Figura 8: Peça publicitária do absorvente Sempre Livre, publicada pelo Desencannes 108 Figura 9: Peça publicitária do dicionário Aurélio, publicada pelo Desencannes 109 Figura 10: Peça publicitária do laxante Lacto Purga, publicada pelo Desencannes 109 Figura 11: Peça publicitária do Guaraná Antarctica, publicada pelo Desencannes 117 Figura 12: Peça publicitária da Coca-Cola, publicada pelo Desencannes 129 Figura 13: Peça publicitária do preservativo Prudence, publicada pelo Desencannes 139 Figura 14: Peça publicitária da massa Barilla, publicada pelo Desencannes 148 Figura 15: Peça publicitária do leite condensado Itambé, publicada pelo Desencannes 158
11 SUMÁRIO 1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO Objetivos Hipóteses 18 2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE Constituição do Corpus Procedimentos de Análise 24 3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA Análise Semiolinguística do Discurso Conceituação O Processo de Semiotização do Mundo O Ato de Linguagem e o Contrato de Comunicação Sujeitos do Ato de Linguagem e suas identidades e competências 33 Discurso 3.5 Gêneros Textuais, Visadas Discursivas e Modos de Organização do 41 4 A TRILOGIA ARISTOTÉLICA: O ETHOS, O LOGOS E O PATHOS 58 5 PERSUASÃO: A PUBLICIDADE QUE VENDE 80 6 AMOR: HUMOR ANÁLISE DO CORPUS Desencannes: a publicidade que não vende Tomando uma Coca-Cola com o Desencannes 129 seu Prudence: o trabalho é nosso do Desencannes e o prazer é 139
12 7.1.3 Barilla: onde tem fusilli, tem Itália Ei, moça, você prefere o Itambé? CONSIDERAÇÕES FINAIS REFERÊNCIAS 174 ANEXOS 177 RESUMO 178 ABSTRACT 179
13 1 Apresentação e justificativa do trabalho A partir do escopo da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, desenvolvida por Patrick Charaudeau, desde a década de 1980, o presente trabalho pretende discutir a maneira pela qual as publicidades às avessas (MONNERAT, 2003) 1, criadas pelo site Desencannes, transgridem o Contrato de Comunicação firmado, de uma maneira geral, entre os protagonistas do ato de linguagem quando estes produzem e recebem publicidades tradicionais. É o caso, por exemplo, de propagandas em que não há alusão ao nome da marca ou a presença de um slogan que represente um produto, ou é o caso de propagandas que chocam os leitores, tornando-os adversários do que está sendo veiculado pela peça em questão ou, ainda, é o caso de propagandas que denigrem os produtos que anunciam, em vez de exaltá-los. As propagandas desencannadas tornaram-se objetos de análise justamente por serem, possivelmente, transgressões às propagandas de nosso dia a dia, quebrando paradigmas até então imutáveis, como é o caso de uma propaganda responder, diretamente, à outra de seu concorrente, no Brasil, ou falar mal do produto que pretende vender. Logo, mais do que discutir uma peça publicitária ou outra, tem-se por finalidade, nesse trabalho, o estudo do próprio fazer publicitário, haja vista que o discurso empreendido por publicistas acaba induzindo seus destinatários à compra, muitas vezes, desnecessária, de determinados produtos que se tornam objetos de valor a serem alcançados de qualquer maneira, já que, na sociedade atual de consumo, a tônica do ter parece prevalecer em relação à do ser. Os sujeitos, sociais e discursivos, implicados pelo próprio ato de linguagem assumem um papel de destaque dentro da presente análise, posto que são eles, na instância da produção, que veiculam o discurso desencannado, assim como são eles que, na instância da recepção, precisam perceber que estão diante de peças humorísticas que trazem para o rés do chão temas tabu ou, ainda, causam estranhamento em seus leitores a partir do momento em que subvertem o contrato publicitário tradicional. São esses mesmos sujeitos que construirão para si e para o outro, com quem interagem dentro da atividade linguageira, uma imagem, entendida, aqui, como sendo o conceito de 1 Apesar de não mencionar a nomenclatura publicidade às avessas, foi a partir do título do livro de Rosane Monnerat (2003) - A publicidade pelo avesso - propaganda e publicidade, ideologias e mitos e a expressão da ideia o processo de criação da palavra publicitária que tal denominação surgiu. 13
14 ethos, que pode ou não coincidir com a imagem real, que possuem os parceiros do ato de linguagem, no circuito externo ao texto. O eu comunicante, por meio do eu enunciador, tentará parecer, por exemplo, mais desencanado e descolado que os publicistas do mundo real, haja vista que produzirá peças humorísticas capazes de discutir e até mesmo de (des)construir o fazer publicitário em geral. Com a transgressão do Contrato de Comunicação publicitário, a visada de efeito, ou seja, aquela que pretende causar um efeito patêmico em seu destinatário, é elencada como sendo a que norteará toda a troca linguageira, já que o objetivo primeiro do Desencannes é fazer seu leitor se chocar e/ou rir, diferente do objetivo primordial das propagandas tradicionais, que é fazer o leitor adquirir determinado produto, ou melhor, fazer com que o leitor adquira determinada marca, que nomeia e faz existir, no mundo, determinado produto. Vale lembrar que a visada de incitação, muitas vezes, está por detrás da de efeito, já que, em algumas publicidades desencannadas, existirá a estimulação, ainda que indireta, da venda de determinado produto. Os modos de organização do discurso estão presentes no gênero textual em questão de maneira diversa daquela como estão presentes nas propagandas do mundo real: não há uma modalização alocutiva no modo enunciativo, já que implicar o sujeito na troca comunicativa não é a principal escolha do referido discurso; entretanto, via de regra, essas peças publicitárias farão uso, de forma predominante, do modo argumentativo, pois, como todo e qualquer discurso, visam a persuadir seu leitor acerca do está sendo dito, afinal, querem convencê-lo, por exemplo, a responder não, não pode à pergunta Só tem Pepsi, pode ser? É, então, a partir da realização do Processo de Semiotização do mundo que se cria uma nova configuração de mundo onde o discurso enviesado de uma publicidade às avessas pode ter voz e vez, seja para relativizar a seriedade de todo o discurso publicitário, seja para trazer à superfície do texto temas tabus, seja para reacender discussões inflamadas sobre a escolha de uma marca em detrimento da outra, seja para denegrir um produto. O sujeito, por sua vez, será capaz de compreender todos os implícitos que esse discurso veicula por possuir competências linguísticas e comunicacionais que o tornam apto a perceber que está, por exemplo, diante de uma publicidade que não quer, necessariamente, vender um produto, mas que quer fazer escárnio e rir de si mesma e até mesmo do outro, mostrando que o importante, dentro desse universo glamoroso da publicidade, é se divertir com aquilo que está sendo construído no e pelo discurso. 14
15 Torna-se importante esclarecer que o sujeito enunciador do Desencannes, ainda que crie publicidades fictícias, muitas vezes, faz uso de estratégias de patemização para tornar seu destinatário cúmplice do que está sendo dito e não adversário. Esse sujeito enunciador pretende, portanto, engajar seu destinatário num comportamento reacional, quer seja para fazê-lo rir, quer seja para fazê-lo comprar determinado produto, quer seja para fazê-lo desistir de uma compra. Como as emoções inscrevem-se numa lógica de autorepresentação, o destinatário só fará uso de produtos que lhe conferem um status satisfatório, posto que a escolha dirá mais sobre ele mesmo do que sobre o próprio produto ou sobre a marca desse produto que foi escolhido. Obviamente, só se pôde chegar ao conceito de publicidade às avessas, uma vez que as publicidades canônicas nos eram velhas conhecidas. Por esse motivo, foi necessário estudá-las mais detalhadamente, a fim de se descobrir quais eram suas características, peculiaridades, normas, comportamentos, enfim, seu modus operandi para que, então, o presente trabalho fosse capaz de analisar até que ponto as peças do Desencannes mimetizavam as estratégias de captação empreendidas pela publicidade tradicional, até que ponto rompiam com essas estratégias e até que ponto eram capazes de subvertê-las. Já que se falou em estratégias de captação, torna-se forçoso afirmar que o humor talvez seja a maior estratégia de captação posta em prática pelos sujeitos desencannados, afinal, a finalidade primeira dessas propagandas é fazer o outro rir e/ou se chocar com o discurso subversivo com o qual se depara. É por meio do riso que o destinatário parece se envolver com os anúncios do Desencannes, tornando-se, dessa maneira, cúmplice do que está sendo dito e não adversário; ou seja, o destinatário precisa, também ele, ser desencannado para se tornar capaz de rir de uma publicidade às avessas. Pensando, agora, nos capítulos que compõem o presente trabalho, pode-se afirmar que o primeiro trata da apresentação e da justificativa do referido trabalho, bem como de seus objetivos e hipóteses; o segundo apresentará os procedimentos de análise, assim como falará da maneira como o corpus é constituído; já no terceiro capítulo, proceder-se-á à fundamentação teórica para que as peças publicitárias possam ser analisadas, fazendo uso de alguns conceitos da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, como é o caso da própria definição de Semiolinguística, de Processo de Semiotização do Mundo, de Contrato de Comunicação, de Sujeitos do Ato de Linguagem e suas respectivas identidades e competências e, por fim, de Visadas Discursivas e Modos de Organização do Discurso. 15
16 O quarto capítulo, por sua vez, discutirá das noções de ethos e de pathos, já que esses são conceitos de fundamental importância para a realização do estudo em questão; o quinto capítulo referir-se-á às peculiaridades do discurso publicitário canônico, destacando suas estratégias e seu próprio fazer textual e discursivo; o sexto capítulo explorará as noções de humor trazidas por grandes teóricos, como é o caso, por exemplo, de Bergson (2001), Freud (1996) e Bakhtin (2013); o sétimo capítulo, a seu turno, tratará da análise propriamente dita do corpus, que, nesse caso, é composto por quatro publicidades às avessas; o oitavo capítulo diz respeito às considerações finais obtidas a partir do trabalho em questão; e o nono capítulo mostrará as referências de todo o material utilizado para a realização dessa pesquisa. Diante do exposto, justifica-se a elaboração do presente trabalho com o objetivo de se aprofundar o estudo de determinadas questões, propondo uma nova maneira de se enxergar a publicidade, já que a própria publicidade traz essa proposta a seus leitores mais desencannados: publicidade boa de verdade é aquela que faz seu leitor rir, questionar o mundo onde vive e vivem também suas crenças, ideologias e conhecimentos de mundo e refletir sobre ele. 1.1 Objetivos O presente trabalho tem por objetivo os seguintes tópicos: Objetivo Geral Tem-se por objetivo geral a análise dos diferentes efeitos de sentido produzidos quando ocorre a transgressão do Contrato de Comunicação publicitário, haja vista que esse gênero discursivo é apresentado de maneira diferente à que os leitores estão acostumados a ver, já que houve uma espécie de subversão de um dos componentes da situação de comunicação, a saber, a visada. 16
17 Objetivos Específicos Mostrar como o site Desencannes empreende seu processo de Semiotização do Mundo, criando um mundo novo onde é possível fazer com que a publicidade ria de si mesma; Mostrar como esse mundo novo, significado, serve como objeto de troca dentro da atividade linguageira; Mostrar como se dão as relações entre os sujeitos sociais e discursivos do ato de linguagem empreendido pelo Desencannes; Estabelecer que nem sempre sujeitos sociais e sujeitos discursivos são simétricos; Demonstrar a maneira como a ruptura do Contrato de Comunicação acaba por possibilitar uma nova forma de apresentação dos textos de publicidade aos leitores. Mostrar como essas estratégias desencannadas, usadas esse gênero discursivo, são sobredeterminadas pela mudança da visada, elencada, muitas vezes, como principal pelo discurso desencannado; Demonstrar quais são os modos de organização do discurso presentes nas peças publicitárias veiculadas pelo Desencannes. Esclarecer a maneira como o ethos, tanto dos sujeitos da instância da produção, quanto dos da instância da recepção, influencia na credibilidade e na legitimidade de tais sujeitos; Estabelecer a maneira como se dá o efeito patêmico produzido pelo discurso do site Desencannes; Demonstrar quais são as estratégias publicitárias elencadas por esse discurso, assim como demonstrar quais foram aquelas deixadas de lado e quais foram as subvertidas pelo sujeito enunciador desencannado. Mostrar como e por que as publicidades desencannadas são diferentes das publicidades canônicas de nosso dia a dia. Estabelecer quais são os mecanismos linguísticos e discursivos usados no discurso desencannado para produzir novos possíveis efeitos de sentido. 17
18 Estabelecer quais são os imaginários sociodiscursivos presentes em algumas publicidades desencannadas e de que forma eles contribuem para criar novos possíveis efeitos de sentidos. Mostrar de que maneira o humor é produzido nas peças publicitárias do Desencannes. Ressaltar a importância do humor como estratégia de captação das publicidades às avessas aqui analisadas. 1.2 Hipóteses É possível pensar que a transgressão do Contrato de Comunicação publicitário parece ser o grande diferencial das peças veiculadas pelo site Desencannes, já que, a partir dessa subversão, o que seriam propagandas possivelmente se tornarão peças humorísticas, visto que há uma espécie de predileção pela visada de efeito como condutora de todo o discurso, em vez de se destacar a visada de incitação, posto que o objetivo de tais propagandas parece não ser, necessariamente, vender um produto, mas sim fazer seu leitor rir ou se chocar diante do discurso desencannado. Os sujeitos e as imagens que constroem de si e de seus parceiros também parecem ter um papel de destaque dentro do presente trabalho, haja vista que são eles os responsáveis por semiotizar um novo mundo, transformando esse mundo a significar em mundo significado por meio da palavra, onde é possível a existência de um discurso publicitário que ria de si mesmo e que choque seu leitor com aquilo que cria. Os sujeitos, sejam sociais, sejam discursivos, parecem ser os responsáveis pelos diferentes efeitos de sentido que tais textos possam vir a produzir: se os sujeitos interpretantes coincidirem, por exemplo, com o perfil idealizado pelo sujeito comunicante, entenderão as peças como sendo humorísticas, caso contrário, poderão ficar chocados com o que é veiculado pelo site do Desencannes e, possivelmente, tornar-se-ão adversários de tal discurso em vez de cúmplices. Dessa forma, é possível pensar que o ethos, entendido como imagem de si e imagem do outro, criada pelos sujeitos do ato de linguagem, pode vir a ser determinante na produção de sentidos do discurso desencannado, haja vista que é, justamente, essa imagem de si e do outro que possibilitará a existência, por exemplo, de credibilidade e legitimidade entre os parceiros e os protagonistas da cena enunciativa. 18
19 Os efeitos patêmicos, provocados pelo discurso do Desencannes, parecem ter como objetivo a captação do leitor desse veículo de comunicação, fazendo-o enxergar não só a necessidade de rir diante de tal discurso, como também a de refletir e de questionar o que é trazido por essas peças humorísticas e, também, perceber tudo aquilo que elas deixam implícito, ou melhor, deixam a cargo do leitor que, simétrico ao idealizado, conseguirá decifrar esses não-ditos. A publicidade desencannada tende a fazer uso de estratégias argumentativas típicas da publicidade canônica, seja mimetizando-as, seja repelindo-as, seja transgredindo-as, o que fica patente se se observar os exemplos destacados abaixo: Figura 1 Peça publicitária do preservativo Jontex, publicada pelo Desencannes. Na figura 1, pode-se perceber a utilização de uma das estratégias típicas da publicidade canônica, que é a de reforçar somente os aspectos positivos do produto que anuncia, conforme ocorre com a publicidade fictícia da marca de preservativos Jontex. Como se sabe, todo e qualquer método contraceptivo possui um percentual de falhas, de que, a princípio, nenhuma marca de camisinhas está livre, no entanto, os da marca Jontex estão, afinal, a camisinha Jontex Ultra não estoura nem a pau, sendo, portanto, a melhor disponível no mercado. 19
20 Figura 2 Peça publicitária da Sega, publicada pelo Desencannes. A peça publicitária destacada acaba por repelir um dos princípios básicos da publicidade tradicional, a saber, o de que o consumidor não pode se sentir ofendido com a publicidade empreendida por determinada marca, afinal, se isso acontecer, corre-se o risco de se perder o cliente, pois este, em vez de se tornar cúmplice do que diz o enunciador, torna-se adversário. Nos dias de hoje, em que há uma preocupação ainda mais pungente com relação às pessoas com necessidades especiais, nesse caso, os deficientes visuais, não há como uma marca de videogames, como a Segga, permitir que seja veiculada, em seu nome, uma propaganda que agrida o consumidor, haja vista que como garota-propaganda da marca temse uma mulher cega, segurando uma bengala para conseguir andar, com menos dificuldade, pelas ruas de determinada cidade. Logo, é apenas dentro do universo do Desencannes que tal peça parece poder existir. Além disso, em um universo onde a linguagem conotativa impera, o uso da linguagem denotativa, como no caso da palavra segga embora seguindo uma convenção de escrita não-padrão gera estranhamento, além de choque por parte do público leitor. 20
21 Figura 3 Peça publicitária da Anvisa, publicada pelo Desencannes. A figura 3 também faz parte do rol de publicidades desencannadas que transgridem as estratégias escolhidas pela publicidade tradicional para fazer parte de seu discurso, a partir do momento em que faz parecer que o trabalho sério da Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária é apenas fechar estabelecimentos, sejam eles quais forem, e não somente fechar aqueles locais que, por alguma razão, desrespeitam as normas de saúde pública e põem em risco a vida de seus frequentadores: é como se o trabalho dos agentes da Anvisa fosse impedir que os estabelecimentos continuassem funcionando, sem se preocupar se, de fato, eles estão cumprindo regras e normas pré-estabelecidas. Pode-se pensar, então, que as estratégias argumentativas publicitárias, assim como os paradigmas desse discurso, podem vir a ser adotados, repelidos ou transgredidos, a fim de que se crie um discurso subversivo, capaz de questionar o próprio fazer publicitário e toda a necessidade exagerada de consumo que a publicidade parece trazer consigo, principalmente no mundo capitalista no qual estamos inseridos, onde o status conferido a um produto é, possivelmente, transferido a quem o adquire. Os imaginários sociosdiscursivos parecem, também, ter grande importância dentro do discurso desencannado, haja vista que é possível que, nessas peças, ressoem imagens que são construtos simbólicos da realidade, empreendidos por um grupo social, dentro de um domínio de prática, também ela social. Assim sendo, os imaginários parecem estar presentes nas peças 21
22 publicitárias desencannadas, como dito, por meio de imagens mentais presentes no discurso, de maneira explícita ou implícita. Provavelmente, a produção de humor é a principal estratégia de captação posta em prática pelo Desencannes, afinal, o sujeito enunciador desencannado parece querer cooptar seu destinatário para o que diz por meio do riso, possivelmente, desconstruindo, dessa maneira, a seriedade típica do discurso publicitário canônico que, via de regra, pretende fazer com que seu destinatário compre um produto e não que ria do próprio fazer publicitário ou da marca a qual propaga, por exemplo. Com as hipóteses estabelecidas, torna-se imprescindível estipular os procedimentos metodológicos os quais serão usados ao longo do presente trabalho. 22
23 2 Procedimentos Metodológicos: A partir de agora, dar-se-á início à descrição do corpus que compõe o presente trabalho, bem como dos procedimentos teórico-metodológicos que serão utilizados para que o referido corpus seja analisado. 2.1 Constituição do corpus O site Desencannes, responsável pela criação e veiculação das peças publicitárias que compõem o corpus deste trabalho, tem por finalidade criar peças publicitárias que desconstruam o universo do sério no qual a publicidade está inserida, afinal, no site em questão, o importante é fazer o leitor rir, imaginando o absurdo que seria a existência de propagandas como as que são produzidas pelos sujeitos enunciadores do Desencannes. O grande diferencial desse tipo de discurso é fazer com que a publicidade ria de si mesma, de sua seriedade: não importa mais se tal peça publicitária será eficaz no sentido de vender um determinado produto ou uma determinada ideia, o que estabelece um juízo de valor positivo acerca de cada publicidade é o quanto ela fará com que seus destinatários riam e se divirtam, uma vez que publicidade boa de verdade pelo menos para o Desencannes é aquela que traz para o rés do chão um discurso tão sério e crível, como é o caso do publicitário. O próprio nome do site faz uma alusão a um verbo da Língua Portuguesa, desencanar, que traz em seu significado o objetivo do grupo criador de tal site: relaxar, ficar tranquilo, ficar relax. É claro que o universo glamoroso da mídia, bem típico da publicidade e daqueles que a realizam, não seria deixado de lado: é lembrado pela outra parte que compõe o nome do site, a famosa cidade francesa de Cannes, onde ocorre um dos principais festivais de cinema e de publicidade do mundo, o Festival de Cannes. Assim sendo, é possível estabelecer que o próprio nome do site traz consigo a ideia de deixar de lado o luxo e a seriedade do discurso publicitário, preocupando-se apenas em despreocupar-se. A ideia para se criar um site como o Desencannes surgiu no e por causa do próprio dia a dia de seus sujeitos comunicantes. Explica-se: esses mesmos sujeitos comunicantes, por serem publicitários, participavam de diversas reuniões de criação, em que, segundo eles, surgiam os mais estapafúrdios insights que nunca poderiam ser veiculados enquanto 23
24 propaganda, uma vez que feriam alguns dos princípios básicos que norteiam esse gênero, como é o caso de nunca ofender um consumidor em potencial. Mas, como essas ideias acabavam divertindo quem as ouvia, o empreendimento de um site como o Desencannes parecia perfeitamente viável. E foi assim que surgiu um projeto ambicioso de veicular, em um site de humor, na internet, todas aquelas propagandas impublicáveis surgidas das mentes criativas de publicitários que não só eram capazes de fazer publicidade canônica, como também de fazer publicidade às avessas. O site Desencannes, então, justamente por desconstruir o discurso publicitário e toda sua rigidez, é capaz de veicular aquelas peças impublicáveis que aparecem nas mentes mais criativas das reuniões ou breafings, no jargão publicitário das agências de criação. Dito de outro modo: o Desencannes, como mencionado em seu manifesto, é a propaganda que não existe. Imaginária. Engraçada. Absurda. Sem compromisso. A publicidade fazendo humor de si mesma. Para brincar e se divertir (FONTE: Anexo I). 2.2 Procedimentos de Análise Pensando, justamente, na necessidade de analisar claramente nosso objeto de trabalho, elencaram-se quatro peças publicitárias para fazer parte do corpus, transformando-as em objeto de estudo. A partir de tal escolha, definiu-se como base teórico-metodológica a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, cunhada por Patrick Charaudeau, principalmente no que tange aos conceitos de sujeitos sociais e discursivos, Processo de Semiotização do Mundo, Contrato de Comunicação e Competências Discursivas, os quais dialogam, de maneira eficaz, com o corpus escolhido, bem como com a proposta do trabalho em questão. Em um segundo momento, numa tentativa de enquadrar o referido corpus em um gênero textual, utilizaram-se os estudos acerca desse tópico, realizados, também, por Charaudeau, agregando, à noção de gênero textual, a de visadas e até mesmo dos modos de organização do discurso. Para falar sobre gêneros textuais, tornou-se necessário recorrer a Marcuschi (2002; 2008). Em seguida, procedeu-se a um estudo detalhado dos lugares de argumentação que um discurso ocupa ou daquilo que se chamou de trilogia aristotélica: ethos, logos e pathos, trazendo, como contribuições a essas noções os estudos de Maingueneau (1993; 2008; 2013), Eggs (2013) e do próprio Charaudeau (2013). 24
25 Depois disso, tornou-se necessário alargar as noções de publicidade, comparando-as com as publicidade às avessas, assim como foi necessário tratar das estratégias e particularidades do discurso publicitário, usando, para isso, as pesquisas de diversos autores, principalmente de Nelly de Carvalho (1996), Pinto (1997), Vestergaard/Schroder (2000) e (Guimarães, 2000; 2003). Esse último foi escolhido para tratar das cores e dos aspectos intrínsecos aos textos não-verbais, tão comuns no universo publicitário. Tornou-se necessário falar, ainda, daquilo que Charaudeau (2010b) chama de dupla dimensão do fenômeno linguageiro que tem, justamente, a ver com a expectativa múltipla do ato de linguagem, já que sua compreensão/interpretação depende do ponto de vista dos sujeitos envolvidos na atividade linguageira. Tal expectativa múltipla é o que possibilita a produção de diversos possíveis efeitos de sentido dentro do ato de linguagem, ou seja, tem a ver com a maneira como tais sujeitos recebem os discursos produzidos, que podem ser entendidos apenas pelo aspecto verbal ou literal, ou se levando em conta seu possível sentido implícito. Assim sendo, é necessário estabelecer que o ato de linguagem é, ao mesmo tempo, explícito e implícito, afinal, para cada enunciado, corresponde um significado que se restringe apenas ao que está sendo dito, mas que corresponde, também, a uma infinidade de outros possíveis efeitos de sentido que preveem as circunstâncias de produção de um discurso, principalmente a intencionalidade do sujeito falante. Portanto, sentido de língua e sentido de discurso relacionam-se à dupla dimensão do ato linguageiro, a saber, o explícito e o implícito, que os enunciados carregam consigo logo assim que são produzidos. Sentido de língua, então, diz respeito ao explícito da linguagem, àquilo que está sendo, de fato, dito: o literal que os enunciados trazem em si. Por outro lado, sentido de discurso significa, justamente, prestar atenção nos implícitos, naquilo que comumente se diz que algum sujeito quis dizer. Pensando, justamente, nos conteúdos implícitos que um texto traz consigo, é possível afirmar que com o discurso desencannado não é diferente, já que, muitas vezes, seu sujeito enunciador apropria-se de inferências, pressupostos e ambiguidades para construir os possíveis efeitos de sentido de seu texto. As inferências ou subentendidos são aquilo que os enunciados sugerem, mas não dizem explicitamente, cabendo, ao leitor, por meio de um processo mental, construir novas proposições a partir de outras já dadas, criando, assim, 25
26 relações não explícitas entre elementos que ele só consegue estabelecer por meio de seus conhecimentos de mundo, deduzindo o que foi apenas dito nas entrelinhas. Os pressupostos, por sua vez, são ideias que não são expressas de maneira explícita, mas que o leitor consegue perceber por causa de certas palavras ou expressões, contidas nos enunciados. Logo, é possível afirmar que os pressupostos são marcados linguisticamente, ao contrário das inferências. Os pressupostos precisam ser verdadeiros ou, pelo menos, assim considerados pelos sujeitos do ato de linguagem, uma vez que, a partir deles, constroem-se informações explícitas. Como exemplo, podemos citar o enunciado o Rio de Janeiro continua lindo, em que o verbo continuar é a marca linguística que diz que o Rio de Janeiro já era lindo. Assim sendo, é possível dizer que o que está posto é que o Rio de Janeiro continua lindo, mas o que está pressuposto é que ele sempre foi lindo. Ambiguidades, a seu turno, podem ser definidas como a propriedade que possuem certos enunciados de poderem ser interpretados de diferentes formas, haja vista que parecem pouco claros, o que pode ocorrer por causa da intenção do enunciador, ou não. A ambiguidade pode ser, ainda, estrutural ou polissêmica. Se for polissêmica, as palavras apresentarão mais de um sentido e poderão ser substituídas por outras ou poderão ser explicadas pelo contexto e, então, a ambiguidade será resolvida; por outro lado, se ela for estrutural, resultará de problemas de construção na estrutura do enunciado, decorrente de falhas e brechas no sistema linguístico e poderá ser corrigida com a reescrita desse enunciado. Cabe, ainda, explicitar o conceito de interdiscursividade, de que fala Fiorin (2006), posto que algumas peças, aqui analisadas, fazem uso do interdiscurso. Por interdiscurso, entende-se a capacidade que um texto possui de dialogar com outro, por meio da incorporação de temas, ideias e figuras, sob forma de alusão ou citação, que podem ser negadas ou aceitas pelo segundo texto. O presente trabalho recorrerá, mais uma vez, a Charaudeau (2009) para poder discutir a noção de imaginário sociodiscursivo e mostrar como os referidos imaginários povoam as propagandas desencannadas, demonstrando, dessa forma, quais são as diferentes representações sociais que subjazem nesses discursos. Muitas vezes, essas representações e, consequentemente, esses imaginários são tão arraigados na sociedade que se tornam estereótipos. Por esse motivo, adotamos as contribuições de Amossy e Pierrot (2004) e Férres (1998) para conseguirmos mostrar a maneira pela qual constroem-se os estereótipos e o 26
27 quanto eles são, muitas vezes, reducionistas no que concerne à realidade, ainda que sejam necessários para ajudar o indivíduo a entender o mundo que o cerca. Por fim, foram utilizadas as diferentes noções de humor, trazidas por Freud (1996), Bergson (2001), Bakhtin (2013) e Almeida (1999), para explicar os mecanismos linguísticos e discursivos de que faz uso o discurso desencannado para produzir possíveis efeitos de sentido cômicos, diversos daqueles produzidos pela publicidade canônica, já que a principal finalidade das peças publicitárias fictícias é fazer seu leitor rir, se chocar e/ou refletir sobre o que é dito. Haja vista que o suporte teórico a que se ancoraram as análises foi delimitado, cabe-nos, nesse momento, passar à fundamentação teórica do presente trabalho. 27
28 3. Fundamentação Teórica Como bem se sabe, antes de iniciar a análise do corpus escolhido, torna-se necessário proceder à fundamentação teórica que guiará todo o trabalho que será empreendido. 3.1 Análise Semiolinguística do Discurso Conceituação O presente trabalho basear-se-á nos conceitos e pressupostos da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, criada por Patrick Charaudeau, a partir da década de Trata-se de uma teoria semiolinguística, uma vez que, como o próprio termo semiosis sugere, há uma construção de forma-sentido do discurso, empreendida por um sujeito intencional, que é, ao mesmo tempo, senhor de seu próprio dizer, mas influenciado pela sociedade na qual vive. Já o termo linguística é usado para designar o material de que faz uso tal análise, a saber, o das línguas naturais, as quais, por meio da atividade linguageira, determinam o processo de semiotização do mundo. Dito de outro modo, nas palavras do próprio Charaudeau (1999): Eis porque a posição que tomamos na análise do discurso pode ser chamada de semiolinguística. Semio-, de semiosis, evocando o fato de que a construção do sentido e sua configuração se fazem através de uma relação forma-sentido (em diferentes sistemas semiológicos), sob a responsabilidade de um sujeito intencional, com um projeto de influência social, num determinado quadro de ação; linguística para destacar que a matéria principal da forma em questão a das línguas naturais (...) por sua dupla articulação, pela particularidade combinatória de suas unidades (sintagmático-paradigmática em vários níveis: palavra, frase, texto), impõe um procedimento de semiotização do mundo diferentes do das outras linguagens. (CHARAUDEAU, 1999: p. 13) Torna-se necessário, ainda, lembrar que a análise semiolinguística do discurso é semiótica, haja vista que se interessa por um objeto, nesse caso, as atividades linguageiras, que apenas se constitui na alteridade, visto que depende da interação entre dois sujeitos da linguagem que procuram extrair do processo comunicativo, do qual fazem parte, possíveis significados não só para aquilo que está sendo dito/ouvido, como também para o mundo onde se vive. Semiótica, então, é a relação que existe entre a construção do sentido e a construção das formas (CHARAUDEAU, 2012). A atividade linguageira é, também, como dito, um construto de forma-sentido, a partir do qual se dá o processo de semiotização do mundo, de que falaremos agora: 28
29 3.2 O processo de semiotização do mundo Tendo por base, justamente, o construto forma-sentido em que se inscreve o discurso, é possível pensar que o mundo só existe na e pela linguagem. Por esse motivo, é possível estabelecer que o processo de semiotização do mundo é responsável pela construção psicosocio-linguageira do sentido, a qual se realiza através da intervenção de um sujeito, sendo, ele próprio, psico-sócio-linguageiro (CHARADEAU, 2005: p. 11). Tal processo ocorre em duas frentes: a primeira é o chamado processo de transformação, no qual o mundo a significar passa a ser um mundo significado a partir da ação de um sujeito falante. Dessa forma, pode-se perceber que o mundo extralinguístico só ganha significado no momento em que o sujeito falante lhe atribui o sentido que mais lhe aprouver. Já a segunda frente é o chamado processo de transação, em que o mundo significado torna-se objeto de troca com outro sujeito, que desempenha o papel de destinatário, dentro desse processo comunicacional. É mister ressaltar que, embora articulados, o processo de transação regula o de transformação. O processo de transformação do mundo compreende quatro tipos de operação que são a identificação, haja vista não ser possível falar de um mundo sem antes nomear e identificar o que dele faz parte; a qualificação, que, por sua vez, descreve os seres que fazem parte do mundo em questão; a ação, que é a responsável por designar as ações realizadas pelos seres desse mundo transformado; e, ainda, a causação, visto que os seres que existem nesse mundo transformado são nele descritos e agem por causa de algum motivo. Assim sendo, um enunciado deve, por excelência, ser marcado pela identificação, dada, grosso modo, pelos substantivos; pela qualificação, função, na maioria das vezes, exercida pelos adjetivos; pela ação, representada pelos verbos; e pela causação, indicada, predominantemente, pelos marcadores circunstanciais de causa. Logo, o processo de transformação do mundo parece existir apenas dentro de um ambiente estritamente linguístico, ao passo que o processo de transação empreende fenômenos do mundo biopsicossocial, como se verá a seguir. O processo de transação, do mesmo modo, também se realiza conforme quatro princípios básicos, os quais são o da alteridade, pertinência, influência e, por último, regulação. Por princípio de alteridade entende-se, obviamente, a troca comunicativa entre dois parceiros, os quais devem reconhecer a si próprios e ao outro como semelhantes e diferentes: semelhantes, pois devem compartilhar saberes e motivações comuns; diferentes, 29
30 pois um sujeito só descobre a si próprio em contato com a dessemelhança do outro. Assim, segundo este princípio, cada um dos parceiros está engajado num processo recíproco (mas não simétrico) de reconhecimento do outro, numa interação que o legitima enquanto tal o que é uma condição para que o ato de linguagem seja considerado válido. (CHARAUDEAU, 2005: p. 15). O princípio de pertinência diz respeito à necessidade que os parceiros têm de reconhecer os saberes que estão compartilhando, seja para aceitá-los, seja para repeli-los. Deste modo, este princípio exige então que os atos de linguagem sejam apropriados (no sentido de P. Grice) a seu contexto (no sentido de Sperber e Wilson) e, nós acrescentamos, à sua finalidade (...) (CHARAUDEAU, 2005: p. 15). Já o princípio de influência remete-nos ao fato de que todo sujeito, quando produz um discurso, tem por objetivo primordial atingir seu parceiro a fim de fazer com que ele aja ou que seja afetado emocionalmente ou, ainda, fazer com que siga suas ideias. Por consequência do próprio processo comunicativo, o sujeito que recebe o discurso também está ciente das intenções de seu, agora, interlocutor e pode escolher se se deixa seduzir, ou não, confirmando, assim, a existência de uma finalidade intencional de todo ato de linguagem [que] se acha pois inscrita no dispositivo sócio-linguageiro (CHARAUDEAU, 2005: p. 16). Por fim, há o princípio da regulação, o qual está intimamente ligado ao da influência, uma vez que toda influência pode gerar uma contra-influência. Para que a troca que existe no ato da linguagem não termine em agressão física ou verbal, é necessário que os parceiros saibam e façam uso da regulação, com o objetivo de determinar aquilo que pode, ou não, ser dito sem que se cause nenhum desconforto ao outro. Para evitar quaisquer tipos de transtorno, os parceiros fazem uso de estratégias no interior de um quadro situacional que [lhes] assegura uma intercompreensão mínima, sem a qual a troca não é efetiva (CHARAUDEAU, 2005: p. 16). Ou seja, é por meio da regulação, com o uso de estratégias bem definidas que o processo comunicativo, de fato, realiza-se, sem que haja nenhum atropelo. Vale lembrar que os discursos produzidos não devem, necessariamente, limitar-se ao processo de transformação, que torna o mundo extralinguístico um mundo significado por meio da linguagem: devem, porém, ir além, apropriando-se do mundo significado pelas atividades linguageiras e permitindo que este seja objeto de troca entre os parceiros do ato comunicacional, afinal, a linguagem é, por excelência, meio de comunicação e diálogo entre os indivíduos e por que não dizer? o motivo pelo qual esses mesmos indivíduos existem 30
31 no mundo e se apropriam dele. Dessa forma, o mundo pode ser significado de diferentes maneiras, se levarmos em conta as diferentes atividades linguageiras que os sujeitos empreendem. Citamos, pois, Charaudeau (op. cit.): Assim como não é mais possível contentar-se com as operações de transformação isoladamente, também é necessário considerá-las no quadro situacional imposto pelo processo de transação, (...) (CHARAUDEAU, 2005: p. 17) Já que falamos de princípio de regulação, é necessário, por conta disso, estabelecer o conceito de contrato de comunicação, visto que tal contrato, estabelecido entre os sujeitos do ato de linguagem, noção que, também, será estendida a seguir, atém-se às regulações e às possibilidades que a troca linguageira engendra. 3.3 O ato de linguagem e o Contrato de Comunicação Como visto anteriormente, o Processo de Semiotização do Mundo é dividido em duas etapas: o mundo a significar passa a ser um mundo significado por meio da atividade linguageira e, consequentemente, vira objeto de troca entre os sujeitos do ato de linguagem. O ato de linguagem, portanto, só se torna válido quando o processo de transação, de fato, ocorre. O ato de linguagem, por sua vez, parece estar condicionado a alguns fatores, como é o caso da identidade dos sujeitos que o realizam, de suas intencionalidades e das proposições de mundo que possuem. É possível dizer, também, que os atos de linguagem ocorrem, sempre, em um determinado aqui e em um determinado agora, estando, desse modo, atrelados a um tempo e a um espaço, dentro dos quais figuram o próprio ato de linguagem e seus produtores, que carregam consigo no discurso e fora dele conhecimentos de mundo que devem ser partilhados para que o ato aconteça. Logo, é possível falar que o ato de linguagem, assim como o próprio processo de transação, é efetuado sob uma espécie de liberdade vigiada, já que as intencionalidades de seus sujeitos orientam a produção e a recepção de tal ato. Ou seja, todo ato de linguagem está condicionado a uma situação de comunicação que comporta a intencionalidade dos parceiros da troca, suas identidades e suas vivências no mundo extralinguístico, além de estar atrelado a um momento e a um local, seja ele físico ou não. 31
32 É essencial para que o ato de linguagem ocorra que seus parceiros reconheçam um ao outro enquanto parceiros, creditando o tu, ao eu, o direito à fala, o que depende de suas identidades sociais e também discursivas. É essencial, ainda, que os sujeitos possuam, em comum, um mínimo de saberes que são colocados em jogo na própria troca linguageira. Isto posto, diz-se que, levando em conta os princípios da regulação e influência, os parceiros operam numa certa margem de manobra que lhes permite usar de estratégias para persuadir o outro sobre aquilo que se diz, criando, assim, um espaço de restrição, que compreende as condições mínimas às quais é necessário atender para que o ato de linguagem seja válido, e um espaço de estratégias, que corresponde às escolhas possíveis à disposição dos sujeitos na mise-en-scene do ato de linguagem (CHARAUDEAU, 2005: pp ). É importante salientar, ainda, que o ato de linguagem realiza-se num duplo espaço de significância: um que é exterior e outro que é interior ao texto, determinando, assim, a existência de quatro sujeitos dentro do ato de linguagem: dois que são responsáveis pelo que se chama de circuito externo e outros dois que figuram apenas dentro do circuito interno ao texto. Sobre estes quatro sujeitos responsáveis pelo ato de linguagem falaremos a posteriori. Finalmente, é possível definir o ato de linguagem como (...) originário de uma situação concreta de troca, dependente de uma intencionalidade, organizando-se ao mesmo tempo num espaço de restrições e num espaço de estratégias, produzindo significações a partir da interdependência de um espaço externo e de um espaço interno (...) (CHARAUDEAU. 2005: p. 18) Todo e qualquer ato de fala, leia-se todo e qualquer discurso, está inserido em uma situação de comunicação da qual depende intimamente para que seu interesse social seja construído, afinal, os parceiros da troca linguageira precisam reconhecer-se enquanto tais e precisam se reportar a um quadro de referência: os sujeitos sociais e discursivos acabam por jogar o jogo de regulação das práticas sociais, adequando seu discurso e até a si mesmos às convenções e normas dos comportamentos linguageiros, sem os quais a comunicação humana não se efetuaria. Pensando, pois, na situação de comunicação, é possível estabelecer que, quando se trata das peças publicitárias do Desencannes, esta é de fundamental importância, haja vista que seus sujeitos necessitam saber que estão diante de um site de humor que veicula propagandas feitas para serem impublicáveis, pois quebram algum elemento prototípico do Contrato de Comunicação vigente entre os sujeitos que produzem e recebem as publicidades 32
33 canônicas, estabelecendo-se, assim, já que se está diante de uma nova situação de comunicação, um novo Contrato. Assim sendo, é possível pensar que o Contrato de Comunicação, do qual fala Charaudeau (2012) é, justamente, esse quadro de referência ao qual se submetem os sujeitos do ato de linguagem, havendo, entre eles, portanto, um acordo mútuo e prévio sem o qual não existiria a troca comunicativa. Os sujeitos, então, lançam mão de estratégias calcadas na intencionalidade destes e da própria troca, visto que todo ato de linguagem acontece tendo por base um reconhecimento recíproco do quadro de referência ao qual se reportam. Como se pôde perceber, não é possível falar em Processo de Semiotização do Mundo, ato de linguagem e Contrato de Comunicação sem se falar de sujeitos. Por esse motivo, é de fundamental importância que se fale um pouco mais sobre os indivíduos que compõem, não só a cena enunciativa, como também fazem parte do mundo extralinguístico. 3.4 Sujeitos do ato de linguagem, suas identidades e suas competências O sujeito, na concepção da Análise Semiolinguística do Discurso, cunhada por Patrick Charaudeau, não é completamente assujeitado às ideologias dominantes, pelo contrário, é capaz de ir contra elas, negando-as e transformando-as de acordo com suas crenças, com o lugar que ocupa no mundo extralinguístico e com suas vivências, permeadas pela presença do outro, que é seu interlocutor. Logo, o sujeito, conforme já dito, é produtor de seu próprio discurso, o qual, por sua vez, é influenciado pelo universo biopsicossocial em que tal sujeito vive. É mister ressaltar que a existência de um sujeito constrói-se por meio de sua identidade discursiva, que, contudo, nada seria sem uma identidade social a partir da qual é definido e se define (CHARAUDEAU, 2009) Charaudeau (2009) considera os sujeitos tendo por base dois aspectos: primeiro, a existência desse sujeito social no mundo extralinguístico, ou seja, aquele sujeito que possui uma carteira de identificação e é um cidadão, que tem consciência de si mesmo, uma vez que possui uma identidade; segundo, há o sujeito discursivo, capaz de se comunicar, de se expressar e de se posicionar, seja em uma troca dialógica, na qual o locutor faz seu discurso na presença do interlocutor, seja numa situação de monolocução, em que um dos interlocutores não está presente e a troca é, por esse motivo, postergada. Fica claro, então, que os seres humanos, de acordo com o princípio da alteridade, só constituem a si mesmos na presença do outro. Explica-se: é apenas sendo diferente do outro 33
34 que um dos parceiros da troca se reconhece enquanto indivíduo único que é, ou seja, é apenas porque o outro existe que se tem consciência de si próprio. Por outro lado, para haver a troca linguageira, é necessário que os parceiros partilhem e compartilhem, ainda que de maneira parcial, motivações, intenções e objetivos. Enfim, os parceiros devem legitimar a si mesmos e ao outro e, mais que isso: devem legitimar seu próprio discurso e o discurso do outro por meio do que o Charaudeau (2009) chama de olhar avaliador. É possível, desse modo, pensar que a questão identitária é bastante complexa, porque esta resulta, por um lado, de um entrecruzamento de olhares: o do sujeito comunicante que não pode, por sua vez, evitar atribuir àquele com quem se fala uma identidade, levando em conta seus próprios conceitos, crenças e valores, ao mesmo tempo em que seu interlocutor lhe atribui uma identidade, levando, também, em conta seus próprios conhecimentos, crenças e valores. Pensando justamente nessa espécie de dupla identidade dos sujeitos, Charaudeau separa-os dicotomicamente em sujeitos sociais e discursivos, relacionando-os aos circuitos externo e interno em relação ao ato de linguagem. Por circuito externo, entende-se o fato de que todo texto pertence ao mundo extralinguístico, onde os sujeitos sociais vivem e onde, consequentemente, localiza-se a situação de comunicação em que tais textos figuram, levando em conta, ainda, a incursão sócio-histórica destes. Por outro lado, o circuito interno faz menção ao aspecto puramente linguístico do ato de linguagem, limitando-se, deste modo, à superfície dos referidos atos, sem inscrevê-los, contudo, em uma situação de comunicação e em um lugar sócio-histórico, o que cabe, como dito, ao circuito externo ao ato. Os sujeitos, para Charaudeau, ocupam um lugar de destaque nos discursos produzidos, uma vez que são dotados de uma intencionalidade também discursiva e acabam por ser responsáveis pela comunicação que empreendem, visto que a atividade linguageira é, por si só, dialógica. Ou seja, para haver atividade linguageira, é fundamental a existência de, pelo menos, dois sujeitos sociais que darão vozes a sujeitos discursivos os quais tratarão de se comunicar numa troca linguageira que depende, necessariamente, de tais sujeitos para produzir o(s) possível(is) efeito(s) de sentido. Há, por conseguinte, quatro sujeitos responsáveis pela enunciação/coenunciação de um texto: dois deles pertencem ao circuito interno e dois deles, por sua vez, pertencem ao 34
35 circuito externo. Os sujeitos do circuito externo são aqueles seres de carne e osso que ocupam um lugar no mundo e se personificam, dentro dos textos, em sujeitos discursivos. Já os sujeitos discursivos são sujeitos imaginários que figuram apenas dentro da cena enunciativa da qual fazem parte, sendo, portanto, vozes que estão no discurso, mas não no mundo extralinguístico, pertencendo, desta forma, ao circuito interno ao texto. É importante ressaltar que o sujeito social que fala, ou seja, o sujeito comunicante, idealiza o sujeito com quem fala dentro do texto, a saber, o tu destinatário. O coprodutor do discurso, o chamado tu interpretante, por sua vez, também acaba por idealizar o sujeito enunciador. Torna-se, claro, deste modo, que as idealizações dos sujeitos acontecem no circuito externo ao texto e podem ou não se concretizar dentro do circuito interno. Dito de outro modo: o tu destinatário, idealizado pelo eu comunicante, pode, ou não, coincidir com o tu interpretante. Do mesmo modo, o eu enunciador, idealizado pelo tu interpretante, pode coincidir, ou não, com o eu comunicante. A identidade, por sua vez, não é resultado de várias identidades globais, mas sim de traços de identidades. A identidade social, sozinha, não é responsável por designar esses traços de identidades aos quais nos referimos, entretanto, ela pode, sim, determinar alguns comportamentos e designar alguns papéis sociais, como é o caso, por exemplo, do papel social de mãe. Entretanto, o uso que se faz do discurso por meio das atividades linguageiras é o que determinará as possíveis identidades discursivas que essa mãe irá assumir com relação aos seus filhos: ela será inflexível, compreensiva, autoritária ou, ainda, controladora? Assim sendo, a identidade de ser [da mãe] resultará da combinação de atributos de sua identidade social com tal ou qual traço construído por seus atos de linguagem. (CHARAUDEAU, 2009: p. 311). É importante salientar que a identidade construída pelos atos de linguagem pode reativar a identidade social de um indivíduo. É o que acontece, por exemplo, quando um chefe é autoritário com seus subordinados e reitera sua posição de superioridade. Por outro lado, se o chefe em questão mostrar-se compreensivo, nega sua posição de superioridade, colocandose em uma posição de igualdade para com seus empregados, contrariando, dessa maneira, o estereótipo que lhe caberia por exercer determinada função dentro de uma empresa. A identidade social não dá conta da totalidade de significação que o discurso produzido por um indivíduo é capaz de gerar. Por outro lado, esse mesmo discurso não existe de forma solitária, afinal, vem acompanhado da significação que a identidade social do 35
36 indivíduo produz. Assim sendo, a identidade social necessita ser reiterada, reforçada, recriada, ou, ao contrário, ocultada pelo comportamento linguageiro do sujeito falante, e a identidade discursiva, para se construir, necessita de uma base de identidade social (CHARAUDEAU, 2009: pp ). A identidade social precisa, ainda, ser reconhecida e legitimada pelo outro, haja vista que tal reconhecimento é o que confere a um indivíduo seu direito à palavra (CHARAUDEAU, 2009: p. 314), ou seja, é necessário que alguém lhe diga que ele está autorizado a agir da maneira como age, dependendo, obviamente, do seu local de fala e da situação de comunicação da qual faz parte. Do mesmo modo, quando um indivíduo usa o discurso de maneira que é, aos olhos do outro, inapropriada, seu direito de legitimidade é posto em xeque, afinal, não lhe é permitido falar assim. A identidade discursiva do falante é construída para responder à questão: Estou aqui para falar como? e é por esse motivo que depende das estratégias de credibilidade e de captação. A primeira está ligada à necessidade que o sujeito falante tem de que se acredite naquilo que ele diz, tanto na verdade do discurso, quanto na sua sinceridade. Para ser levado a sério e para fazer seu discurso crível, o sujeito falante pode adotar diferentes atitudes discursivas, a saber, a da neutralidade, em que o sujeito apaga, no seu discurso, qualquer resquício de julgamento; a do distanciamento, na qual o sujeito tende a adotar uma atitude fria para analisar sem paixão o discurso em questão; e a do engajamento, em que o sujeito, opta por tomar uma posição ao escolher quais argumentos irá usar a fim de convencer ou cooptar seu interlocutor. Nesse sentido, o processo de captação do outro, dentro da troca comunicativa, consiste em, como o próprio nome sugere, captar o outro para aquilo que está sendo dito pelo sujeito falante. Logo, a captação nada mais é do que persuadir o outro a adotar o discurso trazido por aquele que detém a palavra. Trata-se, então, de fazer com que o sujeito interpretante partilhe do discurso, das ideias e dos ideais defendidos por quem fala, evitando uma possível discussão entre ambos. Vale ressaltar que os gêneros do domínio publicitário fazem, todos eles, uso desse processo de captação, afinal, sem que o outro seja captado, não há compra. As estratégias utilizadas pelo eu-falante para convencer/seduzir seu interlocutor são adotadas quando aquele não está em uma posição de autoridade com relação a este, afinal, se estivesse, uma ordem bastaria para que o processo de captação se realizasse sem nenhum empecilho. 36
37 O sujeito falante, por sua vez, pode, ainda, adotar atitudes discursivas diferentes das já mencionadas, com relação ao seu interlocutor: pode ser polêmico, quando tenta antecipar as possíveis objeções do outro, com o objetivo de eliminá-las; pode ser sedutor, quando propõe ao seu interlocutor um processo de identificação ou rejeição, por meio de sua atividade linguageira e pode, também, adotar a atitude de dramatização, quando tenta fazer com que seu interlocutor sinta certas emoções para convencê-lo daquilo que quer. Portanto, neste ponto do presente trabalho, já é possível falar em construção de identidade discursiva. Citamos, pois, as palavras de Charadeau (2009): Assim, a identidade discursiva se constrói com base nos modos de tomada da palavra, na organização enunciativa do discurso e na manipulação dos imaginários sociodiscursivos. Ao contrário da identidade social, a identidade discursiva é sempre algo a construir em construção. Resulta de escolhas do sujeito, mas leva em conta, evidentemente, os fatores constituintes da identidade social (CHARAUDEAU, 2009: p. 318). É necessário, também, salientar que identidade social e discursiva não podem ser trabalhadas fora da situação de comunicação, uma vez que é esta a responsável por determinar, antecipadamente, a identidade social dos parceiros na atividade linguageira em questão: dependendo do contexto comunicativo em que se encontra, o indivíduo pode ser chefe, marido, pai ou filho e é a partir do seu lugar de fala, de sua identidade social que seu discurso passará a ser estruturado. Além disso, a situação de comunicação também definirá alguns traços da identidade discursiva do falante, dando, muitas vezes, instruções de como esse falante deve comportar-se. Ao sujeito, restará a decisão de agir conforme as instruções ou de mascará-las, subvertê-las ou transgredi-las. Portanto, é necessário considerar quais são as características da identidade social de cada situação, bem como as instruções que são dadas à identidade discursiva (CHARAUDEAU, 2009: p. 319). Charaudeau, em texto de 2001, chama a atenção para o fato de que os sujeitos do ato de linguagem, divididos em suas identidades social e discursiva, possuem, todos, competências relativas à comunicação instaurada pela atividade linguageira, ou seja, para se comunicar, é necessário que haja competências que determinarão a maneira como os sujeitos construirão os possíveis efeitos de sentido de determinados discursos, afinal, o discurso está, como bem se sabe, vinculado a condições de produção que não são, necessariamente, iguais às condições de recepção, podendo haver, assim, a formação de um efeito de sentido que é diferente daquele que foi visado pelo sujeito enunciador. 37
38 Comumente, levando em consideração a definição tradicional do termo competência, chega-se a uma espécie de lugar-comum que nos diz que ser competente é estar apto a realizar algo dentro de uma determinada área do conhecimento, o que só se estabelece, de fato, quando um juízo de valor é emitido acerca de alguém. Por exemplo, diz-se que um publicitário é competente quando consegue criar propagandas capazes de fazer com que seu destinatário compre o produto em questão. No entanto, quando se diz respeito às competências linguísticas, o fato de ser competente não traz consigo uma ideia de juízo de valor: um falante ser competente em termos de comunicação não depende da opinião de outro sujeito. A construção de sentido dos atos de linguagem vem de um sujeito que se dirige a outro sujeito, dentro de uma situação de comunicação específica, que, por sua vez, sobredetermina as estratégias linguísticas que serão utilizadas dentro da atividade comunicacional. A partir disso, Charaudeau (2001) postula, nesse primeiro momento, que são três as competências que todo sujeito do ato de linguagem deve ter: a competência situacional, no nível também situacional, a discursiva, no nível discursivo e a semiolinguística, no nível semiolinguístico. A competência situacional, como o próprio nome sugere, tem a ver com a situação de comunicação na qual o ato de linguagem se inscreve. Tal competência exige que o sujeito construa seu discurso em função da identidade dos protagonistas - eu enunciador e tu destinatário - da troca comunicativa; da finalidade, ou visada, dessa troca; da tematização escolhida pelos sujeitos do ato de linguagem; e das circunstâncias materiais em que ocorre a referida troca linguageira. Dessa forma, pensando na competência situacional, é possível estabelecer que o sujeito deve estar apto a reconhecer a margem de manobra de que dispõe quando se propõe a fazer uso de um Contrato de Comunicação ao qual se reporta quando empreende uma atividade linguageira. A identidade desses parceiros determina quem fala com quem? em termos de papel social exercido dentro das relações de força, presentes em todo ato de linguagem, afinal, o sujeito enunciador só diz o que diz, pois detém o poder da palavra. Dito de outro modo: o sujeito enunciador utiliza-se de estratégias discursivas que são capazes de lhe dar legitimação e credibilidade para dizer aquilo que diz e captar seu destinatário. A finalidade da troca diz respeito ao objetivo que há por trás de toda troca linguageira, já que os sujeitos, dentro da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, carregam consigo uma intencionalidade discursiva que acaba refletindo na(s) visada(s) que é(são) 38
39 elencada(s) para nortear toda a situação de comunicação. Apenas dessa forma é possível responder à pergunta: Estou aqui para dizer o quê?. Já o propósito diz respeito à tematização que demarca os enunciados, tematização essa que responde à questão: sobre o que se fala em tal ou qual enunciado? As circunstâncias materiais em que se dão as trocas comunicativas têm a ver com o fato de a troca linguageira acontecer por meio da fala ou da escrita. Há, também, a competência discursiva que exige que o sujeito enunciador manipule as estratégias colocadas em prática dentro da cena enunciativa e que o sujeito destinatário as reconheça. Em um primeiro momento, Charaudeau diz que as estratégias discursivas são de três tipos: enunciativas, enuncivas e semânticas. As estratégias enunciativas remetem às atitudes que o sujeito enunciador tomará em função da imagem que faz de si, a qual quer transmitir ao outro, e da imagem que faz de seu destinatário. Também diz respeito à imagem que faz da troca linguageira ocorrida, como bem se sabe, na interação e dentro de uma situação de comunicação específica. As estratégias da ordem do enuncivo nada mais são do que os chamados modos de organização do discurso: o descritivo, que tem por função nomear e qualificar os seres do mundo, tendo em vista que qualificar é tomar partido (CHARAUDEAU, 1992: p. 663); o narrativo, que relata as ações vividas por esses seres, os quais foram colocados no mundo a partir do momento em que foram nomeados e qualificados; e o argumentativo, que consiste em saber usar sequências causais capazes de atestar o que é verdadeiro, o que é falso e o que é verossímil. As estratégias da ordem do semântico têm a ver com os conhecimentos que são compartilhados pelos sujeitos do ato de linguagem; conhecimentos esses que são divididos em saberes de conhecimento os quais remetem a percepções e definições mais ou menos objetivas em torno do mundo, que podem ser comprovadas por meio da observação da realidade e os saberes de crença, que remetem a sistemas de valores, mais ou menos normatizados em função de um mesmo grupo social e sustentados pelos juízos de valor que esse grupo social lhes confere: são, pois, fruto de uma opinião coletiva e não podem ser comprovados por meio da observação da realidade. Por fim, existe a competência semiolinguística, que postula que os sujeitos do ato de linguagem podem manipular e reconhecer a forma que assumem os signos linguísticos, bem como suas regras combinatórias e, a partir disso, depreender os possíveis efeitos de sentido 39
40 que um determinado discurso engendra. A escolha em torno dos signos linguísticos, usados em diferentes tipos de textos, traz consigo uma intenção de comunicação, que está de acordo com os elementos da situação comunicativa e das exigências da organização discursiva de tal ou qual texto. A competência semiolinguística, dessa forma, abrange desde a disposição dos elementos paratextuais que compõem um texto, passando pela escolha dos signos linguísticos, chegando aos tipos de construção gramatical ativa, passiva, impessoal, nominalizada. Segundo Charaudeau (2001), trata-se, portanto, de uma competência específica, que consiste em saber reconhecer e usar as palavras em função do valor de identificação que possuem e de sua força portadora de verdade. (CHARAUDEAU, 2001: p. 17 tradução do autor) 2 Dessa forma, é possível estabelecer que a competência semiolinguística parece restringir-se aos aspectos puramente linguísticos de um texto, já que se centra nas formas que assumem os signos linguísticos e nas relações que empreendem entre si e com o texto como um todo. É, então, a partir da observação dessas escolhas linguísticas e da maneira como os signos são dispostos e combinados nas concretizações de um discurso que o falante fará uso dessa competência que o torna, portanto, apto a apreender os diferentes efeitos de sentido produzidos por um texto. É importante lembrar que, em texto de 2009, Charaudeau reestrutura as competências linguísticas, dizendo haver, dentro da competência discursiva, outra: a competência semântica, que tem a ver com a aptidão dos protagonistas do ato de linguagem de organizar seus diferentes tipos de saberes, os quais constituem suas referências, e tematizá-los, tornando-os parte do discurso, a fim de serem compartilhados com os outros sujeitos que fazem parte da cena enunciativa. Portanto, quando se fala em competências, seja a discursiva, a semiolinguística e a semântica, tem-se em mente a aptidão que possuem os sujeitos do ato de linguagem para se comunicar, levando em conta a situação de comunicação na qual estão inseridos; a organização discursiva descritiva, narrativa ou argumentativa que se escolhe para fazer parte da cena enunciativa; a combinação de formas, que acontece em função das restrições impostas pela situação comunicacional e dos elementos da referida organização discursiva; e a organização dos saberes que se tornam referência para os sujeitos do ato de linguagem e são, por eles, tematizados. Em outras palavras: a competência é uma atitude ou capacidade para 2 se trata, por tanto, de una competencia específica, que consiste en saber reconocer y usar las palabras en función de su valor de identificación y su fuerza portadora de verdad (CHARAUDEAU, 2001: p. 17) 40
41 saber e saber fazer que se atualiza ou não segundo a intencionalidade do sujeito que fala ou interpreta (CHARAUDEAU, 2001: p. 21 tradução do autor). 3 O falante precisa, também, ser competente para perceber diante de qual gênero discursivo está, além de saber, ao certo, qual foi a visada discursiva escolhida para nortear toda a troca linguageira, empreendida por esse falante e por seu ouvinte. Diante disso, tornase necessário falar um pouco mais sobre esses dois conceitos, além dos já mencionados modos de organização o discurso. 3.5 Gêneros textuais, visadas discursivas e modos de organização do discurso Como bem se sabe, a questão dos gêneros, além de complexa, é antiga. Basta nos lembrarmos, por exemplo, de A Poética Clássica (2005), de Aristóteles, que postulava uma espécie de modus operandi dos gêneros épico/narrativo, dramático e lírico. Os chamados gêneros clássicos, como estes ficaram conhecidos, foram, durante muito tempo, os únicos capazes de se enquadrar nas antigas definições de gênero. Atualmente, entretanto, a noção do que seriam os gêneros textuais parece ter-se estendido para além daqueles tidos como clássicos, possibilitando, desta forma, que novas discussões e proposições surjam a fim de que essa questão seja analisada sob novo(s) ponto(s) de vista. É justamente nessa nova abordagem acerca dos gêneros textuais que se enquadra o estudo de Charaudeau (2004) que propõe a articulação de quatro diferentes dimensões a que se deve recorrer para definir a noção de gênero. É o caso da ancoragem social a que todo gênero textual se submete, da natureza comunicacional de que faz parte, da atividade linguageira construída e das características formais dessas atividades que, por si só, não são capazes de definir um gênero textual. Segundo o teórico, a noção de gênero só será, de fato, bem construída caso se recorra ao entrelaçamento dessas quatro perspectivas. A primeira delas, como dito, diz respeito ao fato de que todo gênero textual é fruto de uma ancoragem social que cria práticas sociais capazes de servir como quadro de referência - sem o qual a troca linguageira seria impossível - aos sujeitos do ato de linguagem quando estes estão produzindo e/ou coproduzindo seus discursos. Desse modo, é possível pensar que o Contrato de Comunicação, ao qual nos referimos anteriormente, acaba por determinar, a 3 es una atitud (o capacidad) para saber y saber-hacer que se actualiza o no, según la intencionalidad del sujeto que habla o interpreta (CHARAUDEAU, 2001: p. 21). 41
42 priori, o que seria o gênero textual, afinal, é a esse Contrato que se submetem os parceiros e os protagonistas da atividade linguageira. Para elucidar de vez tais questionamentos, citamos, pois, Charaudeau (2004): [...] o lugar de ancoragem social pode ser considerado como um lugar contratual que determina, através das características de seus componentes, um certo lugar de dados situacionais, os quais dão, por sua vez, instruções para a discursivização. (CHARAUDEAU, 2004: p. 33) Essa ancoragem social dos gêneros permite, então, que se criem os campos - no sentido que lhes deu Bourdieu - ou o que Charaudeau (2004) chama de domínios de prática linguageira, haja vista que se referem à experiência comunicativa dos falantes, às suas identidades, bem como aos papéis que devem desempenhar na cena enunciativa, mostrando, portanto, como os discursos produzidos dependem intrinsecamente de seus enunciadores, já que a origem enunciativa daquilo que é dito é ainda mais importante do que o que, de fato, se diz. Articulando, dessa forma, as duas perspectivas acima referidas - ancoragem social e natureza comunicacional - pode-se pensar que o domínio de prática social acaba por regular as trocas comunicativas, instaurando regularidades discursivas que são próprias de tal ou qual natureza comunicacional, instituindo, assim, ritualizações que são típicas de um domínio comunicacional. Já a terceira dimensão, diz respeito às atividades linguageiras construídas que, conforme dito, são frutos de quadros de referência que existem, de maneira inconsciente, em cada sujeito social e em cada sujeito discursivo. Diante disso, é possível dizer que tais quadros ocupam a memória dos sujeitos no que diz respeito ao uso e à normalização do comportamento linguageiro desses sujeitos, assim como do sentido e das formas empregados nas referidas atividades linguageiras que foram construídas: Diremos, primeiramente, à maneira de Bakhtin (1984:285), que é preciso, ao sujeito falante, ter referências para poder se inscrever no mundo dos signos, significar suas intenções e comunicar. Isso é resultado do processo de socialização do sujeito através da linguagem e da linguagem através do sujeito, ser individual e coletivo. É conjuntamente que se constroem, em nome do uso, a normalização dos comportamentos, do sentido e das formas, o sujeito registrandoos em sua memória. (CHARAUDEAU, 2004: p. 19) É justamente a partir dessa afirmação que se pode dizer que os sujeitos e suas atividades linguageiras são permeados por três tipos de memória que testemunham as 42
43 maneiras de dizer de determinadas comunidades discursivas que são assim chamadas por reunirem - virtualmente - sujeitos que partilham os mesmos posicionamentos [e] os mesmos sistemas de valores (CHARAUDEAU, 2004: p. 20). A primeira dessas memórias é a dos discursos na qual se constroem os saberes de crença e de conhecimento sobre o mundo onde vivem os sujeitos do ato de linguagem, saberes esses que se tornam representações sóciodiscursivas que, por sua vez, constroem as identidades coletivas e dividem a sociedade em comunidades discursivas, que se identificam enquanto tais, uma vez que partilham, como dito, saberes e crenças. Há, também, a memória das situações de comunicação que acaba por normatizar as trocas comunicativas, visto que ativa uma espécie de expectativa nos sujeitos do ato de linguagem, definindo, assim, um conjunto de condições psicossociais para a realização dessas trocas que estabelecem o tal quadro de referência mencionado anteriormente. Essa construção diferenciada do sentido, possível apenas por conta da memória das situações de comunicação, acaba por criar as chamadas comunidades comunicacionais que reúnem fisicamente sujeitos que partilham da mesma visão acerca daquilo que devem ser as constantes das situações de troca linguageira. Há, ainda, a memória da forma dos signos que são, grosso modo, maneiras de dizer mais ou menos corriqueiras que, por meio do saber dizer, acabam por criar as chamadas comunidades semiológicas, que são comunidades também virtuais que se reconhecem enquanto tais pela utilização rotineira de formas de comportamento e de linguagem. A partir, então, da articulação estreita dessas três memórias, unindo-as à situação de comunicação, é que se pode estabelecer a seguinte afirmação: [...] o sujeito social se dota de gêneros empíricos e, por meio de representações que constrói deles pela aprendizagem e pela experiência, os erige em normas de conformidade linguageira e os associa aos lugares de prática social mais ou menos institucionalizados (CHARAUDEAU, 2004: p. 21). Pensando justamente nessa ideia de representações que o sujeito faz dos gêneros empíricos, que nada mais são do que aqueles acordos tácitos que estabelecem na hora de escolher o Contrato de Comunicação ao qual irão se reportar, é que se torna possível dizer que uma análise dos gêneros, como diz Charaudeau (2004), precisa apoiar-se em uma teoria do discurso que possua princípios gerais, a fim de que fundem as atividades da linguagem, como é o caso do princípio da influência, que regula toda a troca linguageira empreendida por 43
44 seres dotados de intencionalidade, e do nível dos mecanismos que tais princípios colocam em funcionamento. O funcionamento desse nível de princípios é duplo, haja vista que compreende um conjunto de situações de comunicação e um conjunto de procedimentos semiodiscursivos, ou seja, a discursivização. É importante ressaltar que a discursivização, por outro lado, acaba por se tornar o lugar onde as maneiras de dizer são instituídas. A situação de comunicação talvez seja uma espécie de construto que há fora do texto, permeando - e por que não dizer ditando - o caminho que ela, a troca linguageira, tomará por meio do discurso de seus falantes. A situação de comunicação é, então, o lugar onde se criam as restrições e as possibilidades que determinam a(s) expectativa(s) da troca linguageira, que podem ou não coincidir em termos de sujeitos sociais e discursivos. As referidas restrições e possibilidades são fruto, concomitantemente, da identidade dos parceiros da troca, do lugar que eles ocupam dentro da cena enunciativa, da finalidade - leia-se visada - que os sujeitos intencionais querem que tal troca possua, da tematização que ela empreende e das circunstâncias materiais na qual a referida troca ocorre. Vale lembrar que aquilo que é regra, em determinados discursos, como componentes da situação de comunicação, pode ser transgredido, tornando-se, assim, uma exceção. Seria o caso, por exemplo, de propagandas cuja finalidade da troca não fosse vender um marca, mas sim provocar o riso ou chocar seus leitores, como é o caso daquelas que integram o corpus do presente trabalho. Há, então, uma ruptura no que diz respeito ao objetivo da troca comunicativa, que deixa de ser, primeiramente, vender uma marca e passa a ser causar um efeito patêmico no destinatário, provocando, nele, o riso ou o choque, transgredindo, portanto, a acepção primeira da propaganda publicitária, que é incitar seu destinatário a comprar uma marca. Por conta disso, é possível afirmar que a situação de comunicação, como dito anteriormente, é de fundamental importância para que se construam os diferentes efeitos de sentido dentro do discurso desencannado das peças publicitárias aqui analisadas. As características formais acabam não sendo o suficiente para determinar qual é o gênero textual em questão, afinal, muitas dessas características se repetem em gêneros diferentes, como é o caso da indeterminação dos sujeitos em notícias de jornal ou em textos opinativos em que o autor queira se apresentar de maneira delocutiva, ou seja, apagando as marcas de primeira pessoa do singular que poderiam estar presentes no referido discurso. Apenas juntando essa perspectiva às outras três memória discursiva, memória das situações 44
45 de comunicação e memória da forma dos signos é que se pode tentar estabelecer qual é o gênero textual que está sendo utilizado em determinada situação de comunicação. Como bem se sabe, a finalidade da troca comunicativa que passará a ser chamada, aqui, de visada, acaba por definir, já que os sujeitos, na Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, são dotados de intencionalidade, o quadro de referência ao qual os parceiros da troca se reportarão, estabelecendo, assim, qual será o Contrato de Comunicação assinado por eles e, por consequência, qual será o gênero textual utilizado. Logo, a visada conduzirá toda a troca linguageira e conduzirá, inclusive, o comportamento discursivo dos sujeitos. Nesse sentido, o gênero textual corresponde ao conceito de Contrato de Comunicação trazido por Charaudeau (2012), que é, por sua vez, direcionado pela(s) visada(s) discursiva(s) que o sujeito enunciador elenca para fazer parte do texto que produz. Visadas discursivas são entendidas como uma intencionalidade psico-sóciolinaguageira que determina o "enjeu" da troca comunicativa, bem como a expectativa dos sujeitos discursivos responsáveis por essa troca. Entretanto, para que as visadas atinjam o efeito de sentido pretendido, é necessário que tanto sujeitos produtores quanto sujeitos receptores percebam qual(is) visada(s) está(ão) em jogo. Cada situação de comunicação seleciona, então, uma ou mais visadas, que serão responsáveis pelas expectativas geradas nesta ou naquela troca linguageira, empreendida por estes ou aqueles sujeitos discursivos. Tomando como exemplo o discurso publicitário e pensando-o em termos de finalidade da troca, é possível perceber que a visada elencada pelos sujeitos de tais textos é, primeiramente, a de incitação, em que o eu não se encontra em posição de "mandar fazer", mas na de "fazer acreditar" - já que o eu não está em posição de autoridade frente ao outro - um tu que, por sua vez, encontra-se em posição de "querer acreditar". Ou seja, o eu quer fazer com que o tu acredite que o produto possui qualidades extraordinárias e inigualáveis e é apenas por meio da apropriação de tal produto que o tu se tornará o beneficiário dessa ação. A publicidade, por outro lado, para atingir seu objetivo primeiro, que é vender uma marca, utiliza-se de estratégias de persuasão/sedução para convencer seu público-alvo de que aquilo que vende é um produto singular. Para isso, acaba selecionando uma segunda visada, não menos importante que a primeira, que é a visada de efeito, em que o eu se encontra em posição de "fazer sentir" o tu, que, a seu turno, encontra-se em posição de "querer sentir". Nessa visada, o eu tem por objetivo causar um efeito patêmico em seu destinatário, fazendo-o 45
46 cúmplice de seu discurso - nunca adversário -, por meio de estratégias de captação permitidas pela situação de comunicação em que o ato de linguagem se inscreve. Ainda discutindo questões acerca dos gêneros textuais, é importante trazer, à superfície do texto, algumas considerações feitas por Marcuschi (2002; 2008) sobre o fato, por exemplo, de que o gênero textual possui um caráter muito mais sócio-pragmático do que linguístico-estrutural, visto que suas características linguísticas e estruturais parecem ser facilmente sobrepostas pelas questões de uso e também de intensidade desse uso, geradas pelas escolhas feitas pelos falantes, que, por sua vez, usam o gênero textual para se comunicar. Como bem nos lembra Marcuschi (2002), não são apenas as novas tecnologias que originam novos gêneros, mas sim o fato de haver recorrência e intensidade nesse uso. Ou seja, não basta apenas utilizar novas tecnologias que aparecem no hall de escolha dos falantes, é necessário que a intensidade desse uso seja crescente por parte deles, o que, obviamente, gera uma interferência e uma mudança nas atividades comunicativas diárias no que diz respeito à questão dos gêneros textuais, uma vez que: [estes] surgem emparelhados a necessidades e atividades sócio-culturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação a sociedades anteriores à comunicação escrita (MARCUSCHI, 2002: p. 19). Para Bakhtin (2010) e também para Bronckart (1999, apud, MARCUSCHI, 2002), os gêneros textuais são indispensáveis para a comunicação, visto que não é possível que os falantes se comuniquem a não ser por meio desses gêneros. Os gêneros textuais, então, precedem o ato de comunicação: antes mesmo de o falante escolher de quais palavras fará uso no ato comunicacional, escolherá qual gênero usará, afinal, para se dirigir a uma autoridade precisará de um gênero específico, diferente daquele que usará numa conversa informal com um amigo, por exemplo. Os gêneros textuais, dessa forma, se constituem como ações sóciodiscursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo (MARCUSCHI, 2002: p. 22). A dimensão social dos gêneros textuais parece ser a tônica central de uma nova perspectiva de análise, haja vista que deixaram de ser moldes a ser seguidos, levando-se em conta apenas aspectos estruturais, formais, lexicais e sintáticos, e passaram a ser realizações linguísticas de determinados objetos em situações de comunicação particulares. Em outras palavras, os gêneros tornaram-se formas concretas de comunicação, que, como bem se sabe, 46
47 só podem se realizar socialmente, visto que não são fruto da vontade de um só indivíduo. Portanto, houve uma mudança de perspectiva: atualmente, a dimensão sócio-pragmática dos gêneros sobrepõe-se àquela puramente linguística, em que estes eram tidos como engessados, estáticos e até mesmo inflexíveis. Os gêneros textuais passaram a ser, então, construídos socialmente pelas mãos de falantes e ouvintes que deles fazem uso, propiciando, aos gêneros, uma maior liberdade; liberdade essa capaz de fazer com que não sejam mais definidos e pré-determinados por algumas propriedades que deveriam, a priori, ser necessárias e suficientes para eles, mas sim pelo seu aspecto primeiro: o social. Citamos, pois, mais uma vez, Marcuschi (2002): Quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente objetos específicos em situações sociais particulares, pois, como afirmou Bronckart (1999:103), a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas, o que permite dizer que os gêneros textuais operam, em certos contextos, como formas de legitimação discursiva, já que se situam numa relação sócio-histórica como fontes de produção que lhes dão sustentação muito além da justificativa individual (MARCUSCHI, 2002: p. 29). Os gêneros textuais, por outro lado, acabam servindo de modelos comunicativos não entendidos aqui no sentido de obrigação que o termo, usualmente, pode trazer consigo, por conta de sua heterogeneidade em relação à forma e aos usos. Os gêneros, por causa dessa heterogeneidade servem, muitas vezes, para criar uma expectativa no interlocutor, tentando, assim, antecipar uma possível reação deste. Por outro lado, justamente por conta de tal expectativa, o interlocutor pode ser surpreendido, caso o uso e até mesmo a forma do gênero em questão sejam contrários ao esperado. Por exemplo, o gênero receita de bolo foi usado fora de seu contexto usual na época da Ditadura Militar brasileira para indicar que os textos que seriam veiculados nos jornais foram, na realidade, censurados. Vale lembrar que tal episódio da história nacional também reforça o caráter sócio-pragmático dos gêneros textuais. Esses, os gêneros, como diz Bakhtin (2010), criam o caminho da compreensão e acrescentamos: os gêneros podem, também, desfazer esse caminho e até mesmo subvertê-lo. É importante ressaltar, ainda, que uma análise dos gêneros textuais significa, também, uma análise do texto e do discurso, da descrição da língua e de uma visão de sociedade, tentando sempre responder a questões socioculturais, que dizem respeito ao uso da língua, afinal, os gêneros textuais são uma forma de ação social, nas palavras de Carolyn Miller (1984) (MILLER, apud MARCUSCHI, 2008: p. 149), que funcionam como parte importante 47
48 da estrutura comunicacional das sociedades em geral. Os gêneros textuais, portanto, não podem ser separados de sua realidade social e de sua relação extremamente imbricada com as atividades humanas, uma vez que a comunicação entre falantes e ouvintes apenas se realiza por meio do uso de gêneros textuais, que, por sua vez, não são escolhidos de maneira aleatória, porém são escolhidos para atender a interesses específicos de falantes e ouvintes. Nesse ponto do trabalho, torna-se necessário falar um pouco mais dos aspectos formais que acabam por fazer parte das discussões acerca dos gêneros textuais. Para tal, precisamos recorrer àquilo que Charaudeau chamou de modos de organização do discurso que podem ser definidos como a utilização de determinadas categorias de língua, ordenadas em função da(s) finalidade(s) discursivas do ato de comunicação. Em outras palavras, os modos de organização do discurso constituem os princípios de organização da matéria linguística, princípios que dependem da finalidade comunicativa do sujeito falante: ENUNCIAR, DESCREVER, CONTAR, ARGUMENTAR (CHARAUDEAU, 2010b: p. 68). Os modos de organização do discurso possuem, os quatro, uma função base que tem justamente a ver com a finalidade discursiva da troca linguageira e possuem, ainda, um princípio de organização que, como o próprio nome sugere, diz respeito à maneira como os enunciados se organizam para atender às necessidades dos falantes. Quando se trata dos modos narrativo, descritivo e argumentativo, esse princípio de organização é forjado tendo, como resultado, lógicas de construção típicas desses modos, como é o caso, por exemplo, do uso de adjetivos no modo descritivo, ou de verbos de ação no narrativo, e uma organização da sua encenação - entendida, aqui, como encenação discursiva, presente na cena enunciativa - que, também é narrativa, descritiva ou argumentativa. O modo enunciativo, por sua vez, possui uma configuração especial, já que comanda os outros modos. Isso acontece porque o modo enunciativo dá conta da posição do enunciador com relação ao seu destinatário, a si mesmo e aos outros, criando, assim, uma espécie de aparelho enunciativo, intervindo na encenação desses três outros modos. Recorremos, mais uma vez, a Charaudeau: o locutor, mais ou menos consciente das restrições e da margem de manobra proposta pela Situação de Comunicação, utiliza categorias de língua ordenadas nos Modos de organização do discurso para produzir sentido, através da configuração de um Texto. Para o locutor, falar é, pois, uma questão de estratégia, como se ele perguntasse: Como é que vou / devo falar (ou escrever), levando em conta o que percebo do interlocutor, o que imagino que ele percebe e espera de mim, do saber que eu e ele temos em comum, e dos papéis que eu e ele devemos desempenhar (CHARAUDEAU, 2010b: p. 75). 48
49 No modo enunciativo, o foco da cena está voltado para os protagonistas do ato de linguagem. Ou seja, diferentemente do que ocorre na situação de comunicação, aqui, o que importa são os seres do dizer, principalmente o eu enunciador, afinal, tal modo é uma categoria do discurso que mostra a maneira como o sujeito falante age na mise-en-scène discursiva. O modo enunciativo ocorre, então, no nível do discurso e não pode ser restrito aos procedimentos linguísticos usados pelos já citados protagonistas do ato de linguagem. No entanto, existem maneiras ou categorias linguísticas para marcar a posição do eu enunciador, dentro de cada enunciado, em relação ao seu interlocutor: são os chamados processos de modalização, que determinam, linguisticamente falando, o modo como os sujeitos enunciadores dão voz a si próprios dentro dos discursos, levando em conta seus destinatários. Assim sendo, torna-se possível pensar que há maneiras que precisam o comportamento do eu com relação ao tu dentro da cena enunciativa. Dizemos que se trata de um comportamento alocutivo quando o dizer do eu impõe um comportamento ao tu, fazendo com que esee tome para si a posição que já foi assumida pelo enunciador dentro do discurso, havendo, portanto, uma ação do enunciador sobre seu destinatário. Logo, a enunciação tem como foco a persuasão do tu. É possível perceber, desse modo, que há uma relação de influência que vai do eu para o tu e que acaba por regular toda a troca linguageira empreendida por esses dois sujeitos discursivos. A relação de influência pode dar-se por meio da superioridade do eu com relação ao tu, em que aquele impõe certo comportamento linguageiro a este. Assim, é possível que o tu assuma uma posição de inferioridade com relação ao eu, já que é capaz de poder fazer ou poder atender a uma solicitação de seu enunciador. Contudo, o eu pode se colocar numa posição de inferioridade com relação ao tu, o que ocorre, quando, por exemplo, faz um pedido, cabendo ao destinatário decidir se atende, ou não. O eu pode, também, assumir um comportamento elocutivo quando enuncia seu ponto de vista sobre o mundo, sem implicar a tomada de posição do tu em relação àquilo que diz. Logo, a enunciação tem como foco o ponto de vista do eu. A tematização dos enunciados diz somente respeito à posição assumida pelo eu frente àquilo que ele diz, revelando, assim, uma subjetividade interna do sujeito falante. Por fim, o sujeito falante pode assumir um comportamento delocutivo, apagando a si próprio e às suas marcas do ato enunciativo. O eu, então, testemunha a maneira pela qual os discursos do mundo (provenientes de um terceiro) se impõem a ele. O resultado é uma 49
50 enunciação aparentemente objetiva (no sentido de desvinculada da subjetividade do locutor ) (...) (CHARAUDEAU, 2010b: p. 83). Nesse caso, o ponto de vista do eu é mascarado por uma objetividade provinda dos discursos de outrem que o eu reproduz, o que o isenta da responsabilidade daquilo que está sendo dito. Como dissemos acima, o modo enunciativo engendra outros três, a saber, o descritivo, o narrativo e o argumentativo. Diante disso, torna-se necessário falar um pouco mais sobre cada um desses modos, mostrando a maneira como eles contribuem para ajudar a definir que gênero textual será usado em determinadas trocas linguageiras. Comecemos, então, pelo descritivo. Como bem nos lembra Charaudeau (2010b), um texto é sempre heterogêneo do ponto de vista de sua organização, já que depende da situação de comunicação na qual se insere e das diversas ordens de organização do discurso que foram utilizadas a fim de construí-lo. Por esse motivo, o modo descritivo deve ser pensado em três níveis distintos: o da situação de comunicação que determina o Contrato de Comunicação e a finalidade resultante de tal texto; o do modo de organização do discurso que, por sua vez, determina as categorias de língua usadas na sua produção; e também o gênero textual que extrai a finalidade do que está em jogo dentro da situação de comunicação. A partir disso, é possível pensar que o modo descritivo não é uma simples descrição ou resultado de algo, mas sim um processo que corresponde a uma atividade de linguagem, que se combina com a de contar e a de argumentar, e que tem por objetivo nomear os seres do mundo, localizando-os em uma dada situação de comunicação e qualificando-os, já que faz existir seres significantes no mundo, ao classificá-los (CHARAUDEAU, 2010b: p. 112). Essa atividade de identificação/nomeação dos seres do mundo acaba por ser delimitada pela finalidade das situações de comunicação na qual o modo descritivo ocorre, sendo, portanto, relativizada ao passar pelo crivo da subjetividade do sujeito descritor que pode descrever um ser do mundo ao seu bel prazer. O processo de nomear faz com que um ser seja. Por sua vez, tal modo também é o responsável por localizar e situar tais seres, determinando o lugar que eles ocupam no espaço e no tempo, descrevendo sua posição espaço-temporal. Logo, tal modo faz com que um ser esteja no mundo. A atividade de qualificar está ligada à de nomear, já que os seres só podem ser qualificados a partir do momento em que passam a existir por meio de sua identificação. A referida atividade de qualificar faz com que os seres sejam classificados em função de suas 50
51 semelhanças e/ou diferenças com outros seres, fazendo com que a nomeação, que estrutura o mundo de maneira desordenada, adquira um sentido particular por meio da qualificação; qualificação essa que pode ser mais ou menos subjetiva, já que tem origem no olhar que o sujeito falante lança sobre os outros seres e o mundo, testemunhando, então, sua subjetividade (CHARAUDEAU, 2010b: p. 115) O ato de qualificar faz com que o ser seja alguma coisa no mundo, permitindo que o indivíduo que o põe em prática satisfaça seu desejo de posse pelo mundo, já que é tal sujeito que o singulariza e o especifica, dando ao ser descrito uma substância e uma forma particulares que só existem em função da visão de mundo e de si que o próprio sujeito possui. Assim sendo, é possível estabelecer que qualificar é, então, uma atividade que permite ao sujeito falante manifestar seu imaginário, individual e/ou coletivo, imaginário da construção e da apropriação do mundo (...) num jogo de conflito entre as visões normativas impostas pelos consensos sociais e as visões próprias ao sujeito (CHARAUDEAU, 2010b: p. 116). O sujeito descritor pode intervir, ou não, de maneira explícita na descrição que faz, produzindo, em todos os casos, a partir de suas escolhas linguísticas, efeitos como o de realidade, o de ficção e o de verossimilhança. As descrições também podem ser mais ou menos precisas, respeitando, sempre, a intencionalidade dos sujeitos quando esses se tornam descritores. É importante ressaltar que as qualificações que o sujeito descritor faz do mundo não são, via de regra, verificáveis e comprováveis, já que o universo construído por meio do ato de descrever é relativo ao imaginário pessoal do sujeito, estabelecendo, assim, o que, comumente, se chama de descrição subjetiva. Os textos publicitários podem ser considerados como exemplos de descrição subjetiva, já que o sujeito descritor descreve as qualidades do produto em questão de maneira sugestiva, singularizando-o e tornando-o único e desejável. Pensando, agora, no modo narrativo, fica claro que apenas a partir de nomeações, qualificações e localizações espaço-temporais é que se torna possível estabelecer uma sequência de acontecimentos vividos por seres do mundo. Entretanto, não é apenas o fato de haver uma sequência de ações que torna o ato de contar uma narrativa: é necessário que tal sequência de ações seja inserida num contexto por um contador - narrador ou autor quer transmitir alguma coisa ao seu destinatário. O ato de contar é, então, posterior a uma realidade, que pode ser real ou fictícia. O fato de tal realidade ser real ou fictícia fica em segundo plano, já que a narrativa faz surgir um universo contado mais ou menos crível para 51
52 seu destinatário, fazendo-o crer no verdadeiro, criando, assim, um efeito de realidade que acontece dentro da ficção. A narrativa, na realidade, assume-se como sendo uma totalidade que tem como finalidade básica contar alguma coisa, o que acontece por meio do modo narrativo, que faz seu leitor descobrir um mundo que foi construído no desenrolar de uma sucessão de ações, e do descritivo, que nomeia e qualifica os seres que vivem tais acontecimentos, criando um mundo que necessita ser mostrado ao outro. Assim sendo, é possível estabelecer que a encenação narrativa constrói o universo narrado (ou contado) propriamente dito, sob a responsabilidade de um sujeito narrado que se acha ligado por um contrato de comunicação ao destinatário da narrativa. Esse sujeito age ao mesmo tempo sobre a configuração da organização lógico-narrativa e sobre o modo de enunciação do universo narrado jogando com sua própria presença (CHARAUDEAU, 2010b: p. 158) Pensando, também, no princípio de organização de uma narrativa, é possível estabelecer que, para haver lógica narrativa, é necessário existir uma sucessão de acontecimentos interligados uns aos outros por um princípio de coerência, e outro, de encadeamento, já que uma ação precisa, necessariamente, estar ligada à outra de maneira coerente. Tais acontecimentos são fruto de uma causa, atendem a uma finalidade e se definem por um princípio de intencionalidade. Eles também precisam de um enquadramento espaçotemporal, já que a coerência e a motivação de tais acontecimentos é determinada por um princípio de localização. Essa localização espaço-temporal é de suma importância para a narrativa. A cronologia narrativa obedece a um encadeamento de ações que acontece seguindo, obviamente, uma cronologia que, por sua vez, pode dar-se de maneira progressiva e contínua, ou apresentar um estado final que só será explicado a posteriori; pode, ainda, ser descontínua e interrompida em seu desenrolar para criar um efeito de expectativa ou suspense; pode, também, ser descontínua com a alternância de sequências narrativas. A localização no espaço, por sua vez, pode ser mais ou menos precisa, dependendo de que configuração se queira dar à narrativa, já que pode designar um deslocamento ou uma fixação no mesmo lugar. É importante falar, ainda, da encenação narrativa, que tem como componentes os sujeitos sociais que dão vozes a sujeitos discursivos os quais ambos adquirem significação apenas ao longo da narrativa. Uma narração provém de um contador que não pode ser confundido com o autor real que escreveu o livro, que conta a história de si mesmo ou de 52
53 outrem a um destinatário, que também não pode ser confundido com os leitores reais que compram os livros os quais desejam ler. Portanto, é necessário estabelecer limites entre os sujeitos do circuito externo da narrativa: não são eles que a produzem nem são eles quem a recebem, assim como não são eles os actantes responsáveis pelas sequências narrativas. Geralmente, esse autor-escritor do mundo real dá voz e vez a um narrador, afinal é aquele que engendra o discurso, que, por sua vez, pode contar uma história que viveu ou pode contar uma história vivida por outros indivíduos, assumindo, assim, diferentes pontos de vista sobre aquilo que seu herói - personagem principal da obra - vive. O narrador possui, então, uma identidade que responde à pergunta quem fala?, assim como instaura, com sua atividade criadora, um estatuto entre ele e seus heróis: quem conta a história de quem?. Quando o narrador conta a história de outro indivíduo, diz-se que ocorre um princípio de delocutividade, em que são apagadas do discurso as marcas linguísticas referentes ao eu, uma vez que o narrador se constitui como porta-voz de uma história vivida por alguém que não é ele mesmo. No entanto, se o narrador contar uma história por ele vivida, haverá um princípio de elocutividade, no qual narrador e herói, teoricamente, confundem-se, sendo, dessa forma, um só. Logo, as marcas linguísticas referentes ao eu serão mantidas ao longo da narrativa. O ponto de vista, assumido pelo narrador, quando este conta algo que não viveu, é chamado de externo, quando só há uma simples observação da aparência física dos personagens, ou de interno, quando o narrador supõe saber o que sente ou o que pensa o personagem em questão. O narrador pode assumir que sabe mais e, por isso, diz mais que o personagem; que só diz aquilo que o personagem sabe de si próprio; e que só diz aquilo que vê acerca do personagem, limitando-se à aparência física dele. Por fim, torna-se imprescindível falar sobre o modo argumentativo que, ao contrário dos modos narrativo e descritivo, não trabalha apenas com as ações humanas nem se confronta com a realidade visível e tangível, mas tenta dar conta de um saber proveniente da experiência humana. É importante ressaltar que, ao contrário do que acontece numa narrativa, a argumentação pode vir a ser anulada, caso o argumento que a valide seja contestado pelo sujeito ao qual se destina. Na realidade, o estudo da argumentação é uma prática bastante conhecida, ainda mais se pensarmos nos gregos da Antiguidade, que já ressaltavam a importância de influenciar o outro por meio de suas paixões e não apenas de sua razão: 53
54 é por isso que, desde aquela época, distinguia-se o que derivava da pura ratio, para a qual devia existir uma técnica demonstrativa suscetível de dizer a verdade, daquilo que derivava da interação entre os espíritos, para a qual devia existir uma técnica expressiva suscetível de comover e captar o interesse de um auditório (CHARAUDEAU, 2010b: p. 202) Logo, é possível pensar que o estudo da argumentação tinha como estatuto primário guiar um discurso, representando, assim, uma maneira de agir sobre o outro, fazendo do receptor cúmplice do discurso produzido, dos argumentos utilizados e do ponto de vista adotado pelo argumentador. Argumentar, então, não significa, necessariamente, produzir uma série de combinações frásticas com operações lógico-argumentativas: boa parte da argumentação encontra-se naquilo que está implícito, como é o caso da maioria dos slogans publicitários conhecidos do grande público, que parecem pouco argumentativos, mas, na realidade, têm como acepção primeira convencer o sujeito destinatário a comprar uma marca. O sujeito argumentador, por sua vez, tenta persuadir seu destinatário por meio de convicções e explicações, fazendo com que seu ele modifique um comportamento, o que, geralmente, ocorre, a não ser que este refute a tese que o argumentador introduz, demonstrando que ela é falsa e, por isso, não é passível de credibilidade. Torna-se importante estabelecer alguns parâmetros para que haja argumentação, como é o caso do que se convencionou chamar de proposta, que diz respeito, como o próprio nome sugere, a uma proposta de mundo que cause um questionamento, em termos de legitimidade, em alguém. Assim sendo, é necessário que haja alguém que se engaje em relação a esse questionamento ou convicção acerca do mundo, tentando dar, a essa proposta, um status de verdade, implicando, portanto, a existência de outro sujeito a quem o argumentador se dirigirá, tentando fazer com que este compartilhe da mesma verdade assumida por aquele. Portanto, haverá uma busca de influência que tende a um ideal de persuasão, o qual consiste em compartilhar com o outro (interlocutor ou destinatário) um certo universo de discurso até o ponto em que este último seja levado a ter as mesmas propostas (atingindo o objetivo de uma coenunciação) (CHARAUDEAU, 2010b: p. 206). A argumentação apresenta-se como um resultado de um processo de combinação entre diferentes componentes que são dependentes de uma situação de comunicação e que têm por finalidade primeira a persuasão do outro, seja por meio de uma razão demonstrativa que busca estabelecer relações de causalidade - entendida, aqui, no sentido amplo do termo - para comprovar aquilo que está sendo dito; seja por meio da razão persuasiva que busca 54
55 estabelecer, também, uma espécie de prova para comprovar aquilo que está sendo dito, com a ajuda de argumentos que justifiquem as propostas trazidas pelo argumentador e expliquem as relações de causalidade entre as asserções ou ideias. As relações argumentativas, por outro lado, compõem-se de três elementos: uma asserção ou um dado de partida, que constitui uma fala sobre o mundo; uma asserção de chegada, ou seja, uma conclusão a que deve chegar o sujeito destinatário; e uma asserção de passagem, que permite ir do ponto de partida até o ponto de chegada, por meio de inferências, argumentos e provas, justificando a relação de causalidade que existe entre a asserção de partida e a de chegada. A passagem que se faz da asserção de partida à de chegada, como dito, ocorre por meio de inferências que estabelecem, entre a relação da premissa com a conclusão, vínculos modais que se expressam no domínio do possível, quando a asserção inicial gera outras interpretações diferentes daquela obtida na asserção final; por meio da obrigação, em que a asserção final representa, obrigatoriamente, a conclusão pretendida pela inicial; e por meio da probabilidade, já que a asserção final é, provavelmente, uma conclusão a que se chega diante da asserção inicial. A proposta, como citado anteriormente, é um dos elementos que compõem a cena argumentativa, e necessita estar inscrita em um quadro de questionamento, gerando, assim, a ocorrência de um ato de persuasão que será determinado pelo Contrato de Comunicação ao qual se reporta a atividade linguageira, pelo sujeito que é incitado a tomar posição frente ao discurso do qual é destinatário e pelos procedimentos argumentativos semânticos, discursivos e de composição que serão usados ao longo da cena argumentativa. A proposta é, então, o resultado da combinação de asserções, bem como de seus encadeamentos, cuja veracidade será atestada pela tomada de posição de um sujeito argumentador, criando, assim, uma proposição, com a qual o sujeito pode estar de acordo, ou não. Se o sujeito estiver de acordo, ou seja, se entender a proposta como verdadeira, haverá a justificativa dessa proposta, porém, se o sujeito não estiver de acordo, ou seja, se a julgar falsa, haverá a refutação daquela. Pode ser, também, que o sujeito argumentador mantenha-se neutro com relação à proposta, não tomando nenhuma posição: ele apenas tende a ponderar os prós e os contras estabelecidos pela proposta em questão. Entretanto, não basta que um sujeito argumentador diga que tal ou qual proposta é verdadeira ou falsa: é necessário que ele 55
56 comprove a veracidade da proposta por meio de um ato de persuasão que pode refutar, justificar ou ponderar o que foi proposto. Os procedimentos usados na encenação argumentativa contribuem, cada um a seu modo, para validar uma argumentação, baseando-se ora no valor dos argumentos, como é o caso dos procedimentos semânticos; ora nas categorias linguísticas, capazes de produzir certos efeitos de discurso, como é o caso dos procedimentos de discurso; ora, organizando, quando a situação de comunicação permite, um conjunto de argumentação, como é o caso dos procedimentos de composição. Tentando articular as questões levantadas acerca dos conceitos de gênero, visadas e modos de organização do discurso, é possível estabelecer que a visada acaba por determinar a finalidade de um Contrato de Comunicação que nada mais é do que um quadro de referência ao qual se reportam os falantes quando da atividade linguageira. O Contrato de Comunicação, então, parece corresponder, a nosso ver, à ideia de gênero textual, já que leva em conta os sujeitos do ato de linguagem, bem como a situação de comunicação na qual tal ato está inserido e, ainda, sua ancoragem social. Desse modo, parece existir uma relação estreita entre três conceitos visadas, situação de comunicação e Contrato de Comunicação já que as visadas determinam qual Contrato de Comunicação será assinado entre os parceiros e os protagonistas do ato de linguagem. Ou seja, determina qual será o gênero textual escolhido pelos sujeitos quando estes se comunicarem. Os modos de organização do discurso, grosso modo, acabam por demonstrar a maneira como os sujeitos colocam em prática suas estratégias discursivas que visam a tornar o outro coconstrutor da produção de sentido de um discurso. É por isso que o primeiro dos modos, o enunciativo, tem a ver justamente com a maneira como os sujeitos da cena enunciativa colocam-se dentro dela, recorrendo ora à modalização alocutiva, que tem por objetivo persuadir o tu a ser cúmplice do eu, ora à modalização elocutiva, que expressa a relação do enunciador consigo mesmo, ora à modalização delocutiva, em que há o apagamento do eu. O modo enunciativo, por sua vez, acaba implicando outros três: o descritivo, o narrativo e o argumentativo. O primeiro tem a ver com fazer existir, nomeando e identificando, um ser no mundo e, posteriormente, descrevendo-o, a partir das impressões de um sujeito descritor. O segundo diz respeito às ações que tais sujeitos podem empreender no mundo onde vivem e que podem ser contadas por meio de um narrador que dá vida aos 56
57 actantes, agentes ou pacientes da ação, contando a um leitor as peripécias que os personagens ou heróis, que também desempenham o papel de actantes, vivem na realidade que, aqui, é transformada numa ficção mais ou menos verossímil. Por fim, o terceiro deles tem a ver com o ponto de partida e até mesmo o de chegada de um discurso, que é a persuasão do outro: o sujeito argumentador quer fazer com que seu destinatário partilhe da sua proposta argumentativa, engajando-se, assim, no discurso produzido. Tais modos parecem, então, ficar mais restritos ao aspecto predominantemente linguístico de um texto, já que, como o próprio nome sugere, sinalizam os modos que se concretizam no discurso, deixando pistas textuais; enquanto as visadas e o Contrato de Comunicação/gênero textual dizem respeito ao discursivo. Já que se falou acerca da argumentação como um todo, torna-se fundamental discutir a noção de ethos que nada mais é do que a imagem de um enunciador que serve ela própria como meio de persuasão e a de pathos, que tem a ver com as estratégias de sedução e de captação empreendidas por um discurso, quando se pretende causar um efeito patêmico em seu destinatário. 57
58 4 A trilogia aristotélica: o ethos, o logos e o pathos. Ethos, logos e pathos constituem a trilogia aristotélica, que determina os lugares de argumentação que um texto pode ocupar: um orador pode convencer seu público por meio de sua imagem - ethos -, por meio de seu próprio discurso - logos - e por meio das emoções - efeitos patêmicos - que pode causar no referido público. Assim sendo, ethos, logos e pathos constituem as três provas argumentativas que são engendradas pelo discurso. Segundo Eggs (2013), Aristóteles distanciava-se de seus contemporâneos por entender que o ethos também contribuía para a persuasão de um auditório, estabelecendo, assim, que um orador que parecer mais honesto aos olhos de seu público - daí vem o termo epieíkeia - terá mais chances de convencê-lo acerca daquilo que diz. Desse modo, é possível dizer que o termo ethos está ligado a dois campos semânticos: um de sentido moral, fundado na epieíkeia, que tem a ver com atitudes e virtudes, como a honestidade, a benevolência ou a equidade; e outro, que se apresenta de maneira mais neutra, já que sobre ele não recai nenhum juízo de valor explícito: trata-se da héxis, que diz respeito aos costumes e hábitos. Em um primeiro momento, poder-se-ia pensar que esses dois campos semânticos, representados pelas palavras epieíkeia e héxis, são contraditórios entre si, porém, o ethos de um orador está ligado à imagem que ele passa de si mesmo, mostrando-se honesto ao dizer o que diz e, ainda, diz respeito aos seus hábitos e costumes que determinarão, via de regra, o que se pensa sobre tal sujeito, afinal, seu discurso precisa ser condizente e coerente com aquilo que realiza ou, nas palavras de Maingueneau (1993), o ethos precisa ser mostrado e não apenas dito explicitamente: O que o orador pretende ser, ele o dá a entender e mostra: não diz que é simples ou honesto, mostra-o por sua maneira de se exprimir. O ethos está, dessa maneira, vinculado ao exercício da palavra, ao papel que corresponde a seu discurso, e não ao indivíduo real, (apreendido) independentemente de seu desempenho oratório: é portanto o sujeito da enunciação uma vez que enuncia o que está em jogo aqui (MAINGUENEAU, 1993, p.138). O logos pode ser definido como o lugar que engendra o ethos, já que o discurso é o local onde o orador se mostra a partir das escolhas que faz frente às possibilidades linguísticas e estilísticas que tem ao seu dispor. Pensando, justamente, no logos como lugar que faz surgir o ethos e o pathos é que se pode concluir que estes só são produzidos no e pelo discurso, já que a credibilidade que se dá ao orador só pode ser consequência daquilo que ele diz. Assim sendo, é possível dizer que o orador apenas inspira confiança se seus argumentos e conselhos 58
59 forem sábios e razoáveis phrónesis, se ele argumentar honesta e sinceramente areté e se for amável e solidário com seus ouvintes eúnoia. Cada uma dessas posturas assumidas pelo orador frente ao seu auditório se relaciona com um dos lugares de argumentação que o discurso ocupa. Assim sendo, é possível estabelecer que phrónesis faz parte do logos, já que tem a ver com os argumentos utilizados pelo referido orador: leva-se em conta se tais argumentos podem ser considerados sábios e razoáveis; a areté, por sua vez, diz respeito ao ethos, uma vez que se considera se o orador apresenta-se de maneira sincera e honesta, inspirando, assim, a confiança de seu público; por fim, a eúnoia relaciona-se com o pathos, pois trata do afeto que existe por parte do orador para com seu destinatário, afinal, o efeito patêmico ocorre quando o orador se mostra solidário e benevolente frente ao seu espectador. Logo, é possível estabelecer que os oradores inspiram confiança, (a) se seus argumentos e conselhos são sábios, razoáveis e conscientes, (b) se são sinceros, honestos e equânimes e (c) se mostram solidariedade, obsequiedade e amabilidade para com seus ouvintes (ARISTÓTELES, 1378ª.C, apud EGGS, 2013: p. 37). Os critérios utilizados para fabricar uma boa argumentação, mencionados acima, por serem reais e funcionais, são passíveis de avaliação por parte de seus ouvintes, pois estes são capazes de perceber que há argumentações que violam um ou outro desses critérios e, por isso, tendem a criticá-las, assumindo, assim, o papel de juiz da comunicação (EGGS, 2013). É possível dizer, também, que o ethos enquanto prova retórica é procedural, uma vez que tem um sentido moral ou ideal que não nasce de uma atitude interior ou de um sistema de valores abstrato, contudo, é produzido pelas escolhas competentes, deliberadas e apropriadas de um orador. Pode ser que o verdadeiro e o justo não se imponham durante a fala do orador ao seu público e, se isso acontece, é porque o orador não se utilizou de argumentos que atingissem os lugares comuns ou as tópicas de seu auditório, como bem nos lembra Aristóteles, ao enumerar os topoï específicos de cada gênero retórico e as regras de inferência comuns aos tipos de público, ou seja, enumera os topoï comuns a todo discurso humano, inclusive, àqueles que dizem respeito às paixões e às três qualidades de uma argumentação, referidas anteriormente: phrónesis, areté e eúnoia. É importante que o orador, além de parecer honesto, apresente-se de maneira honesta e sincera para que o verdadeiro e o justo se imponham perante seus destinatários. Para que isso aconteça, é necessário que se respeitem os topoï e os saberes comuns, o que implica que o 59
60 orador mostre um ethos apropriado à sua idade e à sua situação social, adaptando seu discurso aos hábitos e costumes de seu auditório, realizando o que se convencionou chamar de ethos objetivo. A realização do ethos moral, aquele que tem a ver com as atitudes e virtudes do orador, passa, necessariamente, pela realização do ethos objetivo ou neutro, já que todo orador tem por objetivo primordial convencer pelo discurso. Existe, ainda, um triângulo aristotélico que distingue o orador, o ouvinte e o discurso, mostrando que as provas fornecidas pelo discurso são de três espécies. A primeira delas está centrada em seu orador, por isso, relaciona-se ao ethos ou à imagem de si que esse orador faz; a segunda está ligada ao fato de o orador colocar seu ouvinte em certa disposição, tentando captá-lo por meio da persuasão empreendida por seu discurso e pelas emoções que gera em seu destinatário, ou seja, tentando provocar nele um efeito patêmico; a terceira diz respeito, justamente, ao próprio discurso empreendido pelo orador. Desse modo, é possível estabelecer que o ethos está ligado ao orador, assim como o pathos está ligado ao ouvinte. Torna-se necessário, agora, estabelecer uma relação entre o ethos do orador e o ethos do auditório: a imagem que o orador faz de si mesmo, ao se mostrar em público, com sua idade, seu status e seu caráter, dependerá, inevitavelmente, da constituição ética de seu auditório. O orador, então, acaba por adequar sua própria imagem a partir do momento em que leva em conta as características e até mesmo as expectativas de seu auditório, afinal, a persuasão do auditório é sempre a finalidade de um discurso, já que esse auditório funciona como uma espécie de juiz acerca da expressão afetiva do orador, mostrando-se solidário ao discurso desse orador e até mesmo ao ethos empreendido pelo sujeito enunciador em questão, criando, assim, um princípio de cooperação que não só depende do ethos do orador, mas também das paixões que ele provoca em seu auditório. Charaudeau (2013), retomando Barthes, lembra que tanto ethos quanto pathos participam do que chama de demonstrações psicológicas que não correspondem, necessariamente, ao estado psicológico do orador ou de seu auditório, estabelecendo, assim, uma diferença entre o ethos e o pathos visados pelo discurso e a imagem real/extradiscursiva do orador e as emoções que seu auditório, de fato, sente. E é pensando, justamente, nessa separação que existe entre identidades sociais e discursivas, as quais os sujeitos do ato de linguagem carregam consigo, que se pode estabelecer que a Análise Semiolinguística do Discurso não dá conta da imagem real do indivíduo que enuncia, mas apenas da enunciação em si, já que o orador deve parecer amável e honesto e causar boa impressão em seu 60
61 auditório, independente de ser assim, ou não, enquanto sujeito do mundo real. Desse modo, o ethos está ligado ao próprio discurso e não ao indivíduo real que o profere. Charaudeau diz, ainda, que há um ethos condizente com cada identidade que o sujeito assume: há um ethos pré-discursivo que existe antes mesmo de o sujeito enunciador empreender seu discurso, que corresponde à imagem que tal sujeito possui enquanto ser social empírico. Por outro lado, há um ethos que só é ativado por meio do discurso, ou seja, por meio do próprio ato de linguagem. O ethos, [então] relaciona-se ao cruzamento de olhares: olhar do outro sobre aquele que fala, olhar daquele que fala sobre a maneira como pensa que o outro o vê (CHARAUDEAU, 2013: p. 115). Levando em conta, justamente, a questão da identidade pode-se dizer que o ethos é o resultado de uma dupla identidade assumida pelo sujeito enunciador, já que ele se apresenta não só como um ser social, existente no mundo extralinguístico, mas também como um ser de palavra, visto que existe no e pelo discurso. É exatamente essa identidade social que confere, a ele, o direito à palavra e funda sua legitimidade em função de seu papel dentro da cena enunciativa. No entanto, o sujeito constrói para si uma identidade discursiva e se torna um sujeito enunciador que se concentra no papel enunciativo que exerce e na imagem que quer passar de si. O ethos, para o teórico, não é totalmente voluntário nem consciente e não precisa coincidir necessariamente com aquilo que o auditório percebe, afinal, o ethos é, antes de tudo, uma imagem construída tanto pelo sujeito enunciador quanto pelo seu destinatário, apesar de haver um desejo de que o sujeito se mostre tal qual ele é e que ele não faça uso de máscaras. Charaudeau (2013) nos lembra, ainda, que a questão da identidade dos sujeitos passa por representações sociais, já que a realidade em que vive o sujeito falante é uma realidade construída pelas representações sociais que circulam em determinados grupos e que acabam por se configurar naquilo que o teórico convencionou chamar de imaginários sóciodiscursivos, mostrando, assim, como a corporalidade e o tom de que fala Maingueneau - os quais serão retomados a posteriori - dependem, intrinsecamente, da visão que a sociedade tem do corpo e da maneira como ele é mostrado. Portanto, já que o ethos é inscrito numa percepção das representações sociais, que tendem a essencializar e unificar determinadas visões, pode-se dizer que ele diz respeito tanto a indivíduos quanto a grupos de indivíduos, já que esses últimos, por conta do que se chama de identificação, tendem a partilhar caracteres similares que, vistos de fora, dão a impressão 61
62 de que esse grupo se constitui como sendo uma entidade homogênea. Logo, o ethos coletivo é uma visão global, haja vista que é construído apenas pela atribuição apriorística de uma identidade que emana de uma opinião coletiva em relação a um outro grupo (CHARAUDEAU, 2013: p. 117). Então, é possível dizer que O ethos é bem o resultado de uma encenação sociolinguageira que depende dos julgamentos cruzados que os indivíduos de um grupo social fazem uns dos outros ao agirem e falarem. As ideias são construídas por maneiras de dizer que passam por maneiras de ser, afirma Maingueneau. É preciso acrescentar a recíproca, que diz que as maneiras de ser comandam as maneiras de dizer, portanto, as ideias (CHARAUDEAU, 2013: p. 118). Maingueneau (2008), por sua vez, alerta para o fato de a noção de ethos ser bastante intuitiva, já que faz parte do senso comum a ideia de que um locutor, ao empreender seu projeto de fala, ativa em seus destinatários certa representação de si mesmo, procurando controlá-la e, por conta disso, persuadir seu público acerca daquilo que está dizendo. Persuasão essa que pode ser comprovada por uma espécie de technè cujo objetivo é mostrar que não se deve convencer este ou aquele indivíduo pelo discurso, mas sim tipos de indivíduos que correspondem a uma espécie de perfil idealizado por aquele que fala. Dessa forma, é possível pensar que o ethos é o responsável por causar uma boa impressão no público a que se destina determinado discurso pela forma como esse discurso é construído, estabalecendo, assim, uma imagem de si mesmo que gera confiança em seu auditório. É possível dizer que o destinatário atribui a um locutor inscrito no mundo extradiscursivo traços que só são serão reconhecidos no e pelo discurso, já que são associados a formas específicas de dizer, influenciadas, portanto, pelo tom de voz usado pelo orador, por sua entonação e pela cadência de sua voz, mostrando que o ethos assume certa corporalidade, que também tem a ver com o fluxo de fala, as escolhas lexicais e argumentativas, a postura, as aparências, criando uma imagem sociológica e psicológica de si mesmo. Essa representação do locutor é, antes de tudo, uma representação dinâmica construída por seu destinatário a partir da observação da própria fala do locutor cujo ethos implica numa experiência sensível por parte daquele que recebe o discurso: o pathos tem, então, por objetivo mobilizar uma espécie de afetividade em seus ouvintes, proveniente não só do logos, como também do ethos, que, por sua vez, não pode ser um fingimento, estabelecendo, assim, a necessidade de haver uma coconstrução entre o enunciador e a pessoa que ouve seu discurso 62
63 para que o efeito patêmico se realize. A fim de elucidar, de vez, a questão da trilogia aristotélica, recorremos, pois, a Maingueneau: Para retomar uma fórmula de Gilbert (século XVIII), que resume o triângulo da retórica antiga, instrui-se pelos argumentos, comove-se pelas paixões; insinua-se pelas condutas : os argumentos correspondem ao logos; as paixões ao pathos, as condutas ao ethos (MAINGUENEAU, 2008: p. 14) Pensando, justamente, no fato de que um orador não sabe as diferentes características que pode encontrar em seu auditório é que ele deve escolher quais paixões quer suscitar nesse auditório, afinal, as virtudes não são consideradas da mesma maneira em todos os lugares por todas as pessoas. Logo, é apenas diante de seu público que o enunciador construirá uma imagem, levando em conta aquilo que é considerado virtude pelo referido público, pois a persuasão não se criará caso o auditório não possa ver que esse sujeito que fala tem o mesmo ethos que ele, ou seja, persuadir consistirá em fazer passar pelo discurso um ethos característico do auditório, para lhe dar a impressão de que é um dos seus que está ali (MAINGUENEAU, 2008: p. 15). É preciso, ainda, estabelecer a diferença entre ethos discursivo e ethos pré-discursivo. Por ethos pré-discursivo, entende-se o fato de que o público acaba por construir uma ou mais de uma representação do ethos do enunciador, antes mesmo que ele fale. É o que acontece, por exemplo, no discurso político, em que um orador já é conhecido de seu público por suas ações e seu caráter antes mesmo de empreender seu discurso, que virá a negar ou a confirmar a imagem que o auditório tem de seu orador. O ethos discursivo é, por sua vez, a imagem que o orador cria para si por meio do discurso que realiza, ficando este um pouco mais restrito ao material linguístico produzido por aquele em determinado discurso, realizado por um orador, uma vez que ele quer persuadir seu destinatário acerca do que diz. O ethos, então, é fruto de uma percepção complexa, já que mobiliza a afetividade de um intérprete provinda do material linguístico que fornece e também do ambiente onde está inserido, haja vista que o ethos é, por natureza, um comportamento que articula o verbal e o não-verbal, provocando, por isso, efeitos multissensoriais em seus destinatários. Porém, é preciso esclarecer que o ethos visado não corresponde, necessariamente, ao ethos produzido, visto que este é uma noção discursiva construída no e pelo discurso. Há, ainda, que se retomar a noção de ethos coletivo, afinal, segundo Kerbat- Orecchioni (1996, apud MAINGUENEAU, 2008), essa noção pode ser associada aos hábitos 63
64 locucionais compartilhados por uma comunidade de fala, tornando-se, assim, um quadro de referência invisível e imperceptível para os membros dessa comunidade, determinando, portanto, as maneiras de se comportar e de interagir que são mais ou menos aceitas por uma comunidade, em função das expectativas comuns que devem ser atendidas quando há a atividade linguageira. A noção de estereótipo surge, principalmente, quando se observa o discurso publicitário, uma vez que este se apropria de ethé mais estereotipados noção de estereótipo será retomada posteriormente, convencionados por determinadas comunidades, para fazer com que seu público-alvo adira a determinadas propagandas, pois esse público tem o direito de ignorá-las ou de recusá-las, mas pode, no entanto, aceitar que há um processo interativo de influência de um sujeito sobre o outro. Muitas vezes, as publicidades do corpus são entendidas como sendo ofensivas, justamente por burlarem certos estereótipos, fazendo com que seu destinatário se recuse a aderir ao discurso produzido e veiculado pela publicidade. Justamente por estarmos lidando com publicidade às avessas, é que se pode estabelecer que a propaganda abaixo, veiculada pelo site de humor Desencannes, cujo enunciado diz Encha seu filho de bolacha, pode ser considerada como sendo ofensiva, caso bolacha seja entendida pelo viés da violência, já que há uma crença de que bons pais não devem bater em seus filhos, devem, ao contrário, estabelecer, com eles, um diálogo, ensinando-lhes o que é certo e o que é errado. Portanto, tal propaganda fere um dos estereótipos mais comuns de nossa sociedade: bons pais não batem em seus filhos. Por outro lado, o vocábulo bolacha pode ser entendido como sendo sinônimo de biscoito, o que abrandaria o ethos de pais ruins, mas não tanto, já que biscoito recheado não é um tipo de alimento que deva ser ingerido com tanta frequência, pois não é benéfico para a saúde. Dessa maneira, pode-se afirmar que tal propaganda fere, ainda, outro estereótipo bastante recorrente em nossa sociedade: o de que bons pais dão para seus filhos apenas alimentos saudáveis e não biscoitos recheados, contendo altos níveis de açúcar. 64
65 Figura 4 Peça publicitária do biscoito Bono, publicada pelo Desencannes. É importante, ainda, atentar para o fato de que o ethos é uma noção sócio-discursiva que funciona, deste modo, tanto na instância do discurso quanto na instância do social, visto que se trata da avaliação de um comportamento socialmente aceito por determinado grupo que não pode ser apreendido fora de uma situação de comunicação, que precisa, por sua vez, estar integrada, ela mesma, a determinada conjuntura sócio-histórica. Maingueneau (2008) traz à baila o conceito de fiador que nada mais é do que o enunciador construído pelo destinatário a partir de índices liberados na enunciação, que se relaciona com a vocalidade que um texto pode assumir e que se manifesta numa multiplicidade de tons que estão associados a uma caracterização do corpo do enunciador. Dessa forma, o teórico retoma a noção encarnada do ethos, utilizando o termo de Auchlin, que recobre não só a dimensão verbal, mas também o conjunto de determinações físicas e psíquicas ligadas ao fiador pelas representações coletivas estereotípicas (MAINGUENEAU, 2008: p. 18), atribuindo, assim, um caráter e uma corporalidade a ele; corporalidade essa que está associada a uma constituição corporal e a uma maneira de vestir-se, ao passo que o caráter está associado a traços psicológicos. O caráter e a corporalidade apoiam-se em um conjunto difuso de representações sociais valorizadas ou desvalorizadas e de estereótipos sobre os quais a enunciação se dá contribuindo para reforçálos ou, ao contrário, para transformá-los. O fiador, por sua vez, engendra, ele próprio, um mundo ético do qual faz parte e ao qual apenas ele mesmo tem acesso por meio da leitura que reúne certo número de situações associadas a comportamentos. Dessa forma, o leitor, ou intérprete no dizer de Maingueneau 65
66 (2008), inicia o processo de incorporação dentro do qual se apropria desse ethos. A publicidade, como dito, parece estar intimamente ligada ao ethos, já que, no mundo contemporâneo, busca efetivamente persuadir seu público-alvo, associando produtos que promovem uma maneira de viver no mundo a um corpo em movimento, apoiando-se em estereótipos validados para encarnar aquilo que prescreve. Maingueneau (2013) diz que todo discurso pressupõe uma cena de enunciação para seu enunciado a qual deve validar por sua própria enunciação, visto que qualquer discurso precisa instaurar uma situação de comunicação que o torna pertinente. Diante disso, é possível estabelecer que a "cena da enunciação" integra três outras cenas, a saber, a "cena englobante", que diz respeito ao tipo de discurso que se quer veicular; a "cena genérica", que se associa a um contrato, o qual, a seu turno, associa-se a um gênero discursivo; e a "cenografia", que é uma construção estabelecida pelo próprio texto, já que não é imposta pelo gênero discursivo, logo, parece se assemelhar a uma espécie de modos de dizer e de fazer que são comuns a determinados gêneros. O discurso publicitário, assim como o político, faz uso de cenografias variadas posto que pretende persuadir seu interlocutor, captando, para isso, seu imaginário, atribuindo a ele uma identidade, invocando uma cena de fala valorizada. A cenografia de um discurso é reconstruída por um leitor com o auxílio de indícios discursivos que um texto traz, cuja descoberta se apoia, por exemplo, no conhecimento do gênero discursivo, no ritmo de um texto ou até mesmo em conteúdos explícitos. Em qualquer cenografia, a figura do enunciador, entendido, aqui, como fiador, possui um figura correlativa, a saber, o coenunciador os quais se associam numa dada cenografia, ou seja, num dado momento e numa dada topografia, já que ocupam um determinado lugar do qual o discurso parece originar-se. A cenografia é, portanto (...) ao mesmo tempo, aquela de onde o discurso vem e aquela que ele engendra; ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, deve estabelecer que essa cena de onde a fala emerge é precisamente a cena requerida para enunciar (...) São os conteúdos desenvolvidos pelo discurso que permitem especificar e validar a própria cena e o próprio ethos, pelos quais esses conteúdos surgem. (MAINGUENEAU, 2013: pp ) O ethos pode, também, incidir sobre o conjunto de uma cena de fala que é apresentada como um modelo ou, por outro lado, um antimodelo a ser seguido. Essa cena pode ser chamada de cena validada, haja vista que o sentido de validada, aqui, é o de já instalada na memória coletiva. Tais cenas são fixadas, facilmente, em representações estereotipadas, 66
67 popularizadas pela tradição, variando de acordo com o que é valorizado por cada grupo e pelo que é visado dentro de um tipo de discurso específico, desde que sejam representações partilhadas por esse público-alvo. As referidas cenas validadas são, ao mesmo tempo, exteriores e interiores ao discurso que evocam: exteriores porque existem de maneira prévia ao discurso, sendo-lhes anteriores em algum lugar do interdiscurso; e interiores, pois são, também, produto desse discurso que, por sua vez, configura-as segundo seu próprio universo. Vale lembrar que a exploração dessas cenas validadas ou cenas de referência varia de acordo com o posicionamento de quem as traz para o texto. O enunciado, então, dá-se pelo tom que usa o fiador, associado, como dito, a uma dinâmica corporal, cujo sentido o leitor identifica, já que participa fisicamente do mesmo mundo trazido pelo fiador por meio do discurso: o coenunciador se deixa captar pelo ethos, que é, ao mesmo tempo, envolvente e invisível, decifrando seus conteúdos de um discurso. Dessa forma, é possível pensar que o coenunciador é implicado em sua cenografia, visto que participa de uma esfera na qual pode reencontrar um enunciador que, pela vocalidade da fala, é tido como fiador de um mundo representado por ele(s). Recorremos, mais uma vez, a Maingueneau (2008) para tratar do ethos: O ethos de um discurso resulta da interação de diversos fatores: ethos prédiscursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também os fragmentos do texto nos quais o enunciador evoca sua própria enunciação (ethos dito) - diretamente ( é um amigo que lhes fala ) ou indiretamente, por meio de metáforas ou de alusões a outras cenas de fala, por exemplo, a distinção entre ethos dito e mostrado se inscreve nos extremos de uma linha contínua, uma vez que é impossível definir uma fronteira nítida entre o dito sugerido e o puramente mostrado pela enunciação. O ethos efetivo, construído por tal ou qual destinatário, resulta da interação dessas diversas instâncias (MAINGUENEAU, 2008, pp ) Antes de falar do outro lugar que a argumentação ocupa, a saber, o pathos, torna-se imprescindível diferenciá-lo das emoções propriamente ditas, já que essas podem ser provocadas fisiologicamente e até mesmo mensuradas quimicamente, como bem nos lembra Charaudeau (2010a). Os estudos acerca desse tipo de emoções centram-se no indivíduo e propõem explicações causais sobre o(s) comportamento(s) que apresentam. No entanto, é necessário explicitar que as emoções não são apenas fruto das pulsões ou da irracionalidade ou, ainda, da ordem do incontrolável, visto que carregam consigo um caráter social que determina, por sua vez, o sentimento de pertencimento de um indivíduo a um grupo, 67
68 representando, assim, a vitalidade de uma consciência coletiva. Dessa forma, há que se considerar que esse grupo guia a maneira como os indivíduos devem se comportar, moralmente falando, em termos afetivos e emocionais. Logo, as emoções, por serem socialmente partilhadas, inscrevem-se num quadro axiológico que as torna mais ou menos passíveis de existirem em determinados contextos, já que dependem da aprovação de indivíduos que compõem um mesmo grupo. A análise do discurso, por sua vez, não pode ter como objeto de estudo as referidas emoções que um indivíduo, de fato, sente: cabe ao analista do discurso estudar as emoções que são visadas em termos discursivos, ou seja, aquelas que o enunciador quer que seu destinatário sinta quando produz seus discursos. Trata-se, então, de um estudo das emoções discursivas que só existem, assim como ethos, no e pelo discurso, e seu estudo só se dá de maneira efetiva quando suas análises englobam os mecanismos de intencionalidade do sujeito, os de interação social e a maneira como essas representações sociais constituem-se dentro do discurso. Os efeitos patêmicos do discurso ligam-se às emoções que são, ao contrário daquilo que o senso comum determina, intencionais, estão ligadas a saberes de crença e se inscrevem em uma problemática da representação social. É possível dizer que as emoções são fruto de intencionalidade, pois se trata de emoções produzidas no e pelo discurso, afinal, a racionalidade, como resume Elster (1995, apud CHARAUDEAU, 2010a), está a serviço de um agir para alcançar um objetivo que não precisa, necessariamente, ser atingido cujo agente é o primeiro beneficiário dessa ação. Podemos dizer, ainda, que esse objetivo a ser alcançado ou essa visada acional é fruto de uma busca por um objeto que é desencadeada por algo que se insere na ordem do desejo, visto que seu agente quer ser, ao mesmo tempo, agente e beneficiário da ação. Dessa forma, é possível afirmar que essa racionalidade é fruto do desejo de um sujeito e pode, por esse motivo, ser qualificada como sendo subjetiva. Citamos, pois, Charaudeau (2010a): Assim, podemos afirmar que as emoções se inscrevem em tal quadro de racionalidade pelo fato de... conterem em si mesmas uma orientação direcionada a um objeto (Nussbaum, 1995, p. 24), do qual tiram sua propriedade de intencionalidade. É pelo fato de as emoções se manifestarem em um sujeito a propósito de algo que ele representa para si que elas podem ser nomeadas de intencionais (CHARAUDEAU, 2010a: p. 28). As emoções estão ligadas aos saberes de crença, haja vista que não é suficiente que os sujeitos percebam algo, não basta que esse algo venha acompanhado de alguma informação 68
69 ou de um saber, é necessário que esse sujeito avalie esse saber para que possa se posicionar em relação a ele, a fim de poder vivenciar ou exprimir certas emoções. Esse tipo de saber possui, então, duas características no dizer de Elster (1995, apud CHARADEAU, 2010a), pois se estrutura em torno de valores que são polarizados, mas que não devem ser entendidos como sendo verdadeiros, já que são fruto da subjetividade de um indivíduo que, por sua vez, constrói esse saber. Pode-se, dessa maneira, dizer que se trata de um saber de crença, afinal, baseia-se em uma construção subjetiva, opondo-se, portanto, a um saber de conhecimento, que se baseia, a seu turno, em critérios de verdade que são exteriores ao referido sujeito. As emoções, por conseguinte, devem ser tratadas sob um olhar judicativo que se apoia nas crenças partilhadas por um grupo social, cujo respeito e, até mesmo o desrespeito, levam a uma sanção moral da ordem do elogio ou da repreensão. Tais emoções podem ser entendidas como um tipo de estado mental racional em que qualquer modificação de crença leva, necessariamente, a uma modificação de emoção. Do mesmo modo, qualquer modificação de emoção leva a um deslocamento de crença. Como nos lembra CHARAUDEAU (2010a), pode-se afimar que: i) as crenças são constituídas por um saber polarizado em torno de valores socialmente compartilhados; ii) o sujeito mobiliza uma, ou várias, das redes inferenciais propostas pelos universos de crença disponíveis na situação onde ele se encontra, o que é susceptível de desencadear nele um estado emocional; iii) o desencadeamento do estado emocional (ou a sua ausência) o coloca em contato com uma sanção social que culminará em julgamentos diversos de ordem psicológica ou moral (CHARAUDEAU, 2010a: p. 30). A partir do momento em que se diz que as emoções são estados emocionais que se baseiam em saberes de crença, é possível afirmar que elas se inscrevem em uma problemática de representação posto que essa procede de um duplo movimento de simbolização e de autorepresentação. A simbolização acontece quando as emoções arrancam os objetos do mundo, fazendo com que eles deixem de ser objetos e passem a ser uma imagem, que é dada pelo próprio objeto, mas que não é o objeto em si. Trata-se de uma noção de autorrepresentação, haja vista que o sujeito constrói, de forma imaginária, um mundo que, por um fenômeno de reflexividade, retorna ao próprio sujeito como imagem que ele mesmo constrói desse mundo e por meio da qual ele mesmo se define. Em outras palavras, o mundo é autoapresentado para o sujeito e é por meio dessa imagem que lhe foi apresentada que ele constrói sua própria 69
70 identidade, revelando mais sobre si próprio quando enuncia do que revelaria acerca de seu enunciado. As representações são consideradas patêmicas caso descrevam uma situação da qual resulta um juízo de valor articulado e compartilhado coletivamente, juízo de valor esse que questiona um actante que acredita ser beneficiário ou vítima e ao qual o sujeito da representação encontra-se ligado. Assim sendo, é pertinente dizer que a relação patêmica acaba engajando um sujeito em um comportamento reacional, de acordo com as normas sociais às quais ele se submete e é submetido. As representações podem ser, ainda, chamadas de sociodiscursivas, afinal, seu processo de configuração simbolizante do mundo faz-se por meio de signos enunciados que significam fatos e gestos de seres do mundo, visto que circulam em uma dada comunidade e se tornam objeto de partilha entre os indivíduos que fazem parte dessa comunidade, passando, desse modo, a constituir um saber comum e, particularmente, um saber de crença. Dito de outro modo: as representações são sócio-discursivas quando implicam o sujeito em uma tomada de posição no que diz respeito aos valores. Em contraposição, há aos saberes de conhecimento que lhe são exteriores, logo, não lhe pertencem, apenas vêm até esse sujeito, mas não o implicam. Segundo Charaudeau (2010a), elas, as representações sociodiscursivas, são uma espécie de mini-narrativas do mundo, que revelam sempre o ponto de vista de um determinado sujeito cujos enunciados circulam na comunidade social, criando uma rede complexa e vasta de intertextos que se agrupam e reagrupam, formando o que se convencionou chamar de imaginários sócio-discursivos, dentro dos quais figuram, reproduzem-se e são criados os estereótipos. Tais imaginários são considerados sintomas desses universos de crenças partilhados que contribuem para a construção concomitante de um ele social e um eu indivíduo. Imaginários sociodiscursivos podem ser definidos, então, como sendo o lugar onde se estruturam essas diversas representações sociais que, por sua vez, também são sóciodiscursivas, visto que são construídas pelo dizer. Além disso, são percebidas e identificadas nos e pelos discursos que circulam em diferentes grupos sociais e resultam de uma miscelânea de saberes de crença, de conhecimento, de erudição etc. Dentre essas representações, e, sem que se possa distinguir com clareza, há representações de ordem social, outras, de ordem cultural, outras, ainda, de ordem comunitária. Na realidade, a apreensão e compreensão desses 70
71 imaginários sociodiscursivos exigem uma competência semântica para que o sujeito seja capaz de dar conta de toda a carga de significados e sentidos que os imaginários trazem consigo. Os sistemas de representação refratam e refletem os imaginários, interpretando a realidade circundante e mantendo, com essa mesma realidade, relações simbólicas, por um lado, e lhe atribuindo significações, por outro. Assim sendo, é possível estabelecer que os imaginários referem-se à capacidade de simbolização da realidade por um determinado domínio de prática social por um grupo, também ele, social. Recorremos, pois, a Monnerat (2012) para compreender melhor a questão: De natureza cognitivo-discursiva, portanto, os imaginários sociodiscursivos veiculam imagens mentais pelo discurso, configurando-se explicitamente (palavras ou expressões) ou implicitamente (alusões). Dessa forma, os imaginários imersos no inconsciente coletivo tecido pela história podem contribuir para o estabelecimento de crenças numa determinada sociedade, orientar as condutas aceitas numa dada época e desempenhar o papel de responsáveis pela constituição do sujeito com fins de adaptação ao meio ambiente e de comunicação com o outro. Podem, ainda, concorrer para o estabelecimento de visões estereotipadas do sujeito, como ser individual e coletivo. Assim, o real não é apresentado a partir de uma descrição objetiva, mas por meio de representações veiculadas pelo enunciador a fim de induzir o leitor a construir, a partir dos fragmentos dados, um mosaico que ele tomará como verdade, sendo todo esse processo intermediado pela linguagem (MONNERAT, 2012: p. 309). De acordo com Amossy e Pierrot (2004), muitas vezes, as noções de estereótipo e representação social confundem-se, entretanto, recorrendo a Jodelet (1989, apud AMOSSY e PIERROT, 2004), as autoras estabelecem que, enquanto a representação social designa um universo de opiniões, o estereótipo é a cristalização de um elemento e serve, apenas, como seu indicador. Na realidade, é necessário esclarecer que, numa perspectiva interessada no imaginário social e na lógica das representações coletivas, por meio da qual um grupo social percebe e interpreta o mundo, a expressão representação social diz respeito ao termo estereótipo, tendo a vantagem de não carregar consigo conotações negativas. O termo estereótipo, assim como o termo clichê, tem sua origem na tipografia, uma vez que a imprensa criou um novo procedimento de reprodução em massa de um modelo fixo, substituindo a composição feita a partir de caracteres móveis. É daí que vem o significado do vocábulo, tomado de empréstimo da linguagem corrente, que define estereótipo como sendo as imagens mentais que os indivíduos carregam consigo e que mediam suas 71
72 relações com a realidade. Trata-se de representações cristalizadas, esquemas culturais préexistentes, por meio dos quais cada indivíduo filtra a realidade de seu entorno. O estereótipo, como bem se sabe, caracteriza e esquematiza o mundo, contudo, esses procedimentos são indispensáveis para a cognição, ainda que conduzam a uma simplificação e a uma generalização, por vezes, excessiva. Enquanto indivíduos, necessitamos relacionar aquilo que vemos a modelos pré-existentes para podermos compreender o mundo, realizarmos previsões e regularmos nossas condutas. Se não fossem os estereótipos, como nos adverte Lippmann (1922, apud AMOSSY e PIERROT, 2004), não haveria tempo hábil nem mesmo a possibilidade de as pessoas conhecerem umas às outras, de maneira íntima, logo, é necessário recorrer a características comuns a um grupo de indivíduos para representá-los e para que os outros possam identificálos, por exemplo, como publicistas, judeus, negros, ricos etc. Entretanto, à medida que os estereótipos respondem a um processo de categorização e de generalização, recortam e simplificam o real, podendo provocar uma visão esquemática e deformada do outro, o que gera preconceitos. É importante estabelecer que, muitas vezes, a noção de estereótipo carrega uma carga tão negativa que é confundida com a noção de preconceito. Todavia, Amossy e Pierrot (2004) diferenciam, à luz da psicologia social, o estereótipo como sendo uma crença, uma opinião, uma representação relativa a um grupo e seus membros, enquanto o preconceito designa a atitude adotada pelos membros de um grupo em relação a outros indivíduos de grupos diferentes. Esse mesmo estereótipo que desvaloriza um grupo aparece como um instrumento de legitimação em diversas situações de dominação, propiciando a subordinação de um grupo com relação a outro. As autoras (op. cit.) alertam, ainda, para o fato de que os meios de comunicação são grandes divulgadores de estereótipos, fazendo com que os indivíduos tenham uma visão, muitas vezes, distorcida, de grupos sociais distintos, reforçando preconceitos e julgamentos infundados. Ferrés (1998), por sua vez, define os estereótipos como sendo representações sociais institucionalizadas, reiteradas e reducionistas, haja vista que pressupõem uma visão compartilhada que um coletivo social possui acerca de outro coletivo. É mister ressaltar que os estereótipos, conforme dito, têm como base a rigidez e a repetição, o que faz com que pareçam naturais, já que seu objetivo é ser ou, pelo menos, parecer a própria realidade. 72
73 Nesse sentido, os estereótipos assemelham-se aos processos de sedução, haja vista que fazem uso de uma percepção seletiva, posto que, como o próprio nome sugere, selecionam, de maneira intencional, uma dimensão isolada da realidade, polarizando a atenção do destinatário para que ele realize um processo de globalização, transferindo a parte negativa para o todo, tornando essa dimensão negativa a própria realidade. Muitas vezes, é o estereótipo que faz com que os indivíduos sejam preconceituosos em relação a uma pessoa pelo simples fato de ela pertencer a um coletivo que, por sua vez, também é vítima de rejeição. Os estereótipos são entendidos, por Ferrés (op. cit.), como representações legítimas da(s) ideologia(s) dominante(s) latente(s) em um discurso, cumprindo a função de justificar a conduta do grupo que os estabeleceu ou que se solidariza com eles. Os estereótipos organizam-se, então, em função de uma série de variáveis, como sexo, classe social, ideologia, idade, atividade profissional, raça, religião, entre outros, e se manifestam mediante a associação de características simples, positivas ou negativas embora as últimas sejam maioria, a cada um dos estratos estereotipados. Isso posto, é possível pensar que os estereótipos podem ser analisados a partir da dupla ótica da causa que os justifica e dos efeitos que produzem. Do ponto de vista da causa, pretendem reduzir e simplificar a realidade por meio da seleção de algumas características e do esquecimento ou da escamoteação de outras. Esse jogo de luz e sombra empreendido com relação às características é feito com o objetivo de gerar os seguintes efeitos: facilitar a interpretação da realidade, reduzindo sua complexidade e até mesmo sua ambiguidade e, ainda, oferecer um recorte da realidade, marcado ideologicamente, em função dos interesses do locutor, possibilitando, dessa forma, possíveis processos de envolvimento emocional dos protagonistas do ato de linguagem. Os indivíduos recorrem, frequentemente, de maneira consciente ou inconsciente, aos estereótipos, uma vez que esses representam certa economia de energia a mesma de que fala Freud (1996) com relação aos chistes quando se é necessário interpretar uma realidade complexa que mostra resistência para ser compreendida. Portanto, no princípio, os estereótipos são aceitos, pois respondem às necessidades primárias, tanto cognitivas, quanto emotivas, dos referidos indivíduos. Depois, acabam contribuindo para criar ou reforçar ideias e valores, já que incidem sobre mapas mentais com os quais se interpretará a realidade. Assim sendo, é possível estabelecer que os estereótipos se aproveitam de algumas necessidades primárias das pessoas, como é o caso do prazer imediato, da economia de 73
74 esforço e da necessidade de emoções elementares, a fim de exercer uma influência ideológica ou ética, legitimadora do status social, político, econômico e cultural, o que pode ser intencional ou involuntário. Os efeitos dessa prática parecem, também, eliminar a complexidade, as contradições pessoais ou sociais, tornando-se um recurso eficaz para o processo de homogeneização na interpretação da realidade e de homogeneização de ideias, princípios, valores, preferências e comportamentos. Cabe esclarecer que o estereótipo é, sempre, reflexo da ideologia dominante, já que é um princípio organizador da realidade que tende a conservá-la, perpetuá-la, petrificá-la, sob a aparência de poder contribuir para a compreensão dela. No entanto, segundo Ferrés (1998), acabam contribuindo para uma espécie de confusão da realidade, perpetuando, assim, equívocos, posto que se apresentam como uma consequência da ordem natural das coisas, porém, nada mais são do que uma generalização simplificadora do real. Os estereótipos funcionam, ainda, como mecanismos de pressão social para que os indivíduos não se sintam privados de uma identidade cultural e de um universo simbólico de referências. Diante disso, é possível dizer que aqueles que não se enquadram em algum desses grupos acabam por ser marginalizados, correndo o risco de serem isolados socialmente e até mesmo de serem postos de lado pelo coletivo e expulsos da tribo. Assim como as publicidades canônicas, o Desencannes também faz uso dos estereótipos para compor suas peças, haja vista que o discurso publicitário precisa sempre recorrer a mecanismos simplificadores, economizando o máximo de energia possível de seus destinatários, causando um impacto emocional e a satisfação das expectativas que eles possam vir a ter. Todas essas estratégias têm por objetivo, na realidade, ativar, nos destinatários, mecanismos de identificação que podem ser negativos ou positivos. 74
75 Figura 5 Peça publicitária do Governo Federal, publicada pelo Desencannes É o que acontece na peça publicitária, presente na figura 5, que recorre ao estereótipo de que mulheres dirigem mal, apesar de uma pesquisa recente do DETRAN, realizada em 2011, apontar o fato de que a maior parte do número de acidentes, inclusive, os fatais, é de responsabilidade dos homens e não das mulheres. A peça publicitária, por meio de uma comparação, afirma que aqueles que ingerem álcool dirigem tão mal quanto mulheres dirigindo sóbrias, igualando os efeitos prejudiciais que o álcool causa, ao modo como as mulheres dirigem. Logo, os estereótipos parecem ser representações sociais que reiteram e reduzem a complexidade da realidade, ainda que não correspondam, necessariamente, a ela. Voltando, agora, a falar sobre emoções, a fim de retomar o que foi anteriormente dito, é possível dizer que essas se resumem da seguinte maneira: (...) advêm de um estado qualitativo de ordem afetiva, em razão de um sujeito que vivencia e sente estados eufóricos/disfóricos numa relação com a sua fisiologia e suas pulsões. mas advêm, ao mesmo tempo, de um estado mental intencional de ordem racional, enquanto visam um objeto que é figurado por um sujeito que tem uma visão do mundo, que julga esse mundo por meio de valores, os quais são objeto de um consenso social, constituem saberes de crença por meio de imaginários sociodiscursivos que servem de suporte desencadeador ao mesmo tempo de um estado qualitativo e de uma reação comportamental. as emoções são, desse modo, ao mesmo tempo, origem de um comportamento, enquanto se manifestam por meio das disposições de um sujeito, e controladas (até mesmo, sancionadas) pelas normas sociais advindas dessas crenças. (CHARAUDEAU, 2010a: pp ) É importante salientar, mais uma vez, que não há uma relação entre um efeito patêmico visado e um efeito patêmico produzido, ou seja, não há relação de causa e efeito entre exprimir ou descrever uma emoção e provocar um estado emocional no outro (CHARAUDEAU, 2010a: p. 34). A análise do discurso, a seu turno, deve restringir-se à 75
76 análise do processo discursivo pelo qual a emoção pode ser estabelecida, tratando-a como um efeito visado, mas não como um efeito, de fato, produzido. Dessa forma, é possível estabelecer que determinados tipos de discurso têm por objetivo causar um efeito patêmico em seus destinatários, mas nunca se saberá se o efeito visado foi o obtido. Dito de outro modo: o efeito patêmico produzido no e pelo discurso é diferente das emoções reais que um sujeito sente em sua vida, afinal, a emoção instaurada pelo processo discursivo não é, necessariamente, aquela sentida e vivida pelos sujeitos sociais no mundo extralinguístico. Assim sendo, fica claro que a organização do universo patêmico depende da situação social e sociocultural na qual se inscreve a troca comunicativa (CHARAUDEAU, 2010a: p. 37). A patemização pode, ainda, ser tratada discursivamente como uma categoria de efeito que depende das circunstâncias nas quais surge. Os casos de ausência de emoção podem ser explicados pelas expectativas que estão em jogo em toda atividade linguageira: pode ser que a expectativa, empreendida por um sujeito, em uma situação de comunicação, não coincida com o que, de fato, ele encontra quando coconstrói o sentido de um texto. Para Charaudeau (2010a), o estudo do discurso patêmico depende de três tipos de condição: a primeira refere-se ao fato de o discurso produzido se inscrever em um dispositivo comunicativo cuja finalidade e lugares são atribuídos de maneira prévia aos parceiros da troca, o que predispõe à ocorrência de efeitos patêmicos. Assim sendo, existem dispositivos que propiciam o surgimento de efeitos patêmicos, já que sua finalidade tem como base predominantemente uma estratégia captadora e os parceiros estão envolvidos nos saberes de crença, contudo, há dispositivos que não propiciam os efeitos patêmicos, já que têm como traço dominante a existência da credibilidade e o fato de os parceiros serem colocados à distância dos saberes de crença. A segunda condição diz respeito à tematização sobre a qual se apoia o dispositivo comunicativo e pode prever a existência de um universo de patemização e propor certa organização dos imaginários sociodiscursivos mais suscetíveis de produzir os efeitos patêmicos. A terceira condição, por sua vez, diz respeito ao espaço de estratégias que foi disponibilizado por restrições impostas pela situação de comunicação que, junto com a enunciação, fazem uso da cena enunciativa cuja visada é a patemizante. Torna-se possível dizer que a patemização do discurso é uma resultante do jogo de restrições e liberdades existentes na cena enunciativa, afinal, as trocas comunicativas 76
77 precisam carregar consigo condições específicas para a existência de possíveis visadas patêmicas. Os lugares que o dispositivo da comunicação televisiva, por exemplo, atribuem a seus parceiros são favoráveis ao surgimento de efeitos patêmicos que se apoiam em crenças, na tensão entre credibilidade e captação, e na tensão relativa ao lugar que ocupa cada um dos parceiros, que pode ser o de implicamento ou o de distância. Segundo o teórico, o mesmo não acontece com o dispositivo publicitário que, conforme ele nos diz, não comove seu público-alvo, porém, utiliza-se de estratégias de captação que vêm acompanhadas da necessidade de credibilidade. Na realidade, o sujeito destinatário sabe que não deve acreditar no spot publicitário, já que é pura invenção, diferente do contrato da ficção romanesca, porque a visada sedutora da publicidade é colocada a serviço de outra visada, a pragmática, que tem por objetivo incitar o destinatário a adquirir uma marca. Pensando no que foi anteriormente escrito, é importante esclarecer, mais uma vez, que as emoções discursivas inscrevem-se em certa racionalidade, visto que são fruto da intenção de sujeitos discursivos que visam a atingir um determinado objetivo, proveniente do desejo desses sujeitos quando fazem uso de estratégias patêmicas. Todas essas emoções são inscritas em saberes de crença, haja vista que o sujeito precisa estabelecer um juízo de valor acerca daquilo que lhe é transmitido e tal juízo de valor só pode ser construído coletivamente, uma vez que todo sujeito é, por excelência, um ser social que só existe enquanto indivíduo único quando percebe que o outro é diferente de si mesmo. Esses valores de crença não devem, desse modo, ser considerados melhores ou piores, verdadeiros ou falsos, mas sim capazes de criar uma empatia entre aquele que os veicula e aquele que os recebe; empatia essa sobredeterminada pelos referidos valores de crença que um mesmo grupo social determina, partilha, respeita ou desrespeita. Pensando, justamente nas estratégias patêmicas elencadas para fazer parte do discurso desencannado e nos valores de crença que circulam em nossa sociedade, pode-se estabelecer que a propaganda seguinte acaba por ferir um dos valores de crença que um mesmo grupo social partilha, nesse caso, o de que todas as religiões devem ser respeitadas, assim como as pessoas que praticam essas religiões. Dessa forma, dizer que uma igreja protestante, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, assemelha-se a um banco é desrespeitar os indivíduos que dela fazem parte, assim como desrespeitar a própria instituição que, teoricamente, pratica o bem e incentiva que seus fiéis assim o façam. 77
78 Portanto, ainda que de maneira implícita, embora chocante, a peça publicitária aqui destacada diz que a Igreja Universal faz o mesmo que um banco faz, ou seja, preocupa-se com o dinheiro em vez de se preocupar com a caridade, já que seu objetivo primeiro, segundo o Desencannes, é o lucro e não a ajuda que poderia dar aos integrantes da igreja. Logo, a Igreja Universal não parece ser um banco, porque parece ser uma igreja, ainda que, na visão do site, não seja. A referência às instituições bancárias fica ainda mais evidente quando, por conhecimentos de mundo partilhados, entendidos, aqui, como saberes de crença, percebe-se que a propaganda faz uso do slogan do Banco Bradesco que é Nem parece banco. Dessa forma, é possível estabelecer que, assim como o Bradesco não parece banco, a Igreja Universal também não, afinal, o primeiro explora seus clientes, no sentido de lucrar em cima deles e obter seu dinheiro, assim como faz aquela com seus fiéis que, por meio do dízimo e de doações, permitem que, de acordo com o Desencannes, a igreja enriqueça. Também é possível estabelecer que ressoa outra crença nessa propaganda a qual, por sua vez, pertence a outro grupo social: a de que a Igreja Protestante Universal do Reino de Deus explora seus fiéis, em vez de ajudá-los e de levar a palavra de Deus até eles. Figura 6 Peça publicitária da Igreja Universal, publicada pelo Desencannes. 4 As emoções inscrevem-se, ainda, em uma problemática de simbolização e de autorrepresentação: simbolização, quando simbolizam, por meio do discurso, o mundo extralinguístico, e autorrepresentação quando dizem mais a respeito de quem fala do que sobre o que se fala: o sujeito discursivo que faz uso do discurso patêmico revela mais sobre si 4 Texto da imagem: Nem parece banco. 78
79 próprio, nesse discurso, do que sobre aquilo que diz quando é protagonista da atividade linguageira. Logo, as relações patêmicas parecem engajar um sujeito em um determinado comportamento racional racional, pois está ligado à intencionalidade, que é, por sua vez, regulado pelo social por meio de seus valores morais e saberes de crença que povoam os discursos intencionais dos sujeitos discursivos e acabam por revelar muito sobre quem fala, em vez de revelar nuances sobre a temática trazida por esses discursos. Se não há engajamento por parte do sujeito, não há, também, tomada de posição e é possível estabelecer que a relação patêmica não se deu, pelo menos não no viés visado pelo sujeito enunciador. O discurso publicitário recorre, frequentemente, às noções de ethos e pathos, já que seu enunciador precisa, por exemplo, fazer com que a imagem que cria para si seja mais uma forma de captar esse leitor, engajando-o no discurso produzido, tentando causar, nele, efeito(s) patêmico(s) capazes de incitá-lo a comprar determinada marca. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade canônica, para atingir seu fim último, que é vender uma marca, elenca inúmeras estratégias para convencer seu destinatário. Diante disso, torna-se necessário falar um pouco mais sobre o discurso publicitário e todas as particularidades que ele carrega consigo. 79
80 5 Persuasão: a publicidade que vende O mundo no qual vivemos parece não mais existir sem a publicidade, no entanto, nem sempre foi assim. É apenas a partir do século XX que a publicidade começa a ganhar força, com a criação de um mercado consumidor maior, fruto da irrupção da produção de massa, que precisava, de alguma maneira, ser absorvida, ou seja, ser oferecida e, consequentemente, comprada e vendida daí vem a inserção da classe média nesse universo de consumo. Pinto (1997) alerta para o fato de que a publicidade funciona como espécie de fiel da balança, já que é ela que zela pela sobrevivência do sistema ao assegurar que tudo aquilo que é produzido seja, também, consumido. É necessário explicitar que, sem o surgimento e a expansão da imprensa, nada disso seria possível: é somente por causa dos meios de comunicação, nesse caso, especificamente graças aos jornais, que as propagandas podiam ser veiculadas e, por isso mesmo, podiam chegar às casas de seus consumidores que, seduzidos pelos produtos e suas propagandas, acabavam por adquiri-los. Vestergaard e Schoder (2000) chamam a atenção para o fato de que para haver publicidade, é imprescindível que uma parte da população viva acima do nível de subsistência a fim de que possam adquirir bens de consumo desnecessários. A publicidade engendra, então, nas pessoas, a vontade de adquirir esses bens de consumo, não sem antes se apropriar da existência de um mercado consumidor em massa e da imprensa, que funciona como comunicação para se chegar até o comprador das marcas. Atualmente, não parece haver distinção entre os termos publicidade e propaganda, contudo, os referidos vocábulos são fruto de uma etimologia diversa: publicidade diz respeito a tornar público ou, em outros termos, tirar do anonimato um produto ou até uma ideia; propaganda, por sua vez, como o próprio nome sugere, tem a ver com a propagação de um conteúdo, o que geralmente se dá com a ajuda dos meios de comunicação. No Português do Brasil, no entanto, o vocábulo propaganda é um termo mais amplo que publicidade, por englobar a comercial e a de ideias. Tanto publicidade quanto propaganda parecem estar a serviço de uma empresa que encontra o eco de seus anseios na figura do publicista, que é capaz de vender uma marca, uma ideia ou conceito para os consumidores que se encontram em posição de recusar tal oferta, mas são captados por essas propagandas e colocam-se em posição de busca por um ideal, 80
81 afinal, passam a precisar dos produtos que são vendidos, bem como das noções de bem-estar e satisfação que eles carregam consigo. Logo, o fazer publicitário torna-se necessário no mundo capitalista onde vivemos, uma vez que a lógica do capital acaba por determinar a maneira como os indivíduos vivem suas vidas: sempre querendo ter mais e mais. A compra de uma determinada marca acaba por conferir a quem o possui uma espécie de status e de prestígio social que são explorados pela propaganda: cria-se uma necessidade que beira a compulsividade do ter para ser e todos precisam estar inseridos, fomentando esse universo de consumo do qual são massa de manobra, princípio, meio e fim. A publicidade, ao contrário do que pensa o senso comum, não cria necessidades artificiais na vida das pessoas, mas se apropria das necessidades reais e, principalmente, das simbólicas, daqueles desejos originais de homens e mulheres e os desvirtua, fazendo parecer que esses desejos mais íntimos só serão plenamente atendidos por meio da compra de produto(s) da marca x ou y. O indivíduo parece, então, ser tragado de maneira irreversível para o mundo do consumo, uma vez que cabe a ele escolher que produtos e que marcas adquirirá, entretanto, a ele, não é permitido escolher não comprar e não fazer parte desse rito, que estabelece que para ser é preciso, antes de mais nada, ter. Existe, portanto, uma lacuna entre o que a publicidade realmente oferece e o futuro que promete, [o que] corresponde à lacuna entre o que o espectador/comprador sente que é e o que ele gostaria de ser (PINTO, 1997: p. 42). A propaganda apela para o lado sensível de seu consumidor, haja vista que deixa de explorar apenas aquilo que ele precisa saber e passa a explorar aquilo que ele quer ouvir, criando-se, dessa forma, um apelo a que o indivíduo deve responder de maneira cúmplice. Esse viés do sensível só consegue ser explorado pela publicidade, uma vez que ela faz uso de mecanismos discursivos que criam certos efeitos patêmicos os quais, por meio das emoções daí vem a relação com o sensível, conseguem captar seus consumidores para o discurso que está sendo empreendido, afinal, esses consumidores se deixam seduzir pelas propagandas, posto que elas trazem para seus textos apenas aquilo que eles querem ouvir. Logo, é possível estabelecer que, se as estratégias de sedução/patemização forem bem sucedidas, haverá a compra de determinado produto, ou melhor, haverá a compra de uma marca, já que os consumidores, quando compram, escolhem a marca de um produto e não o produto em si. 81
82 Segundo Leduc (1976) (apud MONNERAT, 2003), o conteúdo psicológico de um sujeito com relação a um objeto pode ser segmentado em três forças: os móbeis impulsionadores, as atitudes e os comportamentos. Por móbeis impulsionadores entendem-se os motivos que levam o sujeito a agir, fazendo-o adquirir e utilizar uma marca. As motivações se subdividem em econômicas, egoístas e altruístas. Durante muito tempo, pensou-se que as motivações econômicas eram as únicas responsáveis por fazer o consumidor adquirir uma marca, já que ele teria o desejo de ganhar dinheiro ou de pagar o menos possível por essa marca. A teoria da oferta e da procura centrou-se e talvez ainda se centre na suposição de que o consumidor é, ao mesmo tempo, um ser egoísta, racional e informado. As motivações de ordem egoísta têm a ver com o fato de o consumidor querer preservar a si e ao seu próprio corpo, elencando, para fazer parte de sua vida, produtos, por exemplo, que lhe garantam saúde. Por fim, as motivações de ordem altruísta consistem na simpatia, ou seja, no poder de participar do prazer ou da alegria de alguém e no desejo de se proteger e de se devotar. As motivações acima mencionadas, assim como seus freios, concretizam-se em atitudes e comportamentos. Atitudes são entendidas, aqui, como predisposições interiores em relação a um produto e como resultantes do conteúdo de motivações para um dado indivíduo, num determinado momento, fazendo com que se prefigure um comportamento. Essas atitudes podem variar numa espécie de escala que comporta o positivo, marcado por diferentes intensidades, podendo chegar até à convicção, o que configura a compra; o negativo que diz respeito aos preconceitos; e o neutro, marcado pela indiferença ou pela ignorância acerca de uma marca. Os comportamentos concretizam-se, por outro lado, em maneiras de se conduzir face a uma marca. Para que o referido processo de persuasão/sedução seja bem sucedido, de acordo com Pinto (1997), é necessário que a publicidade envolva o consumidor num feixe simbólico que ajude os objetos mais ordinários a se tornarem extraordinários, uma vez que se cria, para eles, um valor, também este simbólico, fazendo com que deixem de ser meros objetos e se tornem, na realidade, objetos de valor para o consumidor que, por sua vez, passará a buscá-los, visto que essas coisas representam a satisfação das necessidades humanas mais básicas, como amor, felicidade, prazer, entre outros. Tudo isso só é possível uma vez que a publicidade é também uma linguagem propriamente dita, feita de palavras que seduzem ou devem seduzir, 82
83 pelas combinações em que se apresentam, pelas desconstruções que praticam, pelos ecos que despertam, pelos implícitos que activam, por uma série de jogos (...) (PINTO, 1997: p. 11) Dessa forma, é possível estabelecer que o processo semiótico da publicidade reside na própria simbolização dos produtos e, consequentemente, das marcas: essa simbolização será a responsável por criar uma identidade para quaisquer que sejam os produtos, estabelecendo, portanto, uma espécie de personificação para eles, que passam a se comportar como seres humanos, uma vez que possuem uma personalidade típica de homens e mulheres: são vivos, alegres, confiáveis, amigos etc. As identidades assumidas por esses produtos fazem com que eles passem a valer mais pelas imagens de si que projetam no mercado e na vida dos consumidores do que pelas suas qualidades e propriedades físicas, criando, assim, um hall de qualidades simbólicas. É possível afirmar, então, que adquirir uma determinada marca faz com que os indivíduos que o comprem alcancem, ainda, outros bens que não são materiais, mas sim, indispensáveis à vida humana, nesse caso, trata-se da aceitação, prestígio social, beleza, amor, bem-estar. Por isso, quando as vendas de uma marca fracassam não quer dizer, necessariamente, que ele não tem qualidade: quer dizer que o referido produto dessa marca não se encaixou no universo de valores e desejos do consumidor que poderia escolhê-lo no lugar de tantos outros disponíveis no mercado. Em verdade, de acordo com Vestergaard e Schoder (2000), a publicidade tende a deixar de lado as informações concretas sobre determinados produtos quando faz uso do viés da persuasão, menosprezando, por completo, o valor material dessas mercadorias, invocando, de maneira real ou exagerada, o valor de uso primordial de seu produto ou valor simbólico no dizer de Pinto (1997), uma vez que promete ao consumidor que a aquisição e o consumo de determinado produto/marca lhe dará juventude, beleza, amor, convívio social, entre outros. Segundo Farias (1993) (apud MONNERAT, 2005), os leitores de publicidade subdividem-se em três categorias distintas que são o leitor conquistado, aquele que foi vítima da sedução empreendida pelo discurso publicitário, uma vez que não tinha nenhuma intenção de ler anúncios publicitários, mas acabou sendo cooptado por um deles ao folhear uma revista, por exemplo; o leitor motivado, que se configura como sendo um comprador em potencial, haja vista que tem a intenção de comprar uma marca que seja compatível com seu objeto de desejo; e o leitor espontâneo, que é aquele que se interessa por ler publicidades e 83
84 acaba, vez ou outra, a depender da publicidade em questão, comprando o produto de uma marca. Muitos teóricos, de acordo com Monnerat (2003), postulam que a linguagem publicitária é puramente conotativa, pois as palavras têm seu campo de significação ampliado, desenvolvendo, ao lado do sentido literal, outro, conotado, visto que o sentido denotativo não detém todo o significado da já citada linguagem publicitária. Em outras palavras: há um segundo grau de significação, o conotativo, que introduz a subjetividade no texto publicitário, evocando a emoção, a afetividade e as motivações inconscientes de seus destinatários. A publicidade denotativa, por outro lado, apela à razão dos indivíduos, utilizando-se de argumentos mais ou menos comprováveis para fazer com que os destinatários adquiram tal ou qual marca. Para Pinto (1997), o componente linguístico do discurso publicitário é co-responsável pelo seu poder de persuasão. Explica-se: é co-responsável, uma vez que, para a autora, o componente gráfico e o imagético são os principais responsáveis pelo processo de convencimento de consumidores empreendido pelo fazer publicitário, já que, sem a parte gráfica e a imagética, a publicidade não pode ser considerada como tal, ainda que a linguagem verbal esteja presente em quase todas as propagandas. Carvalho (1996) chama a atenção para o fato de que a linguagem da publicidade utiliza-se de recursos estilísticos e argumentativos da linguagem cotidiana, capazes de informar o destinatário e, além disso, manipulá-lo, fazendo-o tomar certa atitude em relação à compra de uma marca. Na realidade, de acordo com a autora, todos os discursos, como é o caso do jornalístico, por exemplo, transmitem algum tipo de informação e querem convencer o destinatário acerca de algo, no entanto, apenas em relação à publicidade há a consciência, por parte dos consumidores, de que se trata de um processo claro de manipulação. Dessa forma, o jargão jornalístico, parece ser imparcial, ao passo que o jargão publicitário é, claramente, parcial. A palavra, utilizada pelo discurso publicitário, deixa, então, de ser meramente informativa, uma vez que surge carregada de significados que, a seu turno, reforçam a força sedutora e persuasiva dessas palavras, fazendo com que elas, de maneira clara ou dissimulada, consigam captar seu destinatário para que ele não só compre uma marca, mas também se integre à sociedade de consumo. A mencionada integração à sociedade, na realidade, não ocorre de maneira plena, haja vista que, assim que adquire um bem de consumo, o 84
85 consumidor continua frustrado, pois sua vida é a mesma de sempre, embora tenha aderido ao que foi trazido como solução para todos os seus problemas e mazelas pelo próprio discurso publicitário. Citamos, pois, Carvalho (1996), na tentativa de amarrar a questão: As palavras, em resumo, não exprimem as coisas, mas a consciência que temos delas (...) no caso da publicidade, a palavra não leva à descoberta do eu interior, mas à descoberta dos desejos e aspirações de um tu novo, que ela sedutoramente se propõe a realizar (ANDRADE, 1992, apud CARVALHO, 1996: p. 22) Como dito, a persuasão parece ser o mecanismo no qual se centra o discurso publicitário, afinal, pretende gerar no consumidor uma mudança de atitude, tirando-o de um estado de inércia, fazendo-o adquirir um comportamento que o predisponha à compra. São três os mecanismos de persuasão: mecanismos automáticos, de racionalização e de sugestão. Os mecanismos automáticos são aqueles que se limitam a agir sobre a memória dos indivíduos, criando uma espécie de reflexo mental próprio, capaz de fazer com que a compra de um produto de uma marca se realize. Podemos citar, como exemplo de mecanismos automáticos, os slogans que fazem com que o nome de determinada marca seja memorizado por um sujeito, destacando-a no meio de uma infinidade de marcas e produtos existentes. Os mecanismos de racionalização são utilizados quando a publicidade, tida como argumentativa, fundamenta-se no raciocínio para mostrar as qualidades de uma determinada marca que se quer vender, mostrando, inclusive, seus benefícios. Os mecanismos de sugestão, por sua vez, consistem em incitar, no destinatário, o desejo pela compra do produto, tentando induzir os compradores de uma marca a aceitá-la, sem que haja qualquer explicação racional para que isso ocorra. Essas motivações baseiam-se na aceitação de uma crença específica: o enunciador é hábil em dar a impressão de que aquilo que ele defende está de acordo com as crenças trazidas pelo destinatário, não havendo, portanto, quaisquer ameaças às convicções desse público. De acordo com Charaudeau (1983), todo o discurso publicitário é atravessado por dois tipos de contrato, levando em conta as condições de produção desse discurso. Trata-se do contrato do sério e do contrato do maravilhoso. No primeiro caso, supõe-se que se está diante de um público racionalista, por isso, será necessário desenvolver uma argumentação mais racional, mostrando que o produto é um auxiliar eficaz, como acontece nas propagandas de revistas especializadas. 85
86 Já no contrato do maravilhoso, parte-se do pressuposto de que se está de frente a um público menos racionalista, mais inclinado ao sonho, portanto, será necessário desenvolver uma argumentação mais centrada no aspecto narrativo dessa propaganda, atribuindo ao produto de determinada marca que se anuncia um aspecto quase mágico. No contrato do maravilhoso, adota-se uma estratégia que consiste em fazer crer ao sujeito interpretante que há uma carência e que se deve suprir tal carência o que desencadeia um querer-fazer -, que pode ser solucionada por conta de um auxiliar o que engendra um poder-fazer. Logo, o sujeito interpretante é impelido a querer satisfazer seus desejos, o que gera, finalmente, um dever-fazer. A publicidade se utiliza, ainda, de esquemas básicos para captar seus receptores, convencendo-os daquilo que está sendo dito: Trata-se não só do uso de estereótipos esquemas, fórmulas já consagradas que impedem qualquer questionamento acerca do que está sendo enunciado, visto ser algo de domínio público, uma verdade consagrada como também de substituição de nomes, com o intuito de influenciar positiva ou negativamente certas situações, como ocorre com os eufemismos. Outros tipos de esquemas utilizados são a criação de inimigos o discurso persuasivo costuma criar inimigos mais ou menos imaginários (o sabão se justifica contra a sujeira; o creme dental, contra as cáries etc.); o apelo à autoridade o chamamento a alguém que dê validade ao que está sendo afirmado (uso que a publicidade faz do dentista, do médico, do atleta, para tornar mais verídica a mensagem); e, ainda, a técnica de todo mundo, segundo a qual se todo o mundo está fazendo isso, então vamos fazer também. Além desses, a afirmação e a repetição são também estratégias largamente utilizadas no texto publicitário: no primeiro caso, tem-se a certeza, o imperativo, já que a vacilação e a dúvida são inimigas da persuasão; no segundo, a possibilidade de aceitação, pela reiteração constante. Uma variação dessa técnica é o uso de slogans e palavras-chave (BROWN, 1976) (apud MONNERAT, 2003: pp ). Parece ponto pacífico que o discurso publicitário traz consigo um jogo de máscaras que se dá na interação entre os parceiros do ato de linguagem, implicados pelo contrato de comunicação que se estabelece entre eles a partir da propaganda criada. Ou seja, um desses parceiros é encarregado de exaltar um produto de uma marca x, tendo como objetivo seu êxito no circuito comercial; o outro, por sua vez, tem conhecimento claro de que o sujeito comunicante tem por objetivo suscitar nele, no sujeito interpretante, o desejo de se apropriar do produto anunciado. Desse modo, é possível dizer que os dois parceiros estão implicados num tipo de ritual conhecido como falso/aparência (MONNERAT, 2003). É necessário salientar que as propagandas não veiculam nenhuma informação falsa, sob pena de serem consideradas como enganosas e, por isso, responsabilizadas e punidas juridicamente por dizer as mentiras que dizem. No entanto, a propaganda revela apenas uma 86
87 parte da verdade que favorece o anunciante, mascarando, assim, o real custo do produto, ressaltando apenas o valor benéfico que ele possui, afinal, anunciar é seduzir. É possível, ainda, estabelecer que o sedutor ou aquele que produz o discurso publicitário não trabalha com uma verdade haja vista que a verdade é sempre relativa e produto de uma construção, mas sim com um construto que se aproxima de certa verossimilhança. Dito de outro modo: o leitor de um anúncio sabe que o conteúdo enunciado pela propaganda pode não ser verdadeiro, porém, entende-o como sendo verossímil, já que aquele se aproxima de uma verdade, ou melhor, veicula uma verdade possível, constituída a partir de sua própria lógica, dentro da visada comunicativa do discurso publicitário que é fazer comprar ou, até mesmo, fazer seduzir. Porém, mais do que a necessidade de parecer verossímil, a publicidade precisa tornar a marca o mais atraente possível para os consumidores, fazendo com que a referida marca não pareça ter características indesejáveis, embora as tenha, reforçando a ideia de que os demais produtos de outras marcas possuem-nas. Do lado oposto, pode-se deduzir que, quando uma propaganda faz alegações positivas sobre determinado produto, é apenas esse produto, de uma marca específica, que carrega consigo essas características positivas, o que o singulariza, conforme mencionado, com relação aos demais produtos de outras marcas. Torna-se imprescindível, nesse ponto do trabalho, recorrer a Monnerat (2003). Citamos, pois: Na publicidade comercial, o fim primeiro é a persuasão, que é desenvolvida dentro de uma prática que se pode chamar de autoritária, já que não há diálogo entre enunciador e destinatário. Pretende-se a inserção num quadro pragmático (o consumo), que requer um fundo ideológico já pré-constituído e conhecido do destinatário. A ideologia evocada pelo discurso publicitário é a do capitalismo, do consumo. É a ideologia euforizante da felicidade pelo consumo e para o consumo, condicionando pessoas, impondo hábitos e gostos, forçando, ou sugerindo, a adoção de atitudes que induzem à ação de comprar. (MONNERAT, 2003: p. 43) A ideologia parece, então, ser mola propulsora e ponto de partida para a constituição do discurso publicitário, já que a necessidade da compra e, consequentemente, da venda é fruto de um sistema econômico que visa, em primeiro lugar, ao capital. As ideologias são, então, diferentes visões de mundo, capazes de representar aquilo que pensam todas as classes sociais existentes, contudo, é importante salientar que existe uma ideologia dominante, que é a da classe também dominante, nos âmbitos econômico, social e político. Pode-se dizer que há uma operação intelectual da ideologia com a criação de verdades universais abstratas que 87
88 nada mais são do que a transformação de uma visão de mundo particular, obviamente, a da classe dominante, em ideias universais de todos e para todos os indivíduos que convivem em sociedade (CHAUÍ, 1996) (apud MONNERAT, 2003). Vestergaard e Schoder (2000) apontam que o discurso publicitário leva ao extremo as ideologias às quais recorre, uma vez que apresenta o fenômeno do consumo como algo tão evidente e natural que obriga o público-alvo a comprar determinadas marcas, sem que haja qualquer exame crítico acerca dessa ação, tornando-a, desse modo, inevitável e inquestionável para as pessoas. A publicidade faz, portanto, questão de manter a ordem social vigente, posto que dela se beneficia. Ideologia e senso comum andam lado a lado, tanto na visão dos autores alemães quanto na de Chauí. Explica-se: a ideologia pertence ao domínio do senso comum, pois traz à tona crenças, modos de viver e de pensar da classe dominante, ou seja, daquela parcela da população que serve como modelo e serve até mesmo de exemplo do que deve ser alcançado. A ideologia, então, tem como essência o que é, simultaneamente, visível para todos e invisível por conta de seu caráter óbvio. No discurso da propaganda, encontram-se imaginários coletivos do público a que se destina tal discurso, já que a linguagem publicitária mostra a maneira como a sociedade vê o mundo, sendo, dessa forma, reflexo, como dito, da ideologia dominante, que é tida como uma verdade incontestável e uma espécie de modelo a ser seguido: torna-se imprescindível viver e até mesmo ser como manda a ideologia dominante, a qual acaba por atribuir e criar valores que são perseguidos e se tornam objetos de desejo por parte dos sujeitos. Para Pinto (1997), a publicidade vende, para o consumidor, não só bens de consumo, mas também as próprias identidades que carregam consigo, uma vez que são seres ideológicos por natureza e acabam por ter necessidade das marcas que são vendidos e da própria simbologia que lhes é imputada pela publicidade. Carvalho (1996), por sua vez, alerta para o fato de que a publicidade cria e exibe um mundo ideal, onde tudo são luzes e cores, que só será conquistado pelos consumidores caso adquiram determinados produtos de determinadas marcas. Desse modo, é possível perceber que o mundo ideal construído pelo fazer publicitário funciona como uma norma a ser seguida, afinal, sem fazer o que determina a publicidade, o consumidor jamais encontrará a felicidade plena. 88
89 Essa ideologia criada e reforçada pela classe dominante parece atenuar as diferenças entre as castas de nossa sociedade tão estratificada, uma vez que coloca as pessoas no mesmo patamar de consumo, já que todos os produtos estão disponíveis para aqueles que podem pagar o preço de cada uma deles. Na realidade, essa liberdade é falaciosa, pois os indivíduos que ganham menos dinheiro têm menos chances de consumir determinados produtos, apesar de esses estarem à disposição em todas as vitrines e lojas. Assim sendo, é possível estabelecer que a liberdade de consumo nada mais é do que uma maneira, ainda que velada, de excluir uma parcela da população desse universo de consumo, afinal, só pode adquirir um de uma marca x ou y quem tem dinheiro para pagar por ele. É necessário notar, ainda, que o discurso publicitário, em um primeiro momento, faz com que os indivíduos pensem que são únicos e singulares, visto que detêm determinados produtos. Contudo, quando muitas pessoas passam a consumir uma marca específica, principalmente, se elas pertencerem à classe dominante, essa adulação individualista é posta de lado para dar lugar a uma identidade de classes, enfatizando a propriedade comum do produto, seu consumo e o estilo de vida daqueles vierem a consumi-lo. Na realidade, é importante esclarecer que as propagandas, a princípio, não criam novas ideologias, mas, ao contrário, apropriam-se de ideologias e sub-ideologias que já estavam estabelecidas antes da própria criação das propagandas, utilizando-as como sistemas referenciais. Esses modelos de referência são utilizados pelos anunciantes para dar à marca que vendem uma imagem simbólica, destinada a possibilitar a ela, à marca, uma vantagem extra dentro do mercado, onde é preciso que seja diferente dos demais, de alguma maneira para, com isso, captar seu destinatário para o que diz. Em termos ideológicos, o discurso publicitário pode funcionar em três dimensões distintas: na construção das relações entre produtor/anunciante e o público; na construção da imagem do produto; e na construção do consumidor como membro de uma comunidade de consumo, que é o maior empreendimento da publicidade: cativar seu público consumidor atingindo suas expectativas por meio da construção de um tipo ideal de consumidor definido pelos comportamentos consumistas típicos, divulgados e baseados em informações do senso comum. Essa construção de um perfil idealizado de consumidor torna-se necessária, uma vez que o público é atraído pela publicidade que lhe interessa e lhe chama a atenção, levando em consideração as ideias de mundo que essas pessoas têm, o que é influenciado pela educação 89
90 que receberam, seu nível de instrução, suas aspirações sociais, o meio em que vivem, entre outros. Contudo, não se pode afirmar, com absoluta certeza, que o leitor só se deterá em propagandas que lhe interessem, o que constitui, justamente, o grande desafio da publicidade: transformar consumidores em potencial, por meio da publicidade inteligente, em consumidores de fato. O fenômeno publicitário não deve ser considerado apenas em seu viés econômico, ou seja, atuando apenas, a curto prazo, para fazer com que um consumidor compre uma marca, já que, a longo prazo, visam à formação de uma atitude por parte desse indivíduo em relação a determinadas marcas, produtos e objetos. É o que acontece, por exemplo, com a Coca-Cola. Há, por meio de uma espécie de causa defendida, a fidelização de um consumidor em potencial que se torna consumidor de fato, a partir do momento em que, dentro de uma enorme gama de possibilidades, escolhe tomar Coca-Cola em detrimento de outros tantos refrigerantes existentes no mercado, uma vez que, como se sabe, não é o produto o escolhido na hora da compra, mas, sim, sua marca. Há alguns anos, precisamente em 1993, o slogan trazido por essa marca era Sempre Coca-Cola, o que reforça a ideia de fidelização que todo o discurso publicitário almeja, quando se esmera em construir a imagem de um produto que seja atrativo aos olhos do público. Em outro ano, especificamente o de 2005, o slogan escolhido foi um enunciado com verbo no imperativo afirmativo: viva o que é bom. O referido slogan é uma espécie de causa defendida, quando diz que os consumidores precisam se divertir para ter uma vida mais leve e melhor, por isso, precisam tomar Coca-Cola, ao mesmo tempo em que parece referir-se a um tema tabu na sociedade contemporânea: o da qualidade de vida. Com as preocupações crescentes em torno da qualidade de vida e do bem-estar dos indivíduos, é no mínimo interessante notar que viver o que é bom, na realidade, é tomar um refrigerante com altos níveis de açúcar, o que não faz bem à saúde, se ingerido em grandes quantidades, havendo, assim, a quebra de um tabu: o de que tomar refrigerantes faz mal à saúde. Com esse slogan, fica implícito que a Coca-Cola faz bem à saúde e torna melhor a vida das pessoas. A grande questão que se coloca, portanto, é: viver o que é bom é tomar Coca-Cola? É interessante notar, ainda, que a Coca-Cola no Brasil é coca, que os portugueses associam imediatamente a cocaína. Em Portugal, bebe-se cola, que os brasileiros associam a cheirar cola (CARVALHO, 1996: p. 50), mostrando, dessa forma, que a publicidade e até mesmo a escolha do nome das marcas acaba por respeitar as idiossincrasias culturais de cada 90
91 povo, posto que quer tornar os consumidores cúmplices do que está sendo dito e não adversário, sob o risco de perder um cliente e, sobretudo, de ofender o consumidor, suas crenças e seus valores. Pensando, também, nos recursos linguísticos usados pela publicidade, pode-se perceber que a mensagem publicitária manifesta-se por três atos fundamentais: nomear, que é engendrar uma identidade por meio de um nome; qualificar, que é estabelecer uma personalidade por meio de características; e exaltar, que é garantir a promoção de uma marca, elevando suas qualidades. A ação de nomear, na realidade, requer o uso obrigatório da denotação, uma vez que é ela que ancora o texto à realidade. A ação de exaltar, por sua vez, está ligada à de qualificar, já que não há a possibilidade de celebrar as qualidades de um produto sem, obviamente, qualificá-lo (PÉNINOU, 1971) (apud, MONNERAT, 2003). Qualificar e exaltar não exigem, necessariamente, o uso da denotação: pelo contrário, podem utilizar a conotação, haja vista que, como bem nos lembra Charaudeau (1992), qualificar é tomar partido, logo, a qualificação reflete um olhar judicativo e subjetivo do sujeito enunciador, quando este singulariza e especifica o mundo, atribuindo-lhe sua própria maneira de ver esse mundo, a qual é determinada pela razão, pelos sentidos e até pelos sentimentos. A linguagem publicitária é construída em torno de dois grandes princípios, que são o princípio da economia e o da proximidade. O primeiro diz respeito às noções de economia lexical e sintática que são comuns ao discurso publicitário, pois tem como característica uma espécie de discurso quase telegráfico em que são omitidas unidades lexicais, gramaticais e até mesmo sintáticas, havendo, portanto, uma justaposição de palavras, já que há a preocupação com a expressividade do discurso. A linguagem publicitária é, também, comandada por uma preocupação tripla, obedecendo, assim, ao princípio da economia. Trata-se da preocupação com a eficácia dos recursos, com seu rendimento semântico e com sua capacidade de transmissão, havendo um descarte dos mecanismos linguísticos que podem sobrecarregar ou retardar a compreensão da mensagem, o que explica a tendência à elipse e à aglutinação, já que se quer tornar o texto dinâmico e conciso. Cria-se, portanto, um texto com artigos, verbos e possivelmente enunciados omitidos. A mensagem publicitária, apesar de curta, é densa, já que reúne um mínimo de palavras agrupadas para gerar o máximo de eficácia possível, apelando para relações de 91
92 polissemia, duplo sentido, ressignificação de um termo, a fim de cooptar seu público leitor, fazendo-o comprar aquilo que está sendo vendido e, consequentemente, promovido. O princípio da proximidade, por sua vez, mobiliza recursos de ordem semântica e semiológica, já que tem por objetivo a aproximação da informação àquele que deve ser informado. A publicidade faz uso de uma língua dinâmica, voltada para o engajamento e para a ação, em que a construção ativa de interpelação é privilegiada (MONNERAT, 2003: p. 55). Não há como falar de publicidade sem falar de slogans e clichês. O slogan é um recurso técnico que assegura certa perenidade às asserções publicitárias e aos grandes predicados das marcas, explorando sistematicamente as chamadas fórmulas fixas que carregam consigo um apelo à memória individual e até à coletiva, porque dão ao leitor a oportunidade de reconhecer um conhecimento partilhado entre ele e o autor. Assim como a utilização de fórmulas fixas é uma das estratégias elencadas pelo discurso publicitário, também é a desmontagem de clichês e dessas mesmas fórmulas fixas. Na realidade, tal (des)construção ocorre por empréstimos de uma herança cultural - como é o caso dos provérbios, alusões, citações, máximas ou acontecimentos célebres -, cujo objetivo é conferir ao próprio discurso publicitário um estatuto de discurso de autoridade. Como bem nos lembra Monnerat (2003), nos casos mais difíceis, a argumentação publicitária muda de natureza, procura fazer uma representação psicológica original do produto, criando uma imagem que o distinga dos outros, dando-lhe uma personalidade que já não é racional, objetiva, mas afetiva e subjetiva. A construção de uma imagem original e vigorosa confere uma nova dimensão ao produto: à sua realidade física, acrescenta-se uma realidade psicológica, que o desbanaliza e enriquece. É esse conteúdo afetivo que construirá o elemento de diferença e, portanto, de escolha do consumidor (MONNERAT, 2003: pp ) Pensando, ainda, na desconstrução ocasionada pelo discurso publicitário, é possível perceber que há anúncios que rompem com certas normas pré-estabelecidas, causando um forte impacto no consumidor, por meio de mecanismos de estranhamento e situações incômodas, que levam, muitas vezes, à reflexão ou à indignação, fazendo com que o destinatário se torne adversário e não cúmplice daquilo que está sendo enunciado. Antes mesmo de serem criadas, as propagandas escolhem um segmento da população para ser seu público-alvo target-groups e toda mensagem publicitária será produzida levando em consideração a referida segmentação de mercado market segmentation. O 92
93 público-alvo pode ser definido por meio de uma estratégia de marketing, conhecida como psychographics ou lifestyle analisys, em que se traça um perfil do consumidor: idade, educação, localização geográfica, atividades, interesses, opiniões, hobbies, entre outros. A escolha do público-alvo, considerando a segmentação de mercado e a análise do estilo de vida dos consumidores, pretende, como nos lembram Vesterdaard e Schoder (2000), não apenas incrementar as vendas imediatas de um produto de uma marca, mas também criar uma receptividade duradoura junto ao público a que se destina. Talvez o ponto mais importante de toda a criação publicitária seja a escolha do nome do produto, o qual deve dar a este certo status, inserindo-o no mundo real e, ao mesmo tempo, identificando-o e diferenciando-o dos demais produtos. A função primordial da publicidade centra-se tanto na cronologia de seus esforços quanto na perenidade de seus resultados, por isso, deve visar à imposição de um nome que dê ao produto uma identidade psicológica e social para que os consumidores o tenham sempre em mente. O nome de um produto deve ser curto, eufônico, apropriado ao produto, evocando associações agradáveis ou relacionadas a ele. O logotipo, por outro lado, tem por objetivo uma espécie de tradução gráfica do nome, já que representa visualmente o nome dado ao produto, evocando a própria empresa que o criou. É justamente o nome que dá notoriedade a um produto: produtos com marca são muito mais vendidos do que produtos anônimos, posto que a ausência de uma marca, que situe, no mundo, um produto, torna-o sem valor. A publicidade pode ser entendida, então, como um catalisador, capaz de acelerar a notoriedade de um produto/marca e até mesmo suas qualidades. A marca confere ao produto/marca uma forma de ser no mundo, já que cria, para ele, um valor de referência por meio de comparações; confere, ainda, uma realidade psicológica além daquela material que esse produto/marca já possui, uma imagem formada de conteúdo e carregada de afetividade. A primeira função da marca é, então, particularizar o produto e a segunda, mobilizar conotações afetivas por parte dos leitores, tentando estabelecer, entre eles e a marca, um vínculo de fidelidade. Acontece que o próprio nome se superpõe à generalidade do nome comum, não apenas pela passagem do não-nomeado (no sentido do anônimo) ao nomeado, mas, sobretudo, pela passagem do realismo da matéria (nome comum) ao simbolismo da pessoa (nome próprio) (MONNERAT, 2003: p. 60). A mensagem publicitária além de se ancorar no aspecto verbal, também se ancora no não-verbal, já que é fruto da junção de headline, bodycopy e signatureline (LEECH, 1996) 93
94 (apud MONNERAT, 2003: p. 62) ou título, texto e assinatura, com argumentação icônica, como é o caso, por exemplo, da distribuição das palavras do anúncio. A imagem, então, guarda em si outras duas imagens, sendo uma literal, reprodução do real, puramente denotativa, como é o caso do uso dos objetos, personagens, ambiente e ações; e outra, simbólica e conotativa, visto que, em publicidade, é impossível se obter uma imagem absolutamente desprovida de conotação, já que, nesse discurso, a própria simplicidade e a própria ausência constituem-se como sendo simbólicas. Vestergaard e Schoder (2000) flagram a importância de se perceber o discurso publicitário como sendo um amálgama de texto verbal e não-verbal. O texto verbal, segundo os autores, possui um tempo definido para sua veiculação, como é o caso do enunciado, por exemplo, do filme da marca Pepsi, em que o garçom pergunta Só tem Pepsi, pode ser?, no entanto, a imagem é atemporal, podendo ser inserida em diversos contextos e, consequentemente, compreendida e interpretada de diversas formas. Nesse sentido, é possível estabelecer que a parte verbal de qualquer publicidade possui um viés dêitico já que o ancora no tempo e no espaço, o que não acontece com a imagem veiculada pelo discurso publicitário. As imagens são, portanto, mais ambíguas e polissêmicas, já que não carregam consigo o viés dêitico que mencionaram os autores, sendo necessário, então, que sejam ancoradas no mundo extralinguístico por meio do enunciado verbal. O discurso publicitário, ainda que a imagem seja vaga em termos de recepção, recorre a ela, haja vista sua riqueza de informação e sua comunicação imediata que seduz e por que não dizer traga o leitor para o que é enunciado, pois exige dele uma participação ativa e imediata. Citamos, pois, Monnerat, a fim de elucidar de vez a questão: A imagem publicitária comporta mensagens de primeiro plano simples denotação e de segundo plano (superpostas à primeira) de conotação. Nas primeiras, o representado e o significado coincidem nas segundas, a mensagem transcende o que a imagem representa, pois a representação é apenas a figura de uma intenção significante, que transparece através da imagem, trespassando-a e ultrapassando-a. É na conotação (lugar dos sentidos), e não na denotação (lugar das figuras), que a imagem faz a disjunção de significação e representação (MONNERAT, 2003: p. 62). Não há, no entanto, como falar de publicidade, principalmente, no que tange ao aspecto icônico e não-verbal que ela carrega consigo, sem mencionar o papel que as cores exercem dentro do discurso publicitário. Para Guimarães (2003), as cores desempenham funções específicas que podem, por sua vez, ser separadas em dois grandes grupos: um que 94
95 compreende as sintaxes e as relações taxionômicas, cujos princípios de organização são chamar a atenção, destacar, criar planos de percepção, hierarquizar informações, direcionar leituras etc; e outro, que diz respeito às relações semânticas, já que as cores denotam, conotam e/ou simbolizam relações de sentido. As cores, para o autor, formam, então, um construto de cor mais informação. Explicase: as cores são chamadas de cor-informação quando são as responsáveis por mobilizar, organizar e hierarquizar informações ou lhes atribuir significado, seja com relação à sua atuação individual e autônoma, seja com relação à sua ligação com outros elementos que compõem o texto do qual faz parte, como é o caso das figuras e/ou dos textos verbais. Assim, a cor-informação se refere a um determinado conceito de cor que a considera, na sua dimensão pragmática, como informação atualizada de signo, e, na sua dimensão semântica, como componente de complexos significativos (os textos) organizados por sistemas de regras (os códigos) e que, sendo necessariamente um dos elementos da sintaxe visual, é responsável pela construção de significados, em caráter informativo (GUIMARÃES, 2003: p. 32). Uma cor pode, ainda, informar, ao leitor de determinados textos, inúmeros fatos, contudo, a precisão da informação dada dependerá da história dessa cor e, consequentemente, do valor simbólico que ela carregará consigo, do conhecimento do destinatário sobre a informação da referida história e do contexto criado pelo gênero textual em questão para unir a cor e o significado que se espera que seja formado. É interessante notar que os comentários que faz Guimarães (2000; 2003) acerca do papel que as cores ocupam referem-se ao domínio jornalístico e não ao domínio publicitário. Entretanto, as observações cabem também à publicidade, uma vez que ambos fazem parte de uma esfera maior: a mídia. O teórico alerta para o fato de que a primeira leitura que se faz da capa de um jornal, por exemplo, foca-se, sobretudo, na comunicação não-verbal ou mesmo na pré-verbal, haja vista que as cores antecipam-se às formas e até aos textos. É o que acontece, por exemplo, com as propagandas da Coca-Cola, cuja cor representativa da marca carrega consigo um valor informacional tão grande, unindo força semântica e clareza na identificação dos matizes, que haverá a antecipação da informação cromática em relação aos outros elementos figurativos e discursivos que fazem parte da propaganda. É por isso, então, que, mesmo não estando explícito o nome da marca, na propaganda que compõe o corpus do presente trabalho, o destinatário consegue recuperá-lo: o vermelho vivo tornou-se símbolo da marca de refrigerantes que mais investe em propaganda no mundo, o que nos mostra que o repertório [de cores] é primeiramente adquirido por 95
96 aprendizagem, principalmente nesse caso em que as cores utilizadas têm forte caráter simbólico (GUIMARÃES, 2003: p. 38). É importante lembrar que as cores, seus significados e informações podem variar de acordo com a passagem do tempo e, até mesmo, da sua utilização por diferentes culturas, formando uma espécie de ideologia das cores, já que se colocam em jogo crenças e valores, representados por algumas dessas cores, geralmente pautados pelas classes dominantes. Dito de outro modo: as cores podem reunir valores diferentes dependendo da época em que estão sendo usadas, como é o caso, por exemplo, do rosa que, na época do Nazismo, possuía um viés discriminatório, ao marcar, com um triângulo dessa cor, os prisioneiros homossexuais dos campos de concentração, mas, há algum tempo, essa mesma cor serve como reafirmação por isso a valoração positiva da identidade sexual e de gênero de algumas pessoas. Na realidade, torna-se fundamental enquadrar as cores dentro de um viés cultural, já que por cultura entende-se a memória não-hereditária da coletividade (LOTMAN, USPENSKIJ et all, 1981: p. 40, apud GUIMARÃES, 2000: p. 85), estabelecendo, assim, que as cores possuem significados culturais que variam, obviamente, de cultura para cultura, como é o caso, por exemplo, das cores preta e branca as quais formam uma correspondência cromática binária que significam, respectivamente, morte e vida para a cultura ocidental, cabendo a elas, então, obviamente, conotações negativa e positiva. Uma vez que têm significação oposta na cultura oriental vida e morte, a simbologia que possuem é diferente, haja vista que a maneira como os orientais veem a morte é bastante diversa da nossa: para eles, a morte é elevação espiritual. Logo, a simbologia das cores dependerá do armazenamento e da transmissão do seu conteúdo que pode, afinal, transpor períodos de tempos maiores ou ter validade por um período menor, assim como pode variar em relação ao repertório compartilhado, por aqueles que participam do processo de comunicação (GUIMARÃES, 2000: p. 87) As cores podem, ainda, ter sua significação cultural modificada, como é caso do amarelo, que já teve uma carga simbólica considerada boa, pois representava a cor do ouro, porém, em contraposição, representou, também, os judeus, haja vista que o amarelo era a cor da estrela de Davi, o que, para os nazistas, na época da Segunda Guerra Mundial, tinha um significado bastante nefasto. As cores são, então, produtos culturais que têm seus significados modificados, ampliados, reduzidos ou tornados polissêmicos por conta de condições temporais, espaciais e/ou culturais e sociais. 96
97 É necessário mencionar, também, o fato de que as cores podem trazer mais de uma carga simbólica, como dito, já que são, de certa forma, polissêmicas. Isso acontece com a cor vermelha que, em determinados contextos, pode representar a cor do fogo, em oposição ao verde que representa a cor da água, como acontecia na mitologia grega. Portanto, é possível estabelecer que a cor vermelha traz certa agressividade, enquanto a cor verde apresenta certo equilíbrio e sorte. A cor vermelha pode, inclusive, representar tanto morte quanto vida. Explica-se: vermelho é a cor do sangue que, dependendo do contexto em que estiver sendo usado, carregará consigo o significado daquilo que gera e salva vidas ou daquilo que extingue a vida, no sentido de ter o sangue derramado. Enfim, são vários os matizes que assume a cor vermelha e, no caso específico da Coca-Cola, representa o glamour do tapete vermelho, de uma cor que impõe status, por isso, o cliente não pode escolher Pepsi, sob risco de não ter o status do produto associado a si próprio. Assim sendo, é possível estabelecer que a publicidade, ou melhor, que o discurso publicitário tem como objetivo engendrar em seus destinatários um desejo de compra, que, mais tarde, poderá culminar em um processo de fidelização, seduzindo-o e captando-o por meio de um texto misto: linguístico e, também, icônico. A publicidade joga com seu públicoleitor, apelando para as ideologias que o representam, seja para reconstruí-las, seja para desconstruí-las, seja para reproduzi-las, afinal, o importante é criar uma espécie de discurso patêmico capaz de tragar o consumidor não só pelo que, de fato, o produto pode lhe oferecer, mas também pelo viés simbólico que esse mesmo produto carrega consigo, já que lhe é conferido um status que é repassado para aquele que adquire o produto de determinada marca. O sujeito, na visão de Pinto (1997), deixa de ser ele mesmo e passa a ser o produto ou a marca do produto que adquiriu, estabelecendo-se, assim, uma forma de alienação. Isso tudo porque a publicidade conflui dois mundos: o das necessidades reais dos indivíduos, que faz com que eles se relacionem com os objetos de maneira natural e o da necessidade de pertencer socialmente a um determinado grupo, que os impele a investir em objetos de valor simbólico que funcionam como uma espécie de porta de entrada para sua aceitação social. Para Vestergaard e Schoder (2000), as propagandas conferem uma ideologia ao produto/marca que vendem, situando-o num contexto ideológico, o que faz com que esse produto/marca apele para valores conscientes ou subconscientes do consumidor. Logo, ao associar sentimentos pessoal e socialmente desejáveis a mercadorias, a publicidade faz com 97
98 que coisas intangíveis tornem-se tangíveis, possibilitando que elas estejam ao alcance do comprador de tal produto e de tal marca. Assim sendo, os anúncios (ideologias) são capazes de incorporar tudo e até de reabsorver as críticas que lhes são feitas, porque se referem a elas como se fossem vazias de conteúdo. Considerado em seu conjunto, o sistema da propaganda é um grande recuperador: trabalha sobre todo e qualquer material, passando incólume tanto pelas leis reguladoras da propaganda como pelas críticas à sua função básica (WILLIAMSON, 1978: p. 167, apud VESTERGAARD E SCHODER, 2000: p. 188) O já citado status repassado do produto e da marca ao consumidor também integra as estratégias discursivas de que fazem uso o(s) sujeito(s) enunciador(es) do site Desencannes, como se pode perceber se se observar a figura a seguir: a peça publicitária em questão é uma propaganda fictícia do remédio Viagra, responsável, como se sabe, por permitir que homens impotentes sejam capazes de ter ereções. Ela engendra esse processo de passagem de status de uma maneira curiosa: primeiro, esse status é repassado à Torre de Pisa para, depois, ser repassado àquele que faz uso do produto. Explica-se, a Torre de Pisa, como se sabe, ameaça cair há algum tempo, no entanto, se, metaforicamente, a torre fizer uso do Viagra, não cairá mais, ou seja, deixará de ser impotente a fim de se tornar imponente. O mesmo acontecerá com o órgão sexual daquele que consumir a pílula azul: deixará de ser impotente para se tornar imponente, o que refletirá, imediatamente, no estereótipo de homem másculo e viril que o indivíduo quer ter para si e que quer mostrar ao outro que tem. Figura 7 Peça publicitária do Viagra, publicada pelo Desencannes. 98
99 O discurso publicitário tem, portanto, um grande desafio: tirar o consumidor de sua mesmice cotidiana, incutindo nele a necessidade de adquirir uma marca, mas não se trata de qualquer marca, trata-se de um produto singularizado, capaz de mudar a vida de seus consumidores por suas qualidades intrínsecas contrato do sério ou por suas qualidades quase que mágicas que realizarão seus sonhos contrato do maravilhoso. Tudo isso se torna possível porque a publicidade, além de atribuir um nome ao produto, joga, justamente, com os aspectos linguísticos, visando a persuadir seu destinatário, afinal, apesar de ser econômica e concisa, é capaz de (re)estabelecer novos padrões de comportamento, mudanças nos antigos, criando novas formas de ver a vida que serão reproduzidas, buscadas e atingidas por aqueles que forem cooptados por esse discurso que desperta paixões, ambições e suscita todo tipo de reações: o único resultado que a publicidade não pode nem deve aceitar é a indiferença por parte de seus consumidores fiéis, potenciais ou eventuais. Portanto, é possível estabelecer que a publicidade induz a uma visão dinâmica do social, privilegiando implicitamente as ideias mais atuais, os fatos em emergência, as inovações tecnológicas, as correntes de última hora. O texto publicitário, qualquer que seja a mensagem implícita, é o testemunho de uma sociedade de consumo e conduz a uma representação da cultura a que pertence, permitindo estabelecer uma relação pessoal com a realidade particular. Sua mensagem primeira e explícita é o estímulo ao consumo de um produto, mas ele põe em destaque determinado aspecto de uma cultura, como um projetor poderoso, sem deixar de criar em torno de si algumas zonas de sombra (CARVALHO, 1997: p. 106). Uma vez que já se falou sobre a publicidade canônica, torna-se necessário, nesse momento, falar um pouco mais sobre uma das principais estratégias de captação, elencada pelo Desencannes, para cooptar seu destinatário: o humor. 99
100 6 Amor: Humor Parece que a questão humor sempre foi bastante produtiva no que tange aos estudos linguísticos, uma vez que suscitou discussões de importantes teóricos, como é o caso de Freud (1996), Bergson (2001) e Bakhtin (2013). Ainda que esses três autores tenham concepções bastante diferentes acerca do que seria o humor ou sobre quaisquer outros nomes que o termo possa ter, todos parecem dialogar em um único aspecto: para que, de fato, aconteça o humor e o riso seja produzido, é necessário haver um desprendimento daquilo que é considerado sério. Logo, é possível estabelecer que o humor só se dará a partir do momento em que o sério for deixado de lado, uma vez que esse se constrói em oposição ao riso. Freud (1996) postula haver diferenças entre o que chama de chiste e o cômico em geral, assim como diz haver dessemelhanças entre esses dois conceitos e o de humor. No entanto, parece haver um ponto de ancoragem, dentro da teoria freudiana, para esses três conceitos, que é o fato de que, para haver produção chistosa, cômica e humorística, é necessário ocorrer uma economia da descarga mental que será, invariavelmente, deslocada para a produção do riso. O chiste restringir-se-ia, então, de certa forma, ao campo do linguístico, já que se estabelece na e pela linguagem, possuindo duas características básicas: é econômico, uma vez que se utiliza de uma quantidade de palavras que é tida como pouca, ou do ponto de vista da lógica, ou dos modos de pensamento e expressão daí resulta a já citada economia de pensamento e, também, acaba por ocultar e esconder alguma coisa. Distinguindo chiste, do cômico, Freud (1996) postula que este precisa de apenas duas pessoas para se realizar, ao passo que aquele precisa, necessariamente, de pelo menos três. Explica-se: no que tange ao social, o cômico pode se contentar com duas pessoas: uma que produz o cômico e outra que o recebe, haja vista que reside nos próprios sujeitos e pode ser constatado por eles. O chiste, contudo, precisa de uma terceira pessoa, diferente daquela que o produz e daquela que o recebe, conforme nos lembra Freud (op. cit.): pode-se descrevê-lo como um processo psíquico entre três pessoas, as mesmas que participam no caso do cômico, embora seja diferente a parte desempenhada pela terceira pessoa; o processo psíquico nos chistes se cumpre entre a primeira pessoa (o eu) e a terceira (a pessoa de fora) e não, como no caso do cômico, entre o eu e a pessoa que é objeto (FREUD, 1996: p. 139). 100
101 Há, ainda, de acordo com Freud (1996), uma espécie de impulso que faz com que aqueles indivíduos que produzem o chiste decidam-se por contá-lo a outras pessoas, visto que o processo psíquico de construção chistosa não parece terminado quando aquele ocorre a alguém, pois continua havendo uma procura para levar o chiste a uma conclusão, por isso, a necessidade de compartilhá-lo com outrem. Outro ponto que distingue o chiste do cômico é o fato de que quem o produz não pode rir de si mesmo nem do próprio chiste, o que não ocorre com o cômico. Talvez, seja por isso que existe a necessidade de contar o chiste a uma terceira pessoa, o que pode nos levar a dizer que, no ouvinte, uma despesa catéxica 5 foi suspensa e descarregada, enquanto na construção do chiste também encontramos obstáculos tanto à suspensão quanto à possibilidade de descarga (FREUD, 1996: p. 142). O cômico aparece, portanto, como uma descoberta involuntária, derivada das relações sociais humanas, constatado nas pessoas, movimentos, formas, atitudes e traços de caráter delas, provavelmente, no que concerne às características físicas, em um primeiro momento, mas, depois, também, às características mentais ou naquilo em que possam se manifestar. Por meio de personificação, animais e objetos inanimados tornam-se, também eles, cômicos. É possível dizer, ainda, que o cômico pode ser destacado nas pessoas e reconhecido nelas, o que traz a possibilidade de tornar uma pessoa cômica, colocando-a em situações nas quais o cômico apareça. Isso acontecerá quando, em comparação conosco mesmos, a pessoa gastar energia demais em suas funções corporais e energia de menos em suas funções mentais, originando, desse modo, um riso gratificante, pois traz uma sensação de superioridade nossa, em relação a quem achamos cômico. Pode ser, também, que o cômico não se encontre em uma pessoa, mas sim em uma situação espécie de cômico conhecida como cômico de situação, extraindo-se o cômico da relação dos seres humanos com o mundo externo que compreende, também, as convenções e as necessidades sociais e mesmo nossas próprias necessidades corporais. A pessoa, colocada numa situação cômica, por sua vez, parece-nos ainda mais cômica por sua inferioridade, não em relação a nós mesmos, mas em relação à maneira como se teria comportado em condições normais. É o caso, por exemplo, de alguém que tem sua fala interrompida por conta de uma dor. 5 Chama-se catéxica o processo pelo qual a energia libinal é vinculada à representação mental de uma pessoa, ideia ou coisa ou investida nesses mesmos conceitos. 101
102 Como dito, outras pessoas podem ser tornadas cômicas e a principal forma de fazer isso é colocando-as em situações nas quais se tornem cômicas em consequência da dependência a eventos externos, particularmente fatores sociais, sem que se respeitem as características do envolvido, criando, assim, um cômico de situação que pode ser, a seu turno, vivido numa situação real ou simulado por vocábulos e pelo jogo de palavras. Há uma similaridade entre o chiste vide figura 14, que está adiante e o cômico que consiste na maneira como são produzidos. A técnica de produção de chistes e do cômico consiste em dar livre trânsito a modos de pensamento, usuais no inconsciente, que, por outro lado, podem ser julgados apenas como exemplos de raciocínios falhos no consciente. O destinatário, ao se deparar com um raciocínio aparentemente produzido no inconsciente, compara-o com a correção desse raciocínio, gerando uma diferença na despesa, atribuída, esta, ao pré-consciente, da qual pode surgir o prazer cômico. Citamos, pois, Freud (1996) para elucidar de vez a questão: (...) a origem do prazer cômico está na comparação da diferença entre duas despesas. O prazer cômico e o efeito pelo qual é conhecido o riso só se manifestam se essa diferença não é utilizável e, pois, capaz de descarga (FREUD, 1996: p. 203). Essa terceira pessoa, que faz parte do chiste, não pode estar dominada por uma disposição, voltada para pensamentos sérios, uma vez que, desse modo, não será capaz de confirmar o sucesso do chiste: é necessário que esteja em um estado de ânimo eufórico ou, no mínimo, indiferente para que possa agir como a terceira pessoa que comprovará a eficiência de um chiste, desde que disponha de algum grau de benevolência ou certa dose de indiferença ou, ainda, de uma ausência de qualquer fator que possa provocar uma disposição contrária ao propósito do chiste. O indivíduo que produz chistes, entendidos, aqui, como métodos que derivam prazer por meio de processos psíquicos, só é capaz de fazê-lo, uma vez que se encontra em certa disposição para tal. Logo, pode ser considerado como uma pessoa que é dotada de um espírito, ou seja, uma pessoa espirituosa que carrega consigo disposições especiais herdadas de determinantes psíquicos, que permitem ou favorecem a elaboração do referido chiste. Pode ser, no entanto, que o chiste perca seu poder de riso, mesmo em se tratando de uma terceira pessoa, tão logo seja requerido a essa terceira pessoa uma despesa de pensamento ou um trabalho intelectual conexo que provocaria, então, a não economia de pensamento. Por esse motivo, as alusões feitas em um chiste devem ser óbvias, assim como as 102
103 omissões devem ser facilmente preenchidas, sem que haja um despertar do interesse intelectual consciente que impossibilitaria o efeito do chiste. É por causa disso que a produção chistosa se utiliza de alguns métodos: tenta-se abreviar sua expressão tanto quanto possível e tenta-se, ainda, tornar seu entendimento fácil, sob pena de requerer um trabalho intelectual que demande um inevitável dispêndio de pensamento. Torna-se, portanto, necessário distrair a atenção dessa terceira pessoa, apresentando o chiste como meio de captá-la, de modo que a liberação da catéxia inibitória e sua descarga completem-se, sem interrupção. Assim sendo, do mesmo modo, as economias na despesa psíquica inibitória operadas pelo chiste embora pequenas comparativamente à totalidade de nossa despesa psíquica permanecerão para nós uma fonte de prazer porque nos poupam uma despesa particular a que estávamos acostumados e que já nos preparávamos para fazer também naquela ocasião (FREUD, 1996: p. 150). É importante salientar que, diferentemente de Freud, muitos autores encaram o chiste como sendo sinônimo do cômico de palavras, em oposição ao cômico de situações, reduzindo, na concepção freudiana, um mecanismo singular de produção de humor e, consequentemente, de riso, a um mero jogo de palavras. Freud (op. cit.), então, tenta, por meio de diversos estudos, comprovar que se trata de duas atividades distintas, sendo o cômico mais abrangente e, por isso, mais fácil de ser produzido/encontrado do que o chiste. O prazer cômico parece ocorrer por conta de uma condição mais favorável, geralmente, uma disposição eufórica, em que o destinatário está inclinado a rir, o que é ocasionado por uma diferença de despesa psíquica com relação às atividades normais. Há, ainda, uma expectativa cômica que faz com que a pessoa esteja disposta a rir em e de situações que pareceriam normais caso não houvesse essa disposição. Por outro lado, existem condições que são desfavoráveis à realização do cômico, como é o caso do indivíduo que, envolvido nesse processo, pode se distrair e ocupar sua despesa mental com outra situação, fazendo com que o humor deixe de ser produzido. Também é exemplo dessa mesma condição desfavorável o fato de o destinatário, por qualquer motivo que seja, demonstrar certa afetividade com relação àquilo ou àquele que seja motivo do cômico, havendo, assim, o que se convencionou chamar de empatia pela vítima da produção cômica. Como dito, o cômico, para se realizar, necessita de duas pessoas, ao contrário do chiste que necessita de, pelo menos, três. O humor, por sua vez, pode completar seu curso por meio de uma única pessoa. Na realidade, na concepção freudiana, o humor pode ocorrer 103
104 independente dos afetos dolorosos que interferem em sua produção, já que a pessoa que é vítima de ofensa ou dor, por exemplo, pode ser capaz de rir de si mesma e não se deixar atingir por essa comicidade, o que acontece graças a uma economia, nesse caso, a da despesa de afeto que não ocorre. Se uma segunda pessoa estiver envolvida nessa situação cômica, será levada a rir por perceber que a vítima dessa situação não se preocupou consigo, gerando, assim, uma economia da despesa com relação à compaixão que será inutilizada e poderá, portanto, ser descarregada por meio do riso. O humor, assim como o cômico, tem como localização psíquica o pré-consciente, enquanto o chiste, conforme dito, é formado com uma espécie de compromisso entre o inconsciente e o pré-consciente. Bergson (2001), por sua vez, alerta para o fato de que não há comicidade fora daquilo que é humano, afinal, o homem é o único animal capaz de rir e também o único que pode fazer rir. No entanto, para que o cômico ocorra, é primordial que os indivíduos desse processo não estejam envolvidos emocionalmente, visto que é muito raro alguém rir de outro alguém que lhe inspire piedade ou mesmo afeição: (...) a comicidade exige enfim algo como uma anestesia momentânea do coração (BERGSON, 2001: p. 4). A função social do riso é, também, levantada pelo autor, posto que, para ele, o riso de uma pessoa é sempre o riso de um grupo de que faz parte, o qual apenas acontece quando há uma espécie de cumplicidade entre os ridentes, reais ou imaginários, que resolvem partilhar o que está sendo dito, criando um lugar propício onde o riso encontra eco. Portanto, é possível estabelecer que o riso, a fim de que seja compreendido, deve ser colocado em seu meio natural, que é o social, já que surge, no dizer do autor, quando alguns homens reunidos em grupos dirigem, todos, a atenção para um deles, deixando de lado sua própria sensibilidade e exercendo apenas a inteligência que possuem. O riso pode, ainda, surgir de um efeito de rigidez. Explica-se: em uma situação que exigia maior flexibilidade, distração e/ou até mesmo uma obstinação do corpo, o indivíduo, envolvido nesse processo, permanece com a mesma atitude anterior, realizando o mesmo movimento, quando as circunstâncias exigiam que ele o fizesse diferente. A comicidade, causada por certa rigidez cotidiana, residiria, então, em algo que é exterior ao indivíduo. Contudo, é possível haver uma comicidade que é intrínseca à própria pessoa a qual fornecerá, ao riso, matéria, forma, causa e ocasião (BERGSON, 2001: p. 8): trata-se do distraído que apresenta seus defeitos sem saber que os apresenta e faz seu destinatário rir. É necessário notar que, se não se distraísse, corrigiria o que tem de defeitos e não daria mais 104
105 motivo para que os outros rissem dele. Uma personagem é cômica, portanto, na medida que se ignora, já que, na visão do autor (op. cit.), o cômico é inconsciente. A mencionada rigidez do cotidiano, do caráter, do espírito e até mesmo do corpo parecerá suspeita à sociedade por ser sinal de uma atividade adormecida e, também, de uma atividade que se isola e tende a se afastar do centro no qual gravita, pretendendo intervir nessa situação, uma vez que se sente materialmente afetada. Ora, a única maneira de se romper com toda essa rigidez será por meio do riso que funcionará como um gesto social que flexibilizará enfim tudo o que pode restar de rigidez mecânica na superfície do corpo social (BERGSON, 2001: p. 15). A comicidade parece surgir, ainda, da imitação, seja ela qual for, já que, quando alguém imita alguém e/ou alguma coisa, já não é a vida que está ali, presente, mas um automatismo instalado na vida, mimetizando-a. Por isso, gestos dos quais não se pensa em rir tornam-se motivo de riso quando imitados por um indivíduo: aí, instala-se uma forma primária de automatismo. Muitas vezes, é a lógica da imaginação a responsável pela produção de humor, posto que é aquilo que se imagina como sendo cômico que torna algo ou alguém, de fato, risível, uma vez que referida lógica da imaginação é bastante diversa da da razão. Risível será, ainda, uma imagem que sugira a ideia de uma sociedade fantasiada e, por assim dizer, mascarada socialmente, o que faz com que o destinatário perceba o que há de inerte, de pronto, de confeccionado na superfície de uma sociedade viva: é, outra vez, a rigidez do cotidiano que destoa da flexibilidade característica da vida. Em resumo, é possível dizer que o cômico produzirá o mesmo efeito, desde a ideia de mecanização artificial do corpo humano, se assim pudermos nos expressar, até a de uma substituição qualquer do natural pelo artificial (BERGSON, 2001: p. 37). O corpo, a partir do momento em que funciona como máquina, tende a ser motivo de riso, já que se enrijece e perde a flexibilidade perfeita, a atividade sempre alerta de algo em ação. Caso o foco se estabeleça apenas com relação à materialidade do corpo, esse perderá sua vitalidade, afinal, será apenas uma matéria inerte posta sobre uma energia viva, o que provocará o riso, posto que rimos sempre que uma pessoa assume a aparência de coisa, ou seja, torna-se maquinal, automática e rígida. Outra maneira de se obter o cômico, nesse caso, de se obter o cômico de palavras, é por meio da repetição de vocábulos. A repetição em si mesma não é risível, só o é porque simboliza certo jogo particular de elementos morais, símbolo por sua vez de um jogo material 105
106 (BERGSON, 2001: p. 53). Nela, geralmente, encontram-se dois termos: um sentimento comprimido que se assemelha a uma mola que se estica e outro, que é uma ideia a qual se diverte comprimindo, de novo, o sentimento. Por detrás dessa palavra repetida, então, é possível perceber que há um retorno ao automático, já que ela volta, por meio de um mecanismo de repetição calcado numa ideia fixa. Bergson (op. cit.) postula, ainda, que toda a seriedade da vida provém da liberdade; liberdade essa que diz respeito aos sentimentos aprimorados, às paixões nutridas, às ações realizadas pelos seres humanos, enfim, é livre tudo aquilo que tange ao homem e é próprio do humano e é isso que confere à vida certa carga dramática e séria. No entanto, os indivíduos são capazes de transformar tudo isso em comédia, a partir do momento em que imaginam que a referida liberdade encobre uma trama de cordões que faz com que todos nós sejamos apenas marionetes manipuladas por uma força maior. Ora, toda essa manipulação traz à tona a ideia de que o ser humano funciona no automático, deixando de ser livre para se subjugar aos cordéis que o manipulam, reforçando, dessa maneira, a ideia de automatismo e, consequentemente, de fixidez. O já citado mecanismo rígido que, vez ou outra, é percebido pelos indivíduos como um intruso na vida humana, tornando-a menos livre e, portanto, menos viva, engendra nessas pessoas um interesse ainda maior, haja vista que funciona como uma espécie de distração da própria vida. Na realidade, se os acontecimentos pudessem estar atentos ao seu próprio curso, de maneira ininterrupta, não existiriam coincidências, ocorrências fortuitas e séries circulares, por exemplo, afinal, tudo ocorreria de maneira linear e progrediria sempre. O mesmo aconteceria caso os homens permanecessem atentos à vida e retomassem ou mantivessem contato com o próximo e consigo mesmos: nada pareceria manipulá-los e determinar o curso de suas existências. A comicidade é, portanto, o que torna possível que os homens pareçam coisas, reforçando a ideia de que eles e os acontecimentos da vida humana, em virtude de sua rigidez, mimetizam o que é mecânico, o movimento sem vivacidade. Desse automatismo patente, exige-se uma correção que só é possível por meio do riso que ressalta e reprime certa distração especial dos homens e dos acontecimentos (BERGSON, 2001: p. 65). A comicidade pode ser gerada por meio de três procedimentos que transformam o que é vivo em mecânico e, por isso, geram humor. Trata-se da repetição, da inversão e da interferência das séries. A repetição, aqui, não é mais uma repetição pura e simples de palavras ou frases, mas sim uma repetição de uma situação, ou seja, de uma combinação de 106
107 circunstâncias que vai e volta e se repete muitas vezes, contrastando com o curso natural e mutável da vida. A inversão que produz o cômico só ocorrerá, como o próprio nome sugere, quando uma situação for invertida e os papéis forem trocados, criando um mundo cunhado sob a rubrica do às avessas. Esse procedimento parece ser o que funciona como mola propulsora do corpus que compõe o presente trabalho, uma vez que é exemplo de publicidade às avessas, nas quais a situação de comunicação é modificada e os papéis desenvolvidos pelos sujeitos do ato de linguagem são diferentes dos que usualmente exercem, quando se trata de construir e co-construir a atividade linguageira, típica do domínio publicitário. A interferência de séries, por sua vez, nada mais é do que uma situação, sempre considerada cômica, pois pertence, concomitantemente, a duas séries de acontecimentos bastante independentes, que podem, dessa forma, ser interpretadas e compreendidas, ao mesmo tempo, em dois sentidos diferentes. Geralmente, parece que, a todo momento, tudo irá desfazer-se para, no momento seguinte, voltar ao seu lugar: é esse jogo de gato e rato que provoca o riso em seu destinatário. A fim de tentar elucidar a questão, citamos, pois, Bergson (op. cit.): Quer haja interferência de séries, inversão ou repetição, vemos que o objetivo é sempre o mesmo: obter o que chamamos de mecanização da vida. Um sistema de ações e de relações é tomado e repetido tal qual, ou então radicalmente invertido, ou transportado em bloco para um outro sistema com o qual coincide em parte operações estas que consistem em tratar a vida como um mecanismo de repetição, com efeitos reversíveis e peças intercambiáveis (...) Por isso, a comicidade dos acontecimentos pode ser definida como uma distração das coisas, assim como a comicidade de um caráter individual sempre tem a ver (...) com certa distração fundamental da pessoa (BERGSON: 2001: p. 75). Há que se diferenciar, ainda, o cômico que a linguagem exprime, da comicidade que ela cria; cria, porque esse tipo de cômico deve toda a sua ocorrência à estrutura da frase ou à escolha das palavras e, também, não constata, por meio da linguagem, certas distrações particulares dos homens ou dos acontecimentos, mas destaca as distrações da linguagem em si, já que é a própria linguagem que se torna cômica. Isso acontece, por exemplo, quando se obtém uma frase cômica ao se inserir uma ideia absurda num molde frasal consagrado, ou seja, numa fórmula fixa ou numa frase estereotipada. A linguagem, dessa maneira, é tomada de um automatismo ou de uma rigidez ela própria e isso a torna risível, assemelhando-se ao que ocorre quando um indivíduo, por um efeito de rigidez ou de velocidade adquirida, diz o 107
108 que não queria dizer ou faz o que não queria fazer. Obviamente, isso produz um efeito cômico. O cômico criado pela linguagem pode ser obtido se o destinatário entender uma expressão no sentido próprio, quando ela é empregada no sentido figurado; ou, quando a atenção dele se concentra na materialidade de uma metáfora; ou, então, quando uma série de acontecimentos, repetida em novo tom ou invertida, conserva, ainda, um de seus sentidos, ou esses são misturados de tal modo que seus respectivos significados passam a interferir uns nos outros, tornando-se a própria linguagem cômica, uma vez que consegue tratar a vida mecanicamente, havendo, assim, o que se convencionou chamar de transformação cômica das frases. Figura 8 Peça publicitária do absorvente Sempre Livre, publicada pelo Desencannes. A peça publicitária desencannada do absorvente Sempre Livre foi criada apropriandose da materialidade de uma metáfora, haja vista que o termo livre foi usado em sua acepção primeira: mostrar que alguém não está preso em um lugar, nesse caso, a cadeia. No entanto, o termo livre, no que tange à ideia vinculada ao nome da marca, representa as possibilidades que uma mulher tem, mesmo menstruada, de viver uma vida normal, desde que use um absorvente específico: o da marca Sempre Livre. 108
109 Figura 9 Peça publicitária do dicionário Aurélio, publicada pelo Desencannes Na publicidade da figura 8, o cômico reside no fato de a palavra trema ter dois significados distintos, como aquele que diz respeito ao verbo tremer ou aquele que representa um sinal diacrítico, usado em algumas línguas para indicar que a vogal que recebe esse sinal deve ser pronunciada, não constituindo um caso de dígrafo. A peça apropria-se, então, do fato de que outra palavra, linguiça, recebia esse sinal, colocado em cima da vogal u, antes de o acordo ortográfico ter sido assinado, a fim de dar ao enunciado Jamais trema em cima da linguiça uma conotação sexual: mulheres e até mesmo homossexuais não podem demonstrar medo ou insegurança quando se depararem com o órgão sexual de seu(s) parceiro(s). Figura 10 Peça publicitária do laxante Lactopurga, publicada pelo Desencannes. 109
110 O enunciado da peça publicitária do Lactopurga, pede pra sair 02, tem como origem um filme brasileiro, intitulado Tropa de Elite, e foi pronunciado pela personagem do Capitão Nascimento, que tinha como objetivo fazer com que um dos aspirantes a soldado do BOPE Batalhão de Operações Policiais Especiais do Estado do Rio de Janeiro desistisse de integrar o corpo de policias militares. No entanto, tal enunciado foi transportado para um ambiente novo, usando-se, para isso, um tom diferente do usual, mas mantendo os nexos que têm entre si, representando, agora, o que se espera quando se faz uso do remédio que é um laxante. Vale lembrar que, na linguagem popular, o termo número 2 refere-se às fezes. Diante dos três exemplos acima, é possível perceber como o humor é socialmente construído, por isso, torna-se imprescindível haver uma série de conhecimentos partilhados, conforme diz Possenti (2010), sobre fatos recentes e sobre fatos mais distantes acontecidos no mundo real para que o riso, de fato, se dê, pois, para o linguista, o humor só possível quando acontecimentos sérios deixam de ser sérios e passam a ser populares e controversos. Dito de outro modo: o riso faz sempre um apelo à memória, a um saber para poder concretizar-se. Devem-se, também, considerar questões como identidade e estereótipos, além de conhecimentos de mundo partilhados, a fim de que o efeito de humor seja produzido, porque, para que se entenda uma piada, é preciso produzi-la e interpretá-la a partir do contexto social no qual se insere, resgatando, desse modo, mitos e crenças que permeiam o discurso humorístico em questão. Citamos, pois, Silva (2012): Toda a matéria-prima necessária à produção do humor encontra-se na memória coletiva, à qual o humorista recorre para provocar o riso. Toda sociedade possui imagens de si mesma e imagens das outras sociedades, como verificamos em muitas piadas (...) (SILVA, 2012: p. 54). Almeida (1999) também reforça o fato de que o humor se assenta sobre conhecimentos partilhados, já que se apoia em implícitos, subentendidos e alusões, cuja apreensão depende tanto do conhecimento de proibições e de padrões comportamentais, quanto de uma capacidade interpretativa satisfatoriamente produzida que seja capaz de fazer associações, deduções e de perceber desvios e contradições. O destinatário terá ainda mais prazer na apreensão do cômico quando perceber que se deu conta da existência do materialmente invisível e compreendeu aquilo que não foi dito e que está fora dos indivíduos cômicos. Bergson (op. cit.), no terceiro capítulo do seu livro, de nome O riso, volta a falar sobre o fato de ele, o riso, ter significado e alcance sociais, já que a comicidade exprime certa 110
111 inadaptação de uma pessoa à sociedade da qual faz parte, afinal, não há comicidade fora do homem. Por outro lado, não haverá a produção do riso caso o alvo da comicidade cause, no seu destinatário, certa empatia, haja vista que não se pode rir de alguém que nos comova, havendo, portanto, um enrijecimento para a vida social por parte de quem ri. Na realidade, o riso funciona como uma forma de humilhação daí vem seu caráter ambivalente, de que fala Bakhtin (2013) e sobre o qual falaremos mais tarde, uma espécie de trote social para quem se torna alvo da comicidade, da burla, do escárnio. Logo, aquele que empreende o discurso cômico possui uma inconfessa intenção de humilhar a personagem cômica, tentando corrigi-la, pelo menos, exteriormente, posto que essa personagem deve, de alguma maneira, algo para a sociedade que lhe cobra a dívida. São, portanto, os defeitos de alguém que fazem o destinatário rir, mas não são quaisquer defeitos: servem de motivo para a piada apenas aqueles que flagrarem uma espécie de incompetência social, o que não acontece se o defeito de um indivíduo despertar, no destinatário, algum tipo de compaixão. Pode ser que tenha surgido daí, então, o fato de que a comicidade é, predominantemente, proveniente dos costumes, das ideias e, até mesmo, dos preconceitos que têm uma sociedade. Resumindo: pouco importam os defeitos morais da personagem cômica: para que o riso, de fato, dê-se, é necessário haver uma insociabilidade da personagem e uma insensibilidade do expectador. O autor volta, ainda, a falar sobre o automatismo, destacando a questão de que só é risível aquilo que é automática e mecanicamente realizado. Não é à toa que os tipos gerais são, via de regra, objeto do discurso cômico que se apropria, então, do caráter dos indivíduos, entendido, aqui, como sendo o que há de pronto neles e que está em nós como sendo capaz de funcionar automaticamente, já que se encontra na forma de um mecanismo montado. É graças a esses modos de ser típicos que o indivíduo pode imitar a si mesmo e ao outro, provocando, desse jeito, o riso. A comédia pode, portanto, ser considerada como a arte de criar tipos, já que trabalha com a generalidade e, muitas vezes, com a obviedade, contudo, não trabalha apenas com a criação, mas sim com a manutenção dos tipos já existentes, repetindo esses modos de ser em outras personagens que se tornam visíveis pela semelhança exterior que possuem com relação à original. A fim de amarrar as arestas do que foi dito, citamos, pois, Bergson (2001): [Uma disposição de caráter cômico] deverá ser profunda, para fornecer à comédia um alimento duradouro, mas também superficial, para permanecer no tom da comédia, invisível para quem a possui, pois a comicidade é inconsciente, 111
112 visível para o restante do mundo a fim de provocar o riso universal, cheia de indulgência para consigo mesma a fim de ostentar-se sem escrúpulo constrangedoramente para os outros a fim de que eles a reprimam sem piedade, corrigível imediatamente para que não seja inútil rir dela, segura de renascer sob novos aspectos para que o riso sempre tenha o que trabalhar, inseparável da vida social, para assumir maior variedade imaginável de formas, de somar-se a todos os vícios e mesmo a algumas virtudes (BERSON, 2001: p. 128) Para Bakhtin (2013), o riso só se estabelece em oposição ao sério, o que ocorre, principalmente, na obra de Rabelais, já que este autor tentou romper com a ordem social vigente na época, em sua obra, por meio da presença de um riso popular, carnavalesco, capaz de metamorfosear o temível em risível, o sério em cômico. Essa dualidade da vida, estabelecida, aqui, pelo binômio sério/cômico, já existia antes mesmo das civilizações primitivas, uma vez que no folclore dos povos primitivos encontrava-se, paralelamente, um culto ao sério e, também, um, ao cômico. Como esses povos não conheciam e não dispunham de uma ordem social vigente nem de classes nem do próprio Estado, o culto ao sério era considerado sagrado, assim como o culto ao cômico. Todavia, com o estabelecimento do regime de classes e do aparelho estatal, tornou-se impossível outorgar direitos iguais ao cômico e ao sério, de modo que as formas cômicas, umas mais cedo, outras, mais tarde, adquiriram um caráter não oficial e seu sentido foi modificado: elas, as formas cômicas, complicaram-se e se aprofundaram para, enfim, transformarem-se em modos fundamentais de expressão da cultura popular, mundo afora. É, justamente, com relação à expressão da cultura popular que o riso parece estabelecer-se, posto que funciona como um princípio cômico que preside os ritos do carnaval, que, por sua vez, mostram-se libertos de qualquer dogmatismo religioso ou eclesiástico, do misticismo, da piedade, enfim, funcionam como uma verdadeira paródia ao culto religioso: pertencem à esfera da vida particular e cotidiana dos cidadãos. Há, então, uma carnavalização da vida, baseada no princípio do riso, que estabelece que o carnaval é uma forma concreta da própria vida que deixou de ser representada nos palcos e passou a ser vivida enquanto durava o carnaval. A vida era, desse modo, representada na sua forma mais livre, o que designava seu renascimento e sua renovação e constituía a festa como sendo uma propriedade fundamental de todas as formas de ritos e espetáculos durante a Idade Média. As festas oficiais, contudo, ainda que não tivessem essa intenção, tendiam a consagrar a estabilidade, a imutabilidade e a perenidade das regras que regem o mundo, mantendo, portanto, a ordem social vigente, seus valores, normas e tabus, sejam religiosos, sejam morais, 112
113 sejam políticos. Mas o carnaval, ao contrário, era o triunfo de uma libertação temporária da verdade dominante, do regime social vigente e de todas as relações hierárquicas, visto que abolia privilégios, regras e tabus: era, enfim, a liberdade total das pessoas em plena praça pública. Lá, durante os ritos carnavalescos, as relações hierárquicas perdiam o sentido, porque todos eram iguais e o contato entre eles era familiar e livre, já que deixavam de ser separados, como na vida cotidiana, pelas barreiras intransponíveis de sua condição, fortuna, emprego, idade, situação familiar e classes. A visão que se tinha acerca do carnaval era que este se caracterizava, principalmente, por apresentar toda a lógica original das coisas ao avesso, tornando o alto, baixo e a face, o traseiro. Na realidade, esse rebaixamento, o fato de se trazer tudo para o rés do chão, é uma característica do realismo grotesco que transforma o espiritual e elevado em plano material e corporal. Talvez, resida daí a importância de Rabelais para a construção do cômico, já que é ele o principal porta-voz do realismo grotesco quando se utiliza, em suas obras, do princípio da vida material e corporal, em vez de usar temas e motivos canônicos dentro da literatura. Torna-se imprescindível falar, ainda, sobre a linguagem familiar da praça pública que se caracteriza, obviamente, pelo uso predominante de expressões grosseiras e injuriosas e até mesmo de palavrões, o que servia para representar a liberdade adquirida pelo povo durante esses festejos: no carnaval, tudo era permitido, a começar pelo uso da linguagem popular que, muitas vezes, era coibida e por que não dizer proibida? Bakhtin (op. cit.) alerta para o fato de que o riso possui um caráter ambivalente. Explica-se: o riso apresenta-se, ao mesmo tempo, como burlador, sarcástico, mas cheio de alegria e alvoroço; como denegridor e, concomitantemente, como forma de cobrar transformações sociais dentro da sociedade na qual ocorre. Essa ambivalência do riso é uma característica que ele possui no Renascimento e na Idade Média, haja vista que o grotesco romântico faz com que o riso deixe de ser jocoso e alegre, perca seu aspecto regenerador, e o viés positivo do riso reduza-se ao mínimo. Pode ser, ainda, que o riso promova transformações, uma vez que mobiliza as pessoas por meio de sua capacidade de criticar a realidade vigente, apontando as falhas, incoerências, injustiças e erros que nela existem. Desse modo, o riso e a visão carnavalesca do mundo, que estão na base do grotesco, destroem a seriedade unilateral e as pretensões de significação incondicional e intemporal e liberam a consciência, o pensamento e a imaginação humana, que ficam assim disponíveis para o desenvolvimento de novas possibilidades. Daí que uma certa 113
114 carnavalização da consciência procede e prepara sempre as grandes transformações, mesmo no domínio científico (BAKHTIN, 2013: p 43) O período do Renascimento teve grande importância na história do riso, já que, durante essa época, ele passou a ser caracterizado por engendrar um novo valor de concepção do mundo, haja vista que era entendido como sendo uma das formas pelas quais se exprimia a verdade sobre o mundo na sua totalidade, sobre sua história e sobre o homem. O riso torna-se, então, um ponto de vista sobre o mundo, que o percebe de maneira bastante diferente da do ponto de vista do sério, posto que reconhece, no cômico, uma capacidade regeneradora e criadora, estabelecendo, sobre ele, uma acepção positiva. Durante a Idade Média, no entanto, o festivo e, consequentemente, o riso foram relegados a um espaço extra-oficial, o que fez com que se distinguisse ainda mais por seu radicalismo e sua liberdade excepcionais e por sua implacável lucidez. Entretanto, quando o riso foi banido do domínio oficial da vida e das ideias, a Idade das Trevas lhe conferiu privilégios excepcionais de licença e impunidade fora desses limites, na praça pública, durante as festas. Assim sendo, é possível estabelecer que, como os festejos populares e carnavalescos passaram a ser clandestinos, houve uma mescla entre o que era oficial e o que não era. Talvez, por isso, a literatura e as outras formas de arte, consideradas superiores, tenham sido influenciadas pela carnavalização. Assim sendo, ao universalismo e à liberdade do riso da Idade Média liga-se a sua terceira característica marcante: sua relação com a verdade popular não-oficial (BAKHTIN, 2013: p. 78). Citamos, então, Bakhtin (2013) para sanar a questão: À guisa de conclusão, podemos dizer que o riso, separado na Idade Média do culto e da concepção do mundo oficiais, formou seu próprio ninho não oficial, mas quase legal, ao abrigo de cada uma das festas que, além de seu aspecto oficial, religioso e estatal, possuía um segundo aspecto popular, carnavalesco, público, cujos princípios organizadores eram o riso e o baixo material e corporal (BAKHTIN, 2013: p. 71). O riso, na Idade Média, representava, também, a vitória sobre o medo, não somente uma vitória sobre o terror divino, mas também uma vitória sobre o medo que tinham da natureza e o medo moral que paralisava, oprimia e obscurecia a consciência do homem, já que o riso era capaz de dominar o medo e a intimidação, trazidos pela seriedade. Essa sensação de dominação do medo não era particular a apenas um indivíduo, era, ao contrário, símbolo da universalidade do riso, visto que o homem se sentia como pertencente a uma comunidade que 114
115 vivia dentro da praça pública, durante os festejos carnavalescos, mostrando, assim, por que o riso carregava consigo um caráter social. Dessa forma, o verdadeiro riso, ambivalente e universal, não recusa o sério, ele purifica-o e completa-o. Purifica-o do dogmatismo, do caráter unilateral, da esclerose, do fanatismo e do espírito categórico, dos elementos de medo ou intimidação, do didatismo, da ingenuidade e das ilusões, de uma nefasta fixação sobre um plano único, do esgotamento estúpido. O riso impede que o sério se fixe e se isole da integridade inacabada da existência cotidiana. Ele restabelece essa integridade ambivalente. Essas são as funções gerais do riso na evolução histórica da cultura e da literatura (BAKHTIN, 2013: p. 105). Almeida (1999), por sua vez, começa seu estudo indagando qual seria o lugar que o humor ocupa enquanto particularidade do comportamento social dos seres humanos e diz que o riso surge de um deslocamento, haja vista que o sujeito abandona a posição que ocupa de envolvimento diante de algo ou de alguém em favor de um ponto de vista mais distanciado. Ponto de vista distanciado esse que permite que o humor seja instrumento de crítica, posto que redimensiona o rigor social e a transcendência. Como dito, os indivíduos possuem um dispositivo dedutivo que intervém na interpretação dos enunciados, sejam eles humorísticos, sejam eles sérios, recorrendo a um conjunto de hipóteses presentes na memória conceitual. Essas hipóteses são fruto, sobretudo, de quatro fontes: a percepção, que permite a apreensão, pelos sentidos, de informações nãocodificadas; a decodificação, que faz a correspondência entre sinais e significados; a memória enciclopédica, que conserva, à disposição das pessoas, os conhecimentos que foram adquiridos por meio das experiências e do processo dedutivo em si (ALMEIDA, 1999: p. 21). Vale ressaltar que duas pessoas nunca compartilham exatamente o mesmo ambiente cognitivo global: essa partilha é apenas parcial. Também é importante estabelecer que, embora as pessoas sejam capazes de fazer as mesmas hipóteses, isso não significa que as façam e/ou que as façam com a mesma intensidade. Nisso reside, por exemplo, a possibilidade de dois indivíduos interpretarem de maneiras diferentes, por exemplo, um enunciado ambíguo e até mesmo não perceber que se trata de uma ambiguidade. Almeida (op. cit.) também nos faz recordar as distinções que Freud (1996) estabelece para os chistes. Quando este se baseia no tipo de desvio que o propósito espirituoso estabelece, são chamados de chiste de palavras e de chiste de pensamento. Por chiste de palavras, entende-se aquele que é fruto de uma habilidade na organização do material verbal empregado, a fim de se expressar um pensamento. Esse processo, de natureza linguística, 115
116 fornece, ao enunciado, ambiguidade, fazendo com que existam duas possibilidades interpretativas distintas para o que foi dito. Geralmente, a técnica utilizada por esse chiste é a condensação figura 15, que está adiante. É importante lembrar que, embora todo enunciado possa ser expresso de maneira espirituosa, desde que encontre uma forma adequada para fazêlo, o chiste de palavras pode ser desfeito caso se elimine a ambiguidade. O chiste de pensamento figura 11, também adiante por outro lado, ocorre independentemente da forma como é expresso, já que seu desvio apresenta-se com relação não a um padrão verbal, mas a um padrão lógico-comportamental. A principal técnica de realização desse chiste é o deslocamento uma inadaptação, um erro de raciocínio, um contra-senso, um disparate, por exemplo, que causa, em seu destinatário, um estranhamento, proveniente do surpreendente e incomum, presentes no chiste. Outra técnica utilizada pelo chiste de pensamento é a representação indireta, que ocorre quando se associa, à expressão de uma ideia, outra. É o caso da alusão, da comparação, da metáfora, da omissão. Depois de classificar os chistes segundo as técnicas empregadas em sua formação, Freud (1996), começa a analisar as tendências seguidas por esse discurso espirituoso e as distingue em dois tipos, sendo o primeiro o chiste inofensivo e o segundo, o tendencioso. O chiste é considerado inofensivo quando não tem outra intenção que não suscitar o riso, logo, não se percebe uma segunda intenção em sua realização. O chiste tendencioso, por sua vez, revela uma segunda intenção e pode ser usado para atacar pessoas, criticando-as ou satirizando-as e, também, para desnudá-las. O primeiro caso é um exemplo de espírito hostil e viabiliza uma tendência à agressividade, ao passo que o segundo é exemplo de espírito obsceno, que procura provocar a excitação sexual do destinatário. Almeida (1999) esclarece, ainda recorrendo a Freud (1996), que o chiste tendencioso tende a provocar mais prazer que o inofensivo, pois proporciona uma economia originada da própria técnica utilizada e, além disso, proporciona uma satisfação de uma tendência hostil ou obscena que, até então, fora reprimida e que, graças ao espírito, pôde superar os obstáculos relativos à sua expressão. A recíproca, contudo, não é verdadeira: quando o chiste tendencioso esbarra em inibições, sem conseguir anulá-las, pode chocar e, consequentemente, provocar uma reprovação por parte do destinatário, tornando-o adversário e não cúmplice do que está sendo dito. Assim sendo, segundo Almeida (1999), 116
117 sob suas várias formas, o espírito esconde um luta em que se tenta proteger do julgamento, da crítica e da repressão, duas fontes de prazer por elas atacadas: a primeira é a liberdade primitiva, que se conheceu durante a infância e que se resgata ao se abolir o domínio da lógica e do racional sobre o pensamento do indivíduo, como ocorre com o espírito inofensivo; a segunda é a satisfação de tendência (sexuais e agressivas) reprimidas, que se obtém quando os obstáculos que impediam sua manifestação são contornados, através do espírito tendencioso (ALMEIDA, 1999: p. 48). Torna-se imprescindível estabelecer que o indivíduo espirituoso, ao relatar uma situação qualquer, procurará fazer com que ela se torne cômica, suscitando prazer em seu destinatário, criando, assim, um clima de cumplicidade, que pode ocorrer por meio da depreciação de uma pessoa que, nesse caso, tornar-se-á cômica e cada vez mais cômica à medida que não perceber seu próprio ridículo. É o que acontece, por exemplo, com a peça publicitária, exposta abaixo, que ridiculariza o ex-jogador de futebol Ronaldo, ressaltando o que, para o sujeito enunciador do Desencannes, é um ponto negativo no que concerne ao desempenho de Ronaldo como atleta: o sobrepeso. Dessa forma, o ridículo das formas disformes, nesse caso, exageradas, suscita o ridículo no próprio jogador, que ainda insiste em jogar futebol, embora esteja gordo, ressaltando o que há de grotesco no mundo dos esportes: desportistas que não têm um corpo perfeito, dentro dos padrões impostos pela sociedade. Figura 11 Peça publicitária do Guaraná Antarctica, produzida pelo Desencannes. Pertence a Charaudeau (2006) a afirmação de que o ato humorístico é um ato de enunciação que tem como finalidade e estratégia tornar o destinatário cúmplice do sujeito enunciador e, até mesmo, da própria enunciação. Para o teórico, a análise do enunciado 117
118 humorístico deve ir além do jogo de palavras, levando-se em consideração, por outro lado, a situação de comunicação, o propósito comunicativo entendido, aqui, como temática, os procedimentos linguageiros que foram colocados em prática e os possíveis efeitos de sentido que podem ser produzidos pelo enunciado cômico. Vale e Mello (2010) chamam-nos atenção para o fato de que Charaudeau (2006) sugere uma distinção simples no interior desses (sic) com a finalidade de determinar quais são os domínios de discurso partilhados pelos protagonistas do ato humorístico. Isso porque é sobre essa distinção que repousam os tipos e os possíveis efeitos de humor baseados em visões decalcadas de mundo. O locutor do ato humorístico joga com essas visões, esperando que elas sejam partilhadas pelo seu destinatário. Disso resulta a questão de saber se se pode fazer humor sobre tudo, ou seja, determinando-se a temática, vislumbrarse-ão as possíveis coerções impostas ao locutor (VALE E MELLO, 2010: p. 4) Em consonância com o que postulam alguns dos autores acima mencionados, Charaudeau (2006) diz que o ato humorístico deve ser considerado como uma mise-en-scène triádica, caracterizada pela presença de três sujeitos: o enunciador, o destinatário e o alvo. O enunciador, como se sabe, é o sujeito que empreende todo o discurso, dentro do circuito interno do ato de linguagem; o destinatário, por sua vez, é aquele que compreende/interpreta o enunciado produzido, também dentro do circuito interno do ato de linguagem, e pode ser, ora cúmplice, ora adversário do discurso produzido; já o alvo seria uma pessoa individual ou coletiva que ocupa a posição de terceiro protagonista da cena humorística, tornando-se vítima do olhar do outro que o julga, procurando atingi-lo e, consequentemente, modificálo. Pode ser, no entanto, que alvo e destinatário coincidam o que aconteceria, por exemplo, caso a peça publicitária acima tivesse como interlocutor o próprio Ronaldo. Quando isso ocorre, o alvo/destinatário pode assumir três posições: ou ele aceita rir de si mesmo, ou faz ouvidos de mercador, ou responde, de maneira semelhante à agressão sofrida, àquele que o importunou. Para o criador da semiolinguística (2006), a visada, colocada em jogo dentro do Contrato de Comunicação estabelecido entre os sujeitos do ato de linguagem, determinará o tipo de chamado que o sujeito enunciador direcionará para seu destinatário, no ato humorístico. Explica-se: se o possível efeito de sentido pretendido for a derrisão, que objetiva desqualificar o alvo, sem a possibilidade de uma contra-argumentação, será utilizada uma 118
119 visada também ela de derrisão, a qual procurará fazer com que o sujeito destinatário partilhe do desprezo que o enunciador tem pelo alvo. Portanto, diante do exposto, é bastante pertinente pensar que o riso ocupa um lugar de destaque com relação às atividade linguageiras, visto que é capaz de proporcionar, acima de tudo, prazer aos indivíduos envolvidos no ato humorístico. Esse prazer decorre, no dizer de Freud (1996), de uma economia de pensamento que é proporcionada pela brevidade dos chistes e sua fácil compreensão. Para Bergson (2001), contudo, o riso só acontece quando se quebra o automatismo e a rigidez da vida cotidiana que se torna, por conta dessa ruptura, de fato, viva, o que gera prazer. Bakhtin (2013) alerta, ainda, para o fato de que o riso é originário dos espaços públicos e só se realiza em oposição ao sério. Na realidade, o riso, dentro da concepção bakhtiniana, possui um caráter ambivalente, posto que é, ao mesmo tempo, não só irreverente e burlador, como também alegre e cheio de alvoroço. O cômico deixa de ser, então, um simples procedimento linguístico que gera humor para se tornar um procedimento discursivo, capaz de fazer com que o outro não apenas ria, mas também reflita acerca de sua realidade e de suas relações sociais que são, muitas vezes, colocadas em xeque quanto se tem um alvo para o discurso cômico. Assim sendo, o humor condensa as representações sociais, possibilitando que assuntos proibidos, tabus, determinadas formas de pensar tomadas como inconvenientes por um grupo etc., venham à tona sem serem reprimidos ou repreendidos. Como postula Bakhtin (idem), o riso simboliza a liberdade, o não sério, o não institucional, o popular, a festividade, enfim, tudo aquilo que o homem vivencia de modo descontraído em um ambiente não oficial. Logo, o humor é um das formas encontradas para fazer viver essa liberdade, de ativar esse riso por meio de técnicas que acendam a memória social, libertando-a do automatismo e possibilitando uma economia intelectual (SILVA, 2012: p. 54). O presente trabalho parece ter dado conta de toda a fundamentação teórica necessária para que o corpus seja analisado, por isso, torna-se imprescindível analisá-lo sob os vieses das teorias até aqui apresentadas. 119
120 7 Análise do corpus Proceder-se-á, agora, à análise do corpus que conta com quatro peças publicitárias. 7.1 Desencannes: a publicidade que não vende Como bem se sabe, a publicidade tem, via de regra, como principal objetivo, a venda de uma marca. No entanto, quando se trata das peças publicitárias veiculadas pelo site Desencannes, o consumidor parece se deparar com uma espécie de publicidade às avessas, já que a finalidade dessas propagandas não é a venda de uma marca: tais peças, muitas vezes, ofendem seu destinatário, causando-lhe certo desconforto, afinal, trazem temas tabus que só poderiam estar na superfície de um texto por meio do viés do humor que, no caso das referidas propagandas, pode ocorrer pelo choque e pelo estranhamento. Acontece que o Desencannes cria um mundo novo, extremamente desencannado, onde se é capaz de lidar com temas controversos, desconstrução de estereótipos, ofensas ao público-leitor, uma vez que recorre ao processo de semiotização do mundo, em que se realiza a construção psico-sócio-linguageira do sentido, com a intervenção de sujeitos intencionais. Trata-se de peças publicitárias impublicáveis, já que não tornam o leitor cúmplice do discurso publicitário, mas, sim, adversário. Essa construção de um mundo novo só é possível porque, segundo Charaudeau, a atividade linguageira, seja ela qual for, cria um novo universo em que podem acontecer situações surreais para aqueles que habitam o mundo extralinguístico, como é o caso de uma propaganda que não quer vender uma marca. Os sujeitos do ato de linguagem, empreendido pelo Desencannes, por causa do poder que lhes é conferido pela palavra, constroem um universo particular, uma vez que o mundo a significar passa a ser um mundo significado, por meio do processo de transformação e, por já ter-se tornado um mundo significado, pode ser objeto de troca linguageira. Ou seja, pode servir de mote para a comunicação entre dois sujeitos, também eles, psico-sócio-linguageiros, no chamado processo de transação. Dito de outro modo: é a partir da criação de um espaço desencannado que esse tipo de discurso pode ganhar voz e vez, por meio de peças publicitárias singulares, tornando o mundo caótico da pré-linguagem um mundo significado, capaz de servir como texto e de ser pretexto para a realização da atividade comunicativa entre os sujeitos do ato de linguagem. 120
121 O processo de semiotização do mundo, conforme mencionado, ocorre em duas frentes, a saber, o processo de transformação e o de transação. Uma dessas frentes, a de transação, subdivide-se em quatro princípios: o de alteridade, pertinência, influência, regulação. O princípio de alteridade do Desencannes ocorre quando um sujeito comunicante cria as peças publicitárias e as disponibiliza para que os sujeitos interpretantes possam recebê-las, o que ocorre pelo fato de esses sujeitos se reconhecerem enquanto seres diferentes e semelhantes: semelhantes, pois compartilham saberes e motivações comuns, embora não seja possível precisar se assim acontece sempre; e diferentes, porque só se reconhecem enquanto eu por serem dessemelhantes ao tu. O princípio da pertinência, como o próprio nome sugere, tem a ver com o fato de se julgar pertinente aquilo que está sendo dito pela peça publicitária em questão, logo, é necessário que os protagonistas do ato de linguagem reconheçam os saberes de mundo implicados na troca comunicativa, seja para aceitá-los, seja para repeli-los. É o caso, por exemplo, do enunciado trazido por uma das propagandas aqui destacada: não, não pode. O possível efeito de sentido engendrado por essa peça só será produzido se o receptor ativar seus conhecimentos de mundo e perceber o diálogo que existe entre o referido enunciado e outro, veiculado pela marca de refrigerante Pepsi. Ou seja, o não, não pode é uma resposta à pergunta: Só tem Pepsi, pode ser? O princípio da influência tem a ver com o fato de que toda troca linguageira traz como objetivo a persuasão, afinal, aquele que enuncia quer convencer seu parceiro de que o que fala é, realmente, crível, o que acontece com o fato de se querer persuadir um possível consumidor de que o preservativo da marca Prudence, por exemplo, é melhor que todos os outros, apesar de, nesse caso, a propaganda ser fictícia, ainda que verossímil. É importante salientar que o leitor poderá repelir o que está sendo dito ou poderá, ainda, aceitar, concordando com o que foi falado pela propaganda às avessas. O princípio da regulação está intimamente ligado ao da influência, uma vez que toda influência gera uma contra-influência. Como estamos falando de dois sujeitos intencionais aquele que produz e aquele que recebe a peça publicitária, para que a troca linguageira não termine em agressão física ou verbal, é necessário que os parceiros regulem daí o nome princípio de regulação aquilo que pode, ou não, ser enunciado, sem que haja qualquer tipo de atrito entre eles. 121
122 O sujeito, na Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, tem um papel de destaque, visto que, para Charaudeau, é dotado de intencionalidade. Logo, a intenção de um sujeito, ao criar uma peça no site Desencannes, é chocar seu destinatário, fazendo-o rir ou mesmo fazendo-o refletir sobre questões trazidas pelo próprio fazer publicitário, afinal, como é dito no Manifesto Desencannes anexado ao final do trabalho, ali, a publicidade pode rir de si mesma e de todo seu caráter de originalidade e credibilidade, uma vez que se cria um espaço onde é possível desconstruir toda a seriedade conferida ao discurso publicitário. Assim, pode-se pensar que o publicista é aquele sujeito de carne e osso que cria as peças publicitárias do Desencannes e, por isso, assume o papel de comunicante, dando voz a um enunciador que cria enunciados, como é o caso do não, não pode e do #ogiganteacordou presentes em peças publicitárias que serão, posteriormente, analisadas, visando a persuadir seu destinatário, cuja voz é dada pelo sujeito interpretante, a escolher o refrigerante Coca- Cola e o preservativo Prudence, em detrimento de qualquer outra marca, por exemplo. Os sujeitos interpretantes seriam, então, todos os leitores em potencial dessa propaganda que podem, dentro de seu universo de escolha, querer comprar Coca-Cola em vez de comprar qualquer outra marca de refrigerante, assim como ocorre com os consumidores do preservativo da marca Prudence. No entanto, no que tange às peças publicitárias do macarrão fusilli, da marca Barilla, e do leite condensado Itambé, o sujeito adota uma posição diferente daquela adotada pelos sujeitos enunciadores das publicidades da Coca-Cola e da Prudence, embora o comunicante continue sendo o publicista, responsável por criar as peças publicitárias em questão. Isso ocorre, uma vez que os enunciadores empreendem enunciados do tipo Líder das massas italianas e Glória adeus. Itambé, vice-líder na produção de leite condensado que subvertem a lógica da propaganda canônica, já que denigrem os produtos, associando o macarrão de tal marca ao ditador italiano Benito Mussolini e aludindo ao fato de que há um leite condensado de uma marca melhor que o Glória, nesse caso, o Leite Moça, da marca Nestlé. Os sujeitos interpretantes, por sua vez, seriam os consumidores em potencial desses produtos, o que também acontece com a Coca-Cola e a camisinha Prudence, entretanto, esses sujeitos, para se tornarem cúmplices do discurso desencannado, precisam escolher não comprar o leite condensando Glória e o macarrão da marca Barilla. Esses mesmos sujeitos interpretantes dão voz e vez a sujeitos destinatários que só existem dentro do discurso empreendido pelo site Desencannes. 122
123 Os parceiros da atividade linguageira, eu comunicante e tu interpretante, acabam por criar uma espécie de perfil ideal para os protagonistas da cena enunciativa, que são o eu enunciador e o tu destinatário, que pode coincidir ou não com o perfil real desses sujeitos. Dessa forma, é possível estabelecer que o sujeito comunicante idealiza um perfil de destinatário capaz de identificar que as peças publicitárias produzidas pelo Desencannes são, na realidade, fictícias, uma vez que não têm por objetivo a venda de determinada marca. O sujeito interpretante, por sua vez, idealiza um sujeito enunciador que não tem credibilidade nem legitimidade para fazer uma propaganda real, já que é um sujeito enunciador que quer provocar reflexão, desconforto e/ou riso em seu sujeito destinatário, haja vista que sai do universo real da publicidade e deixa de lado a persuasão empreendida para convencer o sujeito destinatário com relação ao fato de ele adquirir certo produto de certa marca. Toda troca linguageira é sobredeterminada por um contrato de comunicação que nada mais é do que um acordo mútuo e prévio do qual fazem parte os parceiros e os protagonistas do ato de linguagem. O Contrato de Comunicação do Desencannes postula que as peças publicitárias não podem ser entendidas como peças com as quais o leitor está acostumado a lidar, posto que foram criadas com o intuito de causar, em primeiro lugar, um efeito patêmico em seu destinatário, diferente daquilo que é pretendido por uma publicidade comum, a qual tem por objetivo primordial a venda de determinada marca. Dito de outro modo: o objetivo do Desencannes não é aumentar a venda de determinada marca, mas, sim, fazer com que o leitor ria ou mesmo se choque ao ler a peça publicitária desencannada, quebrando, assim, a expectativa ou enjeu, no dizer de Charaudeau, daquele que se prepara para ser destinatário de uma propaganda, qualquer que seja ela. Logo, quando um sujeito credita um status de verdade a uma publicidade desencannada, quebra o Contrato de Comunicação que foi previamente estabelecido pelo sujeito comunicante, uma vez que se reporta a outro quadro de referência, diferente daquele pretendido pelo parceiro da atividade linguageira. Dessa forma, é possível dizer que o acordo foi rompido, já que não houve o ajuste da margem de manobra, a qual delimita todo esse contrato. Atrelando a perspectiva dos gêneros textuais à definição de Contrato de Comunicação, é possível pensar que, a priori, o conceito de gênero textual é similar ao de contrato de comunicação, haja vista que os dois parecem assumir o papel de quadro de referência ao qual se reportam os falantes quando fazem uso das atividades linguageiras. 123
124 Pode-se estabelecer que as peças publicitárias do Desencannes inscrevem-se, então, em um lugar diferente daquele onde são postas as publicidades tradicionais, pois é apenas pelo viés do humor, causando, muitas vezes, o estranhamento, que podem existir propagandas que mostram, por exemplo, a resposta de uma marca ao filme publicitário de seu concorrente. É somente ocupando o lugar de peça publicitária fictícia que o Desencannes torna-se, portanto. capaz de estabelecer um diálogo simples e claro, mas, ao mesmo tempo, incisivo com relação à pergunta feita no comercial da marca concorrente, o que não seria possível caso estivéssemos falando do discurso publicitário de nosso dia a dia, que segue uma espécie de conduta moral que, de forma alguma, pode agredir seu adversário. Pode ser, ainda, que os destinatários das propagandas do Desencannes sintam-se ofendidos pelo que o site traz, afinal, desrespeitam os paradigmas que povoam a mente do sujeito destinatário, já que subvertem as normas de comportamento linguageiro e de uso, típicas de determinados gêneros discursivos, como é o caso dos que fazem parte do domínio publicitário. A situação de comunicação, por sua vez, é o lugar onde se estabelecem as restrições e se criam as possibilidades que ocorrem dentro da troca linguageira que podem, ou não, coincidir em termos de sujeitos sociais e discursivos. É o que pode acontecer, por exemplo, caso um destinatário se ofenda com uma propaganda do Desencannes, sem perceber que se trata de uma peça publicitária fictícia, que não tem outro objetivo principal que não causar um efeito patêmico em seu leitor. Dessa forma, é possível dizer que houve uma assimetria entre a expectativa criada pelos sujeitos da instância da produção e a criada pelos sujeitos da instância da recepção. Na realidade, em termos de situação de comunicação, é possível estabelecer que o Desencannes veicula peças publicitárias que transgridem um dos componentes da referida situação, nesse caso, trata-se da finalidade, entendida, aqui, como visada, já que a peça publicitária em questão não é uma peça publicitária prototípica, mas sim uma peça de humor. Cria-se, então, uma espécie de jogo de luz e sombra, já que há uma mudança no que tange à escolha de visada: deixa-se de lado, em um primeiro momento, a visada de incitação, que tinha como objetivo fazer fazer, para se fazer uso da visada de efeito, que tem como objetivo fazer rir ou fazer chocar. Portanto, a segunda visada elencada pelo discurso publicitário tradicional, a de efeito, ora passa a ser a primeira escolhida pelo sujeito enunciador do 124
125 Desencannes, ora se mantém sendo a segunda, ocorrendo, portanto, uma mudança na expectativa ou enjeu da troca comunicativa. Dessa maneira, pode-se estabelecer que o Desencannes quer provocar um efeito patêmico em seu leitor, entretanto, trata-se de um efeito patêmico diferente daquele que provocam as propagandas tradicionais, já que o destinatário deixa de ser captado no sentido de ser estimulado a comprar um produto de uma marca e passa a ser captado para que ria, ou até mesmo estranhe e se choque com o que está sendo veiculado pelo site, como acontece, por exemplo, quando o leitor se depara com uma propaganda que responde à outra, já que isso não ocorre comumente no Brasil, e quando está diante de uma peça publicitária que denigre uma marca, o que é impensável no mundo todo. Segundo Charaudeau (2001), os sujeitos do ato de linguagem, divididos em suas identidades social e discursiva, possuem, todos, competências capazes de fazê-los depreender os efeitos de sentido pretendidos pelos sujeitos do pólo da produção, afinal, não há, necessariamente, uma coincidência entre efeito de sentido visado e efeito de sentido obtido. Assim sendo, é possível pensar que os sujeitos destinatários do discurso desencannado precisam fazer uso de suas competências a fim de que os possíveis efeitos de sentido, pretendidos pelo enunciador, de fato, realizem-se na instância da recepção. Levando em conta a competência situacional, pode-se dizer que o sujeito falante precisa saber que não está diante de uma peça publicitária qualquer, afinal, a visada ou a finalidade dessa troca comunicativa foi modificada: deixou de ser, a priori, a de incitação e passou a ser a de efeito, o que somente se estabelecerá caso os sujeitos destinatários reconheçam que estão diante de peças publicitárias fictícias. As identidades desses sujeitos do ato de linguagem, por sua vez, também sofrem variações: o destinatário não lida mais com um eu comunicante publicista, que dá voz a um sujeito enunciador passível de credibilidade: está, na realidade, diante de um sujeito enunciador que escarna do fazer publicitário tradicional a partir do momento em que cria peças que mais parecem humorísticas, capazes de fazer seu leitor rir, refletir ou, ainda, se chocar, mas que não são, à primeira vista, capazes de vender uma marca. Logo, o sujeito enunciador da peça publicitária em questão utiliza-se das possibilidades e até mesmo das restrições, transgredindo-as, que estabelecem o Contrato de Comunicação ao qual se reporta, assim como fazem os demais sujeitos do ato de linguagem. Em termos de competência situacional, o fazer desencannado, usa a mesma tematização e as mesmas circunstâncias 125
126 materiais que usam as peças publicitárias tradicionais para que a referida troca linguageira ocorra. No que se refere à competência discursiva, é necessário que o sujeito enunciador manipule as estratégias discursivas colocadas em prática na cena enunciativa, assim como é necessário que o sujeito destinatário as reconheça. O sujeito enunciador do Desencannes elenca, como estratégia discursiva, por exemplo, a incitação, já que coloca o tu destinatário na posição de dever crer que deve agir como quer o eu enunciador. Poder-se-ia pensar, então, que, nesse ponto, as propagandas tradicionais e as do Desencannes utilizam-se das mesmas estratégias discursivas, todavia, a propaganda desencannada não quer fazer seu destinatário crer que precisa de um produto qualquer que lhe trará felicidade e lhe proporcionará bem-estar: quer, na realidade, fazer seu destinatário crer que precisa rir e achar graça daquilo que é veiculado, tornando-o seu cúmplice e não seu adversário. Tem-se, ainda, a competência semiolinguística, que diz respeito à manipulação e ao reconhecimento das formas que assumem os signos linguísticos, bem como de suas combinações. É por conta dessa competência, por exemplo, que o destinatário do Desencannes percebe que a repetição do não, no enunciado não, não pode é atípica, uma vez que não é comumente usada na fala coloquial, tão comum à situação prototípica de diálogo entre um garçom e um cliente. A combinação dessas duas palavras repetidas reforça a negação, enfatizando que não há a possibilidade de se escolher Pepsi no lugar da Coca-Cola. Em texto de 2009, Charaudeau refere-se a um desdobramento de uma das competências que se subdivide em discursiva e semântica. É essa competência, a semântica, que faz alusão aos diferentes tipos de saberes tematizados pelos sujeitos do ato de linguagem e transformados, por eles, em referência. É justamente essa competência que faz o sujeito destinatário da peça publicitária em questão figura 12, exposta adiante, sem que haja qualquer menção ao nome de uma marca, reconhecê-la como sendo parte de uma campanha imaginária criada pela Coca-Cola. É, também, a competência semântica que faz com que o sujeito destinatário ative seus conhecimentos de mundo e infira que o refrigerante de cola mais vendido no país é a Coca-Cola, concorrente direta da Pepsi, marca nacional, mas, nem por isso, mais prestigiada. É, ainda, essa mesma competência semântica que torna o sujeito destinatário capaz de, por meio de seus conhecimentos enciclopédicos, perceber que a imagem do general, presente 126
127 na propaganda do macarrão fusilli, da marca Barilla, faz referência ao ditador fascista Benito Mussolini, responsável por um dos períodos ditatoriais mais sangrentos e repressores da história da Itália, assim como é essa competência que faz com que o destinatário estabeleça que o leite condensado mais vendido no Brasil é o leite moça, da marca Nestlé, cabendo ao leite condensado da marca Itambé o segundo lugar, daí ser vice no ranking de vendas. Torna-se necessário, nesse ponto da análise, falar de dois conceitos trazidos pela tradição aristotélica, a saber, os conceitos de ethos e pathos, aplicando-os ao corpus do presente trabalho. Pensando no conceito de ethos como sendo, grosso modo, uma imagem que um sujeito quer passar e, consequentemente, passa de si, pode-se perceber que há uma ruptura com o ethos de um publicista tradicional, afinal, o publicista do Desencannes não está preocupado em parecer passível de credibilidade e legimitidade, logo, não precisa parecer sério ou honesto, só precisa fazer com que seu público-alvo ria e se divirta com as peças humorísticas que veicula. Dessa forma, é possível estabelecer que o publicista do Desencannes não tenta parecer crível e legítimo por meio de seu discurso, veiculado por um sujeito enunciador, e, também, não tenta fazer com que seu discurso pareça verossímil, transgredindo, assim, o contrato do semi-engano, já que o destinatário aceita estar diante de uma publicidade que o engana de maneira escancarada e que não apresenta o produto como sendo o melhor que o consumidor pode adquirir. As propagandas prototípicas estão, todas, no entanto, vinculadas ao contrato do semiengano, já que o publicista, sedutor, procura ressaltar as características positivas de um produto, omitindo seu custo real. Não se pode dizer que ele trabalha com mentiras, pois seria responsabilizado por isso: na realidade, pode-se dizer que esse sujeito constrói sua propaganda calcada na verossimilhança, que faz parecer verdadeiro tudo aquilo que está sendo dito por ele. O destinatário dessa propaganda, por sua vez, sabe que está diante de um discurso sedutor e verossímil mas não verdadeiro e, mesmo assim, resolve se engajar no que está sendo dito. Quando nos deparamos com as propagandas trazidas pelo Desencannes, percebemos que não há um contrato do semi-engano por um simples motivo: o destinatário não está diante de uma peça publicitária comum, mas sim de uma peça que parece humorística. Justamente por parecer humorística é que pode veicular tanto verdades quanto mentiras, apesar de parecer bastante verossímil, ao responder, por exemplo, a uma pergunta feita no filme da concorrente, 127
128 ou ao fazer uso de expressão, praticamente cristalizada nas redes sociais, como é o caso da hashtag #ogiganteacordou. Segundo Charaudeau (1983), toda propaganda acaba por ser atravessada pelo contrato do sério ou pelo contrato do maravilhoso. Nas propagandas tradicionais da Coca-Cola e de muitos outros produtos, de outras marcas, está-se diante do contrato do maravilhoso, haja vista que o publicista lida com um público menos racionalista e atribui, ao produto de determinada marca, um aspecto quase mítico. Tal contrato faz com seu consumidor perceba estar diante de uma busca que só será terminada quando ele adquirir o produto da marca em questão, o que lhe faz crer que ele precisa querer tal produto. Essa busca será solucionada e, então, haverá um querer fazer para, por fim, haver um dever fazer numa espécie de viés mais pragmático da publicidade. Essas características poderiam, por associação, ser transferidas para a publicidade do Desencannes, entretanto, como o site faz propagandas falsas, não se estabelece entre enunciador e destinatário o contrato do maravilhoso, como fazem as propagandas canônicas da Coca-Cola, cujo slogan já foi, por exemplo, Abra sua felicidade, o que nos faz crer que a felicidade do destinatário estava condicionada ao fato de ele tomar esse refrigerante. O contrato do maravilhoso também parece ser o eleito pelo(s) publiscita(s) que cuida(m) da propagação da marca Prudence. Explica-se: atualmente, o slogan da marca é Use Prudence por um mundo melhor, em que a camisinha da marca Prudence parece ser a solução para todas as mazelas do mundo contemporâneo, sendo confirmado, então, o aspecto quase mítico dessa marca de preservativos, assim como acontece com a Coca-Cola. Não há, portanto, preocupação alguma em se construir um ethos de um sujeito honesto, com qualidades morais bastante perceptíveis em seus discursos, pois o objetivo do Desencannes é justamente fazer com que a própria publicidade ria de si mesma, quebrando, assim, a rigidez típica desse discurso, proporcionando uma nova forma de estar no mundo em termos de discurso publicitário. O orador, além de criar uma imagem de si e tentar difundi-la para seu público, cria, também, uma imagem de seu auditório, levando em conta expectativas e características do referido público; imagens essas que podem, ou não, corresponder aos sujeitos de carne e osso, seres do mundo real. É a partir dessa possível assimetria que as peças publicitárias do Desencannes podem deixar de produzir o efeito patêmico do riso para produzir o efeito patêmico da ofensa: o interpretante que não coincidir com a imagem pretendida pelo 128
129 orador/enunciador do discurso e não entender que as peças desencannadas parecem ser humorísticas acabará por adotar uma postura reticente ao que está sendo dito, reprovando, assim, a publicidade do Desencannes. Aristóteles postula, ainda, a existência de um triângulo que distingue orador, ouvinte e discurso, mostrando que as provas fornecidas por essas três instâncias são de três espécies. A primeira delas centra-se no seu orador e, por isso, relaciona-se ao ethos; a segunda diz respeito à captação de seu ouvinte, o que se dá por meio do pathos; e a terceira tem a ver com o próprio discurso empreendido por um enunciador para o seu destinatário. Como já se falou sobre ethos, torna-se imprescindível falar sobre o pathos. Para que o efeito patêmico seja produzido, é necessário que se mobilize uma espécie de afetividade do destinatário em relação ao seu enunciador, o que se dá por meio do próprio discurso logos e por meio do ethos que o enunciador demonstra ter, afinal, a imagem que o enunciador faz de si mesmo é uma imagem construída que pode, ou não, corresponder ao sujeito real, habitante do mundo extralingüístico. Passemos, agora, à análise de algumas peças publicitárias desencannadas, levando em conta o que elas têm de peculiar no que tange aos procedimentos linguísticos e discursivos que empreendem, uma vez que os aspectos e características, comuns a todas elas, já foram previamente analisados Tomando uma Coca-Cola com o Desencannes Figura 12 Peça publicitária da Coca-Cola, publicada pelo Desencannes. 129
130 Como bem se sabe, o Desencannes é responsável por veicular peças publicitárias fictícias que, via de regra, chocam-se com muitos dos pressupostos trazidos pelo discurso publicitário como um todo. É claro que não seria diferente com a publicidade exposta acima que, em um primeiro momento, mostra-se similar às publicidades canônicas, entretanto, um exame um pouco mais atento demonstra de que maneira ela rompe alguns dos padrões dos anúncios publicitários. Em relação ao circuito interno do ato de linguagem, a peça publicitária é bastante simples, uma vez que veicula apenas um único enunciado, também bastante simples: não, não pode, que parece ser uma resposta a alguma pergunta feita por alguém que está no circuito externo ao ato de linguagem. É apenas pensando no circuito externo que se podem estabelecer efeitos de sentido para a peça publicitária em questão: levando-se em conta o mundo extralinguísitco no qual tal texto está inserido, bem como sua incursão sócio-histórica, é que se chega à conclusão de que a referida propaganda faz uma alusão à marca Coca-Cola. Os possíveis efeitos de sentido só serão produzidos a partir da relação de troca dialógica que pode vir a existir entre os sujeitos do ato de linguagem, haja vista que eles partilham conhecimentos de mundo. Conhecimentos de mundo esses que fazem com que os sujeitos percebam, sem que haja nenhuma menção ao nome da marca, que se trata de uma peça publicitária da Coca-Cola, pois relacionam a cor vermelha e o formato da garrafa ao refrigerante símbolo do capitalismo. A cor vermelha, de acordo com Guimarães (2000; 2003), assume diversos matizes, quando entendida como cor-informação. No caso da Coca-Cola, a cor representa o glamour, por exemplo, do tapete vermelho, carregando consigo um status que é, também, repassado a quem consumir o produto daquela marca, por isso, é que não, não pode [ser Pepsi]. Logo, se o leitor se ativer apenas ao aspecto linguístico do texto, compreendê-lo-ia de maneira rasa, visto que deixaria de lado o mundo extralinguístico no qual tal anúncio está inserido, onde a cor vermelha diz respeito à Coca-Cola, assim como o formato da garrafa que aparece centralizada, no final do anúncio. Também não interpretaria o enunciado da maneira correta, posto que não faria referência ao diálogo que parece existir entre essa propaganda e a da Pepsi. É apenas ativando um conhecimento de mundo partilhado, conforme dito, que se pode interpretar o enunciado como sendo uma resposta à pergunta veiculada no comercial da Pepsi: 130
131 Só tem Pepsi, pode ser? Aliás, é somente sabendo em que época essas duas propagandas foram veiculadas que se pode estabelecer essa relação entre elas, o que não seria possível se se desprezasse o viés sócio-histórico no qual estão inseridas. Ressoa, então, no imaginário desses sujeitos uma crença de que o refrigerante da marca Coca-Cola só deixa de ser preferido quando não há a possibilidade de escolhê-lo e, por isso, escolhe-se um similar, nesse caso, o da marca Pepsi. O comercial da Pepsi reproduz uma fala ou uma situação de comunicação bastante comum em bares e restaurantes brasileiros: o cliente pede uma Coca-Cola, mas o estabelecimento não vende, ao que o garçom responde dizendo que não há o refrigerante de tal marca, oferecendo, então, um outro, similar, o da marca Pepsi, argumentando Só tem Pepsi, pode ser? É justamente nesse lugar que se inscreve a propaganda da Pepsi, veiculada em forma de filme, na TV aberta brasileira. O Desencannes, portanto, aproveita-se dessa propaganda e cria uma peça falsa para responder negativamente, de maneira assertiva, ao garçom que enuncia Só tem Pepsi, pode ser? A identidade discursiva dos falantes é construída para responder à pergunta estou aqui para falar como? e é por esse motivo que depende de estratégias de credibilidade e de captação para, de fato, se concretizar. O sujeito enunciador da peça publicitária do Desencannes adota uma atitude de engajamento por querer cooptar seu destinatário para que confie naquilo que está sendo dito, dando, portanto, credibilidade ao próprio sujeito enunciador e àquilo que ele enuncia. Por outro lado, a estratégia da captação tem a ver com o fato de o sujeito enunciador querer persuadir seu destinatário a adotar o discurso trazido, fazendo-o partilhar de suas ideias, crenças e do próprio discurso. Dito de outro modo: o sujeito enunciador da peça do Desencannes quer que seu destinatário partilhe das opiniões trazidas por ele, concordando que não é possível escolher outro refrigerante que não a Coca-Cola. Caso os protagonistas do ato de linguagem tornem-se cúmplices, não haverá outra escolha possível que não a Coca-Cola, no entanto, se eles se tornarem adversários, outro refrigerante poderá ser escolhido, como é o caso da Pepsi. A referida estratégia de captação também se dá pelo fato de o sujeito enunciador desencannado assumir uma máscara, escolhendo, para si, uma espécie de segunda identidade social, a de publicista. Não importa, então, qual é a identidade social real do sujeito enunciador do Desencannes, o que, de fato, faz diferença é que ele pareça ser um publicista, 131
132 mas um publicista diferente, já que assume a necessidade de ser um sujeito desencannado que também dá voz a um discurso desencannado. Vale lembrar que as máscaras, quando são utilizadas, acabam por revelar, muito mais do que esconder, as reais intenções de um indivíduo social ou discursivo que delas faz uso, como é o caso do publicista aqui referido. Os sujeitos parecem, também, ser permeados por três memórias que testemunham as maneiras de dizer de certa comunidade discursiva, como é o caso daquela que constrói para a Coca-Cola a imagem de melhor refrigerante que existe, não podendo ser substituído por nenhum outro. Trata-se das memórias dos discursos que criam saberes de crença e de conhecimento, entretanto, apenas o saber de crença pode ser aplicado a essa peça publicitária, pois é um saber construído coletivamente, que permeia a memória dos destinatários e não pode ser comprovado pela observação dos fatos, já que não acontece de maneira objetiva, como é o caso dos saberes de conhecimento. Há, ainda, a memória das situações de comunicação, que cria as comunidades comunicacionais: é ela que instaura uma espécie de ritual linguageiro a ser seguido nas situações de comunicação, estabelecendo quais comportamentos linguageiros um sujeito deve adotar em determinados atos de fala. É essa memória que afirma que uma propaganda não pode tornar seu destinatário um adversário, posto que tem como objetivo vender uma marca, ao contrário do que acontece com as peças publicitárias do Desencannes que, muitas vezes, agridem seu destinatário ou apresentam uma resposta desaforada para o filme da concorrente, sendo esse o caso aqui. A memória da forma dos signos é aquela responsável pelas formas de dizer de determinado gênero, como é o uso, por exemplo, do nome da marca que, via de regra, está presente em todas as propagandas, o que, no entanto, não acontece na peça publicitária aqui analisada. Há, ainda, um signo não-verbal presente no formato da garrafa que, por sua vez, possibilita a incorporação símbolo do refrigerante ao próprio texto do site do Desencannes, uma vez que é resultado da concretização de uma imagem, nesse caso, da imagem-símbolo do refrigerante da marca Coca-Cola, afinal, apenas a garrafa desse refrigerante possui esse formato e essa cor, havendo, portanto, um processo de associação de ideais que materializa o nome da marca em uma realização concreta, nesse caso, a própria garrafa aqui referida. É 132
133 apenas por meio da garrafa e da cor vermelha que o nome da marca é invocado no imaginário dos destinatários dessas peças publicitárias. É possível, então, estabelecer que há a reprodução de, pelo menos, dois imaginários sociodiscursivos nessa peça publicitária: primeiro, ressoa um imaginário, entendido, aqui, como uma representação social oriunda de saberes de conhecimento e de crença que são partilhados, de que não se pode escolher outro refrigerante de cola que não a Coca. Por consequência, pode-se pensar que há a presença de outro imaginário sociodiscursivo que postula que o refrigerante da marca Pepsi só deixará de ser preterido, caso não haja essa possibilidade, ou seja, caso não haja Coca-Cola à disposição do consumidor. Torna-se imprescindível, nesse ponto da análise, recorrer aos modos de organização do discurso para dar conta da peça publicitária em questão. Como bem se sabe, o modo enunciativo trata do enunciador com relação ao seu destinatário, a si mesmo e aos outros, criando um aparelho enunciativo, engendrando, assim, os outros três modos de organização do discurso, a saber, o narrativo, o descritivo e o argumentativo. O modo enunciativo tem como foco os protagonistas do ato de linguagem, afinal, postula a posição que o enunciador assume frente ao seu destinatário dentro da cena enunciativa. No caso da peça humorística em questão, não há nenhuma marca explícita da presença do eu, como é o caso, por exemplo, dos verbos de primeira pessoa, entretanto, por meio de inferências é possível estabelecer um implícito [eu acho que] não, não pode [ser Pepsi] 6, havendo, assim, a presença de um eu que está por trás de toda a enunciação, ocorrendo o que se convencionou chamar de modalização elocutiva, já que esse sujeito expressa uma opinião. É importante salientar que, nas propagandas prototípicas, a modalização dentro do modo enunciativo, acontece de maneira diversa: geralmente, o eu enunciador tenta implicar o tu destinatário na cena enunciativa, tentando captá-lo, convencendo-o a adquirir determinada marca, estabelecendo, para ela, determinado comportamento, numa modalização conhecida como alocutiva. Logo, pode-se notar uma mudança nos paradigmas das modalizações dentro do modo enunciativo: na peça humorística do Desencannes, há a elocução, ao passo que, nas 6 Optamos pela modalização elocutiva, embora não haja codificações linguísticas prototípicas dessa modalidade, por entendermos que tal enunciado não se enquadraria na modalidade delocutiva da asserção, já que, implicitamente, veicula a voz do enunciador. 133
134 peças publicitárias canônicas, há a alocução, ainda que a peça humorística também queira cooptar seu destinatário para o que diz, mesmo não pretendendo vender, de fato, uma marca. O outro modo, subentendido na peça, aqui, examinada, é o argumentativo, já que a o anúncio em questão visa a captar seu destinatário, fazendo com que ele responda, também de maneira enfática, à pergunta Só tem Pepsi, pode ser?, que não, não pode, só pode ser Coca, refutando, assim, a sugestão do filme da Pepsi. Não há, portanto, nenhuma descrição, nem narração dentro desse texto, que traz um enunciado bem simples, mas assertivo e enfático, o que se pode observar pela repetição do não: o destinatário da pergunta do filme da Pepsi, em vez de responder apenas não, duplica sua negação, enfatizando que, definitivamente, não pode ser Pepsi. Vale lembrar que essa dupla negação é típica de enunciados mais formais, em que respostas completas são dadas numa situação de comunicação também ela formal, apesar de esse não ser o caso de uma conversa entre um cliente e um garçom em um restaurante. Assim sendo, é possível estabelecer que não há argumentos que sustentem o não, não pode: apenas a marca se impõe, já que não como concorrer com o status que possui a Coca-Cola e que, consequentemente, transfere aos seus consumidores. Já que se falou sobre a alocução e a necessidade de fazer o outro aderir ao discurso empreendido, é necessário falar, também, sobre as relações patêmicas construídas no e pelo discurso que têm por objetivo engajar um sujeito numa tomada de posição, que é o que acontece com o Desencannes: é necessário que o sujeito destinatário entenda que se trata de uma peça humorística e não de uma publicidade tradicional e é justamente esse engajamento que o fará rir do que está sendo propagado, afinal, estabelece-se um juízo de valor positivo acerca do que veicula o Desencannes. É, então, esse engajamento que, além de provocar o riso no leitor desencannado, é capaz de fazê-lo concordar com o que está sendo dito; nesse caso, concordando que não há substituto para a Coca-Cola: quando um cliente faz esse pedido, o refrigerante em questão não pode ser permutado por outro, ainda que os dois sejam refrigerantes de cola daí vem a importância da marca e do nome de um produto. Como dito, a escolha por uma marca específica de refrigerantes está ligada a saberes de crença, já que as qualidades da Coca-Cola não são exaltadas nessa propaganda: parece haver uma crença de que essa marca é melhor e, por isso, não pode ser posta de lado por conta de outra. Logo, os saberes de crença, por serem construídos e compartilhados socialmente, 134
135 acabam sendo evocados quando se quer estabelecer um juízo de valor acerca de determinada marca, como se faz quando se diz que não, não pode ser Pepsi. Portanto, o sujeito é engajado em um comportamento reacional reage afirmando de maneira veemente que só tomará Coca-Cola, de acordo com um consenso vigente que estabelece que não se pode escolher outro refrigerante que não a Coca-Cola, fazendo com que esse efeito patêmico ingresse num quadro de racionalidade, haja vista o axioma que se estabelece com relação ao produto e à marca em questão. A escolha desse sujeito destinatário, que é favorável à Coca-Cola, inscreve-se num quadro de auto-representação, já que diz mais sobre quem faz a escolha do que sobre o próprio produto e sobre a própria marca. Explica-se: como se estabelece um juízo de valor positivo acerca da Coca-Cola, considerada por muitos o melhor refrigerante que existe, esse juízo de valor positivo é estendido àqueles que a consomem, conferindo, assim, certo status a quem faz uso desse produto e dessa marca, em vez de consumir, por exemplo, Pepsi. Apesar de ser uma publicidade às avessas, é necessário estabelecer que as propagandas do Desencannes ainda exploram, como dito, o status que uma marca confere a quem o consome, como é o caso daqueles que escolhem Coca-Cola, em vez de escolherem outro refrigerante, já que vivem em um mundo capitalista, onde a lógica do ter impera com relação à lógica do ser. Nesse caso, acontece a fidelização do consumidor, que deixa de ser um consumidor em potencial, motivado pela publicidade nomeado, assim, por já ter a intenção de adquirir determinada marca e passa a ser um consumidor fiel que só opta por produtos de determinada marca. Ao contrário do que se estabelece na maioria das propagandas, aquela escolhida para compor o corpus do presente trabalho não traz consigo uma mensagem conotativa, haja vista que é literal e veemente, quando diz que não se pode escolher outro refrigerante que não a Coca-Cola. Tal enunciado dá margem a outros possíveis efeitos de sentido que reiteram o que está sendo dito por tal peça humorística: não há outro refrigerante tão bom quanto Coca-Cola, não há nada de similar entre ela e qualquer refrigerante de outra marca, aquele que escolhe outro refrigerante faz uma escolha errada, entre outros. A persuasão, como bem se sabe, é a tônica de todo discurso publicitário e, para convencer seu leitor a aderir ao discurso que veicula, os publicistas utilizam-se de mecanismos específicos, como o caso dos mecanismos de sugestão presentes na peça humorística da Coca-Cola que consistem em incitar, no destinatário, o desejo de ter 135
136 determinado produto,,de determinada marca, sem que haja qualquer explicação para que isso ocorra, o que fica ainda mais reforçado com a negativa em se adquirir produto similar, mas de outra marca. Os consumidores passam, então, a ser motivados a adquirir determinada marca por conta da habilidade que o enunciador tem em mostrar que a crença por ele trazida é partilhada pelo destinatário, ou seja, enunciador e destinatário do Desencannes partilham a crença de que Coca-Cola é o melhor refrigerante do mercado, não havendo, portanto, nenhuma disjunção entre as crenças que carregam. Pensando, agora, em ideologias como sendo diferentes visões de mundo, capazes de representar o que pensam todas as classes sociais, mas sendo uma dessas visões a da classe dominante, é possível estabelecer que a Coca-Cola é o refrigerante preferido das elites e, caso assim não fosse, essa marca não seria considerada como um objeto de valor a ser buscado por outros sujeitos. Isso fica evidenciado, por exemplo, quando se percebe que a Coca é um dos refrigerantes mais caros existentes no mercado, ou seja, não são todas as pessoas que podem se dar ao luxo de, sempre que quiserem, optarem por essa marca, no entanto, escolheriam tomar Coca-Cola, caso pudessem, deixando de lado produtos similares, como é o caso da Pepsi. Assim sendo, é possível estabelecer que há uma ideologia que ressoa nessa peça humorística: trata-se do fato de que a Coca-Cola é o melhor refrigerante que existe, ao qual se estabelece um valor concreto, o preço mais alto, e ao qual se dá um status, posto que se atribui um juízo de valor positivo não só à marca em questão, mas também àquele que o adquire e escolhe tomar Coca-Cola sempre que possível. Dessa forma, cria-se uma verdade universal e incontestável, transformando a visão de mundo particular da classe dominante em visão de mundo de todas as pessoas que desejam ser, de alguma maneira, parte dessa classe dominante. Apesar de ser uma publicidade às avessas, a peça humorística em questão utiliza-se de uma das estratégias argumentativas do discurso publicitário, a saber, a singularização de um produto para construir seu fazer persuasivo. Transformando, também, o ordinário em extraordinário, o Desencannes postula que não há outro refrigerante como a Coca-Cola dentro do mercado, já que o destinatário não pode escolher nenhuma marca que não seja ela, o que, obviamente, singulariza essa marca no meio das demais e torna seu público-alvo cativo. Pensando, justamente, nessa peça humorística, pode-se estabelecer que a publicidade tradicional, assim como a desencannada, vende marcas e não produtos. 136
137 As mensagens publicitárias prototípicas, por sua vez, são manifestadas por três atos fundamentais: nomear, qualificar e exaltar, no entanto, a peça que compõe o corpus deste trabalho acaba por fazer uso apenas da ação de qualificar e da de exaltar, porém, de maneira implícita, quando deixa subentendido que não pode ser escolhida nenhuma outra marca que não a Coca-Cola. Não há a ação de nomear, já que o nome da marca não aparece na peça, logo, a ancoragem no mundo real é feita por meio de conhecimentos de mundo que os sujeitos partilham, como é o caso da cor típica dessa marca e do formato de sua garrafa. O princípio da economia, tão comum no discurso publicitário, não é utilizado pelo sujeito enunciador do Desencannes, posto que ele, por exemplo, repete o advérbio de negação não, o que seria desnecessário, já que o sujeito com quem fala entenderia perfeitamente que não se pode escolher outro refrigerante que não a Coca-Cola. Entretanto, com a quebra dessa economia, o enunciado ganha ênfase, já que a escolha de outra marca é duplamente negada, estabelecendo, assim, um enunciado menos enxuto, mas mais incisivo em termos de escolha. O princípio da proximidade, por sua vez, aparece nessa peça publicitária, já que são aproximadas as informações, por meio do enunciado não, não pode, àquele que deve ser informado do que está sendo veiculado. Vale esclarecer que não há, como em todas as outras publicidades, a presença de slogan nem de clichês e fórmulas fixas, tão comuns ao discurso publicitário, rompendo, dessa forma, com certas normas pré-estabelecidas, como é o caso do uso de slogans, que é um lugar comum da propaganda. Tal rompimento é explicável por essa propaganda, na realidade, não ter por finalidade vender uma marca, logo, não precisa mencionar o nome da marca nem criar um slogan para ela. Pode-se, contudo, estabelecer outra hipótese para o fato de o nome não ter sido usado na propaganda: a marca Coca-Cola é tão forte no imaginário dos destinatários que não precisou ser mencionada, afinal, os leitores já sabiam se tratar desse refrigerante específico, por isso, não se precisou recorrer ao nome da marca para que integrasse a peça humorística em questão. O ponto alto do discurso publicitário talvez seja a escolha do nome do produto, o que não fica evidenciado na peça do Desencannes: o nome Coca-cola, eufônico e curto, impõe certa identidade psicológica e social ao produto para que os consumidores o tenham sempre em mente, que é o que acontece quando um sujeito se depara com a cor vermelha e o formato da garrafa desse refrigerante e logo associa o nome Coca-Cola a esses dois símbolos. 137
138 É possível se pensar, então, que as outras marcas de refrigerante não são identificadas pelo que são, pois não possuem a notoriedade do refrigerante de cola mais vendido do país, mas sim por aquilo que não são: Coca-Cola. A marca confere ao produto uma forma de ser no mundo por criar, para ele, um valor de referência por meio de comparações, que é o que acontece, por exemplo, na peça humorística destacada: comparado ao refrigerante da marca Pepsi, pode-se dizer que o da marca Coca-Cola é muito superior, evocando uma imagem bastante afetiva, já que é o refrigerante preferido pelos consumidores e não pode ser substituído por nenhum outro. Muito se falou sobre o humor como uma das estratégias de captação posta em prática pelo Desencannes. Portanto, torna-se necessário explicar de que maneira a produção do humor acontece no que diz respeito à peça publicitária destacada acima. Pensando em algumas das concepções teóricas trazidas por autores como Bergson (2001), Freud (1996) e Bakhtin (2013), é possível estabelecer que o cômico produz-se a partir do momento em que se quebra a rigidez cotidiana do discurso publicitário, com a utilização de um enunciado que rompe com uma das regras clássicas no que diz respeito ao fazer dos publiscitas: responder diretamente a uma propaganda da marca concorrente. O riso produz-se, então, pelo fato de ter havido a quebra de um automatismo presente no dia a dia dos sujeitos que fazem propaganda, já que parece existir um modus operandi, o qual todos seguem, com exceção daqueles que produzem as peças publicitárias desencannadas. A produção do chiste pode ser explicada, ainda, pela economia na descarga de pensamento resultante do fato de o destinatário perceber a conexão que há entre a propaganda da Coca-Cola e o filme da Pepsi e não precisar interpretá-los como se fossem enunciados díspares, posto que se apresentam interligados, por meio de duas publicidades, sendo uma delas às avessas. De acordo com Bakhtin (2013), no entanto, o cômico é produzido quando a publicidade é trazida para o rés do chão, deixando de ser encarada como um gênero sério, capaz de realizar milagres no que diz respeito ao número de vendas de um determinado produto de uma determinada marca: aqui, a publicidade é uma piada que faz rir e, acima de tudo, faz refletir sobre aquilo que enuncia, afinal, só o humor é capaz de ajudar a perceber o quão frágil e ridículo é a existência humana. Parece que já nos ativemos o suficiente na peça publicitária desencannada da Coca- Cola, por esse motivo, torna-se imprescindível proceder à análise de uma nova peça, nesse caso, a da Prudence. 138
139 7.1.2 Prudence: o trabalho é nosso do Desencannes e o prazer é seu. Figura 13 Peça publicitária do preservativo Prudence, publicada pelo Desencannes. A peça publicitária criada pelo site do Desencannes para promover, ainda que ficticiamente, a marca Prudence centra-se, apesar de ser uma publicidade às avessas, numa das principais estratégias elencadas pelo discurso publicitário tradicional, isto é, a exaltação do produto que, automaticamente, é transferida para aqueles que fazem uso e consomem essa marca de preservativo. A referida exaltação ocorre a partir do momento em que se usa a hashtag #ogiganteacordou para se referir ao órgão sexual masculino e a quem usa Prudence; ou seja, todos aqueles que se utilizam de camisinhas dessa marca são homens que possuem um órgão sexual de tamanho acima da média ou são homens com qualidades bastante louváveis, afinal, são gigantes. No que tange ao circuito interno ao ato de linguagem, a peça publicitária traz um enunciado verbal bastante simples, resumido na hashtag #ogiganteacordou, que mostra quais são as três palavras-chave daí vem o conceito de hashtag que resumem a intenção daqueles que produziram a peça. Contudo, esse enunciado ganha outra configuração se o inserirmos no circuito externo ao ato de linguagem, o que produzirá diferentes efeitos de sentido possíveis para a hashtag em questão, já que o referido enunciado possui uma ancoragem no mundo extralinguístico e até mesmo uma incursão sócio-histórica. A ancoragem no mundo biopsicossocial mostra que a utilização da hashtag, no lugar de um enunciado tradicional, diz respeito a um momento muito particular da história do 139
140 Brasil, que são as Manifestações de Junho de 2013, por conta do aumento do valor da passagem de ônibus. Explica-se: essa hashtag foi bastante utilizada, fazendo ela mesma uma referência a alguns trechos do hino nacional, a fim de flagrar que o povo brasileiro, enfim, tinha acordado de sua inércia política e, por isso, começado a lutar por seus direitos: tinha, então, deixado de estar deitado eternamente em berço esplêndido e teria assumido para si que é gigante pela própria natureza, afinal, finalmente, engajou-se no sentido de mudar o cenário político brasileiro. Quando o site do Desencannes se apropria desse enunciado, descontextualiza-o para contextualizá-lo novamente, fazendo com que o efeito de sentido produzido pela utilização da hashtag, nos Protestos de Junho de 2013, ganhe outro significado que, nesse caso, diz respeito, conforme dito, ao órgão sexual masculino, ao próprio homem e ao fato de o pênis ficar ereto quando há a possibilidade iminente de uma relação sexual. O cenário de uma possível relação sexual está presente nos signos não-verbais do anúncio, como é o caso do lençol bagunçado, o que indica que alguém está fazendo uso da cama e da foto da própria embalagem do preservativo que está sobre a cama, apenas esperando que o gigante acordasse. Pode ser, também, que o termo gigante designe o homem que acordou, no entanto, a conotação sexual mantém-se por conta dos signos não-verbais presentes no anúncio o lençol e o pacote de camisinhas que induzem o leitor a achar que, em breve, alguém fará sexo. Logo, é necessário, para que as nuances de sentido, trazidas pelo sujeito enunciador do Desencannes, sejam entendidas, que conhecimentos de mundo sejam partilhados entre o sujeito enunciador e o destinatário de tal peça: se o receptor não fizer ideia de que essa hashtag era usada como uma forma de conclamar as pessoas a irem às ruas para manifestar sua insatisfação com relação ao aumento da passagem e ao cenário político brasileiro, perceberá somente a conotação sexual presente no enunciado, deixando de lado sua incursão sócio-histórica, por exemplo. Assim sendo, apenas aqueles indivíduos que viveram e que, de alguma maneira, tomaram conhecimento dos Protestos de Junho de 2013 são capazes de perceber que essa propaganda foi produzida em um período bastante próximo a esse mês e a esse ano, ampliando, assim, os possíveis efeitos de sentido que esse enunciado verbal e até o não-verbal podem vir a assumir. O ato de linguagem é, então, ao mesmo tempo, implícito e explícito, já que veicula um conteúdo que pode ser entendido apenas em seu viés linguístico e outro que pode ser entendido em seu viés discursivo. É o que acontece, por exemplo, com o enunciado que, se se 140
141 levar em conta apenas o sentido de língua, poderá ser compreendido como se um observador estivesse afirmando que alguém acordou. Contudo, se se ativer ao sentido de discurso, ou seja, ao implícito do enunciado, o destinatário perceberá que o gigante não faz referência ao homem, mas sim ao pênis desse homem, o que ficará ainda mais claro com a observação do icônico da peça: um lençol amarrotado e o pacote de camisinha. Vale lembrar que é esse mesmo sentido de discurso o responsável por possibilitar que haja uma inferência do receptor, a fim de que compreenda estar diante de um enunciado que, originalmente, possuía outro efeito de sentido. A atitude discursiva do falante constrói-se, portanto, para responder à pergunta estou aqui para falar como? Logo, a maneira como o enunciado será produzido determinará as estratégias de captação colocados em jogo para persuadir o destinatário. Diante disso, é possível estabelecer que o sujeito enunciador da peça publicitária da Prudence adota uma atitude de engajamento, afinal, quer cooptar seu destinatário para aquilo que enuncia, fazendo com que ele entenda, por exemplo, que só os grandes homens e pênis fazem uso de uma marca tão especial e único, como é o caso do preservativo em questão. Há, então, ressoando na peça em tela, uma crença de que apenas os gigantes pela própria natureza escolhem usar Prudence, em vez de escolher usar preservativos de quaisquer outras marcas. É necessário que esse sujeito destinatário compartilhe dessa crença, caso contrário, como é livre para comprar qualquer marca, poderá escolher, por exemplo, camisinhas da Jontex, o que não representará uma fidelização por parte desse receptor: na realidade, se consumir o produto de outra marca, tornar-se-á adversário do discurso veiculado pelo Desencannes. Os sujeitos, a seu turno, também são permeados por três memórias que testemunham as formas de dizer de uma comunidade. É uma dessas memórias, a memória dos discursos, que tece, para a Prudence, a imagem de melhor preservativo que existe, não podendo ser substituído por nenhum outro. A memória dos discursos é constituída por saberes de conhecimento e de crença, contudo, no que tange à peça destacada acima, só há a presença de saberes de crença, haja vista que a peça é fruto de um saber construído coletivamente, que não tem nenhuma base científica ou empírica que o comprove: as camisinhas da marca Prudence são as melhores do mercado. Há, ainda, a memória das situações de comunicação, responsável por criar comunidades comunicacionais, estabelecendo rituais e comportamentos linguageiros que 141
142 devem ser seguidos pelos protagonistas do ato de linguagem. É essa memória, por exemplo, que instaura a impossibilidade de uma propaganda falar mal do produto que vende, sob risco de tornar seu destinatário adversário do que diz, e não cúmplice, inviabilizando, dessa forma, o consumo dessa marca. Pode-se perceber, então, que a peça em análise não rompe com essa memória, haja vista que constrói seu discurso a fim de tornar sua marca única, inigualável e insuperável. A terceira delas é a memória da forma dos signos, responsável pelos modos de dizer de determinado gênero discursivo, como é o caso de se utilizar, por exemplo, um slogan que visa a promover a marca e, consequentemente, a venda dos produtos, o que, via de regra, está presente em todas as propagandas, porém, não é o que acontece na peça publicitária aqui analisada. Já que se falou acerca de saberes de conhecimento e de crença, torna-se importante discorrer sobre os imaginários sociodiscursivos que, aqui, são tidos como representações sociais que engendram, por sua vez, dois sistemas de saber. Assim, estabelece-se que, na peça publicitária em questão, coexistem dois imaginários: o primeiro deles diz respeito ao fato de que a satisfação sexual e o prazer só acontecem quando homens e/ou mulheres relacionam-se sexualmente com quem tem um pênis grande, e o segundo, no entanto, parece advir do fato de que só é gigante pela própria natureza aquele que nasceu com o órgão sexual masculino com um tamanho acima da média. Todas essas crenças, portanto, giram em torno do tamanho do pênis de um homem. Em verdade, é como se se criasse um círculo vicioso: só os gigantes podem usar Prudence, ao mesmo tempo em que aquele que usa Prudence é alçado à categoria de gigante. Assim sendo, é possível estabelecer que há uma ambiguidade com relação ao vocábulo gigante: seriam grandes os homens que nascem com o órgão sexual também grande e/ou que possuem qualidades louváveis ou a palavra corresponderia, unicamente, ao tamanho da genitália masculina? Advém daí, então, os dois imaginários, mencionados acima. Pensando, agora, nos modos de organização do discurso, no que diz respeito ao modo enunciativo e, consequentemente, à posição que o enunciador assume com relação ao destinatário, é possível estabelecer que a peça publicitária da Prudence, diferente das publicidades tradicionais, não faz uso da modalização alocutiva, já que não tem por objetivo primeiro o engajamento desse sujeito numa determinada tomada de posição. Na realidade, a modalização adotada é a elocutiva, uma vez que o enunciado constitui-se como sendo uma 142
143 afirmação bastante assertiva, em que a presença do eu pode ser recuperada da seguinte maneira: [eu afirmo que] #ogiganteacordou. Parece, ainda, que um actante está contando um fato a outro actante: é como se, no meio de uma conversa mais íntima e informal, ele se desse conta de que está ficando excitado ou de ter acordado e decidisse, por sua vez, contar ao seu/sua parceiro(a) o que está acontecendo. Por isso, é possível dizer que o enunciado utiliza-se do modo narrativo. Porém, quando o actante resolve narrar um acontecimento para seu interlocutor, espera que este tome certa atitude com relação ao que foi dito, ou melhor, parece que decide alertar seu receptor para o que ainda acontecerá: nesse caso, trata-se de sexo. Dessa forma, é possível afirmar que o actante faz uso do modo argumentativo, visto que quer persuadir o outro actante sobre aquilo que enuncia. Contudo, no que tange ao sujeito enunciador, pode-se afirmar que ele se utiliza do modo argumentativo com o objetivo de convencer seu destinatário a comprar um produto de uma determinada marca específica, como é o caso do preservativo da marca Prudence. A peça publicitária da Prudence empreende, ainda, relações patêmicas construídas discursivamente com o intuito de cooptar o destinatário para que ele adira ao enunciado produzido, pois só assim perceberá, por exemplo, que está diante de uma peça humorística e não de uma peça publicitária tradicional com a qual está acostumado a lidar em seu dia a dia. Assim sendo, é a atitude de engajamento, propiciada por um efeito patêmico, que fará com que o sujeito destinatário ria do que está sendo dito, ainda mais se o fizerem inferir que o enunciado verbal da peça diz respeito à hashtag usada durante os Protestos de Junho de É, também, essa mesma atitude de engajamento que fará com que o destinatário tornese cúmplice do que está sendo dito, escolhendo usar Prudence em vez de usar qualquer outra marca de preservativo, afinal, apenas os grandes homens, com grandes falos, tomam essa decisão. Na realidade, essa escolha está pautada em um juízo de valor positivo acerca do que é ser um grande homem e do que representa ter um órgão sexual de tamanho acima da média; tudo isso é engendrado por saberes de crença e não de conhecimento, conforme dito anteriormente, já que não há nenhuma objetividade em se estabelecer tal axioma: existe uma crença que determina que ser um grande homem e ter um grande pênis é bom, o que só se tornará possível caso o destinatário faça uso do preservativo da Prudence. Assim sendo, ao sujeito, caberá se engajar em um comportamento reacional, que determinará que ele escolha ser grande ao resolver consumir Prudence, levando-se em conta 143
144 uma espécie de consenso vigente que determina que ele não pode resolver escolher outro preservativo de outra marca, sob pena de ser um homem pequeno que tem, também, um órgão sexual pequeno que, consequentemente, não será capaz de proporcionar prazer à sua parceira ou ao seu parceiro, segundo um imaginário que ressoa em nossa sociedade. A escolha desse mesmo sujeito destinatário inscreve-se num quadro de autorepresentação, afinal, quando alguém escolhe obter um produto dessa marca, a escolha diz mais sobre a pessoa do que sobre a marca que ela adquire. Isso acontece, porque o juízo de valor positivo que estabelecemos para a marca acaba sendo transferido para os consumidores dessa marca. Assim sendo, o status que é conferido à marca passa a ser conferido, também, a todos aqueles que fazem uso do preservativo da marca Prudence. A transferência de status é o que possibilita, por sua vez, a passagem do consumidor de motivado, já que ele se interessou pela propaganda em questão, a um consumidor em potencial que, provavelmente, escolherá Prudence toda vez em que houver a oportunidade. A peça publicitária em análise também se utiliza de uma das estratégias da publicidade canônica, que é a de ancorar o produto no mundo real, por isso, o nome da marca no canto inferior direto da peça e também a imagem do pacote de preservativo. O viés conotativo estabelece-se, a seu turno, por conta do enunciado #ogiganteacordou, em que o termo gigante é usado em sua acepção figurada, posto que não se está referindo a alguém que sofre de gigantismo. Em verdade, quando se escolhe o vocábulo gigante, quer-se ressaltar qualidades importantes que um homem pode vir a ter, o que vai desde seus valores morais até o tamanho do seu órgão sexual. A publicidade da Prudence recorre a outra estratégia empreendida pelo discurso publicitário tradicional: trata-se dos mecanismos de sugestão que persuadem e até mesmo incitam o destinatário a consumir determinada marca de um determinado produto, incutindolhe o desejo de compra, sem que haja qualquer explicação racional para isso. O uso do termo gigante, em seu sentido conotativo, exemplifica uma atribuição positiva, de valor subjetivo, com relação à marca em questão, reforçando, assim, a ideia de que a escolha dessa marca em nada está relacionada a suas qualidades intrínsecas, como o fato de ser a mais resistente do mercado ou a que causa menos desconforto quando do ato sexual, por exemplo. Dessa forma, é possível estabelecer que os destinatários de determinada peça publicitária, nesse caso, os pseudo-consumidores, são cooptados pelo fato de o enunciador ser hábil o suficiente para mostrar que ambos compartilham da mesma crença. Assim, quando o 144
145 enunciador insinua que são gigantes os homens e/ou os pênis que usam Prudence, confirma a crença de que quem não usa não é gigante e, consequentemente, não é feliz. Se o destinatário for seduzido a acreditar nessa insinuação, inferindo que é gigante quem usa Prudence, automaticamente, escolherá, entre uma gama enorme de possibilidades, usar o preservativo dessa marca específica. Pensando, agora, no conceito de ideologia e nas diferentes visões de mundo que ela representa, sendo a principal a da classe dominante, pode-se considerar que, na peça da Prudence, há a presença de pelo menos uma ideologia. Nesse caso, não se trata da ideologia da classe dominante, economicamente falando, mas, sim, da ideologia dos gigantes que, para serem ou continuarem sendo vistos dessa forma, escolhem usar preservativos da marca Prudence. Em verdade, talvez, a escolha da marca, nesse contexto, tenha mais a ver com a imagem que o indivíduo quer ter si do que com a imagem que ele quer passar para o outro com quem convive ethos: parece, então, que ser gigante contribui para a auto-estima dos sujeitos que fazem uso das camisinhas de tal marca. Talvez, numa propaganda canônica tradicional, esse viés da grandeza fosse ser explorado pela inovação, já que a marca Prudence parece estar à frente de seus concorrentes no que tange à experimentação de novos produtos: foi ela quem lançou, por exemplo, no Brasil, a camisinha que brilha no escuro. A empresa, então, explora um ramo de mercado que tem a ver com a diversão e com a inovação, o que encontra eco em outro imaginário sociodiscursivo que povoa a mente dos brasileiros: o sexo não pode cair na rotina, logo, é preciso, sempre, haver diversão, inovação e experimentação. A singularização de um produto outra estratégia usada pela publicidade tradicional também está presente na peça publicitária, visto que apenas o preservativo da marca Prudence pode dar a característica de grandeza ao seu consumidor e/ou ao pênis desse consumidor. Assim sendo, o destinatário só tem uma opção de compra: a camisinha da marca Prudence, afinal, não quer correr o risco de parecer pequeno ou de fazer seu órgão sexual parecer pequeno, tentando melhorar a imagem que tem e que passa de si mesmo ethos. As mensagens publicitárias canônicas seguem uma espécie de ritual: precisam nomear, qualificar e exaltar os produtos dos quais fazem propaganda. Com relação à peça da Prudence, é possível identificar que há a nomeação, visto que o nome do produto que se vende e é isso que ancora a propaganda no mundo real está exposto no anúncio, assim como a exaltação, uma vez que, por meio da propaganda, o produto passa a ser visto como 145
146 único, já que lhe são dadas características inigualáveis, como tornar o medíocre, grandioso. É possível notar, ainda, que não há nenhuma qualificação explícita: na realidade, o produto de determinada marca é qualificado por associação aos seus usuários, numa relação lógica que diz que, se seus usuários são gigantes, o produto de tal marca também o é. O princípio da economia, tão comum nas publicidades canônicas, foi usado pelo sujeito enunciador da peça em questão, uma vez que fez uso de um enunciado bastante simples e enxuto, em que não há como excluir qualquer uma das três palavras, sob o risco de fazer com que perca seu sentido, afinal, é composto, apenas, de um artigo, um substantivo e um verbo que é intransitivo, logo, não precisa de nenhum complemento. O princípio da proximidade faz-se presente nessa propaganda, uma vez que são aproximadas, do destinatário, informações necessárias para que ele escolha consumir Prudence. A publicidade em questão faz uso de uma fórmula fixa, nesse caso, de uma hashtag que, como dito, foi muito usada por internautas nas redes sociais durante as Manifestações de Junho de Essa forma cristalizada era utilizada para conclamar as pessoas a fim de que fossem mostrar seu descontentamento com o aumento do valor da passagem e com as decisões tomadas pelo governo brasileiro, nas ruas, visto que tinham acordado de uma espécie de apatia política. Essa mesma fórmula fixa representa, a seu turno, um interdiscurso, já que constitui um discurso em relação a outro já existente, apropriando-se das ideias de outrem. A propaganda não faz uso de slogans, como todas as outras costumam fazer, o que é explicado, uma vez que não foi feita para vender um produto de uma marca, por isso, serve a outros propósitos que não levar o consumidor a comprar uma determinada marca, como é caso, por exemplo, de fazer seu destinatário rir. Diferentemente do que ocorreu com a peça da Coca-Cola, analisada anteriormente, o nome da marca do produto foi mencionado, assim como havia uma foto desse mesmo produto reproduzida no anúncio, conferindo-lhe uma forma de ser e de estar no mundo em que vivemos. Talvez isso tenha ocorrido, porque a marca mais vendida, no que diz respeito a preservativos, no mundo real, não é a Prudence, portanto, o primeiro nome que viria à mente de um destinatário seria outro, o que, obviamente, atrapalharia a produção dos possíveis efeitos de sentido pretendidos pelo enunciador do Desencannes. O humor também funciona como uma das estratégias de captação adotadas pelo sujeito enunciador do Desencannes para tornar seu destinatário cúmplice do que diz: caso contrário, o destinatário tornar-se-ia seu adversário e o humor, consequentemente, não seria 146
147 produzido. O cômico, na realidade, também é fruto de conhecimentos enciclopédicos compartilhados, visto que, para que o riso aconteça, é necessário que o sujeito destinatário ative em sua memória o contexto anterior em que se usou a hashtag #ogiganteacordou para, assim, poder rir desse enunciado que, agora, produzirá um novo efeito de sentido. Pensando no que diz Bakhtin (2013) acerca do humor, é possível afirmar que essa peça publicitária traz para o rés do chão as Manifestações de Junho de 2013, desconstruindo a ideia de que o brasileiro tinha, enfim, saído de sua apatia política, transformando aquela frase feita que conclamava os indivíduos a irem às ruas em declarações do tipo alguém acordou ou alguém está excitado. Diante disso, o humor transforma tais protestos, que tinham uma intenção sublime em algo grotesco, assim como acontecia, por exemplo, nas festas carnavalescas da Idade Média. Esse enunciado, como bem se sabe, era reproduzido, automaticamente, nas redes sociais para expressar uma espécie de imaginário coletivo acerca do fato de que os brasileiros, enfim, voltariam a lutar, nas ruas, por seus direitos. Quando, então, o sujeito enunciador do Desencannes usa a hashtag como forma de persuadir, ainda que de maneira fictícia, os possíveis consumidores a comprar Prudence, acaba por quebrar esse automatismo, fazendo com esses mesmos consumidores saiam do curso normal de suas vidas lendo a replicação dessa hashtag nas redes sociais e riam do que está sendo veiculado. O humor foi, de acordo com Freud (1996), possivelmente, produzido por conta da economia de descarga de pensamento empreendida pelo destinatário do texto que, teoricamente, correspondeu ao perfil idealizado pelo enunciador e pôde perceber que estava diante de enunciado re-contextualizado e não de dois enunciados independentes, o que, obviamente, despenderia um gasto maior de energia para ser compreendido. Nesse caso, ocorre o chiste de palavras, já que a produção de humor é engendrada por meio de uma ambiguidade, fruto de uma habilidade na organização do material verbal empregado. Muito se falou acerca da peça publicitária desencannada da marca Prudence, por esse motivo, empreenderemos, a seguir, a análise da peça publicitária, também ela desencannada, da marca Barilla. 147
148 7.1.3 Barilla: onde tem fusilli, tem Itália Figura 14 Peça publicitária do macarrão Barilla, publicada pelo Desencannes. A peça publicitária, criada pelo site do Desencannes, justamente por ser fictícia, subverte a principal estratégia usada pelo discurso publicitário: a exaltação de um produto e, consequentemente, de uma marca. Na publicidade destacada, isso acontece pela associação da marca à figura do ditador italiano Benito Mussolini, responsável pela implementação de um dos regimes ditatoriais mais radicais de todos os tempos. Essa associação, caso fosse empreendida pela publicidade canônica, seria, automaticamente, rejeitada pelos donos da empresa, afinal, não iriam querer que a marca tivesse a cara de um ditador fascista. Portanto, é apenas por meio de uma propaganda que não se dobra às regras da publicidade tradicional que se torna possível estabelecer que uma marca pode ser representada pela figura de um ditador. No que tange ao circuito interno do ato de linguagem, a peça traz um enunciado bastante simples que, em poucas palavras, empreende o que, à primeira vista, seria uma forma de exaltar uma marca. Utiliza-se, então, de um substantivo e de um complemento que especifica de quem alguém seria líder, nesse caso, das massas italianas. Esse tipo de enunciado é bastante corriqueiro dentro do discurso publicitário, haja vista que é comum que 148
149 as marcas, ao fazerem propagandas de seus próprios produtos, digam que aquele produto, daquela marca, é líder de vendas no mercado. Contudo, em vez de usar uma frase feita, do tipo líder em vendas, o sujeito enunciador do Desencannes opta por modificar um pouco esse enunciado, substituindo um complemento prototípico por outro, nesse caso, de massas italianas, que modifica o possível efeito de sentido produzido a partir desse enunciado. Logo, se o sujeito se ativer apenas ao que diz respeito ao aspecto puramente linguístico, não perceberá que, na realidade, o anúncio denigre a imagem de seu produto ao promover uma comparação implícita entre a marca Barilla e o ditador Benito Mussolini. Tal comparação poderia ser recuperada, por exemplo, por um enunciado verbal: assim como Barilla é líder no que se refere à venda de alimentos feitos com massa, logo, pratos típicos da Itália, Mussolini é líder do povo italiano. Na realidade, o sujeito enunciador desencannado apropria-se da ambiguidade trazida pelo vocábulo massa para os italianos, pasta, que significa tanto alimentos feitos com farinhas, como a de trigo, quanto um aglomerado de pessoas que partilha algo em comum no caso da propaganda, são cidadãos nascidos ou viventes em uma mesma nação, a Itália. É possível perceber, então, que o enunciado, entendido apenas em seu sentido de língua, será compreendido como sendo uma propagando prototípica de pasta, no entanto, se for levado em consideração seu sentido de discurso, o destinatário poderá perceber que a palavra massa foi utilizada em sentido figurado e significa povo. Vale lembrar que, possivelmente, o aspecto icônico do anúncio, a imagem de um militar, chamaria a atenção do receptor e, provavelmente, provocaria nele um estranhamento. Assim sendo, para que, de fato, se produzisse o efeito de sentido pretendido pelo enunciador, seria necessário que o destinatário acionasse seus conhecimentos de mundo e se recordasse que a Itália viveu o regime do fascismo e, num insight, percebesse que a figura, na realidade, é um retrato de Mussolini, quando jovem. Seria exigido, portanto, desse destinatário, que ele partilhasse os saberes enciclopédicos trazidos pelo enunciador da peça, a fim de que, assim, o sentido de efeito visado correspondesse ao produzido. Ainda que óbvio, é importante ressaltar que, se o destinatário não fizer uso dessa rede de inferências, a propaganda passará batida por ele, como sendo apenas mais uma propaganda do ramo alimentício, tão comum no dia a dia do mundo capitalista em que vivemos. Logo, é possível estabelecer que o diferencial da peça publicitária do Desencannes 149
150 está em todos os conhecimentos partilhados que ela carrega consigo e que, de certa forma, exige que seus receptores compartilhem e interpretem. Há outro detalhe, presente no anúncio, que nos chama atenção: o tipo de massa escolhido. Popularmente conhecido como parafuso, o fusilli não foi escolhido inocentemente pelo enunciador sujeito intencional do Desencannes, afinal, é bastante provável que a escolha tenha se dado pelo fato de haver uma aproximação sonora entre o tipo de macarrão e a palavra fuzil que, por sua vez, faz referência à violência e à repressão, empreendidas pelo regime fascista de Mussolini. A importância do icônico na peça em tela parece já ter ficado clara, todavia, torna-se imprescindível comentar a respeito das cores que compõem o anúncio. Pensando no conceito de cor como informação (GUIMARÃES, 2000; 2003), percebe-se que a cor azul e a vermelha deveriam predominar na publicidade, posto que são as cores representativas da marca Barilla daí a faixa vermelha, horizontal, presente na parte de baixo do anúncio, porém, a cor predominante é a verde, cor típica dos uniformes militares, como forma de camuflá-los, por exemplo, em meio à selva e também, ao lado do vermelho, uma das cores da bandeira italiana. Essa quebra de paradigma, além de comprovar que o leitor está diante de uma publicidade às avessas, flagra a importância das cores dentro do texto publicitário. A atitude discursiva do enunciador, por sua vez, responde, sempre, à pergunta: estou aqui para falar como? Assim sendo, é possível estabelecer que as estratégias de captação são postas em prática por parte do enunciador para persuadir ou, nesse caso, dissuadir seu destinatário a adotar determinada postura. A peça acima utiliza-se de uma espécie de atitude de engajamento às avessas: em verdade, quando se faz a associação da marca Barilla a Mussolini, denigre-se a marca, o que fará com que o consumidor deixe de comprá-la, pois ela representa o que há de pior no fascismo: violência, autoritarismo, totalitarismo etc. A atitude de engajamento, então, é adotada no sentido de fazer com que o destinatário não compre o produto da marca anunciada, ainda que ele seja líder em massas italianas. Na propaganda acima, na realidade, ressoam duas crenças que se chocam: a primeira diz respeito à superfície textual e reafirma a qualidade da marca que é líder no ramo de massas italianas; a segunda delas, entretanto, compara essa qualidade de liderança àquela que possuía Mussolini quando era governante do país. Assim, ao fazer coexistirem essas duas crenças, parece que o sujeito enunciador quer alertar para a existência de uma terceira crença 150
151 que, implicitamente, afirma que ser líder das massas italianas macarrão ou povo não é uma característica digna de apreciação. Os sujeitos, por sua vez, são permeados por três memórias que testemunham as maneiras de dizer de uma dada comunidade. É justamente uma dessas memórias, a do discurso, que diz que a marca Barilla é tão ruim quanto foi Mussolini, logo, o consumidor não deve comprar nenhuma massa dessa marca. A memória dos discursos é fruto da junção de saberes de conhecimento e saberes de crença. A peça em análise é exemplo dos chamados saberes de crença e de conhecimento. Por saber de crença, entende-se uma saber que não tem nenhuma base objetiva ou facilmente comprovável: é fruto de um achismo compartilhado pelos membros de uma comunidade que postula que o Barilla é tão ruim quanto Mussolini, posto que ser líder das massas italianas não é um bom negócio. No entanto, é um saber de conhecimento que causa toda essa aversão a Mussolini e, consequentemente, à marca, haja vista que grande parte das pessoas tem conhecimento sobre o que aconteceu na Itália, na época em que a nação vivia sob regime fascista, o que é um fato histórico comprovado e documentado. A memória das situações de comunicação, por sua vez, cria comunidades comunicacionais capazes de estabelecer rituais e comportamentos linguageiros que devem ser seguidos pelos sujeitos responsáveis pelo ato de linguagem. É essa memória, por exemplo, que determina a impossibilidade de falar mal de um produto quando se quer vendê-lo. Contudo, já que se está diante de uma publicidade às avessas, fictícia, feita para divertir e não para vender, pôde-se transgredir essa memória, já que as qualidades do macarrão fusilli, da marca Barilla, foram postas em xeque, a partir do momento em que o produto foi comparado e igualado a Mussolini. Parece, também, que a memória das formas dos signos foi subvertida pelo sujeito enunciador do Desencannes, haja vista que os modos de dizer, tão comuns ao gênero peça publicitária, foram postos de lado quando se resolveu modificar uma expressão cristalizada em nossa língua. Explica-se: geralmente, em termos de propaganda, quando se fala acerca da liderança de uma marca em termo de vendas, usa-se a expressão líder em vendas, a qual foi substituída por líder das massas italianas. Na realidade, essa mudança engendra o aparecimento de um viés de sentido que faz com que a marca se aproxime ainda mais da figura do ditador, por conta da veiculação da ideia de posse, trazida pela preposição de. 151
152 Os imaginários sociodiscursivos, por sua vez, também se fazem presentes no anúncio destacado, já que este veicula representações sociais que engendram saberes de conhecimento e de crença. Ressoam, então, no referido anúncio, dois imaginários conflitantes: o primeiro diz respeito à excelência do povo italiano na preparação de massas. Assim sendo, se se considerar o vocábulo em seu viés denotativo, parecerá que se faz uma ode à aquisição dos produtos da marca Barilla, como é o caso do fusilli, já que ninguém seria responsável por fazer massas melhores do que uma marca italiana. O segundo imaginário evoca o quanto o regime ditatorial fascista foi prejudicial aos italianos e, até mesmo, ao resto do mundo, por esse motivo, quando a massa Barilla assemelha-se a esse tipo de líder, deve ser descartada como possibilidade de consumo, afinal, ninguém quer consumir um produto/marca com a cara de Mussolini. Os modos de organização do discurso também se fazem presentes na peça publicitária da marca Barilla. O modo enunciativo, que engendra os outros três modos, narrativo, descritivo e argumentativo, aparece sob a forma da modalização elocutiva, já que escolhe privilegiar o ponto de vista do eu, o que não é comum na publicidade canônica que, geralmente, procura implicar o tu naquilo que é enunciado. Aqui, as marcas da modalização elocutiva podem ser recuperadas por inferência, já que sua menção na frase seria prejudicial ao princípio da economia do qual trataremos a posteriori, o que ocorre por meio de enunciado igual ou parecido com este: [eu digo que Barilla] é líder das massas italianas. Isso mostra que a mensagem provém de uma afirmação feita por um ou vários enunciador(es) que se responsabilizam por aquilo que afirmam. A peça publicitária, também, traz outro modo de organização do discurso, nesse caso, o argumentativo. Embora não haja uma implicação explícita do destinatário por meio do modo enunciativo e da modalização alocutiva, o discurso pretende dissuadir seu receptor com relação à compra da massa da marca em questão, afinal, diz que tem as mesmas qualidades que Mussolini, utilizando-se, dessa forma, de um argumento, bastante contundente, aliás, para que essa dissuasão se dê: a semelhança entre a marca e o ditador. Nesse sentido, é possível estabelecer que a publicidade às avessas encontra sua forma mais radical de expressão em propagandas como essa, que querem, ao contrário de todas as outras peças canônicas, deixar de vender uma determinada marca e, consequentemente, um determinado produto. Cabe, agora, falar das estratégias de patemização empreendidas pelo sujeito enunciador do Desencannes, as quais têm por objetivo cooptar o destinatário para o que está 152
153 sendo dito, afinal, só assim ele se dará conta de que está diante de uma publicidade às avessas e não de uma publicidade tradicional que quer vender uma marca a qualquer custo. Na realidade, as estratégias de patemização empregadas no anúncio foram utilizadas no sentido de inviabilizar a compra por parte do consumidor, haja vista a depreciação do produto de determinada marca, empreendida pelo sujeito enunciador desencannado. Assim, a atitude de engajamento, pretendida pelo enunciador, espera que o destinatário torne-se cúmplice do discurso, acreditando no que está sendo dito e escolhendo não comprar o macarrão da massa Barilla. Essa atitude de engajamento, obviamente, é a oposta daquela esperada por uma propaganda canônica, ainda que a peça desencannada também se utilize de argumentos e saberes de crença que possibilitariam a aderência ao discurso em questão. Portanto, apesar de ambos os sujeitos enunciadores fazerem uso de estratégias de patemização e até mesmo de argumentos e saberes de crenças similares, os objetivos com que se põem em jogo essas maneiras de se cooptar o adversário são contrários: um sujeito, o enunciador do discurso canônico, quer persuadir seu destinatário a comprar determinados produtos; o outro, por sua vez, quer dissuadir seu destinatário no que tange a adquirir um produto de uma marca. Dessa forma, é possível estabelecer que cabe ao sujeito se engajar num comportamento reacional em que sairá da inércia e tomará uma atitude com relação ao produto alvo da publicidade. Se as estratégias empreendidas pelo sujeito enunciador do Desencannes forem bem sucedidas, o consumidor repelirá a massa da marca Barilla e optará por outra marca. Todavia, se o consumidor não se deixar levar pela propaganda, escolherá adquirir a marca, ainda que corra o risco de ter sua imagem ligada à de Mussolini e, consequentemente, à do fascismo. A escolha desse sujeito destinatário inscreve-se, também, num quadro de autorepresentação, em que o ato de escolher diz mais sobre quem escolhe do que sobre a marca escolhida. Explica-se: a partir do momento em que se estabelece um juízo de valor acerca de uma marca, todo esse status que o produto possui acaba por ser, automaticamente, transferido para quem dele faz uso. O contrário também se dá: aqueles que não adquirirem determinados produtos serão, via de regra, excluídos desse universo de consumo e marginalizados por conta dessa impossibilidade de comprá-los. Porém, no que tange à peça publicitária em análise, a escolha em não consumir o marca faz com que o destinatário assuma um status favorável a si mesmo, ainda que tenha deixado de consumir o que é praticamente imperdoável no mundo capitalista de hoje, pois 153
154 o axioma relativo à massa Barilla apresenta-se como desfavorável à compra, afinal, trata-se de uma marca que teve seu lugar no mundo relacionado à figura de um ditador e, obviamente, não são muitos os que escolhem ter a imagem associada à referida figura. A peça publicitária, ainda que seja uma publicidade às avessas, precisa, assim como fazem as publicidades canônicas, ancorar o produto no mundo real, uma vez que o consumidor precisa estar ciente do que está sendo propagado. Tal ancoragem acontece a partir do momento em que o nome da marca, bem como a foto de sua embalagem, são usados pelo sujeito enunciador desencannado para dizer de que trata a propaganda acima destacada. Caso não fosse mencionado o nome da marca, nem exposta sua embalagem, a publicidade não faria sentido, afinal, o destinatário não saberia que marca é líder de massas italianas, muito menos quem é o representante da marca. A peça transgride, ainda, outra estratégia da qual faz uso o discurso publicitário tradicional, que é a utilização dos mecanismos de sugestão, os quais servem para persuadir e, até mesmo, incitar alguém a adquirir determinado produto de determinada marca, ainda que não haja uma explicação racional e objetiva para isso. Assim sendo, é possível estabelecer que os destinatários dessa peça são cooptados a não consumir a marca em questão, haja vista que isso não lhes renderá nenhum benefício, pelo contrário: resultará em perda de status por conta da referida associação de imagens. No entanto, em contraposição, é possível estabelecer que, por meio do discurso empreendido na peça publicitária, o consumidor se vê impelido a consumir o mesmo produto, apenas dispondo de diferentes marcas, uma vez que consumi-las não representaria nenhuma perda: apenas ganhos. Recorrendo, agora, ao conceito de ideologias, pensando que estas são diferentes visões de mundo, sendo a da classe dominante a principal, pode-se estabelecer que há, pelo menos, uma visão ideológica nessa propaganda, que consiste numa aversão que se criou no mundo contemporâneo aos regimes totalitários de uma maneira geral, ainda mais àqueles que flertaram com o nazismo, como foi o caso do fascismo. Os indivíduos, talvez, sua maioria esmagadora, não querem estar, de alguma forma, ligados às imagens de horror empreendidas antes, durante e logo depois da 2º Guerra Mundial, por conta de governos ditatoriais que implementaram regimes sangrentos. Talvez, apenas um pequeno grupo de pessoas, aqueles aos quais se dá a alcunha de neonazistas, se identificasse com a imagem de Mussolini e quisesse adquirir esse produto 154
155 dessa marca. Em verdade, a escolha com relação à compra dessa marca tem mais a ver com a imagem que o indivíduo quer ter de si mesmo e com a que quer mostrar ao outro com quem convive, do que com a qualidade ou a falta de qualidade do produto. Por isso, torna-se possível afirmar que apenas os que se vêem como semelhantes ao ditador fascista é que fariam uso do fusilli, da marca Barilla, equiparando-se a Mussolini. Assim sendo, a escolha dessa marca revelaria muito acerca de seu consumidor: mostraria suas inclinações políticas, suas convicções ideológicas, suas posturas com relação às minorias, enfim, flagraria sua maneira de ver, de estar e de ser no mundo, o que, obviamente, provocaria um choque naqueles que não concordassem com tudo isso, uma vez que assumem um posicionamento contrário ao autoritarismo, ao totalitarismo, enfim, ao fascismo. A singularização do produto, outra estratégia escolhida pela publicidade canônica, também foi usada na peça acima, haja vista que o produto é destacado como se fosse o único capaz de ser líder das massas italianas. No entanto, essa singularização serve a outro propósito que não a exaltação e a consequente compra de um produto de uma marca: é, na realidade, empreendida para denegrir a imagem do fusilli, da marca Barilla, visto que a equipara a um ditador e toda a carga significativa que essa figura carrega consigo. Logo, caso a propaganda tenha atingido seu objetivo, o produto, apesar de singular, não cairá nas graças do público. O discurso publicitário, tradicionalmente, segue uma espécie de postulado que diz que é necessário nomear, qualificar e exaltar um produto. No que tange à peça publicitária em tela, acontece a nomeação do produto e de sua marca, como se vê por meio da reprodução da embalagem do fusilli, da marca Barilla, assim como sua qualificação e sua exaltação. A nomeação do produto e da marca, nesse caso, não é facultativa, como foi com a peça da Coca- Cola, pois não há uma alusão ao nome da marca ressoando em nosso inconsciente, como acontece com o refrigerante. Ou seja, a marca Barilla não é tão forte no mercado, como é a Coca-Cola, por isso, é necessário nomeá-la e não deixar que o leitor infira de que marca se trata. Em verdade, é possível afirmar que essa (des)qualificação ocorre de maneira implícita e pode ser inferida pelo destinatário que atentar para o fato de que a fotografia, presente na publicidade, é a de Mussolini quando mais jovem. Há, então, um adjetivo, recuperado pelos conhecimentos de mundo do destinatário, que diz que o fusilli, da marca Barilla, é fascista. 155
156 Na realidade, também é importante esclarecer que ocorre, com a marca Barilla, uma exaltação às avessas, já que o produto de determinada marca é denegrido e rechaçado e contra-indicado para aqueles que não querem ser ou parecerem ser fascistas. Consequentemente, de maneira indireta, ocorre a exaltação de todos os outros produtos de marcas diferentes, afinal, nenhum deles pode ser classificado como sendo fascista, posto que, não são líderes das massas italianas. Nesse caso, ser líder é um defeito. O princípio da economia, tão comum ao discurso publicitário, também foi utilizado pelo sujeito enunciador da peça, haja vista que, para criá-la, fez uso de um slogan, bastante simples, para (des)qualificar, ainda que de maneira implícita, o produto e para realizar um tipo de exaltação às avessas, já que foram exaltados, indiretamente, produtos de outras marcas, que não os da Barilla. O princípio da proximidade também foi escolhido para fazer parte dessa propaganda, posto que são aproximadas, do destinatário, informações necessárias para que ele deixe consumir o fusilli, da marca Barilla. A peça publicitária apropria-se de um enunciado cristalizado líder em vendas e modifica-o para obter o possível efeito de sentido pretendido. Isso acontece a partir do momento em que a preposição em é substituída pela preposição de, trazendo, para o texto, uma ideia de posse que, automaticamente, remeterá o destinatário ao tipo de governo implementado por Mussolini: autoritário e cerceador. Logo, a mudança do referido enunciado cristalizado atende aos objetivos do sujeito enunciador: comparar a massa ao ditador. É importante notar que a peça da massa Barilla faz uso de um slogan que, na realidade, compromete a aceitação do público com relação à marca. Esse slogan, então, ao contrário do que ocorre com as demais peças publicitárias, mancha a imagem do produto e da marca, o que não aconteceria no mundo real, obviamente. É claro que o uso de um slogan, no mínimo, comprometedor, só é possível, pois o Desencannes encarrega-se de criar peças publicitárias fictícias, que não têm por objetivo primeiro vender uma marca, logo, não precisam fazer com que a marca oferecida seja a melhor dentre todas as outras. As outras peças, aqui analisadas, possuíam, todas, um viés de humor. À primeira vista, o mesmo não acontece na peça em destaque, mas, observando melhor, é possível afirmar que o humor é produzido por meio do choque. Explica-se: em um primeiro momento, o destinatário ficaria em choque por conta da reprodução da imagem de Mussolini e, só depois, perceberia que se trata de uma peça publicitária falsa e, então, riria. Na realidade, o choque seria produzido por meio de uma quebra da rigidez do cotidiano e do automatismo com que se 156
157 vive, os quais postulam que as publicidades precisam, necessariamente, exaltar um produto e uma marca. Logo, quando o destinatário se depara com essa quebra de rigidez e automatismo, choca-se com ela para, a posteriori, rir. A produção de humor também pode ser explicada pela tentativa de se carnavalizar a figura de Mussolini, que foi trazida ao rés do chão. Dito de outro modo: quando uma personalidade histórica que impunha medo e respeito, enquanto ditador e governante da Itália, é carnavalizada e, portanto, serve de alvo para o riso, o humor acaba sendo produzido pela ambivalência, já que o sério tornou-se cômico, o que é típico, por exemplo, da utilização do grotesco, tão comum na Idade Média. O cômico, nesse caso, também pode ser explicado pela concepção de chiste, pois, provavelmente, houve uma economia de energia quando o sujeito destinatário fez as associações e inferências necessárias para que compreendesse e interpretasse a peça, a qual acabou sendo descarregada a partir do momento em que se produziu o riso. O chiste, presente na peça acima, é o de palavras, posto que o humor também é produzido por uma ambiguidade, nesse caso, com relação à palavra massa; ambiguidade essa resultante de uma habilidade do enunciador em organizar o material verbal empregado com esse propósito. Muito já foi explanado acerca da peça publicitária do fusilli, da marca Barilla, por esse motivo, cabe, nesse momento, proceder à análise da peça do leite condensado Itambé. 157
158 7.1.4 Ei, moça, você prefire o Itambé? Figura 15 Peça publicitária do leite condensado Itambé, publicada pelo Desencannes. Novamente, uma peça publicitária, criada pelo site do Desencannes, vai de encontro à principal estratégia usada pela publicidade canônica para captar seus consumidores em potencial: trata-se da exaltação de um produto de uma marca para que ele pareça ser a melhor escolha, dentro do hall de possibilidades de consumo que povoam o mundo capitalista em que vivemos. Na realidade, o anúncio denigre a imagem da marca Itambé, ao dizer que ela é a vice-líder na produção de leite condensado, logo, não é a líder no que tange às vendas. A propaganda, então, evoca toda a carga negativa que um segundo lugar traz consigo dentro da cultura brasileira. Na realidade, quando há uma competição e algo ou alguém fica em segundo lugar, essa posição não é vista como uma conquista: é, no entanto, vista como uma derrota, logo, no Brasil, ser vice não é motivo de orgulho. Assim sendo, a publicidade da Itambé, ainda que seja do tipo publicidade às avessas, acaba por propagar outra marca de leite condensando, a Nestlé, quando diz que essa é líder na produção e, consequentemente, nas vendas, assumindo, portanto, a liderança em termo de mercado, sendo a marca número um. No que tange ao circuito interno do texto, a peça é composta por dois enunciados: glória adeus e itambé, vice-líder na produção de leite condensado. O primeiro deles está na ordem inversa, já que, normalmente, o vocativo é colocado depois do vocábulo que introduz a ideia de despedida, o que faria ainda mais sentido se se pensasse no anúncio como um todo, já que se está chamando a atenção para o fato de o leite condensado Glória ter pedido seu 158
159 espaço para o Itambé. Todo esse empreendimento, junto com o uso do nome da marca Glória, foi intencionalmente realizado para que houvesse uma aproximação sonora entre glória a Deus e adeus, glória. A intenção do sujeito de denegrir o produto fica ainda mais clara se o destinatário estiver atento a dois detalhes: o nome da marca foi escrito com letra minúscula e, antes do vocativo, não se usou vírgula, contrariando o que postula a norma-padrão da língua, mas fazendo jus à intenção do enunciador. Esse primeiro enunciado parece, então, ser um discurso citado: é como se alguém, algum funcionário da empresa, por exemplo, dissesse a frase adeus glória para comemorar a passagem do segundo ao terceiro lugar na produção e na venda de leite condensado. Contudo, como essa expressão adquire um duplo sentido, por conta da aproximação sonora acima mencionada, fica difícil precisar se o actante que a enuncia está dando adeus ao leite condensado da marca Glória ou se está agradecendo a Deus por mais uma vitória no que tange à ascensão da marca. Logo, se o ouvinte se ativer apenas ao aspecto linguístico do texto, observando somente o que está na superfície dele, não apreenderá de maneira completa o que o enunciado, de fato, traz de inovador. Portanto, é necessário que o destinatário perceba que precisa ir além do sentido de língua para interpretar e não só compreender o enunciado em questão, recorrendo, pois, ao sentido de discurso do texto, ou ao que traz de implícito. O implícito, desse modo, tem a ver com a possibilidade de o enunciado ser entendido de duas maneiras, como dito acima, já que se trata de uma ambiguidade, produzida por uma aproximação sonora entre duas expressões distintas: glória adeus e glória a Deus. O segundo enunciado, por sua vez, também traz uma ruptura: nesse caso, trata-se da mudança de uma fórmula fixa bastante comum em publicidade, líder em vendas. Ainda que o complemento para o substantivo líder tenha sido mudado, o que chama a atenção é a inserção do substantivo vice antes do vocábulo líder, tornando-o uma palavra composta. Isso acontece, pois o novo complemento que recebe líder, na produção de leite condensado, faz parte do mesmo universo de sentido que o anterior, cabendo, portanto, à palavra vice, o papel de denegridor. Explica-se: se não tivesse sido usado o substantivo vice, antes de líder, o enunciado passaria despercebido como sendo um chavão bastante comum no jargão publicitário, no entanto, nenhum publicista do mundo extralinguístico diria que sua marca é vice-líder de mercado, pelo contrário, exaltaria as qualidades que sua marca possui para tentar torná-lo o líder. 159
160 O aspecto icônico do enunciado também reforça a ideia de vice-liderança, trazida pelo texto verbal, a partir do momento em que representa, por meio de imagens, um pódio das marcas de leite condensando, colocando suas embalagens uma em cima da outra, cabendo, ao leite condensado da Nestlé, o primeiro lugar, ao da Itambé, o segundo e ao Glória, o terceiro. Embora tenha havido uma transposição de lugar entre o segundo e o terceiro colocados, os conhecimentos enciclopédicos dos leitores logo reconhecerão que ser o segundo lugar não é satisfatório: o importante mesmo é ser o primeiro no que tange à produção e à venda de determinada marca. Os motivos florais, estampados em cima dessa espécie de tecido azul, fazem com que a imagem pareça ser a de uma toalha de mesa, nesse caso, da mesa da cozinha, dessas que compõem o cenário dos lares brasileiros. Outro detalhe que faz parecer que se trata de uma toalha de mesa são os pequenos vincos, quase imperceptíveis, do lado direito da imagem. Pensando, agora, no conceito de cor como informação (GUIMARÃES: 2000; 2003), percebese a predominância da cor azul, num tom médio, entre o claro e o escuro, o que, obviamente, remete à cor da marca que serve de mote para a peça publicitária: a Itambé. Por mais que pareça óbvio, é importante esclarecer que, se o destinatário não fizer uso de uma rede de inferências, a qual compartilha com o enunciador, a propaganda parecerá, para ele, apenas uma daquelas tão comuns em nosso dia a dia. Por conseguinte, é possível afirmar que o sujeito destinatário precisa se tornar cúmplice daquilo que está sendo dito, indo além da superficial textual, caso contrário, os possíveis efeitos de sentido, pretendidos pelo enunciador, deixarão de ser produzidos por uma falta de competência dos destinatários. A atitude discursiva do enunciador determina, então, a maneira como ele constrói seu discurso, respondendo, sempre, à pergunta estou aqui para falar como? Dessa maneira, tornase possível perceber quais são as estratégias de captação colocadas em jogo dentro da cena enunciativa para dissuadir o destinatário de comprar uma marca. Nesse exemplo, estamos diante da dissuasão, haja vista que o anúncio reforça o fato de que outra marca, que não a Itambé, é líder no ramo de leite condensando, logo, o consumidor deveria escolher a melhor marca, aquela que ocupa o primeiro lugar na preferência das pessoas, por esse motivo é possível afirmar que se empreende, ainda que indiretamente, uma tentativa de fazer com o consumidor continue escolhendo o leite moça. A atitude de engajamento adotada parece funcionar de modo diverso daquelas adotadas pela publicidade canônica, haja vista que pretende fazer com que o destinatário se 160
161 engaje e saia de sua inércia, entretanto, não quer vender a marca da qual faz propaganda, mas uma marca concorrente que ocupa uma posição superior que parece ser imbatível, por isso, o segundo lugar pode parecer satisfatório. Talvez, essa espécie de satisfação pelo segundo lugar decorra do fato de que a preferência pelo leite condensado da marca Nestlé é tão forte que o nome do produto, dado pela multinacional, leite moça, é estendido a todas as marcas de leite condensado, num processo metonímico em que o nome da marca substitui o nome do produto, ainda que não esteja em questão comprar o leite condensado da marca Nestlé. Dessa forma, é bastante comum que as pessoas se refiram ao leite condensado de todas as outras marcas como se fossem leite moça. Parece, então, ressoar, na peça, uma crença segundo a qual consumir uma marca que está em segundo lugar no ranking de produção e, consequentmente, de vendas não é uma decisão acertada. Para a publicidade canônica brasileira, o único intuito que seus discursos devem possuir é transformar as marcas que estejam em segundo lugar nas mais vendidas e desejadas do mercado, afinal, se a marca for a vice-líder quer dizer que ela é preterida em relação à outra e apenas a publicidade pode ser capaz de mudar isso. Os sujeitos, por sua vez, são permeados por três memórias enquanto seres sociais e discursivos, as quais testemunham suas maneiras de dizer. A primeira delas é a memória dos discursos, que aponta o fato de que ser o segundo lugar não pode ser considerado satisfatório, ainda que a marca, por exemplo, esteja à frente da terceira colocada. Essa memória é produzida a partir da soma de saberes de conhecimento e de saberes de crença. Saberes de crença seriam, então, aqueles saberes socialmente partilhados, cuja comprovação científica e empírica não se realiza. É, portanto, esse saber que designa que ser o segundo lugar, dentro do universo de consumo dos brasileiros, significa fracasso, afinal, o que importa é ser o primeiro. No entanto, é por meio do saber de conhecimento, o qual pode ser comprovado por causa de fatos concretos, que se estabelece que subir uma posição do ranking das marcas de leite condensado é um passo importante, ainda que o saber de crença estabeleça o contrário. A memória das situações de comunicação, a seu turno, é a responsável por criar comunidades comunicacionais, capazes de engendrar rituais e comportamentos linguageiros que devem ser seguidos à risca pelos sujeitos sociais e discursivos do ato de linguagem. É essa memória, por exemplo, a responsável por incutir no histórico comunicacional dos indivíduos a impossibilidade de existir uma propaganda que denigra a marca que vende. O 161
162 sujeito enunciador do Desencannes, no entanto, rompe com essa memória a partir do momento em que menciona haver uma marca melhor que a Itambé, afinal, é ela que ocupa o primeiro lugar na produção de leite condensado e até mesmo das vendas. A memória das formas dos signos também foi subvertida pelo sujeito enunciador do Desencannes quando este se apropriou de uma expressão cristalizada, de cunho religioso, de nossa língua, Glória a Deus, para transformá-la numa despedida da marca que antes era a segunda colocada e que, agora, passa a ocupar o terceiro lugar. Também há a mudança da expressão cristalizada líder em para vice-líder na. Vale lembrar que não ocorre uma mudança substancial quando se permuta a preposição em pela contração na, porque essa é, na realidade, a junção de em + a: em verdade, a mudança toda é empreendida pelo acréscimo de vice à líder, que modifica complemente os possíveis efeitos de sentido que seriam produzidos. Os imaginários sociodiscursivos também estão presentes no anúncio, uma vez que veicula representações sociais que dão existência a saberes de conhecimento e de crença. Há pelo menos um imaginário sociodiscursivo que ressoa na peça publicitária em destaque: tratase daquele que diz que ser o segundo lugar é algo ruim, ainda que o segundo lugar, ao qual se refere o sujeito enunciador da peça, possa ser encarado como um progresso, visto que houve um salto no ranking das marcas produtoras de leite condensado. O brasileiro parece, portanto, apenas se contentar com o primeiro lugar, afinal, para ele, ser o segundo lugar é irrelevante. Nesse ponto da análise, torna-se imprescindível falar dos modos de organização do discurso. No que diz respeito ao modo enunciativo, no qual se estabelece a posição do enunciador com relação ao seu destinatário, a ele próprio e aos outros, possível estabelecer que faz uso da modalização elocutiva, já que centra seu discurso em si mesmo, diferentemente do que ocorre na publicidade canônica que, via de regra, utiliza-se da modalização alocutiva para implicar o tu no discurso produzido. As marcas de primeira pessoa não se fazem presentes de maneira explícita no enunciado, no entanto, são facilmente recuperáveis por meio de inferências. É, então, pertinente pensar que alguém, um actante, profere a frase glória adeus, assim como um enunciador diz que a marca Itambé é vice-líder na produção de leite condensando: [eu afirmo que] Itambé [é] vice-líder na produção de leite condensado. É patente, ainda, a presença do modo narrativo, já que, dentro da peça publicitária, parece haver um actante que diz glória adeus, como se conversasse com alguém a respeito do desempenho da marca em questão. A intenção, ainda que implícita, por parte do enunciador, em dissuadir a compra do leite condensado da marca Itambé explica a presença do modo 162
163 argumentativo no anúncio acima, afinal, são colocadas em prática estratégias de captação que podem fazer com que o destinatário desista da compra, haja vista que não quer parecer, também ele, um fracassado como a marca em questão. Em verdade, parece que a persuasão ocorre com relação à marca concorrente, já que é ela a melhor e mais consumida entre todas, portanto, é ela que deve ser a escolhida pelos consumidores, sob pena de parecerem tão derrotados quanto o produto e as marcas vice-líderes na produção e na venda de leite condensado. Cabe, agora, falar um pouco sobre as estratégias de patemização elencadas para fazer parte do discurso do sujeito enunciador do Desencannes, na tentativa de cooptar seu destinatário para o que está sendo dito, tornando-o cúmplice do enunciado e não apenas adversário, fazendo, por conseguinte, com que ele perceba estar diante de publicidades às avessas e não de publicidades tradicionais, tão difundidas em nosso dia a dia. Na realidade, essas estratégias de patemização foram utilizadas com o intuito de impossibilitar a compra do leite condensado Itambé, já que ele carrega consigo a imagem estigmatizada de fracasso, e, consequentemente, ainda que de maneira indireta, incrementar as vendas da marca concorrente, afinal, ela é a única capaz de ocupar o primeiro lugar, ou seja, de ser vitoriosa e líder de vendas. Logo, a atitude de engajamento foi posta em prática pelo sujeito enunciador com o objetivo de tornar seu destinatário conivente com o enunciado veiculado, fazendo com que ele, então, escolhesse não comprar o leite condensado da marca Itambé, já que o status que a marca possui não é considerado satisfatório. Dessa forma, o sujeito enunciador do Desencannes adota uma atitude de engajamento oposta àquela que empreendem as peças publicitárias canônicas, que visam, sempre, à exaltação de um produto. É importante ressaltar que, muitas vezes, publicidades às avessas e publicidades canônicas fazem uso das mesmas estratégias de captação e patemização, embora os objetivos que tenham sejam distintos: uma quer vender uma marca a qualquer custo, outra quer deixar de vender a marca da qual faz propaganda a qualquer custo, incentivando até mesmo que se compre o produto da marca concorrente. Assim sendo, cabe ao sujeito destinatário engajar-se em um comportamento reacional, a fim de que saia da inércia e assuma uma posição com relação ao produto e à marca cuja propaganda quer vender. Se as estratégias de captação do enunciador da peça da Itambé forem bem sucedidas, é bastante provável que o destinatário não escolha consumir a marca em 163
164 questão, já que parece uma escolha mais acertada optar pelo Leite Moça. Contudo, pode ser que o sujeito destinatário torne-se adversário do que está sendo dito e resolva, ainda que a publicidade denigra a marca e ele tenha sido alertado sobre a posição secundária assumida pelo leite condensado Itambé, comprá-lo. A possível escolha do sujeito destinatário inscreve-se, também ela, num quadro de autorrepresentação, afinal, essa escolha acaba falando mais sobre o sujeito que a empreende do que sobre a própria marca que foi comprada. Isso quer dizer que se estabelece um juízo de valor acerca do produto de determinada marca que, automaticamente, parece receber um status que, por sua vez, é transferido para aqueles indivíduos que fazem uso da marca em questão. É importante ressaltar que o contrário também acontece, uma vez que, quando alguém resolve não consumir determinada marca, perde o status que adquiriria caso viesse a comprá-lo. Todavia, no que diz respeito a esta peça publicitária, não consumir a marca, o leite condensado Itambé, faz com que se crie um axioma positivo com relação ao sujeito que tomou essa atitude. Em verdade, escolher não consumir, o que é uma falta muito grave nos dias de hoje, no mundo capitalista em que vivemos, parece ser uma boa saída, já que, dessa maneira, o sujeito não confere a si mesmo a posição de fracassado que assumiu a Itambé, a partir do momento em que se auto-intitulou vice-líder na produção de leite condensado, demonstrando, assim, sua inferioridade com relação à concorrente. Assim como a publicidade tradicional, a peça publicitária em análise, ainda que seja uma publicidade às avessas, precisa ancorar o produto no mundo real, o que só se dá a partir do momento em que o sujeito enunciador menciona o nome do produto do qual faz propaganda. Essa ancoragem acontece de maneira dupla, haja vista que o nome da marca é mencionado em uma espécie de balão, no canto superior e direto do anúncio, assim como há uma reprodução de sua embalagem, nesse caso, uma lata de leite condensado, onde, obviamente, lê-se Itambé. Caso não fosse mencionado o nome, o destinatário não poderia saber de que produto trata a peça publicitária, afinal, nada a respeito da marca estava sendo dito. Parece claro que, por conta de seus conhecimentos de mundo, o sujeito destinatário logo saberia que a segunda colocação não poderia ser ocupada pelo Leite Moça, da marca Nestlé, pois, intuitivamente, compreenderia que, a esse produto, dessa marca, cabe a primeira colocação no ranking das melhores marcas de leite condensado. Por isso, para que houvesse uma marcação explícita de 164
165 que marca ocuparia cada posição, precisou-se recorrer à nomeação e à reprodução de suas embalagens. Os sujeitos destinatários dessa peça são, portanto, cooptados para que não consumam a marca em questão, sob pena de terem sua imagem associada a uma marca que não se mostra competente o suficiente para assumir o primeiro lugar na produção e na venda de leite condensado. Pode ser, entretanto, que o sujeito destinatário não se dê conta dessa associação com o fracasso ou que não tenha dinheiro suficiente para recorrer a uma marca que, teoricamente, seria melhor e, portanto, custaria mais. Na realidade, uma marca cujo status é de primeira linha, provavelmente, será preterida apenas se o consumidor não tiver dinheiro suficiente para comprá-la, ou se o receptor não der importância ao status que lhe será imposto se vier a consumir uma marca de segunda linha. Há que se estabelecer, ainda, que a peça traz consigo uma visão ideológica. Ideologias são, na realidade, diferentes visões que se sustentam no mundo linguístico e no extralinguístico, sendo a da classe dominante a principal. Essa visão ideológica diz respeito a uma espécie de aversão que existe em se estar em segundo lugar, dentro da cultura brasileira. Ora, isso acontece, pois a principal ideologia que ressoa em nosso imaginário é a da classe dominante que, como o próprio nome sugere, domina o mundo e faz com que os indivíduos busquem-na como um ideal de vida. Diante disso, é possível afirmar que estar em segundo lugar significa não pertencer à classe dominante, logo, significa não ter conquistado, ainda, uma posição de prestígio. Na realidade, quando se diz respeito ao modelo econômico do capital, a lógica do ter impera sob a lógica ser, o que condiz com a visão ideológica de mundo apresentada acima, afinal, não importa o que se é, mas sim o que se tem e o poder de compra que se possui. Poder de compra esse que não tem, necessariamente, a ver com quantidade: pode ser que alguém, por exemplo, vá ao mercado e compre três latas de leite condensado, no entanto, a marca desses produtos, na realidade, é o que fará com que esse indivíduo ganhe status. Vale lembrar que produtos sem marca vendem muito menos que produtos com marca. Portanto, poder comprar vai além da quantidade a qual se tem acesso como consumidor, afinal, deve-se privilegiar produtos de determinadas marcas, sob risco de não parecer pertencer à classe social dominante. Nesse sentido, é possível afirmar que aqueles consumidores que apenas fizerem uso do leite condensado Itambé serão colocados, via de regra, à margem, uma vez que não partilham do mesmo universo de consumo da classe social 165
166 mais abastada que serve de modelo a ser seguido e de objetivo a ser alcançado por meio, principalmente, do consumo que representa, nesse caso, uma ascensão social. A propaganda acima também se utiliza de uma das estratégias de captação da publicidade canônica que é a singularização de um produto. Contudo, não se trata da singularização do produto que é alvo da propaganda, mas, sim, de outro: o Leite Moça da marca Nestlé. Explica-se: a partir do momento em que esse produto, dessa marca específica, é colocado como sendo o primeiro dentro do universo de consumo e, consequentemente, como ideal a ser alcançado, é esse produto o singularizado dentro da peça publicitária, uma vez que é ele o melhor produto de todos, o número um em vendas. Já que outro produto, de outra marca, é singularizado, cabe afirmar que o leite condensado Itambé é desprestigiado por essa mesma propaganda, visto que, a ele, cabe ser apenas o segundo colocado, não havendo, desse modo, o processo de singularização do produto, apesar de ele ser o alvo da peça publicitária destacada anteriormente, o que subverte toda a lógica empreendida pela publicidade canônica. O discurso publicitário, via de regra, segue uma espécie de modos operandi, que diz que é preciso nomear, qualificar e exaltar um produto. A propaganda destacada nomeia o produto a fim de que ele seja ancorado no mundo real, utilizando-se, para isso, de um balão, colocado no canto superior e direito da peça, e de uma imagem da embalagem do produto que ocupa o segundo lugar no pódio das melhores marcas de leite condensado do mercado. Houve necessidade, então, de se nomear a marca, ao contrário do que aconteceu com a peça da Coca- Cola, haja vista que essa marca não é tão forte no mercado a ponto de os destinatários inferirem que se trata da referida marca. No que tange à qualificação, é possível estabelecer que houve uma desqualificação da marca, empreendida, principalmente, pelo uso do vocábulo vice, acrescido à palavra líder, que dá a essa última uma conotação negativa, reforçando o fato de que o leite condensado Itambé é o segundo colocado na produção e, também, nas vendas do produto. Talvez, em outro circuito externo ao ato de linguagem, essa aparente desqualificação pudesse ser entendida como sendo uma conquista, já que a marca pulou do terceiro para o segundo lugar, todavia, dentro da cultura brasileira, ser o vice em algo é considerado insatisfatório e até mesmo ruim. É possível dizer, ainda, que ocorre uma exaltação na peça acima, entretanto, não é o leite condensado Itambé o exaltado, posto que é relegado à segunda posição. Em verdade, a marca que, indiretamente, é exaltado é o leite condensado da marca Nestlé, posto que ela foi 166
167 colocada em destaque e a ela foi dada a posição de líder de produção e de vendas. A exaltação, então, é às avessas, afinal, o concorrente da marca Itambé foi exaltado, enquanto a própria marca que deveria ter sido engrandecida não foi. A peça publicitária em questão, a seu turno, parece não ferir o princípio da economia, haja vista que é composta, basicamente, por um enunciado de um terceiro, ou seja, de um actante, e por um slogan, sobre o qual falaremos a posteriori. Pode ser, no entanto, que, em termos de publicidade canônica, o enunciado glória adeus seja considerado desnecessário, já que a propaganda apresentou um slogan bastante contundente, mas, como um dos objetivos principais do Desencannes é fazer seu destinatário rir, o referido enunciado é fundamental, ainda mais porque traz à tona uma expressão bastante usada por pessoas religiosas, fazendo com que o destinatário escolha rir a partir do momento em que entende o jogo de palavras empreendido pelo sujeito enunciador do site. O anúncio também se apropria de uma expressão cristalizada, líder em, imputando-lhe, no entanto, outro adjetivo, vice, que desconstrói toda a expressão, dando, a ela, um caráter de ofensa. Apesar de o uso de formas fixas e clichês ser um procedimento bastante comum nas publicidades tradicionais, nesse caso, a utilização da forma fixa é escolhida com outro propósito: trata-se da tentativa de provocar o riso em seus destinatários, além, de claro, denegrir a marca em questão. Torna-se importante lembrar que esta peça, a exemplo do que faz o discurso publicitário de nosso cotidiano, escolhe um slogan para falar sobre a própria marca. No entanto, a utilização desse slogan acaba comprometendo a aceitação por parte de seus possíveis consumidores, uma vez que, entre uma gama de possibilidades, o sujeito enunciador escolhe destacar que a marca está em segundo lugar no ranking de produção e consumo dentro do mercado. Ainda que óbvio, é importante esclarecer que essa subversão na construção do slogan seria impensável dentro das publicidades tradicionais, todavia, como se trata de uma publicidade fictícia, tudo se torna possível. Como dito, a peça produz um efeito de humor, o que pode ser explicado, levando-se em conta o que postula Bergson (2001): o riso é, então, gerado, uma vez que se quebra a rigidez e o automatismo do cotidiano do discurso publicitário que não pode, sob hipótese alguma, denegrir a marca que quer vender, porém, como se trata de um anúncio fictício, esse denegrimento torna-se possível e até mesmo viável, já se quer fazer humor a partir do discurso produzido. Talvez, o humor produza-se, portanto, por meio do nonsense, posto que, à 167
168 primeira vista, não parece fazer sentido que uma empresa contrate um publicista que fale mal da marca para a qual trabalha. Dentro da concepção de humor de Bakhtin (2013), o riso acontece a partir do momento em que a própria marca e o próprio produto são colocados no rés do chão, posto que se tornam vítimas desse humor desenfreado, feito pelo Desencannes. É, portanto, dessa ambivalência do riso que, nesse caso, é burlador e sarcástico com o leite condensado Itambé, mas, ao mesmo tempo, elogioso e exaltador do Leite Moça da Nestlé que nasce o cômico, ressaltando o grotesco que existe na atitude de falar mal de uma marca que, teoricamente, o sujeito enunciador deveria engrandecer. A produção do efeito de humor também pode ser explicada por meio da economia de descarga de energia do pensamento da qual fala Freud (1996), já que o sujeito, provavelmente, utilizou-se de seus conhecimentos de mundo para fazer inferências e associações, percebendo, desse modo, as reais intenções do sujeito enunciador. Pode-se dizer, ainda, que, na publicidade destacada, houve o que Freud (1996) chama de chiste de pensamento com o enunciado glória adeus, já que ele se assemelha a uma expressão fixa na língua, que funciona como uma espécie de interjeição. O chiste de palavras, então, é fruto de uma aproximação sonora que é resultante de uma habilidade do sujeito enunciador em organizar o material verbal empregado com esse objetivo. Parece que já se falou o suficiente, por hora, sobre a peça publicitária do Desencannes, feita para denegrir o leite condensado da marca Itambé. Por esse motivo, torna-se importante alinhavar não só todas as análises feitas até aqui, como também os conceitos trazidos ao longo de toda a fundamentação teórica. Procederemos, pois, às considerações finais do presente trabalho. 168
169 8 Considerações Finais Pode-se pensar, em primeiro lugar, que os diferentes efeitos de sentido, produzidos a partir do discurso veiculado pelo site Desencannes, estão intimamente ligados à quebra do Contrato Comunicação existente, quando estão em jogo publicidades tradicionais. Explica-se: quando se trata do discurso desencannado, esse Contrato de Comunicação é posto em xeque, uma vez que há uma espécie de flutuação entre as visadas dominantes nessas peças publicitárias: ora a de efeito, ora a de incitação. Desse modo, é possível estabelecer que a visada de incitação é, por hora, deixada de lado, já que o primordial desse discurso não é, em um primeiro momento, fazer seu leitor perceber que precisa de tal ou qual produto de determinada marca, mas sim fazê-lo refletir acerca do próprio fazer publicitário, que dá a si mesmo um status de credibilidade e de legitimidade incontestáveis, porém, questionáveis dentro do discurso do Desencannes. É como se houvesse, portanto, uma espécie de jogo de claro e escuro que, ora ilumina uma visada, ora deixa outra na escuridão. A finalidade de tal atividade linguageira é, então, causar um efeito patêmico em seu leitor, fazendo-o rir, muitas vezes por meio do estranhamento de peças humorísticas, que seriam impensáveis dentro de um discurso publicitário prototípico, tão comum em nosso dia a dia. Isso posto, torna-se evidente que, sem a criação de um mundo novo, por meio do Processo de Semiotização, esse discurso desencannado não seria possível. Logo, é apenas através desse novo mundo significado por meio da linguagem que se pode reconhecer a existência de um objeto que servirá como mote para a troca linguageira entre os sujeitos do ato de linguagem que serão os responsáveis pela co-construção de diferentes efeitos de sentido para o chamado discurso desencannado. Sujeitos esses que, se coincidirem com os perfis idealizados que deles fazem os parceiros no circuito externo ao texto, serão capazes de perceber que estão diante de peças que mais parecem humorísticas e não de peças publicitárias canônicas, já que perceberão as reais intenções do sujeito enunciador do Desencannes: questionar o próprio fazer publicitário, levando seu destinatário ao riso e à reflexão, por meio, por exemplo, da percepção dos implícitos, das estratégias argumentativas das quais se utiliza e da maneira como a transgressão do discurso publicitário tradicional é feita. 169
170 Esse processo de idealização corresponde, portanto, a uma imagem que o sujeito comunicante faz, por exemplo, de seu destinatário, já que tenta, a partir dessa imagem, atingir seu auditório, persuadindo-o do que está sendo dito, o que ocorrerá não só por meio do discurso que empreende, mas também por meio da imagem de si que mostra ao outro, utilizando-se de meios linguísticos e extralinguísticos. Ora, essa imagem que o outro tenta mostrar de si nada mais é do que comumente se convencionou chamar de ethos, dentro da tradição aristotélica. A percepção do ethos desencannado, construída por meio do discurso, acaba por ser a responsável por diversas transgressões empreendidas pelas publicidades do Desencannes. Explica-se: por serem publicidades às avessas podem não fazer, sequer, alusão à marca do produto que vendem, muito menos reproduzir o slogan o qual tem por objetivo identificar uma marca específica no meio das demais. Dito de outro modo: são apenas os conhecimentos de mundo, partilhados entre os protagonistas da cena enunciativa, que fazem, por exemplo, com que o destinatário perceba estar diante de uma propaganda da Coca-Cola, pelo fato de toda a peça ser grafada em vermelho e trazer, centralizada, na parte debaixo, uma garrafa do formato tradicional das garrafas de Coca-Cola. É possível notar, também, como forma de transgressão ocasionada por essa necessidade de desencannar o discurso publicitário tradicional que o modo de organização do discurso, conhecido como enunciativo, sofre uma mudança no que tange à sua modalização: não há mais lugar para a alocução, já que, nas peças publicitárias analisadas, o destinatário não precisa ser implicado pelo ato de linguagem pois a publicidade não quer mais vender uma marca, para se trazer à tona do texto a modalização elocutiva, implícita na maioria dos enunciados, como é o caso do [eu afirmo que] #ogiganteacordou. O sujeito, agora, deixa clara sua posição ao escolher ou não a marca exposta pelo Desencannes, tentando, inclusive, fazer com que seus destinatários sigam seu exemplo, o que resultará na utilização do modo argumentativo para persuadi-los ou dissuadi-los, como no caso dos anúncios que falam mal da marca propagada. As peças impublicáveis aproveitam-se, portanto, das estratégias publicitárias canônicas, reproduzindo-as, transgredindo-as ou mesmo extinguindo-as a seu bel prazer, afinal, como essa publicidade ri de si mesma, acaba por construir um discurso que pode tudo, menos deixar seu leitor naquela zona de conforto costumeira quando se trata de ler e consumir propagandas tradicionais, sejam elas quais forem. 170
171 É por isso, por exemplo, que o site pode veicular uma peça que fala mal da marca que vende, como acontece com a do leite condensado Itambé. A marca é relegado à posição de segundo lugar, posto que, a ela, cabe apenas ser vice-líder na produção e na venda do leite condensado, o que não é possível dentro das publicidades tradicionais que devem mostrar ao consumidor que não existe melhor marca do que aquela anunciada. Na realidade, essa peça faz, de maneira implícita, a exaltação do leite condensado do concorrente, o da marca Nestlé, quando mostra, por conta do pódio que reproduz, que essa é a marca campeã de vendas, logo, é o que deve ser escolhido por todos os consumidores. Nas publicidades às avessas ressoam imaginários e representações sociais, além de saberes de conhecimento e, principalmente, de crença. Logo, é possível estabelecer que o sujeito enunciador do Desencannes apropria-se, muitas vezes, de imaginários sociodiscursivos de nosso mundo real para, assim, estruturar seu próprio discurso. É o que ocorre, por exemplo, na peça publicitária do macarrão da marca Barilla, que tem sua imagem denegrida quando esta é associada à do ditador italiano Benito Mussolini. Ora, é apenas porque o destinatário tem um saber de conhecimento, aliado a um de crença, que essa associação é considerada ofensiva à marca, já que o leitor sabe que o fascismo foi um dos regimes ditatoriais mais nocivos já vistos no mundo. O humor parece ser a estratégia primordial de captação utilizada pelo Desencannes, haja vista que seu principal objetivo é fazer seu destinatário rir ou se chocar, o que pode ocorrer no momento em que se quebra a rigidez do cotidiano da publicidade canônica, quando, por exemplo, uma peça desencannada fala mal da marca que tenta vender; ou uma economia de energia na descarga de pensamento gerada por conta de uma ambiguidade; ou seja, por conta de um chiste de palavras: é o caso da palavra gigante, na peça publicitária da Prudence; ou pelo fato de se trazer, ao rés do chão, temas sérios, como o do regime ditatorial fascista; ou, ainda, por se colocar em prática aquele riso ambivalente, típico da Idade Média, que se apresenta como denegridor com relação ao leite condensado Itambé, mas como engrandecedor do leite condensado Nestlé. As peças publicitárias aqui analisadas podem ser divididas em dois grandes blocos, já que duas delas enaltecem marcas, nesse caso, o refrigerante da marca Coca-Cola e o preservativo da marca Jontex, ao passo que outras duas denigrem as marcas as quais propagam: trata-se da massa Barilla e do leite condensado Itambé. Na realidade, pode-se afirmar que a intenção que possuem os sujeitos enunciadores de tais peças é bastante diversa, 171
172 uma vez que dois deles, ainda que as publicidades sejam fictícias, pretendem singularizar os produtos, deixando claro que não há melhor escolha a ser feita por parte do consumidor, assim como fazem as publicidades canônicas. No entanto, os outros dois sujeitos enunciadores acabam cometendo o que seria um deslize imperdoável quando colocam em xeque as qualidades de seus produtos, afirmando, ainda que implicitamente, que há opções melhores do que aquelas que foram oferecidas. A peça publicitária da Coca-Cola, ainda que engrandeça a marca que quer vender, é a mais peculiar no que tange aos procedimentos linguístico-discursivos adotados, haja vista que não menciona, por exemplo, o nome do produto que vende, o que seria impensável dentro do rol das publicidades tradicionais. Só faz referência a ele, ao nome, por meio de símbolos: a garrafa que mimetiza o formato da de Coca-Cola e a cor vermelha que preenche praticamente todo o anúncio. Além desses símbolos, essa mesma publicidade responde à da concorrente, o que também seria impensável em termos de publicidade tradicional. No que se refere à publicidade da Prudence, o viés de criatividade tem a ver com o fato de o sujeito enunciador da peça escolher como único enunciado uma hashtag que fez parte das Manifestações de Junho de 2013 nas redes sociais #ogiganteacordou deslocando tal enunciado e dando, a ele, um novo significado: os gigantes, agora, não são mais todos os brasileiros que estavam lutando por seus direitos, mas, sim, os grandes homens que só podem ser assim chamados porque têm pênis grandes ou grandes qualidades, fazendo ressoar, portanto, na publicidade, uma crença de que ter um membro sexual de tamanho acima da média é bom. O anúncio da massa Barilla surpreende ao escolher como garoto-propaganda da marca o ditador Benito Mussolini, o que acaba por denegrir a marca, uma vez que, por meio de conhecimentos de mundo partilhados, enunciador e destinatário sabem que associar uma figura como a do fundador do fascismo a uma marca não aumentará em nada suas vendas, afinal, é bastante provável que os consumidores se sintam impelidos a rejeitar uma marca que seja a cara de um governo ditatorial tão nefasto quanto foi o vivido pela Itália. A peça publicitária do leite condensado Itambé chama a atenção do leitor por ressaltar uma espécie de qualidade às avessas da marca, que é o fato de ele ter conquistado o segundo lugar no número de vendas. Tudo isso porque ressoa no imaginário dos brasileiros uma crença de que ser o segundo colocado não deve ser considerado satisfatório, logo, essa associação 172
173 repeliria o consumidor que, obviamente, quer fazer uso, apenas, de produtos que são os melhores e mais vendidos do mercado. Assim sendo, por tudo dito anteriormente, é possível estabelecer que as peças publicitárias do Desencannes possuem um viés de originalidade que lhes confere uma posição de destaque dentro do discurso publicitário às avessas, posto que são capazes de trazer à tona peças que seriam, dentro de agências publicitárias tradicionais, impensáveis por todos os motivos aqui expostos. Portanto, cabe ao sujeito enunciador desencannado os louros de tamanha ousadia iconoclasta: só o Desencannes é capaz de tornar o impublicável, publicável e o ordinário, extraordinário. 173
174 9 Referências 1) ALMEIDA, Fernando Afonso de. Linguagem e Humor: comicidade em Les Frustrés de Claire Bretécher. Niterói: EdUFF, ) AMOSSY, Ruth e PIERROT, Anne Herschberg. Estereotipos y clichês. Buenos Aires Eudeba, ) ARTISTÓTELES, HORÁCIO, LOGINO. A Poética Clássica. São Paulo: Cultrix, ) BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes: ) A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec, ) BERGSON, Henri. O riso. São Paulo: Martins Fontes, ) CARVALHO, Nelly de. Publicidade: a linguagem da sedução. São Paulo: Editora Ática, ) CHARAUDEAU, P. Langage et discours: elements de sémiolinguistique (théorie et pratique). Paris: Hachette, ) Grammaire du sens et de l expression. Paris: Hachette, ) Análise do discurso: controvérsias e perspectivas. In: MARI, B. et al (orgs.). Fundamentos e dimensões da Análise do Discurso. Belo Horizonte: UFMG, ) De la competencia social de comunicación a las competencias discursivas. In: Revista latinoamericana de estudios del discurso, vol. (1), 2001, Venezuela: Editorial Latina, ) Visadas discursivas, gêneros situacionais e construção textual. In: MACHADO, Ida Lúcia e MELLO, Renato de. Gêneros: Reflexões em Análise do Discurso. Belo Horizonte: FALE/UFMG, ) Uma análise semiolingüística do texto e do discurso. In: PAULIUKONIS, M. A. L. e GAVAZZI, S. (Orgs.) Da língua ao discurso: reflexões para o ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, ) Das catégories pour l humour? Revue Questions de Communicatin nº 10, Presses Universiaires de Nancy. Nancy, ) Identidade social e identidade discursiva, o fundamento da competência comunicacional. In: PIETROLUONGO, Márcia (Org.). O trabalho da tradução. Rio de Janeiro: Contra Capa,
175 16) A patemização na televisão como estratégia de autenticidade. In: MENDES, E. e MACHADO, I. L. As emoções no discurso (vol. II). Campinas: Mercado das Letras, 2010a. 17) CHARAUDEAU, Patrick. Linguagem e Discurso: modos de organização. São Paulo: Contexto, 2010b. 18) O Discurso das Mídias. São Paulo: Editora Contexto, ) Discurso político. São Paulo: Editora Contexto, ) EGGS, E. Ethos aristótelico, convicção e pragmática moderna. In: AMOSSY, R. (org.). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo, Editora Contexto, ) FERRÉS, Joan. Televisão subliminar: socializando através de comunicações despercebidas. Porto Alegre: Artmed, ) FIORIN, José Luiz. Interdiscursividade e intertextualidade. In: BRAIT, Beth (org.). Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, ) FREUD, Sigmund. Os chistes e a sua relação com o inconsciente (vol. VIII). Rio de Janeiro: Imago, ) GUIMARÃES, Eduardo. As cores na mídia: a organização da cor-informação no jornalismo. São Paulo: Annablume, ) A cor como informação: a construção biofísica, linguística e cultural da simbologia das cores. São Paulo: Annablume, ) MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. Campinas, Pontes Editora, ) A propósito do ethos. In: MOTTA, R. e SALGADO, L. Ethos Discursivo. São Paulo: Editora Contexto, ) Ethos, cenografia, incorporação. In: AMOSSY, R. (org.). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo, Editora Contexto, ) MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros Textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A. P. et all (orgs.). Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, ) Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, ) MONNERAT, R. A publicidade pelo avesso - propaganda e publicidade, ideologias e mitos e a expressão da ideia o processo de criação da palavra publicitária. Niterói: EdUFF,
176 32) MONNERAT, R. S. M.. A dimensão simbólica na construção da palavra publicitária. In: I Simpósio Internacional de Letras Neolatinas, 2005, Rio de Janeiro. I Simpósio Internacional de Letras Neolatinas - Entre moinhos e livros: audácias e impasses da modernidade: Programa & Resumos, p ) As herdeiras de uma revolução: imaginários sociodiscursivos e estereótipos. In: XVI Congresso Nacional de Linguística e Filologia, Rio de Janeiro. Almanaque CIFEFIL, v. 16. p ) MONNERAT. Rosane e VIEGAS Ilana. Português I. v.1. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, ) PINTO, Alexandra Guedes. Publicidade: um discurso de sedução. Portugal: Porto Editora, ) POSSENTI, Sírio. Humor, Língua e Discurso. São Paulo: Editora Contexto, ) SILVA, Conceição Almeida da. Quando dizer é fazer rir para vender mais: mecanismos de produção de humor na publicidade. Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Niterói, ) VALE, Rony Petterson Gomes, MELLO, Renato de. Discurso humorístico, semiolinguística e piadas: uma proposta de análise. In: III Colóquio ALED Brasil, 2010, Recife, caderno de resumos. Recife: UFPE, ) VESTERGAARD, Torben e SCHODER, Kim. A linguagem da propaganda. São Paulo: Martins Fontes, ) Último acesso em: 24/01/
177 ANEXOS Manifesto Desencannes. Disponível em: Acesso em: 05/02/16 177
Abra a felicidade: uma análise semiolinguística de peças publicitárias desencannadas
 Anais do VIII Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da UFF Estudos de Linguagem Abra a felicidade: uma análise semiolinguística de peças publicitárias desencannadas
Anais do VIII Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da UFF Estudos de Linguagem Abra a felicidade: uma análise semiolinguística de peças publicitárias desencannadas
H003 Compreender a importância de se sentir inserido na cultura escrita, possibilitando usufruir de seus benefícios.
 2ª Língua Portuguesa 5º Ano E.F. Objeto de Estudo Usos e funções: código oral e código escrito Usos e funções: código oral e código escrito Usos e funções: norma-padrão e variedades linguísticas. Usos
2ª Língua Portuguesa 5º Ano E.F. Objeto de Estudo Usos e funções: código oral e código escrito Usos e funções: código oral e código escrito Usos e funções: norma-padrão e variedades linguísticas. Usos
AULA 2. Texto e Textualização. Prof. Daniel Mazzaro Vilar de Almeida 2013/1º
 AULA 2 Texto e Textualização Prof. Daniel Mazzaro Vilar de Almeida 2013/1º daniel.almeida@unifal-mg.edu.br O QUE É TEXTO? Para Costa Val, texto = discurso. É uma ocorrência linguística falada ou escrita,
AULA 2 Texto e Textualização Prof. Daniel Mazzaro Vilar de Almeida 2013/1º daniel.almeida@unifal-mg.edu.br O QUE É TEXTO? Para Costa Val, texto = discurso. É uma ocorrência linguística falada ou escrita,
Pai é quem cria: uma leitura semiolinguística do sensacional Sensacionalista.
 : uma leitura semiolinguística do sensacional Sensacionalista. (UFF)* Resumo O presente trabalho pretende analisar uma matéria do Jornal Sensacionalista, intitulada Mineiro chileno se emociona ao saber
: uma leitura semiolinguística do sensacional Sensacionalista. (UFF)* Resumo O presente trabalho pretende analisar uma matéria do Jornal Sensacionalista, intitulada Mineiro chileno se emociona ao saber
ENQUANTO ISSO, NO PAÍS DO CARNAVAL...: UMA ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DO SENSACIONAL SENSACIONALISTA
 Anais do VI Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da UFF Estudos de Linguagem ENQUANTO ISSO, NO PAÍS DO CARNAVAL...: UMA ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DO SENSACIONAL SENSACIONALISTA
Anais do VI Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da UFF Estudos de Linguagem ENQUANTO ISSO, NO PAÍS DO CARNAVAL...: UMA ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DO SENSACIONAL SENSACIONALISTA
TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO DA PERSONAGEM FÉLIX: DA NOVELA PARA AS PÁGINAS DO FACEBOOK
 TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO DA PERSONAGEM FÉLIX: DA NOVELA PARA AS PÁGINAS DO FACEBOOK CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: LETRAS INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE
TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO DA PERSONAGEM FÉLIX: DA NOVELA PARA AS PÁGINAS DO FACEBOOK CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: LETRAS INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE
O TEXTO PUBLICITÁRIO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: A IMPORTÂNCIA DE UMA PERSPECTIVA FUNCIONAL E SOCIODISCURSIVA
 O TEXTO PUBLICITÁRIO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: A IMPORTÂNCIA DE UMA PERSPECTIVA FUNCIONAL E SOCIODISCURSIVA 1. Introdução Hugo Bulhões Cordeiro Universidade Federal da Paraíba hbcordeiro@gmail.com
O TEXTO PUBLICITÁRIO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: A IMPORTÂNCIA DE UMA PERSPECTIVA FUNCIONAL E SOCIODISCURSIVA 1. Introdução Hugo Bulhões Cordeiro Universidade Federal da Paraíba hbcordeiro@gmail.com
Aula10 DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE IMAGENS NO DISCURSO. Eugênio Pacelli Jerônimo Santos Flávia Ferreira da Silva
 Aula10 DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE IMAGENS NO DISCURSO META Estudar o processo de designação considerando seu papel na criação de referentes no discurso. OBJETIVOS Ao fi nal desta aula, o aluno deverá: Compreender
Aula10 DESIGNAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE IMAGENS NO DISCURSO META Estudar o processo de designação considerando seu papel na criação de referentes no discurso. OBJETIVOS Ao fi nal desta aula, o aluno deverá: Compreender
A INTERAÇÃO NO DISCURSO PEDAGÓGICO 1
 A INTERAÇÃO NO DISCURSO PEDAGÓGICO 1 Jailton Lopes Vicente A motivação para este trabalho surgiu durante o trabalho de iniciação científica realizado no projeto de pesquisa Alfabetização: A conquista de
A INTERAÇÃO NO DISCURSO PEDAGÓGICO 1 Jailton Lopes Vicente A motivação para este trabalho surgiu durante o trabalho de iniciação científica realizado no projeto de pesquisa Alfabetização: A conquista de
ELEMENTOS DE TEXTUALIDADE
 ELEMENTOS DE TEXTUALIDADE NOÇÃO DE TEXTO Texto ou discurso é uma ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão. Para ser considerada um texto, uma ocorrência linguística precisa ser percebida
ELEMENTOS DE TEXTUALIDADE NOÇÃO DE TEXTO Texto ou discurso é uma ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão. Para ser considerada um texto, uma ocorrência linguística precisa ser percebida
A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE DA CRIANÇA: UMA REFLEXÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA 1
 A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE DA CRIANÇA: UMA REFLEXÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA 1 Sirlane de Jesus Damasceno Ramos Mestranda Programa de Pós-graduação Educação Cultura e Linguagem PPGEDUC/UFPA.
A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE DA CRIANÇA: UMA REFLEXÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA 1 Sirlane de Jesus Damasceno Ramos Mestranda Programa de Pós-graduação Educação Cultura e Linguagem PPGEDUC/UFPA.
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DO DISCURSO
 I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DO DISCURSO Mesa Temática Dispositivos enunciativos: entre razão e emoção Pesquisa Patemização e discurso midiático: um estudo de argumentação e persuasão em crônica
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DO DISCURSO Mesa Temática Dispositivos enunciativos: entre razão e emoção Pesquisa Patemização e discurso midiático: um estudo de argumentação e persuasão em crônica
Qual Garoto? : A Utilização da Ambiguidade no Anúncio Publicitário 1. Cleiton Marx CARDOSO. Lucas MEDES
 Qual Garoto? : A Utilização da Ambiguidade no Anúncio Publicitário 1 2 Cleiton Marx CARDOSO 3 Lucas MEDES 4 Leonardo Pereira MENEZES Centro Universitário FAG, Toledo, PR Resumo O presente trabalho busca
Qual Garoto? : A Utilização da Ambiguidade no Anúncio Publicitário 1 2 Cleiton Marx CARDOSO 3 Lucas MEDES 4 Leonardo Pereira MENEZES Centro Universitário FAG, Toledo, PR Resumo O presente trabalho busca
introdução Análise da intencionalidade discursiva do mundo Fiat por meio de sua comunicação interna Wilma P. T. Vilaça - USP
 Análise da intencionalidade discursiva do mundo Fiat por meio de sua comunicação interna Wilma P. T. Vilaça - USP introdução INTERESSES CONFLITANTES EM QUALQUER ORGANIZAÇÃO: a interação desafia o consenso
Análise da intencionalidade discursiva do mundo Fiat por meio de sua comunicação interna Wilma P. T. Vilaça - USP introdução INTERESSES CONFLITANTES EM QUALQUER ORGANIZAÇÃO: a interação desafia o consenso
INTRODUÇÃO À ANÁLISE DO(S)/DE DISCURSO(S) UNEB Teorias do signo Lidiane Pinheiro
 INTRODUÇÃO À ANÁLISE DO(S)/DE DISCURSO(S) UNEB Teorias do signo Lidiane Pinheiro PARA ALÉM DA FRASE Ex.: Aluga-se quartos FRASE mensagem significado TEXTO/ discurso sentido ENUNCIADO Traços de condições
INTRODUÇÃO À ANÁLISE DO(S)/DE DISCURSO(S) UNEB Teorias do signo Lidiane Pinheiro PARA ALÉM DA FRASE Ex.: Aluga-se quartos FRASE mensagem significado TEXTO/ discurso sentido ENUNCIADO Traços de condições
A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM E DE INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL
 A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM E DE INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL GONÇALVES, Raquel Pereira Universidade Estadual de Goiás, Câmpus de Iporá raquelpg.letras@gmail.com MOURA,
A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM E DE INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL GONÇALVES, Raquel Pereira Universidade Estadual de Goiás, Câmpus de Iporá raquelpg.letras@gmail.com MOURA,
APONTAMENTOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA EM RESENHAS ACADÊMICAS
 221 de 297 APONTAMENTOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA EM RESENHAS ACADÊMICAS Carla da Silva Lima (UESB) RESUMO Inscrito no campo teórico da Análise do Discurso francesa, o objetivo deste trabalho é defender
221 de 297 APONTAMENTOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA EM RESENHAS ACADÊMICAS Carla da Silva Lima (UESB) RESUMO Inscrito no campo teórico da Análise do Discurso francesa, o objetivo deste trabalho é defender
Linguagem e Ideologia
 Linguagem e Ideologia Isabela Cristina dos Santos Basaia Graduanda Normal Superior FUPAC E-mail: isabelabasaia@hotmail.com Fone: (32)3372-4059 Data da recepção: 19/08/2009 Data da aprovação: 31/08/2011
Linguagem e Ideologia Isabela Cristina dos Santos Basaia Graduanda Normal Superior FUPAC E-mail: isabelabasaia@hotmail.com Fone: (32)3372-4059 Data da recepção: 19/08/2009 Data da aprovação: 31/08/2011
Linguagem como Interlocução em Portos de Passagem
 Linguagem como Interlocução em Portos de Passagem (Anotações de leitura por Eliana Gagliardi) Geraldi, em seu livro Portos de Passagem, São Paulo, Martins Fontes, 1991, coloca-nos que o ensino de Português
Linguagem como Interlocução em Portos de Passagem (Anotações de leitura por Eliana Gagliardi) Geraldi, em seu livro Portos de Passagem, São Paulo, Martins Fontes, 1991, coloca-nos que o ensino de Português
TEXTO E TEXTUALIDADE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
 TEXTO E TEXTUALIDADE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO O que é texto? TEXTO - escrito ou oral; O que as pessoas têm para dizer umas às outras não são palavras nem frases isoladas, são textos; TEXTO - dotada de unidade
TEXTO E TEXTUALIDADE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO O que é texto? TEXTO - escrito ou oral; O que as pessoas têm para dizer umas às outras não são palavras nem frases isoladas, são textos; TEXTO - dotada de unidade
O CATÁLOGO DE PRODUTOS COMO INSTRUMENTO PARA O ENSINO DE LEITURA E ESCRITA
 O CATÁLOGO DE PRODUTOS COMO INSTRUMENTO PARA O ENSINO DE LEITURA E ESCRITA Renalle Ramos Rodrigues (UEPB/DLA) renalle.letras18@gmail.com Linduarte Pereira Rodrigues (UEPB/DLA) Linduarte.rodrigues@bol.com.br
O CATÁLOGO DE PRODUTOS COMO INSTRUMENTO PARA O ENSINO DE LEITURA E ESCRITA Renalle Ramos Rodrigues (UEPB/DLA) renalle.letras18@gmail.com Linduarte Pereira Rodrigues (UEPB/DLA) Linduarte.rodrigues@bol.com.br
Artefatos culturais e educação...
 Artefatos culturais e educação... USO DAS TDIC NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PROFª. JOICE ARAÚJO ESPERANÇA Vídeos: artefatos culturais? Vídeos Filmes Desenhos animados documentários Propagandas Telenovelas
Artefatos culturais e educação... USO DAS TDIC NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PROFª. JOICE ARAÚJO ESPERANÇA Vídeos: artefatos culturais? Vídeos Filmes Desenhos animados documentários Propagandas Telenovelas
CELM. Linguagem, discurso e texto. Professora Corina de Sá Leitão Amorim. Natal, 29 de janeiro de 2010
 CELM Linguagem, discurso e texto Professora Corina de Sá Leitão Amorim Natal, 29 de janeiro de 2010 A LINGUAGEM Você já deve ter percebido que a linguagem está presente em todas as atividades do nosso
CELM Linguagem, discurso e texto Professora Corina de Sá Leitão Amorim Natal, 29 de janeiro de 2010 A LINGUAGEM Você já deve ter percebido que a linguagem está presente em todas as atividades do nosso
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE LETRAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM RAQUEL MACEDO BATISTA DE FARIA
 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE LETRAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM RAQUEL MACEDO BATISTA DE FARIA AS MANIFESTAÇÕES DE 2013 E DE 2014: ENUNCIAÇÕES CRISTALIZADAS DE UM
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE LETRAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM RAQUEL MACEDO BATISTA DE FARIA AS MANIFESTAÇÕES DE 2013 E DE 2014: ENUNCIAÇÕES CRISTALIZADAS DE UM
aula LEITURA: Um pouco de história: o ensino de leitura - ontem e hoje UM CONCEITO POLISSÊMICO
 Um pouco de história: o ensino de leitura - ontem e hoje LEITURA: UM CONCEITO POLISSÊMICO 14 aula META Apresentar concepções de leitura; discutir as condições de legibilidade dos textos; mostrar a distinção
Um pouco de história: o ensino de leitura - ontem e hoje LEITURA: UM CONCEITO POLISSÊMICO 14 aula META Apresentar concepções de leitura; discutir as condições de legibilidade dos textos; mostrar a distinção
Aula6 MATERIALIDADE LINGUÍSTICA E MATERIALIDADE DISCURSIVA. Eugênio Pacelli Jerônimo Santos Flávia Ferreira da Silva
 Aula6 MATERIALIDADE LINGUÍSTICA E MATERIALIDADE DISCURSIVA META Discutir língua e texto para a Análise do Discurso. OBJETIVOS Ao fi nal desta aula, o aluno deverá: Entender a língua como não linear e que
Aula6 MATERIALIDADE LINGUÍSTICA E MATERIALIDADE DISCURSIVA META Discutir língua e texto para a Análise do Discurso. OBJETIVOS Ao fi nal desta aula, o aluno deverá: Entender a língua como não linear e que
"PACTA SUNT SERVANDA" 1 O CONTRATO DISCURSIVO E A MOBILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DO DISCURSO NO GÊNERO JURÍDICO PETIÇÃO INICIAL
 Anais do VII Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da UFF Estudos de Linguagem "PACTA SUNT SERVANDA" 1 O CONTRATO DISCURSIVO E A MOBILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DO DISCURSO
Anais do VII Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da UFF Estudos de Linguagem "PACTA SUNT SERVANDA" 1 O CONTRATO DISCURSIVO E A MOBILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DO DISCURSO
Introdução à Direção de Arte
 Introdução à Direção de Arte A Tarefa do Publicitário O objetivo final de toda propaganda é vender mercadoria, mas para consegui-lo, o publicitário precisa vencer alguns obstáculos. A Tarefa do Publicitário
Introdução à Direção de Arte A Tarefa do Publicitário O objetivo final de toda propaganda é vender mercadoria, mas para consegui-lo, o publicitário precisa vencer alguns obstáculos. A Tarefa do Publicitário
Rebak 1 : A alteridade pelo viés dialógico e a prática de escrita do aluno
 Rebak 1 : A alteridade pelo viés dialógico e a prática de escrita do aluno Viviane Letícia Silva Carrijo 2 O eu pode realizar-se verbalmente apenas sobre a base do nós. BAKHTIN/VOLOSHINOV (1926) Bakhtin
Rebak 1 : A alteridade pelo viés dialógico e a prática de escrita do aluno Viviane Letícia Silva Carrijo 2 O eu pode realizar-se verbalmente apenas sobre a base do nós. BAKHTIN/VOLOSHINOV (1926) Bakhtin
Que beleza é essa? : uma análise discursiva da campanha publicitária da Natura Viva sua beleza viva
 Que beleza é essa? : uma análise discursiva da campanha publicitária da Natura Viva sua beleza viva Andriéli BERTÓ¹ Bruna BUENO² Luciana CARVALHO³ Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul,
Que beleza é essa? : uma análise discursiva da campanha publicitária da Natura Viva sua beleza viva Andriéli BERTÓ¹ Bruna BUENO² Luciana CARVALHO³ Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul,
MEMÓRIA E DISCURSO POLÍTICO: ANÁLISE DE BLOGS 124
 Página 623 de 658 MEMÓRIA E DISCURSO POLÍTICO: ANÁLISE DE BLOGS 124 Rainê Gustavo Nunes da Silva (UESB) Edvania Gomes da Silva (UESB) RESUMO O presente trabalho apresenta um recorte dos resultados finais
Página 623 de 658 MEMÓRIA E DISCURSO POLÍTICO: ANÁLISE DE BLOGS 124 Rainê Gustavo Nunes da Silva (UESB) Edvania Gomes da Silva (UESB) RESUMO O presente trabalho apresenta um recorte dos resultados finais
LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
 TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Materna: uma entrevista com Luiz Carlos Travaglia. ReVEL. Vol. 2, n. 2, 2004. ISSN 1678-8931 [www.revel.inf.br]. LINGUÍSTICA APLICADA AO
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Materna: uma entrevista com Luiz Carlos Travaglia. ReVEL. Vol. 2, n. 2, 2004. ISSN 1678-8931 [www.revel.inf.br]. LINGUÍSTICA APLICADA AO
Resenha. Discurso das Mídias. (CHARADEAU, Patrick. Contexto, 2006)
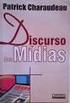 Resenha Discurso das Mídias (CHARADEAU, Patrick. Contexto, 2006) Daniela Espínola Fernandes da Mota 1 Patrick Charaudeau é professor na Universidade de Paris-Nord (Paris 13), e diretor-fundador do Centro
Resenha Discurso das Mídias (CHARADEAU, Patrick. Contexto, 2006) Daniela Espínola Fernandes da Mota 1 Patrick Charaudeau é professor na Universidade de Paris-Nord (Paris 13), e diretor-fundador do Centro
Grice: querer dizer. Projecto de Grice: explicar a significação em termos de intenções.
 Grice: querer dizer Referências: Grice, Paul, Meaning, in Studies in the Way of Words, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1989, pp 213-223. Schiffer, Stephen, Meaning, Oxford, Oxford University
Grice: querer dizer Referências: Grice, Paul, Meaning, in Studies in the Way of Words, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1989, pp 213-223. Schiffer, Stephen, Meaning, Oxford, Oxford University
A LITERATURA COMO PRODUÇÃO DE SENTIDOS: UMA ANÁLISE DO CONTO FITA VERDE NO CABELO: NOVA VELHA ESTÓRIA DE GUIMARÃES ROSA
 A LITERATURA COMO PRODUÇÃO DE SENTIDOS: UMA ANÁLISE DO CONTO FITA VERDE NO CABELO: NOVA VELHA ESTÓRIA DE GUIMARÃES ROSA Autor: Iêda Francisca Lima de Farias (1); Orientador: Wellington Medeiros de Araújo
A LITERATURA COMO PRODUÇÃO DE SENTIDOS: UMA ANÁLISE DO CONTO FITA VERDE NO CABELO: NOVA VELHA ESTÓRIA DE GUIMARÃES ROSA Autor: Iêda Francisca Lima de Farias (1); Orientador: Wellington Medeiros de Araújo
EMOJIS NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DE PUBLICIDADES
 Anais do IX Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da UFF Estudos de Linguagem EMOJIS NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DE PUBLICIDADES Marcia Figueiredo de Assis Terra Orientadora:
Anais do IX Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da UFF Estudos de Linguagem EMOJIS NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DE PUBLICIDADES Marcia Figueiredo de Assis Terra Orientadora:
Resenhas: é semelhante a um resumo informativo, acrescido de uma crítica.
 Resumo, de acordo com a ABNT, é: [...] apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. A NBR 6028/2003, da ABNT, especifica
Resumo, de acordo com a ABNT, é: [...] apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. A NBR 6028/2003, da ABNT, especifica
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1
 NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
DACEX CTCOM Disciplina: Análise do Discurso. Profa. Dr. Carolina Mandaji
 DACEX CTCOM Disciplina: Análise do Discurso cfernandes@utfpr.edu.br Profa. Dr. Carolina Mandaji Análise do Discurso Fernanda Mussalim Objetivos da aula DISCURSO IDEOLOGIA SUJEITO SENTIDO Teoria da Análise
DACEX CTCOM Disciplina: Análise do Discurso cfernandes@utfpr.edu.br Profa. Dr. Carolina Mandaji Análise do Discurso Fernanda Mussalim Objetivos da aula DISCURSO IDEOLOGIA SUJEITO SENTIDO Teoria da Análise
UMA NOÇÃO DE TEXTO. por Gabriele de Souza e Castro Schumm
 ARTIGO UMA NOÇÃO DE TEXTO por Gabriele de Souza e Castro Schumm Profa. Dra. Gabriele Schumm, graduada e doutora em Linguística pela Unicamp, é professora do curso de Licenciatura em Letras do Centro Universitário
ARTIGO UMA NOÇÃO DE TEXTO por Gabriele de Souza e Castro Schumm Profa. Dra. Gabriele Schumm, graduada e doutora em Linguística pela Unicamp, é professora do curso de Licenciatura em Letras do Centro Universitário
A MATEMÁTICA NO DISCURSO MIDIÁTICO: O ETHOS NO PROGRAMA DE TV PASSA OU REPASSA
 A MATEMÁTICA NO DISCURSO MIDIÁTICO: O ETHOS NO PROGRAMA DE TV PASSA OU REPASSA Arthur de Araujo FILGUEIRAS Universidade Federal da Paraíba arthurfilgueiras@yahoo.com.br 1. INTRODUÇÃO A associação da matemática
A MATEMÁTICA NO DISCURSO MIDIÁTICO: O ETHOS NO PROGRAMA DE TV PASSA OU REPASSA Arthur de Araujo FILGUEIRAS Universidade Federal da Paraíba arthurfilgueiras@yahoo.com.br 1. INTRODUÇÃO A associação da matemática
USO DE ADJETIVOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS DE REVISTAS
 USO DE ADJETIVOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS DE REVISTAS SARA CARVALHO DE LIMA FALCÃO (UFPE) sc.falcao@hotmail.com RESUMO A pesquisa aqui apresentada abordará o uso de adjetivos em propagandas de revistas,
USO DE ADJETIVOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS DE REVISTAS SARA CARVALHO DE LIMA FALCÃO (UFPE) sc.falcao@hotmail.com RESUMO A pesquisa aqui apresentada abordará o uso de adjetivos em propagandas de revistas,
Nome: Nº: Turma: Este caderno contém questões de: Português Matemática História Geografia Ciências - Espanhol
 Nome: Nº: Turma: Este caderno contém questões de: Português Matemática História Geografia Ciências - Espanhol 1 Compre, compre, compre... Você já deve ter percebido a guerra que determinados anúncios ou
Nome: Nº: Turma: Este caderno contém questões de: Português Matemática História Geografia Ciências - Espanhol 1 Compre, compre, compre... Você já deve ter percebido a guerra que determinados anúncios ou
Koch, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997, 124 p.
 Koch, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997, 124 p. Resenhado por: Adriana Sidralle Rolim O texto e a construção dos sentidos é um livro que aborda questões referentes ao
Koch, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997, 124 p. Resenhado por: Adriana Sidralle Rolim O texto e a construção dos sentidos é um livro que aborda questões referentes ao
ANÁLISE DA INTERLOCUÇÃO EM ELEMENTOS PROVOCADORES DO EXAME ORAL CELPE-BRAS Lygia Maria Gonçalves Trouche (UFF)
 ANÁLISE DA INTERLOCUÇÃO EM ELEMENTOS PROVOCADORES DO EXAME ORAL CELPE-BRAS Lygia Maria Gonçalves Trouche (UFF) lymt@terra.com.br Na perspectiva pragmática, a linguagem é considerada como uma forma de ação;
ANÁLISE DA INTERLOCUÇÃO EM ELEMENTOS PROVOCADORES DO EXAME ORAL CELPE-BRAS Lygia Maria Gonçalves Trouche (UFF) lymt@terra.com.br Na perspectiva pragmática, a linguagem é considerada como uma forma de ação;
Vou apresentar-te alguns erros com exemplos para perceberes melhor o que quero partilhar contigo:
 Ao longo da tua vida, foste interpretando as experiências de uma determinada forma, forma essa muitas vezes enviesada pelo teu ângulo e pelo teu sistema de crenças. Os erros cognitivos estão implícitos
Ao longo da tua vida, foste interpretando as experiências de uma determinada forma, forma essa muitas vezes enviesada pelo teu ângulo e pelo teu sistema de crenças. Os erros cognitivos estão implícitos
Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional ISSN
 OS NÍVEIS DE LEITURA DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO BICUDO JAMBERSI, Anna Patricia. 1 ARAUJO CARMO, Alex Sandro. 2 RESUMO O presente artigo tem como objetivo analisar de que forma a publicidade (re)produz sentido
OS NÍVEIS DE LEITURA DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO BICUDO JAMBERSI, Anna Patricia. 1 ARAUJO CARMO, Alex Sandro. 2 RESUMO O presente artigo tem como objetivo analisar de que forma a publicidade (re)produz sentido
PROFESSOR RODRIGO MACHADO MERLI PEDAGOGO UNIb ESPECIALIZAÇÃO EM DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR PUC/SP. BACHARELANDO EM DIREITO Uninove
 PROFESSOR RODRIGO MACHADO MERLI PEDAGOGO UNIb ESPECIALIZAÇÃO EM DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR PUC/SP BACHARELANDO EM DIREITO Uninove DIRETOR DE ESCOLA PMSP/SP PROFESSOR DE CUSRO PREPARATÓRIO ESCRITOR A principal
PROFESSOR RODRIGO MACHADO MERLI PEDAGOGO UNIb ESPECIALIZAÇÃO EM DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR PUC/SP BACHARELANDO EM DIREITO Uninove DIRETOR DE ESCOLA PMSP/SP PROFESSOR DE CUSRO PREPARATÓRIO ESCRITOR A principal
3. Programa de pesquisa com três aplicações do método
 3. Programa de pesquisa com três aplicações do método 3.1 Análise de publicações para crianças de dados estatísticos do IBGE Tendo a análise do discurso como linha metodológica, o que o presente estudo
3. Programa de pesquisa com três aplicações do método 3.1 Análise de publicações para crianças de dados estatísticos do IBGE Tendo a análise do discurso como linha metodológica, o que o presente estudo
COESÃO REFERENCIAL E SEQUENCIAL LEITURA E ARGUMENTAÇÃO TEXTO ARGUMENTATIVO
 AULA 4 COESÃO REFERENCIAL E SEQUENCIAL LEITURA E ARGUMENTAÇÃO TEXTO ARGUMENTATIVO Profa. Dra. Vera Vasilévski Comunicação Oral e Escrita UTFPR/Santa Helena Atividades da aula 3 Comente as afirmações a
AULA 4 COESÃO REFERENCIAL E SEQUENCIAL LEITURA E ARGUMENTAÇÃO TEXTO ARGUMENTATIVO Profa. Dra. Vera Vasilévski Comunicação Oral e Escrita UTFPR/Santa Helena Atividades da aula 3 Comente as afirmações a
9 MENSAGENS DE TEXTO QUE NENHUM HOMEM CONSEGUE RESISTIR
 9 MENSAGENS DE TEXTO QUE NENHUM HOMEM CONSEGUE RESISTIR 9 MENSAGENS DE TEXTO QUE NENHUM HOMEM CONSEGUE RESISTIR Pense nessas mensagens de texto que virão a seguir como as flechas do seu arco. Quando disparado,
9 MENSAGENS DE TEXTO QUE NENHUM HOMEM CONSEGUE RESISTIR 9 MENSAGENS DE TEXTO QUE NENHUM HOMEM CONSEGUE RESISTIR Pense nessas mensagens de texto que virão a seguir como as flechas do seu arco. Quando disparado,
A coleção Português Linguagens e os gêneros discursivos nas propostas de produção textual
 A coleção Português Linguagens e os gêneros discursivos nas propostas de produção textual Marly de Fátima Monitor de Oliveira Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp Araraquara e-mail:
A coleção Português Linguagens e os gêneros discursivos nas propostas de produção textual Marly de Fátima Monitor de Oliveira Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp Araraquara e-mail:
REDAÇÃO. Professor Moacir Cabral
 REDAÇÃO Professor Moacir Cabral Redação (redigir/escrever): ação ou resultado de escrever com ordem e método. Tipos de texto: Narrativo Descritivo Dissertativo Qualidades fundamentais do texto Clareza:
REDAÇÃO Professor Moacir Cabral Redação (redigir/escrever): ação ou resultado de escrever com ordem e método. Tipos de texto: Narrativo Descritivo Dissertativo Qualidades fundamentais do texto Clareza:
Atividades de Leitura: Uma Análise Discursiva
 Atividades de Leitura: Uma Análise Discursiva Jeize de Fátima Batista 1 Devido a uma grande preocupação em relação ao fracasso escolar no que se refere ao desenvolvimento do gosto da leitura e à formação
Atividades de Leitura: Uma Análise Discursiva Jeize de Fátima Batista 1 Devido a uma grande preocupação em relação ao fracasso escolar no que se refere ao desenvolvimento do gosto da leitura e à formação
COLÉGIO MAGNUM BURITIS
 COLÉGIO MAGNUM BURITIS PROGRAMAÇÃO DE 1ª ETAPA 1ª SÉRIE PROFESSORA: Elise Avelar DISCIPLINA: Língua Portuguesa TEMA TRANSVERSAL: A ESCOLA E AS HABILIDADES PARA A VIDA NO SÉCULO XXI DIMENSÕES E DESENVOLVIMENTO
COLÉGIO MAGNUM BURITIS PROGRAMAÇÃO DE 1ª ETAPA 1ª SÉRIE PROFESSORA: Elise Avelar DISCIPLINA: Língua Portuguesa TEMA TRANSVERSAL: A ESCOLA E AS HABILIDADES PARA A VIDA NO SÉCULO XXI DIMENSÕES E DESENVOLVIMENTO
A porta e o zíper. Meu desejo: AMOR VERDADEIRO
 UNIDADE 6: A porta e o zíper. Meu desejo: AMOR VERDADEIRO 1ºESO 4º ESO O amor é um caminho. Cada etapa é importante. Não tem que queimar etapas. Estar noivos: conhecer-nos e conhecer juntos o amor verdadeiro
UNIDADE 6: A porta e o zíper. Meu desejo: AMOR VERDADEIRO 1ºESO 4º ESO O amor é um caminho. Cada etapa é importante. Não tem que queimar etapas. Estar noivos: conhecer-nos e conhecer juntos o amor verdadeiro
DO TEXTO AO DISCURSO TV Aula 5 : DISCURSO. Prof.ª Me. Angélica Moriconi
 DO TEXTO AO DISCURSO TV Aula 5 : DISCURSO Prof.ª Me. Angélica Moriconi Do texto para o discurso O texto é um elemento concreto da língua. Os discursos materializam-se através dos textos (orais ou escritos).
DO TEXTO AO DISCURSO TV Aula 5 : DISCURSO Prof.ª Me. Angélica Moriconi Do texto para o discurso O texto é um elemento concreto da língua. Os discursos materializam-se através dos textos (orais ou escritos).
MÔNICA APARECIDA LIMA LOPES QUAL É A BOA? DAS CATEGORIAS DE LÍNGUA ÀS CATEGORIAS DE DISCURSO NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES DE GÊNERO
 MÔNICA APARECIDA LIMA LOPES QUAL É A BOA? DAS CATEGORIAS DE LÍNGUA ÀS CATEGORIAS DE DISCURSO NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES DE GÊNERO Dissertação apresentada ao Curso de Pós - Graduação em Letras da Universidade
MÔNICA APARECIDA LIMA LOPES QUAL É A BOA? DAS CATEGORIAS DE LÍNGUA ÀS CATEGORIAS DE DISCURSO NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES DE GÊNERO Dissertação apresentada ao Curso de Pós - Graduação em Letras da Universidade
Redação Publicitária reflexões sobre teoria e prática 1
 Redação Publicitária reflexões sobre teoria e prática 1 AUTOR: MAGOGA, Bernardo CURSO: Comunicação Social Publicidade e Propaganda/Unifra, Santa Maria, RS OBRA: MARTINS, Jorge S. Redação publicitária Teoria
Redação Publicitária reflexões sobre teoria e prática 1 AUTOR: MAGOGA, Bernardo CURSO: Comunicação Social Publicidade e Propaganda/Unifra, Santa Maria, RS OBRA: MARTINS, Jorge S. Redação publicitária Teoria
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DE ENSINO DA TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO
 23 a 26 de Maio 10 e 11 de Agosto de 2017 https://sesemat.wordpress.com/ ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DE ENSINO DA TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO Luana Vieira Ramalho Universidade do Estado
23 a 26 de Maio 10 e 11 de Agosto de 2017 https://sesemat.wordpress.com/ ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DE ENSINO DA TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO Luana Vieira Ramalho Universidade do Estado
Texto. Denotação e Conotação. Como Ler e Entender Bem um Texto. Interpretação de textos métodos de interpretação Interpretação de textos
 Interpretação de textos métodos de interpretação Interpretação de textos Texto Os concursos apresentam questões interpretativas que têm por finalidade a identificação de um leitor autônomo. Portanto, o
Interpretação de textos métodos de interpretação Interpretação de textos Texto Os concursos apresentam questões interpretativas que têm por finalidade a identificação de um leitor autônomo. Portanto, o
Key words: Semiolinguistic, advertisement speech, communication contract, discursive strategies.
 TEXTO PUBLICITÁRIO DA FRIBOI NA PERSPECTIVA DA TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA: O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO E AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS Jaqueline Chassot 1 RESUMO Este trabalho tem por objetivo analisar, sob a
TEXTO PUBLICITÁRIO DA FRIBOI NA PERSPECTIVA DA TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA: O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO E AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS Jaqueline Chassot 1 RESUMO Este trabalho tem por objetivo analisar, sob a
Descrição da Escala Língua Portuguesa - 5 o ano EF
 Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental < 125 identificam o sentido de expressão típica da fala coloquial utilizada em segmento de história em quadrinhos; e o local em que se desenrola o enredo, em anedota.
Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental < 125 identificam o sentido de expressão típica da fala coloquial utilizada em segmento de história em quadrinhos; e o local em que se desenrola o enredo, em anedota.
O TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
 O TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Edilva Bandeira 1 Maria Celinei de Sousa Hernandes 2 RESUMO As atividades de leitura e escrita devem ser desenvolvidas com textos completos
O TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Edilva Bandeira 1 Maria Celinei de Sousa Hernandes 2 RESUMO As atividades de leitura e escrita devem ser desenvolvidas com textos completos
A SOCIOLOGIA E A RELAÇÃO ENTRE O INDIVÍDUO E A SOCIEDADE
 A SOCIOLOGIA E A RELAÇÃO ENTRE O INDIVÍDUO E A SOCIEDADE A vida em sociedade exige que os indivíduos se conformem aos comportamentos e valores socialmente instituídos em cada cultura e momento histórico.
A SOCIOLOGIA E A RELAÇÃO ENTRE O INDIVÍDUO E A SOCIEDADE A vida em sociedade exige que os indivíduos se conformem aos comportamentos e valores socialmente instituídos em cada cultura e momento histórico.
Comunicação e linguagens. Carlos Straccia ATO DE COMUNICAÇÃO. Referências bibliográficas
 ATO DE COMUNICAÇÃO Referências bibliográficas INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 5 ed. São Paulo: Scipione, 1998, p. 17. PEREIRA, José Haroldo. Curso básico de teoria
ATO DE COMUNICAÇÃO Referências bibliográficas INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 5 ed. São Paulo: Scipione, 1998, p. 17. PEREIRA, José Haroldo. Curso básico de teoria
O SENTIDO DE INDISCIPLINA NO DISCURSO DA COMUNIDADE ESCOLAR
 O SENTIDO DE INDISCIPLINA NO DISCURSO DA COMUNIDADE ESCOLAR Solange Almeida de Medeiros (PG UEMS) Marlon Leal Rodrigues (UEMS) RESUMO: O presente artigo se baseia em um projeto de pesquisa, em desenvolvimento,
O SENTIDO DE INDISCIPLINA NO DISCURSO DA COMUNIDADE ESCOLAR Solange Almeida de Medeiros (PG UEMS) Marlon Leal Rodrigues (UEMS) RESUMO: O presente artigo se baseia em um projeto de pesquisa, em desenvolvimento,
EBSERH E D I I T T R A
 EBSERH E D I T R A APRESENTAÇÃO...3 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO...5 1. Informações Literais e Inferências possíveis...6 2. Ponto de Vista do Autor...7 3. Significado de Palavras e Expressões...7 4. Relações
EBSERH E D I T R A APRESENTAÇÃO...3 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO...5 1. Informações Literais e Inferências possíveis...6 2. Ponto de Vista do Autor...7 3. Significado de Palavras e Expressões...7 4. Relações
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
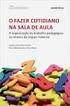 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO INTRODUÇÃO As diferentes unidades que compõem o conjunto de cadernos, visam desenvolver práticas de ensino de matemática que favoreçam as aprendizagens dos alunos. A
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO INTRODUÇÃO As diferentes unidades que compõem o conjunto de cadernos, visam desenvolver práticas de ensino de matemática que favoreçam as aprendizagens dos alunos. A
Faculdade Machado de Assis
 Faculdade Machado de Assis 8ª Semana de Gestão (21 até 25/05/07) MOTIVAÇÃO PESSOAL Data: 22/05/07 Palestrante: Djalma Araujo Apoio: MOTIVAÇÃO 1. Exposição de motivos ou causas. 2. Ato ou efeito de motivar.
Faculdade Machado de Assis 8ª Semana de Gestão (21 até 25/05/07) MOTIVAÇÃO PESSOAL Data: 22/05/07 Palestrante: Djalma Araujo Apoio: MOTIVAÇÃO 1. Exposição de motivos ou causas. 2. Ato ou efeito de motivar.
1. FRASE E ENUNCIADO NA SEMÂNTICA ARGUMENTATIVA
 O OPERADOR ARGUMENTATIVO MAS NO ENUNCIADO A VIDA É BONITA MAS PODE SER LINDA Israela Geraldo Viana 1 (PG-UESB) israelaviana@gmail.com Jorge Viana Santos 2 (UESB) viana.jorge.viana@gmail.com INTRODUÇÃO
O OPERADOR ARGUMENTATIVO MAS NO ENUNCIADO A VIDA É BONITA MAS PODE SER LINDA Israela Geraldo Viana 1 (PG-UESB) israelaviana@gmail.com Jorge Viana Santos 2 (UESB) viana.jorge.viana@gmail.com INTRODUÇÃO
ROTEIRO 4 PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS CARGA HORÁRIA DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO ABRIL /2018
 ROTEIRO 4 PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS CARGA HORÁRIA DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO ABRIL /2018 Prezados formadores locais Na quarta atividade de formação em serviço do PNAIC 2017/2018 iremos abordar a Produção
ROTEIRO 4 PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS CARGA HORÁRIA DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO ABRIL /2018 Prezados formadores locais Na quarta atividade de formação em serviço do PNAIC 2017/2018 iremos abordar a Produção
PROGRAMAÇÃO DA 1ª ETAPA 3º ANO LÍNGUA PORTUGUESA MARCÍLIA. CONTEÚDOS: Leitura e compreensão de textos - Gêneros
 PROGRAMAÇÃO DA 1ª ETAPA MARCÍLIA 3º ANO LÍNGUA PORTUGUESA Suprime a esperança de chegar e ocultam-se as forças para andar. Santo Agostinho Livros: 1. Português Linguagens 2 William Cereja e Thereza Cochar
PROGRAMAÇÃO DA 1ª ETAPA MARCÍLIA 3º ANO LÍNGUA PORTUGUESA Suprime a esperança de chegar e ocultam-se as forças para andar. Santo Agostinho Livros: 1. Português Linguagens 2 William Cereja e Thereza Cochar
ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE? UM ESTUDO DO HUMOR E DO ESTEREÓTIPO DO CASAMENTO EM TIRA CÔMICA
 Página 407 de 491 ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE? UM ESTUDO DO HUMOR E DO ESTEREÓTIPO DO CASAMENTO EM TIRA CÔMICA Poliana Miranda Sampaio Almeida (PPGLin /UESB) Adilson Ventura (PPGLin/UESB) RESUMO Este trabalho
Página 407 de 491 ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE? UM ESTUDO DO HUMOR E DO ESTEREÓTIPO DO CASAMENTO EM TIRA CÔMICA Poliana Miranda Sampaio Almeida (PPGLin /UESB) Adilson Ventura (PPGLin/UESB) RESUMO Este trabalho
4.3 A solução de problemas segundo Pozo
 39 4.3 A solução de problemas segundo Pozo Na década de noventa, a publicação organizada por Pozo [19] nos dá uma visão mais atual da resolução de problemas. A obra sai um pouco do universo Matemático
39 4.3 A solução de problemas segundo Pozo Na década de noventa, a publicação organizada por Pozo [19] nos dá uma visão mais atual da resolução de problemas. A obra sai um pouco do universo Matemático
Coesão e Coerência Textuais
 Universidade Estadual de Feira de Santa Departamento de Tecnologia Curso de Engenharia de Computação Coesão e Coerência Textuais Profª. Michele Fúlvia Angelo mfangelo@ecomp.uefs.br Construção de textos:
Universidade Estadual de Feira de Santa Departamento de Tecnologia Curso de Engenharia de Computação Coesão e Coerência Textuais Profª. Michele Fúlvia Angelo mfangelo@ecomp.uefs.br Construção de textos:
Discurso e texto. L. PORTUGUESA 1ª série do Ensino Médio Professora Marianna Aguiar
 Discurso e texto L. PORTUGUESA 1ª série do Ensino Médio Professora Marianna Aguiar Discurso e texto: contexto de produção, circulação e recepção de textos. A linguagem é uma prática social humana de interação
Discurso e texto L. PORTUGUESA 1ª série do Ensino Médio Professora Marianna Aguiar Discurso e texto: contexto de produção, circulação e recepção de textos. A linguagem é uma prática social humana de interação
LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS EM TURMAS DE ENSINO MÉDIO
 LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS EM TURMAS DE ENSINO MÉDIO Ana Rita Sabadin Bruna Bernardon Caroline Gasparini Franci Lucia Favero Universidade de Passo Fundo RS Iniciação à docência no contexto das relações
LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS EM TURMAS DE ENSINO MÉDIO Ana Rita Sabadin Bruna Bernardon Caroline Gasparini Franci Lucia Favero Universidade de Passo Fundo RS Iniciação à docência no contexto das relações
sábado, 11 de maio de 13 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO LEITURA, INTERAÇÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS Introdução l A linguagem, por realizar-se na interação verbal dos interlocutores,
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO LEITURA, INTERAÇÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS Introdução l A linguagem, por realizar-se na interação verbal dos interlocutores,
Agenealogia dos Estudos Culturais é objeto de dissenso
 Cinqüentenário de um discurso cultural fundador WILLIAMS, R. Culture and society 1780-1950. [Londres, Longman, 1958]. Cultura e sociedade. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1969. Agenealogia dos Estudos
Cinqüentenário de um discurso cultural fundador WILLIAMS, R. Culture and society 1780-1950. [Londres, Longman, 1958]. Cultura e sociedade. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1969. Agenealogia dos Estudos
A PRÁTICA PEDAGÓGICA PAUTADA NA COOPERAÇÃO
 A PRÁTICA PEDAGÓGICA PAUTADA NA COOPERAÇÃO Prática pedagógica é uma ação fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Na prática pedagógica pode estar os interesses e divergências da sociedade. Representa
A PRÁTICA PEDAGÓGICA PAUTADA NA COOPERAÇÃO Prática pedagógica é uma ação fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Na prática pedagógica pode estar os interesses e divergências da sociedade. Representa
Projeto Pedagógico Qual caminho deve seguir para obter uma infância feliz? Como fazer para compreender a vida em seu momento de choro e de riso?
 Projeto de Leitura Título: Maricota ri e chora Autor: Mariza Lima Gonçalves Ilustrações: Andréia Resende Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza Apresentação O livro apresenta narrativa em versos
Projeto de Leitura Título: Maricota ri e chora Autor: Mariza Lima Gonçalves Ilustrações: Andréia Resende Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza Apresentação O livro apresenta narrativa em versos
REFLEXÕES INICIAIS SOBRE LETRAMENTO
 REFLEXÕES INICIAIS SOBRE LETRAMENTO Jéssica Caroline Soares Coelho 1 Elson M. da Silva 2 1 Graduanda em Pedagogia pela UEG- Campus Anápolis de CSEH 2 Doutor em Educação e docente da UEG Introdução O objetivo
REFLEXÕES INICIAIS SOBRE LETRAMENTO Jéssica Caroline Soares Coelho 1 Elson M. da Silva 2 1 Graduanda em Pedagogia pela UEG- Campus Anápolis de CSEH 2 Doutor em Educação e docente da UEG Introdução O objetivo
A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS. Patrícia Cugler 1 Nathalia Azevedo 2, Lucas Alencar, Margareth Mara 4
 A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS Patrícia Cugler 1 Nathalia Azevedo 2, Lucas Alencar, Margareth Mara 4 1 IFRJ/Licenciando, patriciacugler@gmail.com 2 IFRJ/Licenciando,
A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS Patrícia Cugler 1 Nathalia Azevedo 2, Lucas Alencar, Margareth Mara 4 1 IFRJ/Licenciando, patriciacugler@gmail.com 2 IFRJ/Licenciando,
A PATEMIZAÇÃO NO DISCURSO POLÍTICO ESTUDO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA EMOÇÃO EM PRÁTICAS DISCURSIVAS DO EX-PRESIDENTE LULA
 A PATEMIZAÇÃO NO DISCURSO POLÍTICO ESTUDO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA EMOÇÃO EM PRÁTICAS DISCURSIVAS DO EX-PRESIDENTE LULA Nome do Aluno 1 : SONIA REGINA PEREIRA DA CUNHA Nome do Orientador 2 : JUSCÉIA APARECIDA
A PATEMIZAÇÃO NO DISCURSO POLÍTICO ESTUDO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA EMOÇÃO EM PRÁTICAS DISCURSIVAS DO EX-PRESIDENTE LULA Nome do Aluno 1 : SONIA REGINA PEREIRA DA CUNHA Nome do Orientador 2 : JUSCÉIA APARECIDA
Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: ( X ) Resumo ( ) Relato de Caso
 Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: ( X ) Resumo ( ) Relato de Caso Desvelando o texto: o trabalho com implícitos em anúncios publicitários AUTOR PRINCIPAL: Sabrina Zamin Vieira CO-AUTORES:
Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: ( X ) Resumo ( ) Relato de Caso Desvelando o texto: o trabalho com implícitos em anúncios publicitários AUTOR PRINCIPAL: Sabrina Zamin Vieira CO-AUTORES:
TÍTULO: A IRONIA E A CONSTRUÇÃO DE UM ETHOS FEMINISTA NO DISCURSO LITERÁRIO DE JANE AUSTEN
 TÍTULO: A IRONIA E A CONSTRUÇÃO DE UM ETHOS FEMINISTA NO DISCURSO LITERÁRIO DE JANE AUSTEN CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: LETRAS INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCA AUTOR(ES):
TÍTULO: A IRONIA E A CONSTRUÇÃO DE UM ETHOS FEMINISTA NO DISCURSO LITERÁRIO DE JANE AUSTEN CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: LETRAS INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCA AUTOR(ES):
Capítulo 5 Conclusão
 Capítulo 5 Conclusão O título desta dissertação Apelos que falam ao coração: o discurso publicitário revelador de aspectos da cultura brasileira evidenciados no discurso publicitário e sua aplicabilidade
Capítulo 5 Conclusão O título desta dissertação Apelos que falam ao coração: o discurso publicitário revelador de aspectos da cultura brasileira evidenciados no discurso publicitário e sua aplicabilidade
Jornal Oficial do Centro Acadêmico da Universidade Vale do Acaraú.
 Jornal Oficial do Centro Acadêmico da Universidade Vale do Acaraú. Uvinha outubro/novembro de 2012. Editorial: Uvinha Olá, estimados leitores. Essa edição do jornal Uvinha está muito interessante, pois
Jornal Oficial do Centro Acadêmico da Universidade Vale do Acaraú. Uvinha outubro/novembro de 2012. Editorial: Uvinha Olá, estimados leitores. Essa edição do jornal Uvinha está muito interessante, pois
OS DIFERENTES CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE PALAVRAS EM GRAMÁTICAS ESCOLARES
 OS DIFERENTES CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE PALAVRAS EM GRAMÁTICAS ESCOLARES Maria Luiza Casado Silva casadoluiza01@gmail.com Luana Lima Cabral da Silva luannnalima78@gmail.com Universidade
OS DIFERENTES CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE PALAVRAS EM GRAMÁTICAS ESCOLARES Maria Luiza Casado Silva casadoluiza01@gmail.com Luana Lima Cabral da Silva luannnalima78@gmail.com Universidade
Guia de carreiras Newton Publicidade e Propaganda 11
 Guia de carreiras Newton Publicidade e Propaganda 11 Introdução O curso de Publicidade e Propaganda é voltado para o conhecimento de como a comunicação pode ser trabalhada para que alguém seja convencido,
Guia de carreiras Newton Publicidade e Propaganda 11 Introdução O curso de Publicidade e Propaganda é voltado para o conhecimento de como a comunicação pode ser trabalhada para que alguém seja convencido,
Linguagem não é só comunicação / Sírio Possenti. Caro Professor:
 1 Caro Professor: Essas atividades pós-exibição são a quinta e a sexta, de um conjunto de 7 propostas, que têm por base o primeiro episódio do programa de áudio Quem ri seus males espanta. As atividades
1 Caro Professor: Essas atividades pós-exibição são a quinta e a sexta, de um conjunto de 7 propostas, que têm por base o primeiro episódio do programa de áudio Quem ri seus males espanta. As atividades
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO ESPAÇO SOCIAL PARA A MANIFESTAÇÃO DE IDEIAS
 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO ESPAÇO SOCIAL PARA A MANIFESTAÇÃO DE IDEIAS AZAMBUJA, Cintia Victória 1 ; WEBLER, Darlene Arlete 2 1 Pós-Graduanda do Curso de Especialização em Línguística e Ensino
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO ESPAÇO SOCIAL PARA A MANIFESTAÇÃO DE IDEIAS AZAMBUJA, Cintia Victória 1 ; WEBLER, Darlene Arlete 2 1 Pós-Graduanda do Curso de Especialização em Línguística e Ensino
A sua revista eletrônica A ANÁLISE SEMIOLINGÜISTICA DO DISCURSO DE INFORMAÇÃO MIDIATICO
 A sua revista eletrônica A ANÁLISE SEMIOLINGÜISTICA DO DISCURSO DE INFORMAÇÃO MIDIATICO Giani David Silva 1 A distinção entre língua e discurso pode ser vista já em Benveniste (1966; p. 35) quando ele
A sua revista eletrônica A ANÁLISE SEMIOLINGÜISTICA DO DISCURSO DE INFORMAÇÃO MIDIATICO Giani David Silva 1 A distinção entre língua e discurso pode ser vista já em Benveniste (1966; p. 35) quando ele
HOMOPHOBIA NA ESCOLA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA PAUTADO EM TEMÁTICAS ATUAIS
 HOMOPHOBIA NA ESCOLA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA PAUTADO EM TEMÁTICAS ATUAIS Arthur Cardoso de Andrade; Maria Eduarda Paz dos Santos; Raniel Cabral de Luna. Orientador: Jessica Kelly Sousa
HOMOPHOBIA NA ESCOLA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA PAUTADO EM TEMÁTICAS ATUAIS Arthur Cardoso de Andrade; Maria Eduarda Paz dos Santos; Raniel Cabral de Luna. Orientador: Jessica Kelly Sousa
MATRIZ DE REFERÊNCIA LÍNGUA PORTUGUESA SADEAM 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 MATRIZ DE REFERÊNCIA LÍNGUA PORTUGUESA SADEAM 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMÍNIOS COMPETÊNCIAS DESCRITORES D01 Distinguir letras de outros sinais gráficos. Reconhecer as convenções da escrita. D02 Reconhecer
MATRIZ DE REFERÊNCIA LÍNGUA PORTUGUESA SADEAM 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMÍNIOS COMPETÊNCIAS DESCRITORES D01 Distinguir letras de outros sinais gráficos. Reconhecer as convenções da escrita. D02 Reconhecer
A PONTUAÇÃO COMO ASPECTO RELEVANTE PARA A COERÊNCIA TEXTUAL: ANÁLISE DE POSTAGENS DO FACEBOOK
 Página 353 de 492 A PONTUAÇÃO COMO ASPECTO RELEVANTE PARA A COERÊNCIA TEXTUAL: ANÁLISE DE POSTAGENS DO FACEBOOK Graciethe da Silva de Souza (PPGLin/UESB/FAPESB) Márcia Helena de Melo Pereira (DELL / PPGLin
Página 353 de 492 A PONTUAÇÃO COMO ASPECTO RELEVANTE PARA A COERÊNCIA TEXTUAL: ANÁLISE DE POSTAGENS DO FACEBOOK Graciethe da Silva de Souza (PPGLin/UESB/FAPESB) Márcia Helena de Melo Pereira (DELL / PPGLin
Se você ainda não tem clientes, não tem problemas! Você pode criar um Mapa de Empatia baseada em uma audiência mínima viável:
 MAPA DE EMPATIA O que é? O mapa de Empatia é uma ferramenta visual, que te ajuda a descrever o perfil de uma Pessoa ou de um grupo de pessoas. O Mapa de Empatia permite que você estruture Uma verdadeira
MAPA DE EMPATIA O que é? O mapa de Empatia é uma ferramenta visual, que te ajuda a descrever o perfil de uma Pessoa ou de um grupo de pessoas. O Mapa de Empatia permite que você estruture Uma verdadeira
