Efeitos da presença e distância de poleiros artificiais na dispersão de sementes de uma área degradada em Irati, Paraná
|
|
|
- Rosa Amaro di Azevedo
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Acta Biológica Catarinense 2018 Maio-Ago;5(2): Efeitos da presença e distância de poleiros artificiais na dispersão de sementes de uma área degradada em Irati, Paraná Effects of presence and distance of artificial perches on seed dispersal in a degraded area in Irati, Paraná Guilherme José MORES 1, 2 & Rogério BOBROWSKI¹ RESUMO O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a contribuição de poleiros artificiais na chuva de sementes em área degradada no campus da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), em Irati (PR), e o efeito da distância da floresta e da sazonalidade na dispersão das sementes. Para tal foram instaladas dez esteiras de coleta no interior de remanescente florestal e 80 em área degradada adjacente à floresta, a diferentes distâncias da floresta, sendo a metade das esteiras com poleiros de 4 m de altura. Constatou-se diferença significativa em relação a biomassa, número, peso e diversidade de sementes entre as esteiras com e sem poleiro. O fator distância do poleiro à floresta mostrou-se significativamente diferente, com maior número de sementes na distância de 5 m. Quanto à comparação dos meses de coleta, houve diferença expressiva para os tratamentos com poleiro apenas para a variável biomassa. O número de sementes foi maior nos meses de outubro, novembro e fevereiro, enquanto em novembro e dezembro se constatou maior diversidade de sementes. A síndrome de dispersão zoocórica e a diversidade de sementes foram maiores nas esteiras com poleiros. Os poleiros artificiais mostraram-se úteis para aumentar a diversidade de espécies e a quantidade de material depositado, o que pode auxiliar na recuperação de áreas degradadas. Palavras-chave: chuva de sementes; mata de araucária; restauração florestal; riqueza de espécies. Recebido em: 3 fev Aceito em: 19 abr ABSTRACT The contribution of artificial perches in seed rain in a degraded area at the Unicentro campus in Irati, Paraná, Brazil, was evaluated. The effect of forest distance and seasonality on seed dispersal was also evaluated. Ten collection mats were installed in the interior of forest remnants and 80 in degraded areas adjacent to the forest, at different distances from the forest, with half of the mats with 4.0 m high perches. It was observed a significant difference in relation to the biomass, number, weight and seed diversity between the mats with and without perch. The distance factor of the perch to the forest was significantly different, with a higher number of seeds in the distance of 5.0 m. Regarding the comparison of the months of collection, there was a significant difference for the perch treatments, but only for the biomass variable. The number of seeds was higher in the months of October, November and February, whereas in November and December it was verified a greater diversity of seeds. The zoocoric dispersion syndrome was higher in mats with perches, as well as the seed diversity. Artificial perches have been shown to increase species diversity and the amount of deposited material, which may aid in the recovery of degraded areas. Keywords: Araucaria forest; forest restoration; seed rain; species richness. 1 Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), BR 153, km 7, s/n, Riozinho CEP , Irati, PR, Brasil. 2 Autor para correspondência: guilhermejmores@gmail.com.
2 107 INTRODUÇÃO O advento da Revolução Industrial intensificou o uso das reservas de combustíveis fósseis e a degradação de áreas naturais, culminando na deterioração dos ecossistemas, pelo menos com algum grau de intervenção humana, direta ou indiretamente. No Brasil a destruição dos ecossistemas ocorre desde o período colonial, quando se iniciou a intensa exploração do pau-brasil. Em seguida vieram os ciclos do café e da cana-de-açúcar, que necessitavam de grandes áreas para o plantio, induzindo à devastação do bioma mata atlântica (PIOLLI et al., 2004). Na região centro-sul do estado do Paraná, a floresta ombrófila mista (FOM), um dos ecossistemas associados ao bioma mata atlântica, sofreu intensa degradação em virtude da desenfreada exploração do pinheiro-do-paraná (araucária), bem como de outras espécies, para a produção de carvão (MAZZA, 2006). Os impactos sofridos pelos ecossistemas naturais estão relacionados ao consumo acelerado dos recursos naturais em proporções que o ambiente não consegue renovar (MORAES & JORDÃO, 2002), o que acaba por originar as mais diferentes formas de áreas degradadas. As primeiras tentativas de recuperação de áreas degradadas preocupavam-se em fazer o plantio de árvores, nativas ou não, fundamentando-se no propósito de proteção do ambiente e com o objetivo de reduzir o dano já causado (BELLOTTO et al., 2007). No entanto a recuperação deve visar também à conservação da biodiversidade de animais e vegetais, à melhoria na qualidade de vida e à proteção ambiental (VIANA & PINHEIRO, 1998). Assim, é preciso optar por estratégias que possam promover a restauração da floresta original, notadamente onde as exigências legais direcionem a recuperação da área para as características do ecossistema prístino. Nesse sentido, há diversos métodos de restauração e, embora cada um possua abordagens distintas, podem ser complementares. Como técnicas de restauração ecossistêmica citam-se: nucleação por adensamento, chuva de sementes e poleiros artificiais (MARTINS, 2009). A nucleação consiste na formação de núcleos de diversidade para atrair animais que participam da dispersão das sementes (REIS et al., 1999). A chuva de sementes, que ocorre naturalmente, é um indicador da potencialidade da floresta natural em fornecer sementes para a recomposição do ecossistema (TRES et al., 2007) e pode ser incrementada. No processo de nucleação, o emprego de poleiros (naturais ou artificiais) é uma das complementações que podem ser utilizadas. Os poleiros naturais são compostos pelo cultivo de espécies arbóreas de rápido crescimento e com arquitetura de copa que favoreça o pouso de animais dispersores. Os poleiros artificiais são confeccionados com varas de bambu, árvores mortas ou toras, com estruturas que possibilitem o pouso (MARTINS, 2009). A eficiência dos poleiros artificiais depende da área a oferecer abrigo e pouso, bem como da disponibilidade de alimento (MIKICH & POSSETTE, 2007). Os poleiros artificiais têm uma importante função nucleadora, uma vez que servem de suporte para o descanso das aves, contribuindo para a dispersão da chuva de sementes (SILVEIRA et al., 2015). Segundo Bechara et al. (2007) e Bocchese et al. (2008), o uso de poleiros artificiais, como torres de cipós e árvores mortas, apresentou resultados significativos na quantidade de sementes nas diferentes estruturas, comprovando sua eficácia como poleiros. Bocchese et al. (2008) relataram não haver diferença significativa entre a chuva de sementes obtida em poleiros naturais (árvores isoladas) e em poleiros artificiais, em área de pastagem circundada por três fragmentos de savana florestada na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tais autores afirmaram que a utilização conjunta dessas duas formas de poleiros tende a atrair maior diversidade de avifauna e, por consequência, ocorre maior dispersão de sementes no local. Da mesma forma, Dias et al. (2014) constataram que os poleiros artificiais podem incrementar em até 118 vezes o aporte de sementes zoocóricas na área a restaurar e ressaltaram que, para isso, as estruturas precisam estar o mais próximo possível da fonte de propágulos. Os autores sugerem que sejam realizados estudos para avaliar distâncias superiores a 35 m da borda da floresta, assim como avaliações do formato e altura do poleiro. Poucos trabalhos relacionados ao emprego de poleiros artificiais analisaram a influência da distância da fonte de propágulos e as características do material depositado nas esteiras (serapilheira e sementes). Portanto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a influência dos poleiros artificiais na
3 108 chuva de sementes, em relação à distância da floresta e à sazonalidade, bem como a caracterização do material depositado nas esteiras, a fim de verificar o potencial de recuperação de uma área degradada. MATERIAL E MÉTODOS A presente pesquisa foi realizada no campus da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), em Irati, Paraná, localizado no extremo sul da área urbana, no bairro Riozinho, coordenadas 25º28 02 S e 50º39 04 W. A cidade de Irati está situada no segundo planalto paranaense, a 150 km da capital Curitiba. Por ter cobertura do ecossistema floresta ombrófila mista, está inserida no bioma mata atlântica. Segundo a classificação climática de Köppen, o clima de Irati é do tipo Cfb (temperado úmido), apresentando inverno com ocorrência de geadas frequentes e severas, com verão ameno e sem estação seca definida. A temperatura média anual é de 18ºC, a precipitação mensal em torno de 194 mm e a umidade relativa do ar é de 79,6% (ANDRADE et al., 2010). A área experimental desta investigação tem aproximadamente m² e situa-se ao lado de um remanescente de floresta nativa em estágio médio de sucessão secundária. Nas imediações há aproximadamente dois hectares de solo exposto e, a 150 m de distância, um plantio experimental de Pinus taeda L., com 13 anos de idade (figura 1). A floresta em foco apresenta espécies arbóreas e herbáceas, contemplando várias regenerações de espécies nativas, mas com ocorrência de exóticas invasoras. Entre as espécies encontradas nesse remanescente florestal podem-se citar: Schinus terebinthifolia Raddi (aroeira), Bauhinia forficata Link (pata-de-vaca), Zanthoxylum rhoifolium Lam (mamica-de-porca), Casearia sylvestris Sw (cafezeiro-domato), Casearia decandra Jacq (guaçatunga-branca), Allophylus edulis (A. St-Hil., Cambess. & A. Juss.) Hieron. ex Niederl (vacum) e Hovenia dulcis Thunb (uva-do-japão). A área onde foi implantado o experimento com poleiros apresenta estágio inicial de regeneração, com predomínio de espécies herbáceas e arbustivas, com destaque para Baccharis dracunculifolia DC. (alecrim-do-campo), com altura média de 1,5 m. O solo nesse local caracteriza-se como neossolo litólico, por ser pouco desenvolvido, com horizonte O, não ultrapassando 0,50 m, além da presença de folhelhos após a rasa camada de material orgânico, caracterizando horizonte C. Figura 1 Localização da área experimental e entorno imediato.
4 109 O experimento implantado na área degradada consistiu em esteiras de coleta de sementes, com ou sem poleiros artificiais inseridos no centro da estrutura, para avaliar a contribuição desse processo na recuperação da área, a partir da chuva de sementes. Um conjunto de 20 esteiras, espaçadas entre si 5 m, alternadas com e sem poleiro, foi instalado a distâncias fixas do remanescente florestal a 5 m, a 20 m, a 35 m e a 50 m, totalizando 80 esteiras (40 sem poleiro e 40 com poleiro). No interior do remanescente florestal, colocaram-se dez coletores, sem poleiros, em linha e distanciados 10 m, a uma distância de 5 m da borda da floresta. Adotou-se esse procedimento para possibilitar a realização de comparativos da quantidade e diversidade de sementes depositadas nas esteiras dentro da floresta e na área experimental (figura 2). Figura 2 Esquema de distribuição espacial das esteiras de coleta com e sem poleiro artificial. As estruturas para coleta de sementes foram confeccionadas e adaptadas com base no modelo proposto por Martins (2009), o qual descreve diversos materiais que podem ser usados (figura 3). Para os coletores, o autor sugere tecidos, malhas finas de náilon ou tela de sombreamento; para os poleiros, varas de bambu, árvores mortas ou postes de eucalipto (com estruturas para o pouso dos pássaros), com dimensões que variam de 5 a 10 m de altura. As esteiras coletoras foram feitas com tecido tule, permeável a água, com dimensão de 0,80 x 0,80 m (área de 0,64 m 2 ), fixado nas quatro extremidades com bambus e barbantes. No centro do tecido colocou-se pedra brita, a fim de que as sementes fossem direcionadas para o centro, por gravidade, evitando perdas pela ação do vento. Os bambus para suporte da esteira possuíam 1,30 m de comprimento, ficando enterrados 0,30 m de profundidade e restando 1 m de altura do solo (figura 3).
5 110 Esteira coletora sem poleiro Esteira coletora com poleiro Figura 3 Modelo de esteira coletora utilizado na pesquisa, com e sem poleiro artificial. Os poleiros artificiais foram construídos com bambus coletados no campus da universidade, com 4,5 m de altura, enterrados a 0,50 m de profundidade. Os galhos para pouso das aves representavam em média 0,40 m de raio, com o intuito de não ultrapassar a dimensão dos coletores. Os galhos inferiores estavam posicionados a uma altura de 0,50 m do coletor, havendo em média oito galhos em cada poleiro. Após a implantação dos coletores, realizou-se a coleta das sementes durante os sete meses de condução do experimento, com início em agosto de Todo material coletado nas esteiras foi levado ao laboratório, para pesagem e separação das sementes e das impurezas (galhos, sementes, fezes, insetos, flores etc.). As sementes foram pesadas, contadas, separadas por tipo e identificadas por espécie, quando possível. Logo após, foram semeadas em bandejas com substrato comercial, para germinação em casa de vegetação climatizada. Após a germinação e o crescimento das plântulas, efetuou-se a identificação, com o objetivo de avaliar a quantidade e a diversidade das espécies dispersadas na área de estudo. Para a análise estatística dos dados, considerou-se o experimento como um delineamento em blocos casualizados (DBC), em duas etapas de análise. Na primeira etapa, as distâncias de instalação das esteiras em relação ao remanescente florestal foram tidas como blocos, dentro dos quais estavam inseridos os tratamentos (esteiras com e sem poleiro), com cinco repetições de duas estruturas cada. Na segunda etapa de análise, os meses de coleta foram tratados como blocos, e dentro de cada qual se consideraram os mesmos tratamentos da etapa anterior. Realizou-se a rotina de análise por intermédio do programa estatístico Assistat 7.7, e efetuou-se a análise de variância após normalização dos dados por meio de transformação pela função A comparação de médias foi feita pelo método de Tukey, a 5% de probabilidade de erro.
6 111 RESULTADOS E DISCUSSÃO Durante os sete meses de coleta se contabilizaram sementes, das quais (69,58%) provieram de síndrome de dispersão zoocórica e 553 (30,42%) de síndrome de dispersão anemocórica (tabela 1). Entre elas há espécies colonizadoras e pioneiras pertencentes ao grupo das arbóreas, herbáceas e gramíneas, com variação entre as famílias botânicas identificadas. Tabela 1 Variabilidade da composição de biomassa, número de sementes e riqueza de espécies nas esteiras de coleta ao longo do período experimental. Área experimental Remanescente florestal Meses de Biomassa Número de Riqueza de Biomassa Número de Riqueza de coleta (g) sementes espécies (g) sementes espécies Ago./ , , Set./ , , Out./ , , Nov./ , , Dez./ , , Jan./ , , Fev./ , , Total 444, , A maior quantidade de biomassa média observada nos meses de novembro, dezembro e janeiro coincide com as respostas fisiológicas de crescimento e reprodução das espécies florestais, uma vez que a época de coleta, o tipo de cobertura florestal e o estágio sucessional influenciam a quantidade de biomassa (CALDEIRA et al., 2008). A biomassa mensurada neste experimento é de grande importância para a qualidade do solo. Sua decomposição depende das condições locais como microclima, tipo de solo, vegetação, fauna e microrganismos decompositores. Dessa forma, a nucleação adotada como técnica de recuperação de áreas degradadas pode atuar na diversificação local, envolvendo também os fatores do solo, de modo a atrair organismos decompositores, consumidores e produtores (REIS et al., 2003). Dos meses avaliados, outubro, novembro e dezembro destacaram-se por apresentar o maior número de sementes coletadas (tabela 1). Porém em outubro e fevereiro a riqueza foi baixa, com poucas espécies, em sua maioria gramíneas com dispersão anemocórica. Por outro lado, os meses de novembro e dezembro apresentaram maior riqueza de sementes, tanto na floresta como nas esteiras com poleiro, com até sete espécies diferentes, em sua maioria relacionadas à zoocoria (figura 4). Figura 4 Riqueza das sementes nas esteiras de coleta, em diferentes estruturas, em relação aos meses de coleta.
7 112 Para a primeira etapa de análise estatística (tabela 2), constatou-se diferença significativa entre as distâncias de instalação das esteiras de coleta, para as características biomassa e número de sementes. Também houve diferença expressiva entre os dados coletados nos tratamentos com e sem poleiro artificial, exceto para a variável biomassa, pois o aporte desse tipo de matéria é influenciado pelas condições de vento incidentes no local. Essa diferença no aporte de sementes encontradas nos poleiros corrobora os resultados encontrados por Melo (1997), Ceccon et al. (2007), Dias (2008) e Mussi (2010). Tabela 2 Resultados obtidos para a primeira etapa de análise estatística, adotando as distâncias em relação à floresta como blocos. Fonte de variação GL QM Fonte de variação GL QM Biomassa (g) Riqueza de espécies Bloco 3 29,7845 * Bloco 3 0,70243 ns Tratamento 1 3,3443 ns Tratamento 1 18,5682 ** Resíduo 3 1,2502 Resíduo 3 0,2112 Número de sementes Peso das sementes (g) Bloco 3 21,4861 * Bloco 3 0,03115 ns Tratamento 1 123,8903 ** Tratamento 1 7,9854 ** Resíduo 3 1,47934 Resíduo 3 0,1140 * diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade (p < 0,05) ** diferença significativa ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01) ns diferença não significativa (p > 0,05) Na distância de 5 m da borda da floresta, notou-se maior peso de biomassa, e em seguida nas distâncias de 50 m, 35 m e 20 m, em virtude do maior número de sementes (figura 5). Silveira et al. (2015) também encontraram maior peso da biomassa em estrutura com poleiros, por causa da quantidade das sementes coletadas. Quanto ao número de sementes, houve diferença significativa entre as distâncias, sendo 5 m a distância com maior representatividade (figura 5). A B Figura 5 Distribuição da biomassa (A) e riqueza de espécies (B) nas esteiras de coleta, ao longo das diferentes distâncias de análise experimental. Colunas de dados seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si (p > 0,05). Para as distâncias de 5 m e 50 m, verificou-se maior riqueza de espécies (figura 5B), provavelmente porque a primeira linha (5 m) estava mais próxima do remanescente florestal e facilitou a visitação de aves, em virtude da preferência destas por pousar em elementos vegetais mais altos. Melo (1997) explica que a dispersão das sementes pode ser afetada pela complexidade estrutural da vegetação e pelos padrões de voo e forrageamento das aves. Em todos os meses de coleta a floresta apresentou maior peso de biomassa em comparação às esteiras instaladas a diferentes distâncias, mas sem diferir expressivamente da condição esteira
8 113 com poleiro. A mesma condição foi observada para a diversidade de espécies ou sementes, exceto para o mês de janeiro. No tocante ao número de sementes, o remanescente florestal destacou-se, seguido das estruturas com poleiro. Fato relevante é que a dispersão zoocórica contribuiu tanto para os dados observados na floresta quanto para aqueles nas esteiras de coleta com poleiro (figura 6). Figura 6 Número de sementes nas esteiras de coleta com e sem poleiro artificial, em relação ao tipo de síndrome de dispersão. Entretanto a última linha de esteiras, a 50 m da floresta, também foi uma opção de pouso das aves, talvez por ser a primeira opção de pouso a estar na bordadura da área experimental (figura 3) e adjacente a uma área aberta, com solo parcialmente desnudo e vegetação rasteira. Apesar de corresponder a um aumento na quantidade e diversidade de sementes, tal incremento não pode ser tomado como um padrão positivo de efeito da distância em relação à bordadura da floresta, pois é o ponto limítrofe do padrão estrutural da vegetação considerada no experimento. A contribuição da anemocoria mostrou-se expressiva no tratamento sem poleiro, pois em 100% das esteiras as sementes coletadas foram avaliadas como pertencentes a esse tipo. Por outro lado, as estruturas com poleiro apresentaram 12,76% de sementes anemocóricas e 87,24% zoocóricas (figura 6). Tomazi et al. (2010) e Queiroz et al. (2013) acharam resultados semelhantes. Tomazi et al. (2010), examinando uma área de pastagem abandonada em remanescente de floresta ombrófila densa no município de Gaspar (SC), constataram que apenas 19,05% das sementes foram dispersas pela síndrome zoocórica. Já Queiroz et al. (2013), ao estudar poleiros artificiais em uma área degradada no cerrado em Urutaí (GO), observaram que 55% das sementes foram dispersas por essa síndrome. Nas esteiras de coleta com poleiro artificial notou-se significativa contribuição da avifauna dispersora, indicando sua importância para a viabilidade do uso da técnica de poleiros artificiais para a recuperação do local, tanto em termos de aporte de sementes quanto em diversificação de espécies. Queiroz et al. (2013) encontraram resultados parecidos. Em sua pesquisa a dispersão zoocórica foi superior entre as unidades amostrais de coletores com poleiro em comparação à testemunha, com coletores sem poleiro. Para o segundo procedimento de análise estatística, utilizando os meses como blocos (tabela 3), constatou-se diferença significativa entre os meses de coleta apenas para a variável biomassa, com maiores valores para as esteiras de coleta com poleiros artificiais. A variação observada entre os meses de coleta é natural, pois há sazonalidade na formação da biomassa que chega ao solo (SILVEIRA et al., 2015). Com relação aos tratamentos testados (esteiras com poleiro e esteiras sem poleiro), verificouse diferença expressiva para todas as variáveis avaliadas, exceto para o peso das sementes. A diferença significativa para os dados de número de sementes e número de espécies evidencia mais
9 114 uma vez a eficácia dos poleiros artificiais como um método para a recuperação da área degradada. Silveira et al. (2015) também confirmaram a contribuição dos poleiros, em experimento que comparava a eficiência de poleiros em relação ao enleiramento de galhos. Para esses autores, a utilização de poleiros artificiais aumentou significativamente o número de sementes, em virtude da visitação de aves, sobretudo da família Columbidae. Tabela 3 Resultados obtidos para a segunda etapa de análise estatística, adotando os meses de coleta de dados como blocos. Fonte de variação GL QM Fonte de variação GL QM Biomassa (g) Riqueza de espécies Bloco 6 8,9094 ** Bloco 6 0,6420 ns Tratamento 1 10,2943 * Tratamento 1 12,9195 * Resíduo 6 0,90046 Resíduo 6 1,96332 Número de sementes Peso das sementes (g) Bloco 6 20,7555 ns Bloco 6 0,6875 ns Tratamento 1 151,8199 * Tratamento 1 3,8872 ns Resíduo 6 14,04800 Resíduo 6 0,83211 * diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade (p < 0,05) ** diferença significativa ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01) ns diferença não significativa (p > 0,05) Os meses com maior aporte no número de sementes nas esteiras de coleta sem poleiro foram outubro e fevereiro, enquanto para as esteiras com poleiro artificial foram outubro, novembro, dezembro e fevereiro. Porém, para os meses de novembro e dezembro, percebeu-se maior riqueza de espécies, visto que a principal síndrome de dispersão foi a zoocórica (figura 7). Pode-se observar sazonalidade na riqueza das sementes em decorrência do período de precipitação e do padrão de frutificação das espécies que fazem parte da composição florestal do entorno (SILVEIRA et al., 2015). Resultados semelhantes também foram obtidos por Almeida (2008) em área experimental em floresta estacional semidecidual, em Fênix (PR), em que os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro apresentaram maior aporte de sementes nas unidades amostrais que continham coletores com poleiros artificiais. Em relação ao mês de fevereiro, grande parte das sementes teve características de dispersão pelo vento, exceto para os dados coletados no remanescente florestal. Da mesma forma, no trabalho realizado por Tomazi et al. (2010), o mês de fevereiro foi aquele com maior número de sementes, porém com baixa riqueza de espécies e em sua maioria de dispersão anemocórica. Figura 7 Número de sementes coletadas nas diferentes estruturas ao longo dos meses avaliados.
10 115 Das sementes coletadas nas esteiras e colocadas para germinar durante o período de condução desta pesquisa, houve germinação de mudas das espécies florestais indicadas na tabela 4, além de outras três plantas lenhosas e duas herbáceas que não foram identificadas. Tabela 4 Lista de espécies identificadas durante o período de coleta. Família/espécie Nome popular Síndrome de dispersão Asteraceae Baccharis dracunculifolia DC. Vassoura Anemocoria Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. Cocão Zoocoria Fabaceae Machaerium stipitatum (DC.) Vogel Sapuvinha Anemocoria Sapindaceae Allophylus edulis (A. St-Hil., Cambess. & A. Juss.) Hieron. Vacum Zoocoria ex Niederl. Cupania vernalis Cambess. Cuvatã Zoocoria Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Cafezeiro-do-mato Zoocoria Na maioria das bandejas semeadas houve germinação de gramíneas, as quais são essenciais para a recuperação de áreas degradadas, haja vista fornecerem suporte para que outras espécies ingressem no processo de sucessão. O uso de gramíneas promove aumento nos teores de matéria orgânica, magnésio, carbono orgânico total e na capacidade de troca de cátions, fatores importantes para o estabelecimento de outras espécies (SANTOS et al., 2001). Apesar de ter sido coletada somente nos meses de novembro e dezembro, com um total de 180 sementes ou 9,9% do total, a espécie com maior abundância na chuva de sementes foi Allophylus edulis (A. St-Hil., Cambess. & A. Juss.) Hieron. ex Niederl. O vacum, uma espécie pioneira, está indicada para recuperação de áreas degradadas, em razão da fácil dispersão das sementes, uma vez que seu fruto é muito apreciado pelas aves (LORENZI, 2008). Apesar de o reflorestamento de Pinus taeda estar próximo da área experimental, não foram encontradas sementes da espécie nas esteiras de coleta nem havia exemplares na área experimental, embora a espécie possa dispersar sementes a partir do 8. ano de crescimento e atingir até 300 m de distância (TOMAZELLO FILHO et al., 2017). Em árvores em fase adulta, com formação de cones, a dispersão de sementes depende da direção do vento predominante, que, nesse caso, pode ter ocorrido em direção oposta ao local do experimento. Já para a outra espécie exótica invasora, Hovenia dulcis (uva-do-japão), não se observaram sementes nas esteiras de coleta porque tal espécie tem dispersão até o início do inverno, por zoocoria (LORENZI et al., 2003), e o experimento iniciou-se no mês de agosto. CONCLUSÃO Os poleiros artificiais destacaram-se como uma metodologia eficaz na dispersão de sementes na área experimental, pois foi possível verificar diferença significativa no número de sementes em comparação às esteiras de coleta sem poleiro. Da mesma forma, a diversificação de sementes também se mostrou positiva. A distância do fragmento florestal afetou significativamente o número de sementes depositadas, em virtude de haver poucas estruturas de pouso ao redor do experimento e fora do remanescente florestal, como também pelo fato de algumas espécies vegetais apresentarem a síndrome de dispersão autocórica.
11 116 Em relação ao efeito da sazonalidade, não houve diferença expressiva quanto ao número de sementes, mas apenas quanto à biomassa, o que é um aspecto importante para auxiliar o processo de recuperação de uma área degradada. Porém, para os meses em que se notou maior número de sementes e número de espécies, constatou-se maior aporte nas esteiras com poleiro, resultado influenciado pela alta produção de sementes de algumas espécies. REFERÊNCIAS Almeida, A. Chuva de sementes sob poleiros artificiais em áreas de ocorrência da floresta estacional semidecidual, Fênix PR [Trabalho de Conclusão de Curso]. Curitiba: Universidade Federal do Paraná; Andrade, A. R.; W. F. F. Roseghini & F. A. Mendonça. Análise do campo térmico da cidade de Irati/PR: primeiros experimentos para a definição do clima urbano. Revista Brasileira de Climatologia. 2010; 6(1): doi: Bechara, F. C.; E. M. Campos Filho; K. D. Barretto; V. A. Gabriel; A. Z. Antunes & A. Reis. Unidades demonstrativas de restauração ecológica através de técnicas nucleadoras de biodiversidade. Revista Brasileira de Biociências. 2007; 5(1): Bellotto, A.; R. R. Rodrigues & A. G. Nave. Principais iniciativas de restauração florestal na mata atlântica e evolução das metodologias e conceitos. In: Rodrigues, R. R.; P. H. S. Brancalion & I. Isernhagem. Pacto pela restauração da mata atlântica. Piracicaba: LERF / ESALQ; p Bocchese, R. A.; A. K. M. Oliveira; S. Favero; S. J. S. Garnés & V. A. Laura. Chuva de sementes e estabelecimento de plântulas a partir da utilização de árvores isoladas e poleiros artificiais por aves dispersoras de sementes, em área de cerrado, Mato Grosso do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Ornitologia. 2008; 16(3): Caldeira, M. V. W.; M. D. Vitorino; S. S. Schaadt; E. Moraes & R. Balbinot. Quantificação de serapilheira e de nutrientes em uma floresta ombrófila densa. Semina: Ciências Agrárias. 2008; 29(1): Ceccon, M. F.; J. V. Silva; S. B. Mikich & M. C. M. Marques. Chuva de sementes sob poleiros artificiais: efeitos da subformação florestal e do uso do solo. Anais. VII Congresso de Ecologia do Brasil. Caxambu, MG. p Dias, C. R. Poleiros artificiais como catalisadores na recuperação florestal [Trabalho de Conclusão de Curso]. Seropédica: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Dias, C. R.; F. Umetsu & T. B. Breier. Contribuição dos poleiros artificiais na dispersão de sementes e sua aplicação na restauração florestal. Ciência Florestal. 2014; 24(2): doi: org/ / Lorenzi, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. 5. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum; p. Lorenzi, H.; H. M. Souza; L. B. Bacher & M. A. V. Torres. Árvores exóticas do Brasil: madeireiras, ornamentais e aromáticas. Nova Odessa: Instituto Plantarum; p. Martins, S. V. Recuperação de áreas degradadas: ações em áreas de preservação permanente, voçorocas, taludes rodoviários e mineração. Viçosa: Aprenda Fácil; p. Mazza, C. A. S. Caracterização ambiental da paisagem da microrregião colonial de Irati e zoneamento ambiental da floresta nacional de Irati PR [Tese de Doutorado]. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos; Melo, V. A. Poleiros artificiais e dispersão de sementes por aves em uma área de reflorestamento, no estado de Minas Gerais [Tese de Doutorado]. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa; Mikich, S. B. & R. F. S. Possette. Análise quantitativa da chuva de sementes sob poleiros naturais e artificiais em floresta ombrófila mista. Pesquisa Florestal Brasileira. 2007; 55(1): Moraes, D. S. L. & B. Q. Jordão. Degradação de recursos hídricos e seus efeitos sobre a saúde humana. Revista Saúde Pública. 2002; 36(3): doi: Mussi, B. G. Poleiros artificiais como catalisadores do aporte de sementes na restauração florestal [Trabalho de Conclusão de Curso]. Seropédica: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 2010.
12 117 Piolli, A. L.; R. M. Celestini & R. Magon. Teoria e prática em recuperação de áreas degradadas: plantando a semente de um mundo melhor. Serra Negra: Secretaria de Meio Ambiente; p. Queiroz, S. É. E.; J. G. Ribeiro; W. R. F. Melo; A. P. Pelosi & A. M. Pereira Júnior. Quantificação e caracterização da chuva de sementes sob poleiros artificiais em ambiente ciliar. Enciclopédia Biosfera. 2013; 9(17): Reis, A.; F. C. Bechara; M. B. Espíndola; N. K. Vieira & L. L. Souza. Restauração de áreas degradadas: a nucleação como base para incrementar processos sucessionais. Natureza e Conservação. 2003; 1(1): Reis, A.; R. M. Zambonim & E. M. Nakazono. Recuperação de áreas degradadas utilizando a sucessão e as interações planta-animal. São Paulo: Conselho Nacional de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; p. Santos, A. C.; I. F. Silva; J. R. S. Lima; A. P. Andrade & V. R. Cavalcante. Gramíneas e leguminosas na recuperação de áreas degradadas: efeito nas características químicas de solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo. 2001; 25(4): doi: Silveira, L. P.; J. S. Souto; M. M. Damasceno; D. P. Mucida & I. M. Pereira. Poleiros artificiais e enleiramento de galhada na restauração de área degradada no semiárido da Paraíba, Brasil. Nativa. 2015; 3(3): doi: Tomazello Filho, M.; J. V. F. Latorraca; F. M. Fischer; G. I. B. Muñiz; J. L. Melandri; P. M. Stasiak; M. A. Torres; W. J. Piccion; H. A. Hoffmann & L. D. Silva. Avaliação da dispersão de sementes de Pinus taeda L. pela análise dos anéis de crescimento de árvores de regeneração natural. Floresta e Ambiente. 2017; 24(1): doi: Tomazi, A. L.; C. E. Zimmermann & R. R. Laps. Poleiros artificiais como modelo de nucleação para restauração de ambientes ciliares: caracterização da chuva de sementes e regeneração natural. Revista Biotemas. 2010; 23(3): doi: Tres, D. R.; C. S. Sant Anna; S. Basso; R. Langa; U. Ribas Jr. & A. Reis. Banco e chuva de sementes como indicadores para a restauração ecológica de matas ciliares. Revista Brasileira de Biociências. 2007; 5(1): Viana, V. M. & L. A. F. V. Pinheiro. Conservação da biodiversidade em fragmentos florestais. Série técnica. IPEF. 1998; 12(32):
PROGRAMAS DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATAS CILIARES E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
 PROGRAMAS DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATAS CILIARES E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PRADs realidade desde a sua fundação, porem sem foco da restauração dos ambientes naturais; 1990 convênio entre
PROGRAMAS DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATAS CILIARES E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PRADs realidade desde a sua fundação, porem sem foco da restauração dos ambientes naturais; 1990 convênio entre
Instituição de Fomento FEHIDRO, Fundo Estadual de Recursos Hídricos ( FEHIDRO TG 349/2009).
 O USO DAS TÉCNICAS NUCLEADORAS "POLEIRO ARTIFICIAL" E "ENLEIRAMENTO DE GALHARIA" NA RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. Nome do Autor Principal: Angela Cristina Bieras 1, 2 Nomes dos Co-autores: Rômulo Sensuline
O USO DAS TÉCNICAS NUCLEADORAS "POLEIRO ARTIFICIAL" E "ENLEIRAMENTO DE GALHARIA" NA RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. Nome do Autor Principal: Angela Cristina Bieras 1, 2 Nomes dos Co-autores: Rômulo Sensuline
QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA CHUVA DE SEMENTES SOB POLEIROS ARTIFICIAIS EM AMBIENTE CILIAR
 QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA CHUVA DE SEMENTES SOB POLEIROS ARTIFICIAIS EM AMBIENTE CILIAR Sue Éllen Ester Queiroz 1, Jonemárcio Gomes Ribeiro 2, Willany Rayane Formiga de Melo 2, Ana Paula Pelosi
QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA CHUVA DE SEMENTES SOB POLEIROS ARTIFICIAIS EM AMBIENTE CILIAR Sue Éllen Ester Queiroz 1, Jonemárcio Gomes Ribeiro 2, Willany Rayane Formiga de Melo 2, Ana Paula Pelosi
Resolução SMA - 8, de
 Resolução SMA - 8, de 7-3-2007 Altera e amplia as resoluções SMA 21 de 21-11-2001 e SMA 47 de 26-11-2003. Fixa a orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá providências correlatas.
Resolução SMA - 8, de 7-3-2007 Altera e amplia as resoluções SMA 21 de 21-11-2001 e SMA 47 de 26-11-2003. Fixa a orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá providências correlatas.
Universidade Estadual de Santa Cruz
 Universidade Estadual de Santa Cruz GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA JAQUES WAGNER - GOVERNADOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OSVALDO BARRETO FILHO - SECRETÁRIO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ ADÉLIA MARIA CARVALHO
Universidade Estadual de Santa Cruz GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA JAQUES WAGNER - GOVERNADOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OSVALDO BARRETO FILHO - SECRETÁRIO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ ADÉLIA MARIA CARVALHO
Organização da Aula. Recuperação de Áreas Degradas. Aula 2. Matas Ciliares: Nomenclatura e Conceito. Contextualização
 Recuperação de Áreas Degradas Aula 2 Prof. Prof. Francisco W. von Hartenthal Organização da Aula Conceito, Importância e Recuperação da Mata Ciliar 1.Conceitos e funções da mata ciliar 2.Cenário de degradação
Recuperação de Áreas Degradas Aula 2 Prof. Prof. Francisco W. von Hartenthal Organização da Aula Conceito, Importância e Recuperação da Mata Ciliar 1.Conceitos e funções da mata ciliar 2.Cenário de degradação
Crescimento de quatro espécies florestais submetidas a diferentes formas de manejo de Urochloa spp. em área de restauração florestal
 http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.36-66-1 Crescimento de quatro espécies florestais submetidas a diferentes formas de manejo de Urochloa spp. em área de restauração florestal Flávio A.
http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.36-66-1 Crescimento de quatro espécies florestais submetidas a diferentes formas de manejo de Urochloa spp. em área de restauração florestal Flávio A.
ANÁLISE DA CHUVA DE SEMENTES DE Eugenia verticilatta (Vell.) Angely EM FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL, FREDERICO WESTPHALEN, RS 1
 ANÁLISE DA CHUVA DE SEMENTES DE Eugenia verticilatta (Vell.) Angely EM FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL, FREDERICO WESTPHALEN, RS 1 TOSO, Lucas Donato 2 ; DICK, Grasiele 3, SOMAVILLA, Tamires 2, FELKER, Roselene
ANÁLISE DA CHUVA DE SEMENTES DE Eugenia verticilatta (Vell.) Angely EM FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL, FREDERICO WESTPHALEN, RS 1 TOSO, Lucas Donato 2 ; DICK, Grasiele 3, SOMAVILLA, Tamires 2, FELKER, Roselene
Disciplina: BI63 B ECOSSISTEMAS. Tema da aula - Distúrbios: Sucessão Ecológica: principais conceitos e aplicações.
 Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Disciplina: BI63 B ECOSSISTEMAS Tema da aula - Distúrbios: Sucessão Ecológica: principais conceitos e aplicações. http://www.usp.br/agen/bols/2000/rede517.htm
Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Disciplina: BI63 B ECOSSISTEMAS Tema da aula - Distúrbios: Sucessão Ecológica: principais conceitos e aplicações. http://www.usp.br/agen/bols/2000/rede517.htm
USO DE POLEIROS ARTIFICIAIS NA RECUPERAÇÃO ECOLÓGICA/AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS
 USO DE POLEIROS ARTIFICIAIS NA RECUPERAÇÃO ECOLÓGICA/AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS AZEVEDO, C. R. 1 ; PEREIRA, M. W. M. 2* ; PINTO, L. V. A. 3 1 Graduanda de Gestão ambiental no IFSULDEMINAS campus Inconfidentes.
USO DE POLEIROS ARTIFICIAIS NA RECUPERAÇÃO ECOLÓGICA/AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS AZEVEDO, C. R. 1 ; PEREIRA, M. W. M. 2* ; PINTO, L. V. A. 3 1 Graduanda de Gestão ambiental no IFSULDEMINAS campus Inconfidentes.
FRAGMENTOS FLORESTAIS
 FRAGMENTOS FLORESTAIS O que sobrou da Mata Atlântica Ciclos econômicos 70% da população Menos de 7,4% e mesmo assim ameaçados de extinção. (SOS Mata Atlânitca, 2008) REMANESCENTES FLORESTAIS MATA ATLÂNTICA
FRAGMENTOS FLORESTAIS O que sobrou da Mata Atlântica Ciclos econômicos 70% da população Menos de 7,4% e mesmo assim ameaçados de extinção. (SOS Mata Atlânitca, 2008) REMANESCENTES FLORESTAIS MATA ATLÂNTICA
Produção e distribuição de biomassa de Mimosa caesalpiniaefolia Benth. em resposta à adubação
 http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.51-657-1 Produção e distribuição de biomassa de Mimosa caesalpiniaefolia Benth. em resposta à adubação Camila C. da Nóbrega 1, Luan H. B. de Araújo 1,
http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.51-657-1 Produção e distribuição de biomassa de Mimosa caesalpiniaefolia Benth. em resposta à adubação Camila C. da Nóbrega 1, Luan H. B. de Araújo 1,
Cadeia Produtiva da Silvicultura
 Cadeia Produtiva da Silvicultura Silvicultura É a atividade que se ocupa do estabelecimento, do desenvolvimento e da reprodução de florestas, visando a múltiplas aplicações, tais como: a produção de madeira,
Cadeia Produtiva da Silvicultura Silvicultura É a atividade que se ocupa do estabelecimento, do desenvolvimento e da reprodução de florestas, visando a múltiplas aplicações, tais como: a produção de madeira,
Estudo 4 - Oportunidades de Negócios em Segmentos Produtivos Nacionais
 Centro de Gestão e Estudos Estratégicos Ciência, Tecnologia e Inovação Prospecção Tecnológica Mudança do Clima Estudo 4 - Oportunidades de Negócios em Segmentos Produtivos Nacionais Giselda Durigan Instituto
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos Ciência, Tecnologia e Inovação Prospecção Tecnológica Mudança do Clima Estudo 4 - Oportunidades de Negócios em Segmentos Produtivos Nacionais Giselda Durigan Instituto
Manejo da Flora e Reflorestamento
 Manejo da Flora e Reflorestamento Manejo da flora e reflorestamento Esse programa da CESP consiste em um conjunto de atividades que resultam na conservação da flora, do solo e dos recursos hídricos nas
Manejo da Flora e Reflorestamento Manejo da flora e reflorestamento Esse programa da CESP consiste em um conjunto de atividades que resultam na conservação da flora, do solo e dos recursos hídricos nas
MORTALIDADE E CRESCIMENTO INICIAL DE MUDAS EM ÁREAS RESTAURADAS DE USINAS HIDRELÉTRICAS NO ESPÍRITO SANTO, BRASIL
 MORTALIDADE E CRESCIMENTO INICIAL DE MUDAS EM ÁREAS RESTAURADAS DE USINAS HIDRELÉTRICAS NO ESPÍRITO SANTO, BRASIL Geanna Gonçalves de Souza Correia Laboratório de Restauração Florestal (LARF ) Programa
MORTALIDADE E CRESCIMENTO INICIAL DE MUDAS EM ÁREAS RESTAURADAS DE USINAS HIDRELÉTRICAS NO ESPÍRITO SANTO, BRASIL Geanna Gonçalves de Souza Correia Laboratório de Restauração Florestal (LARF ) Programa
A regeneração natural e sua aplicação na restauração de florestas
 A regeneração natural e sua aplicação na restauração de florestas Sebastião Venâncio Martins LARF - Laboratório de Restauração Florestal/UFV http://larf-ufv.blogspot.com.br/ E-mail: venancio@ufv.br Mecanismos
A regeneração natural e sua aplicação na restauração de florestas Sebastião Venâncio Martins LARF - Laboratório de Restauração Florestal/UFV http://larf-ufv.blogspot.com.br/ E-mail: venancio@ufv.br Mecanismos
Diversidade e dispersão das espécies lenhosas em áreas de cerrado sensu stricto, no período de 1996 a 2011, após supressão da vegetação em 1988
 http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.145-654-1 Diversidade e dispersão das espécies lenhosas em áreas de cerrado sensu stricto, no período de 1996 a 2011, após supressão da vegetação em
http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.145-654-1 Diversidade e dispersão das espécies lenhosas em áreas de cerrado sensu stricto, no período de 1996 a 2011, após supressão da vegetação em
Restauração de Matas Ciliares e Áreas Degradadas. LCB 0217 Prof. Flávio Gandara Prof. Sergius Gandolfi
 Restauração de Matas Ciliares e Áreas Degradadas LCB 0217 Prof. Flávio Gandara Prof. Sergius Gandolfi DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMO PROCESSO Vantagens Indiretas da Presença de Florestas Nativas POLINIZAÇÃO
Restauração de Matas Ciliares e Áreas Degradadas LCB 0217 Prof. Flávio Gandara Prof. Sergius Gandolfi DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMO PROCESSO Vantagens Indiretas da Presença de Florestas Nativas POLINIZAÇÃO
Adequação Ambiental e Restauração Florestal. Pedro H. S. Brancalion Laboratório de Silvicultura Tropical (LASTROP/ESALQ/USP)
 Adequação Ambiental e Restauração Florestal Pedro H. S. Brancalion Laboratório de Silvicultura Tropical (LASTROP/ESALQ/USP) O programa de Adequação Ambiental da ESALQ Termo de Ajustamento de Conduta Grupo
Adequação Ambiental e Restauração Florestal Pedro H. S. Brancalion Laboratório de Silvicultura Tropical (LASTROP/ESALQ/USP) O programa de Adequação Ambiental da ESALQ Termo de Ajustamento de Conduta Grupo
V. 07, N. 02, 2011 Categoria: Relato de Experiência
 Título do Trabalho RESTAURAÇÃO FLORESTAL NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO CÓRREGO DO GALANTE (MONTE CASTELO E TUPI PAULISTA, SP) POR MEIO DE PROGRAMA DE FOMENTO FLORESTAL. Nome do Autor Principal
Título do Trabalho RESTAURAÇÃO FLORESTAL NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO CÓRREGO DO GALANTE (MONTE CASTELO E TUPI PAULISTA, SP) POR MEIO DE PROGRAMA DE FOMENTO FLORESTAL. Nome do Autor Principal
Portaria CBRN 01/2015
 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS Portaria CBRN 01/2015 Estabelece o Protocolo de Monitoramento de Projetos de Restauração Ecológica O Coordenador de Biodiversidade
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS Portaria CBRN 01/2015 Estabelece o Protocolo de Monitoramento de Projetos de Restauração Ecológica O Coordenador de Biodiversidade
EFICÁCIA DE TÉCNICA NUCLEADORA ENLEIRAMENTO DE GALHADA PARA RESTAURAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA
 EFICÁCIA DE TÉCNICA NUCLEADORA ENLEIRAMENTO DE GALHADA PARA RESTAURAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA EFFECTIVENESS OF NUCLEARING TECHNIQUE DETACHMENT OF SHELVES FOR RESTORATION OF DEGRADED
EFICÁCIA DE TÉCNICA NUCLEADORA ENLEIRAMENTO DE GALHADA PARA RESTAURAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA EFFECTIVENESS OF NUCLEARING TECHNIQUE DETACHMENT OF SHELVES FOR RESTORATION OF DEGRADED
Programa Analítico de Disciplina ENF305 Ecologia e Restauração Florestal
 0 Programa Analítico de Disciplina Departamento de Engenharia Florestal - Centro de Ciências Agrárias Número de créditos: Teóricas Práticas Total Duração em semanas: 15 Carga horária semanal 2 2 Períodos
0 Programa Analítico de Disciplina Departamento de Engenharia Florestal - Centro de Ciências Agrárias Número de créditos: Teóricas Práticas Total Duração em semanas: 15 Carga horária semanal 2 2 Períodos
Restauração Florestal de Áreas Degradadas
 Restauração Florestal de Áreas Degradadas Seminário Paisagem, conservação e sustentabilidade financeira: a contribuição das RPPNs para a biodiversidade paulista 11/11/ 2016 Espírito Santo do Pinhal (SP)
Restauração Florestal de Áreas Degradadas Seminário Paisagem, conservação e sustentabilidade financeira: a contribuição das RPPNs para a biodiversidade paulista 11/11/ 2016 Espírito Santo do Pinhal (SP)
BIE-212: Ecologia Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental. Comunidades II
 BIE-212: Ecologia Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental Comunidades II Programa Introdução Módulo I: Organismos Módulo II: Populações Módulo III: Comunidades - Padrões espaciais - Padrões temporais
BIE-212: Ecologia Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental Comunidades II Programa Introdução Módulo I: Organismos Módulo II: Populações Módulo III: Comunidades - Padrões espaciais - Padrões temporais
Diversidade de biomas = diversidade de desafios para a ciência e a prática da restauração
 Diversidade de biomas = diversidade de desafios para a ciência e a prática da restauração Giselda Durigan Laboratório de Ecologia e Hidrologia Floresta Estadual de Assis, Instituto Florestal de SP http://labecologiahidrologia.weebly.com/
Diversidade de biomas = diversidade de desafios para a ciência e a prática da restauração Giselda Durigan Laboratório de Ecologia e Hidrologia Floresta Estadual de Assis, Instituto Florestal de SP http://labecologiahidrologia.weebly.com/
Disciplina: EB68 C Conservação e Recuperação Ambiental
 Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Disciplina: EB68 C Conservação e Recuperação Ambiental Profa. Patrícia C. Lobo Faria http://paginapessoal.utfpr.edu.br/patricialobo Monitoramento de áreas em
Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Disciplina: EB68 C Conservação e Recuperação Ambiental Profa. Patrícia C. Lobo Faria http://paginapessoal.utfpr.edu.br/patricialobo Monitoramento de áreas em
DEPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA EM DIFERENTES ESTÁGIOS SUCESSIONAIS DA CAATINGA NO SEMIÁRIDO DA PARAIBA
 DEPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA EM DIFERENTES ESTÁGIOS SUCESSIONAIS DA CAATINGA NO SEMIÁRIDO DA PARAIBA DEPOSITION OF LITTER IN DIFFERENT SUCESSIONAL STAGES CAATINGA IN PARAIBA SEMIARID Medeiros Neto, PH1; Silva,
DEPOSIÇÃO DE SERAPILHEIRA EM DIFERENTES ESTÁGIOS SUCESSIONAIS DA CAATINGA NO SEMIÁRIDO DA PARAIBA DEPOSITION OF LITTER IN DIFFERENT SUCESSIONAL STAGES CAATINGA IN PARAIBA SEMIARID Medeiros Neto, PH1; Silva,
A NATUREZA DO BRASIL: CLIMA E VEGETAÇÃO
 A NATUREZA DO BRASIL: CLIMA E VEGETAÇÃO A NATUREZA DO BRASIL (...) Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, impávido colosso (...) Hino Nacional Brasileiro A NATUREZA DO BRASIL: O CLIMA Os climas
A NATUREZA DO BRASIL: CLIMA E VEGETAÇÃO A NATUREZA DO BRASIL (...) Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, impávido colosso (...) Hino Nacional Brasileiro A NATUREZA DO BRASIL: O CLIMA Os climas
TRATAMENTOS PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DE SEMENTES DE AROEIRA PIRIQUITA (Schinus molle L.) E AROEIRA BRANCA (Lithraea molleioides (Vell.
 TRATAMENTOS PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DE SEMENTES DE AROEIRA PIRIQUITA (Schinus molle L.) E AROEIRA BRANCA (Lithraea molleioides (Vell.) MATTOS, Letícia Cantiliano Perez 1 ; DELFIM, Tamíris Franco 1
TRATAMENTOS PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DE SEMENTES DE AROEIRA PIRIQUITA (Schinus molle L.) E AROEIRA BRANCA (Lithraea molleioides (Vell.) MATTOS, Letícia Cantiliano Perez 1 ; DELFIM, Tamíris Franco 1
TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - RAD COM PASTAGEM OU FLORESTAS
 3 TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - RAD COM PASTAGEM OU FLORESTAS O projeto Na perspectiva de colaborar com o esforço brasileiro de redução de emissões de Gases de Efeito de
3 TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - RAD COM PASTAGEM OU FLORESTAS O projeto Na perspectiva de colaborar com o esforço brasileiro de redução de emissões de Gases de Efeito de
LEVANTAMENTO E MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF S): ESTUDO DE CASO DE UM SAF SUCESSIONAL NO DISTRITO FEDERAL, BRASIL
 LEVANTAMENTO E MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF S): ESTUDO DE CASO DE UM SAF SUCESSIONAL NO DISTRITO FEDERAL, BRASIL PROJETO DE PESQUISA PROFESSOR: MARCELO TAVARES DE CASTRO ALUNA:
LEVANTAMENTO E MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF S): ESTUDO DE CASO DE UM SAF SUCESSIONAL NO DISTRITO FEDERAL, BRASIL PROJETO DE PESQUISA PROFESSOR: MARCELO TAVARES DE CASTRO ALUNA:
Produção e Acúmulo de Serrapilheira em Área de Caatinga no Seridó Oriental da Paraíba
 Produção e Acúmulo de Serrapilheira em Área de Caatinga no Seridó Oriental da Paraíba Walleska Pereira Medeiros (1) ; Jacob Silva Souto (2) ; Patrícia Carneiro Souto (2) ; Alciênia Silva Albuquerque (1)
Produção e Acúmulo de Serrapilheira em Área de Caatinga no Seridó Oriental da Paraíba Walleska Pereira Medeiros (1) ; Jacob Silva Souto (2) ; Patrícia Carneiro Souto (2) ; Alciênia Silva Albuquerque (1)
Deposição e Acúmulo de Serapilheira em sistema de ilpf no município de Ipameri Goiás
 Deposição e Acúmulo de Serapilheira em sistema de ilpf no município de Ipameri Goiás Natália C. de F. Ferreira (IC)*, Anderson G. Nascimento (IC), Isabela C. Silva (IC), Stephany D. Cunha (IC),Tatiana
Deposição e Acúmulo de Serapilheira em sistema de ilpf no município de Ipameri Goiás Natália C. de F. Ferreira (IC)*, Anderson G. Nascimento (IC), Isabela C. Silva (IC), Stephany D. Cunha (IC),Tatiana
Análise do balanço hídrico e nutricional em Cedrela fissilis Vell. em diferentes substratos e lâminas de água
 EIXO TEMÁTICO: Ciências Ambientais e da Terra Análise do balanço hídrico e nutricional em Cedrela fissilis Vell. em diferentes substratos e lâminas de água Francineide Morais de Araújo 1 Bruna Tavares
EIXO TEMÁTICO: Ciências Ambientais e da Terra Análise do balanço hídrico e nutricional em Cedrela fissilis Vell. em diferentes substratos e lâminas de água Francineide Morais de Araújo 1 Bruna Tavares
AULÃO UDESC 2013 GEOGRAFIA DE SANTA CATARINA PROF. ANDRÉ TOMASINI Aula: Aspectos físicos.
 AULÃO UDESC 2013 GEOGRAFIA DE SANTA CATARINA PROF. ANDRÉ TOMASINI Aula: Aspectos físicos. Relevo de Santa Catarina Clima de Santa Catarina Fatores de influência do Clima Latitude; Altitude; Continentalidade
AULÃO UDESC 2013 GEOGRAFIA DE SANTA CATARINA PROF. ANDRÉ TOMASINI Aula: Aspectos físicos. Relevo de Santa Catarina Clima de Santa Catarina Fatores de influência do Clima Latitude; Altitude; Continentalidade
DESFLORESTAMENTO DA MATA ATLÂNTICA
 IFRJ- CAMPUS NILO PEÇANHA PINHEIRAL DESFLORESTAMENTO DA MATA ATLÂNTICA Profa. Cristiana do Couto Miranda Ecossistema em equilíbrio funções Serviços ambientais Interações meio biótico (organismos vegetais,
IFRJ- CAMPUS NILO PEÇANHA PINHEIRAL DESFLORESTAMENTO DA MATA ATLÂNTICA Profa. Cristiana do Couto Miranda Ecossistema em equilíbrio funções Serviços ambientais Interações meio biótico (organismos vegetais,
Colonização de pastagens abandonadas: um aprendizado para restauração?
 Mesa Redonda: A importância de chegar primeiro : o papel da ordem de chegada (efeitos de prioridade) durante a sucessão e seu potencial para restauração ecológica Colonização de pastagens abandonadas:
Mesa Redonda: A importância de chegar primeiro : o papel da ordem de chegada (efeitos de prioridade) durante a sucessão e seu potencial para restauração ecológica Colonização de pastagens abandonadas:
III Congresso Brasileiro de Eucalipto
 III Congresso Brasileiro de Eucalipto Uso de Eucalipto em Consórcio com Nativas para Restauração Florestal em Áreas de Reserva Legal Vitória, 3 de Setembro de 2015 NOSSAS CRENÇAS MISSÃO VISÃO Desenvolver
III Congresso Brasileiro de Eucalipto Uso de Eucalipto em Consórcio com Nativas para Restauração Florestal em Áreas de Reserva Legal Vitória, 3 de Setembro de 2015 NOSSAS CRENÇAS MISSÃO VISÃO Desenvolver
AVALIAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS DE MÚLTIPLO PROPÓSITO, EM WENCESLAU BRAZ, PR
 PESQUISA EM ANDAMENTO N o 4, out./97, p.1-5 AVALIAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS DE MÚLTIPLO PROPÓSITO, EM WENCESLAU BRAZ, PR Moacir José Sales Medrado * João Antônio Pereira Fowler ** Amauri Ferreira Pinto
PESQUISA EM ANDAMENTO N o 4, out./97, p.1-5 AVALIAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS DE MÚLTIPLO PROPÓSITO, EM WENCESLAU BRAZ, PR Moacir José Sales Medrado * João Antônio Pereira Fowler ** Amauri Ferreira Pinto
RELATÓRIO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL
 Fazenda Cabeceira do Prata RELATÓRIO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL Lagoa Misteriosa Jardim, Mato Grosso do Sul, Brasil Maio, 2013 Objetivo: Atender as normatizações vigentes conforme a formação espeleológica
Fazenda Cabeceira do Prata RELATÓRIO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL Lagoa Misteriosa Jardim, Mato Grosso do Sul, Brasil Maio, 2013 Objetivo: Atender as normatizações vigentes conforme a formação espeleológica
Dr. Sergius Gandolfi
 Restauração Ecológica LCB 1402 Aula 2-2016 Dr. Sergius Gandolfi sgandolf@usp.br Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal - Departamento de Ciências Biológicas Escola Superior de Agricultura Luiz
Restauração Ecológica LCB 1402 Aula 2-2016 Dr. Sergius Gandolfi sgandolf@usp.br Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal - Departamento de Ciências Biológicas Escola Superior de Agricultura Luiz
Danilo Diego de Souza 1 ; Flávio José V. de Oliveira 2 ; Nerimar Barbosa G. da Silva 3 ; Ana Valéria Vieira de Souza 4. Resumo
 103 Conservação de umburana-de-cheiro em Banco Ativo de Germoplasma... Conservação de umburanade-cheiro em Banco Ativo de Germoplasma na Embrapa Semiárido Conservation umburana de cheiro in the germplasm
103 Conservação de umburana-de-cheiro em Banco Ativo de Germoplasma... Conservação de umburanade-cheiro em Banco Ativo de Germoplasma na Embrapa Semiárido Conservation umburana de cheiro in the germplasm
Restauração Florestal com Alta Diversidade: Vinte Anos de Experiências
 Restauração Florestal com Alta Diversidade: id d Vinte Anos de Experiências Seminário sobre a Restauração e Conservação de Matas Ciliares Salvador - 13 de agosto de Sergius 2009 Gandolfi LERF/LCB/ESALQ/USP
Restauração Florestal com Alta Diversidade: id d Vinte Anos de Experiências Seminário sobre a Restauração e Conservação de Matas Ciliares Salvador - 13 de agosto de Sergius 2009 Gandolfi LERF/LCB/ESALQ/USP
Relatório Plante Bonito
 Instituto das Águas da Serra da Bodoquena IASB Organização não governamental sem fins lucrativos, com caráter técnico, científico e ambiental, criado em Bonito/MS por proprietários rurais, empresários,
Instituto das Águas da Serra da Bodoquena IASB Organização não governamental sem fins lucrativos, com caráter técnico, científico e ambiental, criado em Bonito/MS por proprietários rurais, empresários,
2017 Ecologia de Comunidades LCB Prof. Flávio Gandara Prof. Sergius Gandolfi. Aula 2. Caracterização da Vegetação e Fitogeografia
 2017 Ecologia de Comunidades LCB 0217 Prof. Flávio Gandara Prof. Sergius Gandolfi Aula 2 Caracterização da Vegetação e Fitogeografia Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (1769-1859) FITOGEOGRAFIA
2017 Ecologia de Comunidades LCB 0217 Prof. Flávio Gandara Prof. Sergius Gandolfi Aula 2 Caracterização da Vegetação e Fitogeografia Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (1769-1859) FITOGEOGRAFIA
Anais do II Seminário de Atualização Florestal e XI Semana de Estudos Florestais
 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS DE Pinus taeda L. EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS Rodrigo Lima*, Mario Takao Inoue, Afonso Figueiredo Filho, Antonio José de Araujo, Jean Alberto Sampietro
AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS DE Pinus taeda L. EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS Rodrigo Lima*, Mario Takao Inoue, Afonso Figueiredo Filho, Antonio José de Araujo, Jean Alberto Sampietro
Código Florestal. Experiências em Recuperação Ambiental
 Experiências em Recuperação Ambiental Código Florestal Restauração ecológica de mata ciliar e nascente por meio da regeneração natural e plantio de mudas Restauração ecológica de mata ciliar e nascente
Experiências em Recuperação Ambiental Código Florestal Restauração ecológica de mata ciliar e nascente por meio da regeneração natural e plantio de mudas Restauração ecológica de mata ciliar e nascente
Colégio São Paulo. Bioma. adapt ações. Biologia 9º ano Prof. Marana Vargas
 Colégio São Paulo Bioma se adapt ações Biologia 9º ano Prof. Marana Vargas Pantanal - O clima é quente e úmido, no verão, e frio e seco, no inverno; - A maior parte dos solos do Pantanal são arenosos
Colégio São Paulo Bioma se adapt ações Biologia 9º ano Prof. Marana Vargas Pantanal - O clima é quente e úmido, no verão, e frio e seco, no inverno; - A maior parte dos solos do Pantanal são arenosos
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO
 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO Lagoa Misteriosa Samuel Duleba CRBio - 34.623-03D Jardim - Mato Grosso do Sul - Brasil 2008 Introdução Com o objetivo de recuperar áreas que já sofreram algum tipo de interferência
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO Lagoa Misteriosa Samuel Duleba CRBio - 34.623-03D Jardim - Mato Grosso do Sul - Brasil 2008 Introdução Com o objetivo de recuperar áreas que já sofreram algum tipo de interferência
ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA E ESTRUTURA DE UM TRECHO FLORESTAL NA PORÇÃO SUL AMAZÔNICA, QUERÊNCIA MT
 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA E ESTRUTURA DE UM TRECHO FLORESTAL NA PORÇÃO SUL AMAZÔNICA, QUERÊNCIA MT Yhasmin Mendes de Moura, Lênio Soares Galvão, João Roberto dos Santos {yhasmin, lenio, jroberto}@dsr.inpe.br
ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA E ESTRUTURA DE UM TRECHO FLORESTAL NA PORÇÃO SUL AMAZÔNICA, QUERÊNCIA MT Yhasmin Mendes de Moura, Lênio Soares Galvão, João Roberto dos Santos {yhasmin, lenio, jroberto}@dsr.inpe.br
Programa Analítico de Disciplina ENF391 Recuperação de Áreas Degradadas
 0 Programa Analítico de Disciplina Departamento de Engenharia Florestal - Centro de Ciências Agrárias Número de créditos: Teóricas Práticas Total Duração em semanas: 15 Carga horária semanal Períodos -
0 Programa Analítico de Disciplina Departamento de Engenharia Florestal - Centro de Ciências Agrárias Número de créditos: Teóricas Práticas Total Duração em semanas: 15 Carga horária semanal Períodos -
Avaliação de cobertura de solo em sistemas intensivos de cultivo 1
 Avaliação de cobertura de solo em sistemas intensivos de cultivo 1 Adriano Fonseca Gonçalves 2, Miguel Marques Gontijo Neto 3 1 Trabalho financiado pelo CNPq; 2 Estudante do Curso de Agronomia da Faculdade
Avaliação de cobertura de solo em sistemas intensivos de cultivo 1 Adriano Fonseca Gonçalves 2, Miguel Marques Gontijo Neto 3 1 Trabalho financiado pelo CNPq; 2 Estudante do Curso de Agronomia da Faculdade
PROGRAMA PLANTE BONITO
 PROGRAMA PLANTE BONITO Lagoa Misteriosa Samuel Duleba CRBio - 34.623-03D Jardim - Mato Grosso do Sul - Brasil 2008 Introdução Com o objetivo de recuperar áreas que já sofreram algum tipo de interferência
PROGRAMA PLANTE BONITO Lagoa Misteriosa Samuel Duleba CRBio - 34.623-03D Jardim - Mato Grosso do Sul - Brasil 2008 Introdução Com o objetivo de recuperar áreas que já sofreram algum tipo de interferência
ANÁLISE QUANTITATIVA DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS NO ENTORNO DA RESERVA BIOLOGICA DE UNA-BA (REBIO)
 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS NO ENTORNO DA RESERVA BIOLOGICA DE UNA-BA (REBIO) Matheus Santos Lobo ¹, Bárbara Savina Silva Santos², Fernando Silva Amaral ³, Crisleide Aliete Ribeiro 4,Michelle
ANÁLISE QUANTITATIVA DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS NO ENTORNO DA RESERVA BIOLOGICA DE UNA-BA (REBIO) Matheus Santos Lobo ¹, Bárbara Savina Silva Santos², Fernando Silva Amaral ³, Crisleide Aliete Ribeiro 4,Michelle
Diferentes substratos no desenvolvimento do pepino (Cucumis sativus)
 1 Diferentes substratos no desenvolvimento do pepino (Cucumis sativus) Thays Aparecida Oliveira Campos Rodrigues 1 ; Jorge Alfredo Luiz França 2 ; Fabiane Pereira da Silva Vieira 3 1 Discente em Engenharia
1 Diferentes substratos no desenvolvimento do pepino (Cucumis sativus) Thays Aparecida Oliveira Campos Rodrigues 1 ; Jorge Alfredo Luiz França 2 ; Fabiane Pereira da Silva Vieira 3 1 Discente em Engenharia
INCIDÊNCIA DE INSETOS EM ÁREAS DE CULTIVO DE HORTALIÇAS PRÓXIMAS A UM SISTEMA AGROFLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL PROJETO DE PESQUISA
 INCIDÊNCIA DE INSETOS EM ÁREAS DE CULTIVO DE HORTALIÇAS PRÓXIMAS A UM SISTEMA AGROFLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL PROJETO DE PESQUISA PROFESSOR: MARCELO TAVARES DE CASTRO ALUNO: EDNEI PEREIRA DO PRADO CURSO:
INCIDÊNCIA DE INSETOS EM ÁREAS DE CULTIVO DE HORTALIÇAS PRÓXIMAS A UM SISTEMA AGROFLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL PROJETO DE PESQUISA PROFESSOR: MARCELO TAVARES DE CASTRO ALUNO: EDNEI PEREIRA DO PRADO CURSO:
ARTIGOS COMPLETOS RESUMOS SIMPLES RESUMOS DE PROJETOS...610
 Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 603 ARTIGOS COMPLETOS...604 RESUMOS SIMPLES...608 RESUMOS DE PROJETOS...610 Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 604 ARTIGOS
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 603 ARTIGOS COMPLETOS...604 RESUMOS SIMPLES...608 RESUMOS DE PROJETOS...610 Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 604 ARTIGOS
MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO NO CERRADO
 EMENTA MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO NO CERRADO DISCIPLINA: Solos nos domínios morfoclimáticos do Cerrado EMENTA: Solos em ambientes de Cerrado. Sistema Brasileiro de Classificação do Solo. Caracterização
EMENTA MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO NO CERRADO DISCIPLINA: Solos nos domínios morfoclimáticos do Cerrado EMENTA: Solos em ambientes de Cerrado. Sistema Brasileiro de Classificação do Solo. Caracterização
BIOLOGIA. Ecologia e ciências ambientais. Biomas brasileiros. Professor: Alex Santos
 BIOLOGIA Ecologia e ciências ambientais Professor: Alex Santos Tópicos em abordagem: I Conceitos fundamentais II Fatores físicos que influenciam na formação dos biomas III Tipos de biomas brasileiros IV
BIOLOGIA Ecologia e ciências ambientais Professor: Alex Santos Tópicos em abordagem: I Conceitos fundamentais II Fatores físicos que influenciam na formação dos biomas III Tipos de biomas brasileiros IV
Departamento de Engenharia Florestal Laboratório de Conservação de Ecossistemas e Recuperação de Áreas Degradadas
 GRUPO ECOLÓGICO Conceito criado de acordo com o comportamento das espécies florestais nos processos de sucessão ecológica, que ocorre por meios naturais quando surgem clareiras na floresta tropical por
GRUPO ECOLÓGICO Conceito criado de acordo com o comportamento das espécies florestais nos processos de sucessão ecológica, que ocorre por meios naturais quando surgem clareiras na floresta tropical por
Indicadores universais para monitorar áreas em restauração. Pedro H.S. Brancalion UFSCar & Esalq/USP
 Indicadores universais para monitorar áreas em restauração Pedro H.S. Brancalion UFSCar & Esalq/USP Contextualização da definição de indicadores Definição do objetivo do projeto: Restauração ecológica:
Indicadores universais para monitorar áreas em restauração Pedro H.S. Brancalion UFSCar & Esalq/USP Contextualização da definição de indicadores Definição do objetivo do projeto: Restauração ecológica:
Disciplina: EA66 F Restauração Florestal
 Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Disciplina: EA66 F Restauração Florestal Profa. Patrícia C. Lobo Faria http://paginapessoal.utfpr.edu.br/patricialobo Restauração Florestal Meios e Modos II:
Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Disciplina: EA66 F Restauração Florestal Profa. Patrícia C. Lobo Faria http://paginapessoal.utfpr.edu.br/patricialobo Restauração Florestal Meios e Modos II:
PLANO DE ENSINO. 2018/2 Iane Barroncas Gomes. 8º Recuperação de Áreas Degradadas
 PLANO DE ENSINO Ano/Semestre Professor (a) 018/ Iane Barroncas Gomes Período Disciplina 8º Recuperação de Áreas Degradadas Créditos Total de créditos Carga Horária Curso Teóricos Práticos 04 00 04 60h
PLANO DE ENSINO Ano/Semestre Professor (a) 018/ Iane Barroncas Gomes Período Disciplina 8º Recuperação de Áreas Degradadas Créditos Total de créditos Carga Horária Curso Teóricos Práticos 04 00 04 60h
TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO
 Fotos : K. Carvalheiro/BID INFORMATIVO 3 TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RAD COM PASTAGEM OU FLORESTAS 2016 PROJETO RAD COM PASTAGEM OU FLORESTA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Fotos : K. Carvalheiro/BID INFORMATIVO 3 TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RAD COM PASTAGEM OU FLORESTAS 2016 PROJETO RAD COM PASTAGEM OU FLORESTA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Conceitos florestais e Sucessão Ecológica
 CAMPUS NILO PEÇANHA PINHEIRAL Disciplina: Ecologia Florestal Conceitos florestais e Sucessão Ecológica Prof a. Dr a. Cristiana do Couto Miranda O que é Floresta? Qual é a importância? VÁRIOS TIPOS DE FLORESTAS
CAMPUS NILO PEÇANHA PINHEIRAL Disciplina: Ecologia Florestal Conceitos florestais e Sucessão Ecológica Prof a. Dr a. Cristiana do Couto Miranda O que é Floresta? Qual é a importância? VÁRIOS TIPOS DE FLORESTAS
Programa Analítico de Disciplina AGR480 Silvicultura Geral
 0 Programa Analítico de Disciplina Campus Rio Paranaíba - Campus Rio Paranaíba Número de créditos: 5 Teóricas Práticas Total Duração em semanas: 15 Carga horária semanal 3 5 Períodos - oferecimento: I
0 Programa Analítico de Disciplina Campus Rio Paranaíba - Campus Rio Paranaíba Número de créditos: 5 Teóricas Práticas Total Duração em semanas: 15 Carga horária semanal 3 5 Períodos - oferecimento: I
Restauração ecológica
 BIE 037 Conservação da Biodiversidade 203 Restauração ecológica Leandro Reverberi Tambosi letambosi@yahoo.com.br Restauração ecológica O que é restauração ecológica? Por que restaurar? Restauração, recuperação
BIE 037 Conservação da Biodiversidade 203 Restauração ecológica Leandro Reverberi Tambosi letambosi@yahoo.com.br Restauração ecológica O que é restauração ecológica? Por que restaurar? Restauração, recuperação
Resumo Expandido Título da Pesquisa (Português)
 Resumo Expandido Título da Pesquisa (Português): Crescimento de quatro espécies florestais nativas da Mata Atlântica em condição de campo sob diferentes adubações Título da Pesquisa (Inglês): Growth of
Resumo Expandido Título da Pesquisa (Português): Crescimento de quatro espécies florestais nativas da Mata Atlântica em condição de campo sob diferentes adubações Título da Pesquisa (Inglês): Growth of
V Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG campus Bambuí V Jornada Científica 19 a 24 de novembro de 2012
 Produtividade e proteína bruta do feijão guandu (Cajanus cajan cv. Mandarin) sob diferentes adubações e períodos de corte cultivado em um latossolo vermelho distrófico Arnon Henrique Campos ANÉSIO¹; Antônio
Produtividade e proteína bruta do feijão guandu (Cajanus cajan cv. Mandarin) sob diferentes adubações e períodos de corte cultivado em um latossolo vermelho distrófico Arnon Henrique Campos ANÉSIO¹; Antônio
CRESCIMENTO DE CLONES DE
 CRESCIMENTO DE CLONES DE Eucalyptus EM FUNÇÃO DA DOSE E FONTE DE BORO UTILIZADA Parceria RR Agroflorestal e VM Claudemir Buona 1 ; Ronaldo Luiz Vaz de A. Silveira 1 ; Hélder Bolognani 2 e Maurício Manoel
CRESCIMENTO DE CLONES DE Eucalyptus EM FUNÇÃO DA DOSE E FONTE DE BORO UTILIZADA Parceria RR Agroflorestal e VM Claudemir Buona 1 ; Ronaldo Luiz Vaz de A. Silveira 1 ; Hélder Bolognani 2 e Maurício Manoel
CRESCIMENTO DA AROEIRA-VERMELHA NO REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR
 Agroforestalis News, Aracaju, v.1, n.1, setembro, 2016 [http://www.seer.ufs.br/index.php/agro] ISSN 0000-0000 Seção Artigos Geisi Azevedo Silva 1 ; Luan Silva da Cruz 2 ; Fernanda Damaceno Silva Gonçalves
Agroforestalis News, Aracaju, v.1, n.1, setembro, 2016 [http://www.seer.ufs.br/index.php/agro] ISSN 0000-0000 Seção Artigos Geisi Azevedo Silva 1 ; Luan Silva da Cruz 2 ; Fernanda Damaceno Silva Gonçalves
Carta da comunidade científica do VI Simpósio de Restauração Ecológica à população (2015).
 Carta da comunidade científica do VI Simpósio de Restauração Ecológica à população (2015). Aprovada em plenária durante o VI Simpósio de Restauração Ecológica (SP), a carta englobou diversas sugestões
Carta da comunidade científica do VI Simpósio de Restauração Ecológica à população (2015). Aprovada em plenária durante o VI Simpósio de Restauração Ecológica (SP), a carta englobou diversas sugestões
Implantação de modelo semeadura direta e suas implicações para recuperação de área ciliar em Goiana, PE
 http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.257-613-1 Implantação de modelo semeadura direta e suas implicações para recuperação de área ciliar em Goiana, PE Gabriela M. do Couto 1, Ana L. P. Feliciano
http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.257-613-1 Implantação de modelo semeadura direta e suas implicações para recuperação de área ciliar em Goiana, PE Gabriela M. do Couto 1, Ana L. P. Feliciano
O BANCO DE SEMENTES E SERRA PILHEIRA NO PROCESSO DE REGENERAÇÃO NATURAL DO CERRADO RESUMO
 O BANCO DE SEMENTES E SERRA PILHEIRA NO PROCESSO DE REGENERAÇÃO NATURAL DO CERRADO Medeiros¹, N. C.; Sangalli², A. 1- Bióloga formada pela Universidade Federal da Grande Dourados. nattaliamedeiros@gmail.com.
O BANCO DE SEMENTES E SERRA PILHEIRA NO PROCESSO DE REGENERAÇÃO NATURAL DO CERRADO Medeiros¹, N. C.; Sangalli², A. 1- Bióloga formada pela Universidade Federal da Grande Dourados. nattaliamedeiros@gmail.com.
CRESCIMENTO DA CULTURA DO PINHÃO MANSO EM DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTAS.
 CRESCIMENTO DA CULTURA DO PINHÃO MANSO EM DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTAS. Pedro Silvério Xavier Pereira (1) ; Marice Cristine Vendruscolo (2) ; Astor Henrique Nied (3) ; Rivanildo Dallacor (4) ; Marcelo
CRESCIMENTO DA CULTURA DO PINHÃO MANSO EM DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTAS. Pedro Silvério Xavier Pereira (1) ; Marice Cristine Vendruscolo (2) ; Astor Henrique Nied (3) ; Rivanildo Dallacor (4) ; Marcelo
Renascimento de florestas
 Renascimento de florestas regeneração na era do desmatamento Robin L. Chazdon SUMÁRIO 1. Percepções sobre florestas tropicais e regeneração natural... 15 1.1 Visão cíclica das florestas... 15 1.2 A resiliência
Renascimento de florestas regeneração na era do desmatamento Robin L. Chazdon SUMÁRIO 1. Percepções sobre florestas tropicais e regeneração natural... 15 1.1 Visão cíclica das florestas... 15 1.2 A resiliência
Pinus taeda. Pinheiro-do-banhado, Pinos, Pinho-americano.
 Pinus Taeda Nome Científico: Família: Nomes populares: Ocorrência: Características: Pinus taeda Pinaceae Pinheiro, Pinheiro-americano, Pinus, Pinheiro-amarelo, Pinheirorabo-de-raposa, Pinheiro-do-banhado,
Pinus Taeda Nome Científico: Família: Nomes populares: Ocorrência: Características: Pinus taeda Pinaceae Pinheiro, Pinheiro-americano, Pinus, Pinheiro-amarelo, Pinheirorabo-de-raposa, Pinheiro-do-banhado,
FUNDAÇÃO CARMELITANA MÁRIO PALMÉRIO FACIHUS - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS. Degradação de Biomas. Prof. Me. Cássio Resende de Morais
 FUNDAÇÃO CARMELITANA MÁRIO PALMÉRIO FACIHUS - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS Degradação de Biomas Prof. Me. Cássio Resende de Morais Floresta Amazônica Ocupa 1/3 da América do Sul; Maior floresta
FUNDAÇÃO CARMELITANA MÁRIO PALMÉRIO FACIHUS - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS Degradação de Biomas Prof. Me. Cássio Resende de Morais Floresta Amazônica Ocupa 1/3 da América do Sul; Maior floresta
Os OITO Elementos da Restauração. Sergius Gandolfi LERF/LCB/ESALQ/USP
 Os OITO Elementos da Restauração Sergius Gandolfi LERF/LCB/ESALQ/USP COEXISTÊNCIA ENTRE ECOSSISTEMAS NATURAIS E AGROECOSSISTEMAS 1.Diagnóstico 2.Prescrição = Terapias / Cirurgias 3.Acompanhamento O primeiro
Os OITO Elementos da Restauração Sergius Gandolfi LERF/LCB/ESALQ/USP COEXISTÊNCIA ENTRE ECOSSISTEMAS NATURAIS E AGROECOSSISTEMAS 1.Diagnóstico 2.Prescrição = Terapias / Cirurgias 3.Acompanhamento O primeiro
Recuperação da mata ciliar do Assentamento Vale do Lírio, São José de Mipibu, RN
 http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.69-659-2 Recuperação da mata ciliar do Assentamento Vale do Lírio, São José de Mipibu, RN José A. da S. Santana 1, Wanctuy da S. Barreto 1, José G. A.
http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.69-659-2 Recuperação da mata ciliar do Assentamento Vale do Lírio, São José de Mipibu, RN José A. da S. Santana 1, Wanctuy da S. Barreto 1, José G. A.
Tecnologia em Gestão Ambiental Bolsista do PIBICT IFPB, Instituto Federal da Paraíba, 2
 CARBONO E NITROGÊNIO NA SERAPILHEIRA ACUMULADA EM FRAGMENTOS DE CAATINGA NA PARAÍBA Apresentação: Pôster Paulo César Alves do Ó 1 ; José Reybson Nicácio de Sousa 2 ; Suellen Cristina Pantoja Gomes 3 ;
CARBONO E NITROGÊNIO NA SERAPILHEIRA ACUMULADA EM FRAGMENTOS DE CAATINGA NA PARAÍBA Apresentação: Pôster Paulo César Alves do Ó 1 ; José Reybson Nicácio de Sousa 2 ; Suellen Cristina Pantoja Gomes 3 ;
Terminologia, Conceitos, definições e esclarecimentos...
 Terminologia, Conceitos, definições e esclarecimentos......para facilitar a comunicação sobre o Código Florestal Brasileiro!!! por Renata Evangelista de Oliveira FCA-UNESP- Doutorado em Ciência Florestal
Terminologia, Conceitos, definições e esclarecimentos......para facilitar a comunicação sobre o Código Florestal Brasileiro!!! por Renata Evangelista de Oliveira FCA-UNESP- Doutorado em Ciência Florestal
Quantificação da serapilheira acumulada em um povoamento de Eucalyptus saligna Smith em São Gabriel - RS
 http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.12-505-1 Quantificação da serapilheira acumulada em um povoamento de Eucalyptus saligna Smith em São Gabriel - RS Renata R. de Carvalho 1, Mauro V. Schumacher
http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.12-505-1 Quantificação da serapilheira acumulada em um povoamento de Eucalyptus saligna Smith em São Gabriel - RS Renata R. de Carvalho 1, Mauro V. Schumacher
Comportamento de espécies arbóreas na recuperação da mata ciliar da nascente do Rio Pitimbu, Macaíba, RN
 http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.254-634-1 Comportamento de espécies arbóreas na recuperação da mata ciliar da nascente do Rio Pitimbu, Macaíba, RN José A. da S. Santana 1, José G. A.
http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.254-634-1 Comportamento de espécies arbóreas na recuperação da mata ciliar da nascente do Rio Pitimbu, Macaíba, RN José A. da S. Santana 1, José G. A.
BIOCARVÃO COMO COMPLEMENTO NO SUBSTRATO PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS DE TOMATE CEREJA
 BIOCARVÃO COMO COMPLEMENTO NO SUBSTRATO PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS DE TOMATE CEREJA Lucas Gomes de Souza 1, Francisco Lopes Evangelista 2, Gabriel José Lima da Silveira 3, Susana Churka Blum 4 Resumo: O
BIOCARVÃO COMO COMPLEMENTO NO SUBSTRATO PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS DE TOMATE CEREJA Lucas Gomes de Souza 1, Francisco Lopes Evangelista 2, Gabriel José Lima da Silveira 3, Susana Churka Blum 4 Resumo: O
Efeito do esterco no crescimento inicial de mudas de Sterculia foetida L.
 http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.19-647-1 Efeito do esterco no crescimento inicial de mudas de Sterculia foetida L. Luan H. B. de Araújo 1, Camila C. da Nóbrega 1, Mary A. B. de Carvalho
http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.19-647-1 Efeito do esterco no crescimento inicial de mudas de Sterculia foetida L. Luan H. B. de Araújo 1, Camila C. da Nóbrega 1, Mary A. B. de Carvalho
Relatório Plante Bonito Área: RPPN Cabeceira do Prata
 Instituto das Águas da Serra da Bodoquena IASB Organização não governamental sem fins lucrativos, com caráter técnico, científico e ambiental, criado em Bonito/MS por proprietários rurais, empresários,
Instituto das Águas da Serra da Bodoquena IASB Organização não governamental sem fins lucrativos, com caráter técnico, científico e ambiental, criado em Bonito/MS por proprietários rurais, empresários,
Atributos químicos do solo sob diferentes tipos de vegetação na Unidade Universitária de Aquidauana, MS
 Atributos químicos do solo sob diferentes tipos de vegetação na Unidade Universitária de Aquidauana, MS JEAN SÉRGIO ROSSET 1, JOLIMAR ANTONIO SCHIAVO 2 Bolsista CNPq 1 Orientador 2 RESUMO O objetivo deste
Atributos químicos do solo sob diferentes tipos de vegetação na Unidade Universitária de Aquidauana, MS JEAN SÉRGIO ROSSET 1, JOLIMAR ANTONIO SCHIAVO 2 Bolsista CNPq 1 Orientador 2 RESUMO O objetivo deste
8 Pontos básicos para desenvolvimento de projetos de restauração ecológica
 8 Pontos básicos para desenvolvimento de projetos de restauração ecológica Danilo Sette de Almeida SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros ALMEIDA, DS. Pontos básicos para desenvolvimento de projetos
8 Pontos básicos para desenvolvimento de projetos de restauração ecológica Danilo Sette de Almeida SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros ALMEIDA, DS. Pontos básicos para desenvolvimento de projetos
Experiências em Recuperação Ambiental. Código Florestal. Restauração ecológica de mata ciliar utilizando talhão facilitador diversificado
 Experiências em Recuperação Ambiental Código Florestal Restauração ecológica de mata ciliar utilizando talhão facilitador diversificado Restauração ecológica de mata ciliar utilizando talhão facilitador
Experiências em Recuperação Ambiental Código Florestal Restauração ecológica de mata ciliar utilizando talhão facilitador diversificado Restauração ecológica de mata ciliar utilizando talhão facilitador
Biomas do Brasil. Ciências Humanas e suas Tecnologias. Professor Alexson Costa Geografia
 Biomas do Brasil Ciências Humanas e suas Tecnologias Professor Alexson Costa Geografia Biomas Biomas: conjunto de diversos ecossistemas. Ecossistemas: conjunto de vida biológico. Biomassa: é quantidade
Biomas do Brasil Ciências Humanas e suas Tecnologias Professor Alexson Costa Geografia Biomas Biomas: conjunto de diversos ecossistemas. Ecossistemas: conjunto de vida biológico. Biomassa: é quantidade
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Embrapa Amazônia Oriental Belém, PA 2015 EFEITO DE SUBSTRATOS NA PROPAGAÇÃO VEGETATIVA
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Embrapa Amazônia Oriental Belém, PA 2015 EFEITO DE SUBSTRATOS NA PROPAGAÇÃO VEGETATIVA
FITOSSOCIOLOGIA DE PLANTAS INFESTANTES EM PLANTIO DE PINHÃO MANSO (Jatropha curcas L.)
 FITOSSOCIOLOGIA DE PLANTAS INFESTANTES EM PLANTIO DE PINHÃO MANSO (Jatropha curcas L.) Mariana Becker 1 ; Eduardo Andrea Lemus Erasmo 2 RESUMO A cultura do pinhão manso é de recente exploração para a produção
FITOSSOCIOLOGIA DE PLANTAS INFESTANTES EM PLANTIO DE PINHÃO MANSO (Jatropha curcas L.) Mariana Becker 1 ; Eduardo Andrea Lemus Erasmo 2 RESUMO A cultura do pinhão manso é de recente exploração para a produção
COMPORTAMENTO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE TRIGO NO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO MG
 COMPORTAMENTO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE TRIGO NO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO MG Gabriela M. TERRA 1 ; José S. de ARAÚJO 2 ; Otávio M. ARAÚJO 3 ; Leonardo R. F. da SILVA 4 RESUMO Objetivou-se avaliar 5 genótipos
COMPORTAMENTO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE TRIGO NO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO MG Gabriela M. TERRA 1 ; José S. de ARAÚJO 2 ; Otávio M. ARAÚJO 3 ; Leonardo R. F. da SILVA 4 RESUMO Objetivou-se avaliar 5 genótipos
AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE Araucaria angustifolia (Bert) O. Ktze, EM DIFERENTES TIPOS DE SUBSTRATOS
 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE Araucaria angustifolia (Bert) O. Ktze, EM DIFERENTES TIPOS DE SUBSTRATOS Larisse Cristina do Vale 1, Ricardo Tayarol Marques 2, Rejane de Fátima Coelho 3, Vania
AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE Araucaria angustifolia (Bert) O. Ktze, EM DIFERENTES TIPOS DE SUBSTRATOS Larisse Cristina do Vale 1, Ricardo Tayarol Marques 2, Rejane de Fátima Coelho 3, Vania
Prof. Dr. nat. techn. Mauro Valdir Schumacher Ecologia e Nutrição Florestal Departamento de Ciências Florestais/CCR/UFSM
 CICLAGEM DE NUTRIENTES EM ECOSSISTEMAS FLORESTAIS Prof. Dr. nat. techn. Mauro Valdir Schumacher Ecologia e Nutrição Florestal Departamento de Ciências Florestais/CCR/UFSM schumacher@pq.cnpq.br 1 A BACIA
CICLAGEM DE NUTRIENTES EM ECOSSISTEMAS FLORESTAIS Prof. Dr. nat. techn. Mauro Valdir Schumacher Ecologia e Nutrição Florestal Departamento de Ciências Florestais/CCR/UFSM schumacher@pq.cnpq.br 1 A BACIA
MATA ATLÂNTICA Geografia 5 º ano Fonte: Instituto Brasileiro de Florestas
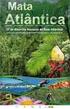 MATA ATLÂNTICA Geografia 5 º ano Fonte: Instituto Brasileiro de Florestas Bioma Mata Atlântica Este bioma ocupa uma área de 1.110.182 Km², corresponde 13,04% do território nacional e que é constituída
MATA ATLÂNTICA Geografia 5 º ano Fonte: Instituto Brasileiro de Florestas Bioma Mata Atlântica Este bioma ocupa uma área de 1.110.182 Km², corresponde 13,04% do território nacional e que é constituída
VARIAÇÃO ENTRE PROCEDÊNCIAS DE Pinus taeda L. NA REGIÃO DE SANTA MARIA, RS. * RESUMO
 VARIAÇÃO ENTRE PROCEDÊNCIAS DE Pinus taeda L. NA REGIÃO DE SANTA MARIA, RS. * Jarbas Y. Shimizu ** Henrique R.B. do Amaral *** RESUMO Um teste, com 20 procedências de Pinus taeda L., foi instalado em Santa
VARIAÇÃO ENTRE PROCEDÊNCIAS DE Pinus taeda L. NA REGIÃO DE SANTA MARIA, RS. * Jarbas Y. Shimizu ** Henrique R.B. do Amaral *** RESUMO Um teste, com 20 procedências de Pinus taeda L., foi instalado em Santa
