INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO MESTRADO EM CONSTRUÇÃO CADEIRA DE REABILITAÇÃO NÃO-ESTRUTURAL DE EDIFÍCIOS
|
|
|
- Ruth Veiga Brunelli
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO MESTRADO EM CONSTRUÇÃO CADEIRA DE REABILITAÇÃO NÃO-ESTRUTURAL DE EDIFÍCIOS HUMIDADE ASCENDENTE EM PAREDES TÉRREAS DE EDIFÍCIOS Jorge de Brito Janeiro de 2003
2
3 ÍNDICE 1. Introdução 1 2. Humidade ascensional em paredes Introdução O fenómeno da capilaridade O fenómeno da humidade ascendente Condições para a ocorrência da ascensão capilar Altura atingida pela água nos paramentos afectados Fontes de alimentação de água às paredes Anomalias devidas à ascensão capilar Métodos de diagnóstico Factores a considerar Equipamento de ensaio Processos de medição do teor em água nas paredes Processos de medição das condições atmosféricas Processos de medição da temperatura superficial das paredes Concepção para prevenção da ascensão capilar Considerações gerais Selecção dos materiais Alvenaria Enchimento Argamassa Aditivos Armazenamento dos materiais Paredes Pilares Pavimentos térreos Drenagens periféricas Valas periféricas sem enchimento Valas periféricas com enchimento 40
4 Execução de câmaras-de-ar nas paredes de fundação Geodrenos Drenagens superficiais Técnicas de reabilitação Impedimento do acesso de água às paredes Secagem da fonte de alimentação da água Tratamento superficial do terreno Rebaixamento do nível freático Drenagem do terreno Execução de valas periféricas Impedimento da ascensão de água nas paredes Redução da secção absorvente Introdução de barreiras estanques através do corte da parede Substituição de elementos de alvenaria Corte com serra Método de Massari (corte por carotagens sucessivas) Método de Shöner Turn (introdução forçada de materiais metálicos Introdução de produtos impermeabilizantes Técnicas de introdução dos produtos Produtos utilizados Eficácia e limitações da solução Remoção do excesso de água nas paredes Sistema de electro-osmose (criação de um potencial oposto ao potencial capilar Drenos atmosféricos Ocultação das anomalias Execução de uma nova parede pelo interior Aplicação de revestimentos especiais de parede Análise comparativa dos métodos Considerações finais Bibliografia 73
5 HUMIDADE ASCENDENTE EM PAREDES TÉRREAS DE EDIFÍCIOS 1. INTRODUÇÃO Todo o material, em contacto com o meio ambiente (Fig. 1, à esquerda), sofre transformações que podem ocasionar uma diminuição dos valores das suas propriedades físicas e químicas, ocorrendo uma perda progressiva no desempenho do edifício. A forma e a velocidade com que ocorre esta deterioração variam em função da natureza do material ou componente e das condições de exposição a que fica submetido [3]. A humidade ascensional surge sobretudo em construções antigas nos pisos inferiores, afectando também muitos edifícios novos. A reabilitação de paredes que apresentam problemas associados à humidade ascensional está frequentemente relacionada com o processo de eliminação da causa, com o reforço das características da parede face a uma acção que não foi possível eliminar ou ainda com a protecção da parede contra a acção que contribui para a sua deterioração (Fig. 1, à direita) [4]. Fig. 1 - À esquerda, análise microscópica dos efeitos da migração de sais num pano de parede e, à direita, protecção contra a ascensão capilar em paredes [5] 1
6 A humidade ascensional manifesta-se, em geral, pela humidificação do pavimento térreo (Fig. 3, à esquerda) assim como de uma faixa de parede junto ao solo com a deterioração mais ou menos acentuada dos revestimentos, associada a fenómenos de eflorescências (Fig. 2 e Fig. 3, à direita) [4]. Fig. 2 - Anomalias causadas pela ascensão de água do solo 2
7 Fig. 3 [6] - Anomalias causadas pela ascensão de água do solo Para reparar as anomalias provocadas pela humidade ascensional, é necessário impedir o acesso da água à parede, proceder à sua secagem e substituir os revestimentos. A tarefa mais delicada é a primeira, sendo necessário afastar as águas presentes no solo (drenagem periférica) e/ou criar uma barreira horizontal que abranja toda a largura da parede existente. Esta operação é feita com recurso a membranas impermeáveis colocadas por troços, mediante cortes sucessivos da parede ou através da injecção de resinas que impregnam os materiais constituintes da alvenaria e lhe reduzem ou anulam a capilaridade. A realização do corte hídrico (corte de capilaridade) deve ser compatibilizada com a execução da barreira pára-vapor / impermeabilização executada em zona corrente do pavimento térreo. É fundamental ter presente que o recurso a revestimentos impermeáveis na faixa inferior das paredes afectadas (sem a criação de uma barreira horizontal) só vem agravar o problema, uma vez que, para que se restabeleça o equilíbrio entre a água que sobe por capilaridade e a que se evapora, os efeitos da humidade ascensional vão acabar por se manifestar acima dessa barreira estanque superficial criada por este tipo de revestimento [4]. Este documento pretende servir de apoio aos alunos do Mestrado em Construção do Instituto Superior Técnico na cadeira de Reabilitação Não-Estrutural de Edifícios. Foca parte do capítulo dessa mesma cadeira dedicado à drenagem de escavações e caves. Para além deste, existe um documento específico sobre a drenagem das escavações na fase provisória [1] e está 3
8 em elaboração um outro dedicado explicitamente à drenagem de paredes / pisos enterrados, que irá complementar um outro dedicado apenas aos sistemas de impermeabilização dos mesmos elementos construtivos [2]. É natural que, estando estes assuntos interrelacionados, exista alguma repetição de uns documentos para os outros. O documento aborda fundamentalmente a descrição das soluções existentes e dos processos construtivos associados à prevenção / eliminação de patologia associada a fenómenos de humidade ascendente (ascensão capilar) através das paredes do rés-do-chão de edifícios. Encontra-se dividido em duas partes: a primeira, dedicada a edifícios construídos com materiais tradicionais (sobretudo aqueles com paredes de alvenaria de pedra ordinária ou aparelhada ou em terra crua - adobe e taipa), mas não necessariamente antigos (a construção de raiz com estes materiais está a ser retomada); a segunda parte, dedicada a edifícios correntes / contemporâneos, cuja estrutura é em betão armado e as paredes sobretudo de tijolo de barro vermelho e blocos de betão normal ou leve (com argila expandida). Tanto numa como na outra parte, abordar-se-ão as técnicas de reabilitação, aplicadas a edifícios existentes nos quais este tipo de problema é detectado e se pretende eliminá-lo e evitar a sua ressurgência no futuro, assim como as técnicas construtivas de prevenção, aplicadas a edifícios a construir de raiz. A elaboração deste documento não resultou de investigação específica sobre o tema efectuada pelo seu Autor mas sim de alguma pesquisa bibliográfica e de monografias escritas realizadas por alunos do Instituto Superior Técnico no Mestrado em Construção. Assim, muita da informação nele contida poderá também ser encontrada nos seguintes documentos, que não serão citados ao longo do texto: Sónia Cabaça, Humidade Ascendente em Paredes de Edifícios Antigos. Processos de Reabilitação e Prevenção, Monografia apresentada no Mestrado em Construção, Instituto Superior Técnico, 2001, Lisboa; Susana Raposo, Protecção contra Ascensão Capilar em Paredes Térreas, Monografia apresentada no Mestrado em Construção, Instituto Superior Técnico, 2002, Lisboa; 4
9 Filipe Andrade, Prevenção de Ascensão Capilar em Paredes Térreas de Edifícios Novos e de Construção Recente, Monografia apresentada no Mestrado em Construção, Instituto Superior Técnico, 2003, Lisboa. 5
10 2. HUMIDADE ASCENSIONAL EM PAREDES 2.1. INTRODUÇÃO Na maior parte dos casos não se pode evitar que o solo seja húmido. Pode estar saturado ou não de humidade, ou seja, os seus poros podem ou não estar cheios de água líquida. Grande parte do solo encontra-se sempre saturada de água, formando a camada de água subterrânea ou freática 1, cujo nível superior corresponde ao nível de água nos poços (Fig. 3ª, em cima). Na realidade, o solo está saturado de água até um nível superior à dita camada devido às forças capilares, subindo tanto mais quanto mais finos sejam os seus poros 2 - geralmente 20 a 30 cm sobre o nível da água freática [15]. A um nível superior, os poros, sem estarem saturados de água, absorvem quantidades mais ou menos importantes. Finalmente, só muito perto da superfície do terreno, o conteúdo de água do solo pode ser bastante baixo, graças à absorção pelas raízes das plantas (Fig. 4, em baixo à esquerda) ou à evaporação por contacto com a atmosfera e à acção dos raios solares (Fig. 5). Existe ainda a água higroscópica fixada na superfície dos colóides por absorção (Fig. 4, em baixo à direita). Deve então fazer-se a distinção entre o que sucede abaixo e acima da camada de água freática. Na primeira zona, o solo encontra-se saturado e a água está sob pressão e, na segunda, a água só penetrará nas paredes sob o efeito da capilaridade, ou seja, dentro da camada aquática fá-loá sob a acção de forças muito mais importantes, tanto mais importantes quanto mais se desça na referida camada. 1 A água existente no solo infiltrada nas camadas mais profundas, formando aí toalhas de água interligadas, recebe a designação de água freática. Se fica limitada localmente, ou seja, quando depara com uma camada de solo impermeável ou de difícil penetração, recebe a designação de água acumulada [14]. 2 Nos poros de pequenas dimensões, a água movimenta-se no sentido ascendente, em oposição à força da gravidade (efeito de capilaridade), diminuindo a velocidade de ascensão à medida que aumenta a distância ao nível freático. Nas camadas sobrejacentes à água freática, forma-se uma franja de sucção (franja de sucção capilar). Quando já não existe qualquer relação com a água freática, fala-se então de água de capilaridade. Em materiais de porosidade grosseira, quase não se verificam ascensões de origem capilar, mas estas intensificam-se significativamente com o decréscimo da granulometria [14]. 6
11 Fig. 4 - Humidade do solo: em cima, água contida nos macros poros; em baixo à esquerda, água retida em volta de partículas terrosas ou nos espaços capilares e facilmente absorvida pelas raízes; em baixo à direita, água fortemente retida em volta das partículas terrosas e que não é absorvida pelas plantas Camada húmida Poço Ascenção capilar da humidade do solo saturado de água Camada aquática subválvea Fig. 5 - Distribuição da água nas camadas do solo 2.2. O FENÓMENO DA CAPILARIDADE A capilaridade é um fenómeno que é posto bem em evidência quando se mergulha um tubo 7
12 fino de vidro - designado por tubo capilar - num recipiente com água (Fig. 6, à esquerda). Verifica-se que o nível da água sobe imediatamente no interior do tubo, destacando-se do nível da água do recipiente. Esta evidência mostra que deve existir necessariamente uma força que, nas condições da experiência, se instala e produz o efeito observado. Esta força toma o nome de força capilar e a sua acção designa-se por capilaridade. O fenómeno da capilaridade, por sua vez, ocorre em resultado de uma outra propriedade dos fluidos - a tensão superficial (Fig. 6, à direita). Entre as partículas ou moléculas constituintes de um líquido exercem-se forças de atracção. Estas forças de atracção entre moléculas do mesmo material designam-se por coesão. molécula molécula líquido Fig. 6 - À esquerda, fenómeno da capilaridade e, à direita, tensão superficial Uma molécula no interior de um líquido, longe portanto da superfície, será igualmente atraída em todas as direcções pelas moléculas vizinhas, pelo que as forças de coesão se equilibram. Contudo, para as moléculas próximas da superfície, dada a inexistência de outras moléculas de líquido acima delas, as forças de coesão não estão equilibradas e, em resultado, a superfície do líquido fica tensionada (Fig. 6, à direita). É também a tensão superficial que explica a curvatura observada da água junto das paredes do tubo (Fig. 6, à esquerda). Uma molécula junto à parede do tubo não sofre desse lado a acção de moléculas de água. No entanto, pelo efeito observado, torna-se evidente que esta molécula é atraída pelas moléculas do vidro e que essa força se sobrepõe à acção exercida pelas moléculas de líquido inferiores. A atracção entre moléculas de diferentes materiais é designada por adesão. As moléculas que sobem por adesão junto às paredes do vidro estão também a contribuir para a tensão 8
13 superficial, puxando as moléculas vizinhas para cima e originando a curvatura observada. O fenómeno de ascensão de líquido no tubo capilar não acontece, no entanto, com todos os líquidos. Se a mesma experiência fosse realizada com mercúrio, por exemplo, verificar-se-ia que este, além de não subir no tubo, ficaria ainda abaixo do nível original, e que a curvatura nos bordos seria convexa (Fig. 6, à esquerda). Isto acontece porque o mercúrio não molha a superfície do tubo ou, por outras palavras, não adere. A diferença entre os casos da água e do mercúrio permite afirmar que um líquido em repouso é molhante em relação à parede do recipiente que o contém se o ângulo de molhagem (θ) com a parede é inferior a 90º, ou seja, se a superfície do líquido for côncava. O ângulo de molhagem é tanto maior quanto maior a tensão superficial do líquido. Num tubo capilar, um líquido molhante sobe até que o peso da coluna de água (F) equilibre a acção da tensão superficial (σ). De acordo com o esquema apresentado na Fig. 7, pode assim escrever-se: σ θ r θ σ h F Ar Líquido Fig. 7 [16] - Tubo capilar F = ρ. g. π. r 2. h = cos θ. 2. π. r A pressão hidrostática, correspondente à altura do líquido no tubo, equilibra a subpressão ou sucção capilar (pc): Pc = -ρ. g. h 9
14 vindo a relação entre a subpressão capilar e a tensão superficial dada por: pc = -2. σ. cos θ / r Nesta expressão, a tensão superficial (σ) vem expressa em N/m, o raio capilar em m e o ângulo de contacto (θ) em graus º. A altura da ascensão capilar também se tira facilmente: h = -2. σ. cos θ / (r. ρ. g) pelo que se conclui que, tanto a sucção capilar, como a altura de ascensão capilar são inversamente proporcionais ao raio dos capilares. Estão assim intimamente relacionadas com a estrutura interna do material. Verificando-se que a tensão superficial diminui com a temperatura, também aqueles parâmetros são funções decrescentes da temperatura. Analisando qualquer uma das duas últimas expressões, verifica-se que a acção da penetração de um líquido por capilaridade num material pode ser contrariada de duas formas [16]: reduzindo a adesão, que é representada pelo ângulo de molhagem; reduzindo a tensão superficial O FENÓMENO DA HUMIDADE ASCENDENTE A humidade ascendente pode ser definida como o fluxo vertical de água que consegue ascender do solo - através do fenómeno da capilaridade - para uma estrutura permeável. A ascensão de água nas paredes, que pode ocorrer até alturas significativas, é função de: condições de evaporação de água que para aí tenha migrado; porosidade do material 3 ; 3 A porosidade de um material é o rácio entre os poros e canais (volume total de vazios) e o seu volume total, normalmente expressa em percentagem. Esta percentagem indica o volume do material que não é sólido. Um tijolo, por exemplo, possui uma porosidade alta (55%) relativamente a uma pedra granítica que possui uma porosidade de 1%. Assim, quanto menor for o diâmetro dos poros, maior a altura teórica que a água pode atingir. 10
15 permeabilidade do material 4 ; quantidade de água que se encontra em contacto com a parede. No caso de paredes de edifícios antigos - de alvenaria - os caminhos mais fáceis pelos quais a água poderá ascender são as juntas ou ligantes de argamassa. Geralmente, para a água ascender por um tijolo, terá primeiro de percorrer as juntas de argamassa à sua volta. De facto, elas constituem o único caminho contínuo para a sua ascensão. Se os tijolos da alvenaria possuírem um tratamento repelente à água e a argamassa utilizada for comum, a ascensão far-se-á do mesmo modo. Mas se, pelo contrário, o ligante possuir características hidrófugas, o fenómeno, de forma geral, não acontecerá. Constata-se assim que as argamassas utilizadas nas alvenarias formam uma parte bastante importante do tratamento desta patologia (Fig. 8, à esquerda). Tanto nas paredes de tijolo como nas de pedra, são geralmente identificáveis os sintomas de humidade ascensional (Fig. 8, à direita) - através de uma linha horizontal na parede, ou seja, pela diferença de tonalidade do paramento, de uma zona mais escura para uma mais clara. Esta linha forma-se no ponto onde o equilíbrio entre capilaridade e evaporação é atingido, deixando muitas vezes acumulações visíveis de sais cristalizados, usualmente designados de eflorescências ou salitre. Para baixo da linha, a humidade ascende por capilaridade. As eflorescências não aparecem nesta zona, pois a humidade mantém os sais em solução. Acima da linha, a humidade varia de acordo com as condições climatéricas. Nesta área que, que se poderá chamar de transição, a humidade por vezes é alta, de modo a suportar a capilaridade, outras vezes é baixa e só existe vapor de água. Quando a água se evapora, os sais cristalizam e ficam aí depositados. De facto, a banda de sais poderá ser um dos mais importantes indicadores de uma possível humidade ascensional. 4 A forma como os poros estão interligados num determinado material define a sua permeabilidade. Quando os poros do material não comunicam entre si, não permitindo a transferência de água, tem-se uma porosidade fechada e o material é considerado impermeável. Se, pelo contrário, a porosidade for aberta, existindo comunicação entre os poros por meio de tubos capilares, o material é permeável. No tijolo, grande parte dos poros estão ligados, o que faz com que seja um material permeável. A pedra calcária, embora pouco porosa (cerca de 15%), é muito permeável pois possui inúmeros poros interconectados que definem caminhos para a subida da água. A permeabilidade é medida em perms. Quanto mais alto for este valor, mais alta a permeabilidade do material e, naturalmente, mais condutor de humidade se torna. 11
16 Fig. 8 - À esquerda, ascensão da água pelas juntas de argamassa e, à direita, esquematização geral da ascensão de água por capilaridade 2.4. CONDIÇÕES PARA A OCORRÊNCIA DA ASCENSÃO CAPILAR A humidade ascensional em paredes (Fig. 9), provocada pela água do solo, surge sobretudo em construções antigas nos pisos inferiores, mas afecta também muitos edifícios novos. Com efeito, a maioria dos materiais de construção utilizados, quer no presente, quer no passado, tem capilaridades por vezes elevadas, permitindo que a humidade possa migrar através deles. Na ausência de qualquer espécie de barreiras estanques, esta migração pode ocorrer horizontalmente ou na vertical e manifesta-se quando se reúnem as seguintes condições [6]: Fig. 9 - Ascensão capilar: causas e efeitos existência de paredes ou fundações em contacto com água ou solo húmido; 12
17 materiais constituintes das paredes com elevada capilaridade; inexistência ou deficiente posicionamento do corte hídrico (barreiras estanques). As paredes e as fundações estão em contacto com a água, não só quando são construídas abaixo do nível freático mas também quando são construídas acima desse nível sobre um terreno de elevada capilaridade. Este fenómeno é agravado quando as paredes estão implantadas de tal forma que as pendentes do terreno adjacente permitem a escorrência de água sobre elas (Fig. 10). Fig. 10 [7] - Parede fundada abaixo do nível freático, à esquerda, ascensão capilar através do terreno, ao centro, e escorrência de água sobre a parede, à direita 2.5. ALTURA ATINGIDA PELA ÁGUA NOS PARAMENTOS AFECTADOS A ascensão da água nas paredes, que pode ocorrer até alturas muito significativas, varia em função da porometria dos seus materiais constituintes (quanto menor o diâmetro dos poros, maior a altura que a água pode atingir - Fig. 11), da quantidade de água que está em contacto com a parede e das condições de evaporação de água que para aí tenha migrado [8]. Pode considerar-se que a ascensão de água numa parede progride até ao nível em que a quantidade de água evaporada pela parede compense aquela que é absorvida do solo, por capilaridade. É devido a este facto que, sempre que se reduzem as condições de evaporação da parede (com a colocação de um material impermeável), a altura da ascensão capilar aumenta até se verificar um novo equilíbrio (Fig. 12). Na prática, a maior intensidade das humidades ascensionais verifica-se no Inverno, quando a humidade relativa do ar está próxima da saturação [7]. 13
18 Fig. 11 [9] - Influência da porometria dos materiais de fundação na ascensão capilar Fig. 12 [4] - Influência da colocação de um material impermeável na altura atingida pela água A altura que a água pode atingir varia também com a espessura da parede, época de construção, condições climáticas das ambiências (temperatura e humidade relativa) e orientação da parede em causa (insolação - as paredes viradas a Norte são mais afectadas que as orientadas a Sul, podendo alcançar diferenças de mais de 5 metros). Considerando constantes as condições ambientes, e para uma dada constituição de parede, quanto maior for a espessura, maior será a altura atingida pela humidade (Fig. 13) [8]. Outro fenómeno que vem aumentar a altura da ascensão capilar é a presença de sais no terreno e nos próprios materiais de construção que, após terem sido dissolvidos pela água, são transportados através da parede para níveis superiores (Fig. 14). Quando a água atinge as superfícies 14
19 das paredes e evapora, os sais cristalizam e ficam aí depositados. Este mecanismo dá origem a uma progressiva colmatação dos poros e, consequentemente, uma redução da permeabilidade ao vapor de água dos materiais, provocando um aumento do nível atingido pela ascensão capilar [10]. Os sais depositados nas superfícies propiciam, por outro lado, a ocorrência de fenómenos de higroscopicidade 5, podendo ocorrer aumento de humidade relativa das superfícies. Fig. 13 [8] - Altura atingida pela água em função da espessura da parede A deposição dos sais à superfície pode dar origem à formação de eflorescências ou, quando a cristalização ocorre sob os revestimentos da parede, criptoflorescências (Fig. 15) [8]. Fig. 14 [11] - Zonas de Arnold 5 A higroscopicidade é a propriedade que os materiais possuem de absorverem a humidade do ar. Os sais controlam a humidade relativa dos materiais, dissolvendo-se quando a humidade relativa do ar se eleva, e cristalizando de novo quando a mesma baixa. 15
20 Fig. 15 [8] - Mecanismo de formação de eflorescências e criptoflorescências Em termos gerais, a evaporação de água de uma parede húmida não provoca danos nas respectivas superfícies desde que ocorra em permanência. No entanto, como há zonas em que essa evaporação apresenta um carácter intermitente, verificam-se erosões nos revestimentos das paredes, resultantes da cristalização dos sais solúveis sempre que a zona seca. Por outro lado, a cristalização desses sais é acompanhada por um aumento de volume, o qual, na sequência de diversos ciclos de humedecimento - secagem, provoca o desgaste dos materiais superficiais [8]. É por esta razão que se pode observar na Fig. 16 as superfícies das paredes erodidas, em resultado de evaporações intermitentes, cujos limites superior e inferior correspondem respectivamente, às alturas máximas e mínimas atingidas pela água. Fig Paredes erodidas devido à ascensão de água com presença de sais 16
21 2.6. FONTES DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA ÀS PAREDES Como foi referido anteriormente, para que possam ocorrer manifestações de humidade proveniente do terreno, uma das condições necessárias é que as paredes estejam em contacto com a água do solo. Constata-se portanto que a água existe no solo, em zonas bem localizadas (águas superficiais) ou distribuindo-se, de maneira mais ou menos uniforme, por largas extensões ou lençóis de água subterrânea, muito próximos da superfície (águas freáticas). As águas superficiais encontram-se com frequência, retidas no solo, devido a uma recolha defeituosa da água das chuvas ou à ruptura de canalizações de água corrente e esgotos. Assim, a humidade do solo penetra gradualmente pela parte inferior das fundações e pelo paramento em contacto com o solo (Fig. 17), ascendendo por capilaridade, tornando-se depois visíveis os seus efeitos na parte não enterrada das alvenarias [12] [13]. Fig Formas de infiltração de água nas construções: à esquerda, através dos poros do betão ou outro material constituinte da parede; ao centro, devido à presença de fissuras na parede; à direita, devido à deterioração das telas protectoras e à pressão da água A cada um destes tipos de fontes de alimentação de água às construções, correspondem diferentes sintomatologias e soluções de reparação distintas, que se focarão mais adiante ANOMALIAS DEVIDAS À ASCENSÃO CAPILAR As anomalias devidas à presença de humidade ascensional caracterizam-se visualmente pelo aparecimento de manchas de humidade nas zonas das paredes junto ao solo, apresentando zonas erodidas na parte superior dessas manchas e acompanhadas, por vezes, pela formação 17
22 de eflorescências ou criptoflorescências e por manchas de bolor ou vegetação parasitária, especialmente em locais com pouca ventilação (Figs. 18 e 19). Tendo em conta o tipo de movimento ascensional da água, depreende-se facilmente que o teor de água nas paredes é decrescente com a altura acima do nível do solo, mantendo-se aproximadamente constante a um dado nível, ao longo da espessura da parede [8]. Os pisos térreos (Fig. 20, à esquerda) e as próprias fundações (Fig. 20, à direita) são também afectados pela ascensão capilar. Fig Casos de humidade ascendente de águas freáticas em paredes interiores (à esquerda) e exteriores (à direita) Fig Caso de humidade ascendente causado pela drenagem de um tubo de queda directamente no solo (à esquerda) e manifestação de eflorescências na base de uma parede (à direita) Nas situações em que a humidade é proveniente das águas freáticas, a altura das manchas correspondentes às zonas húmidas, é aproximadamente constante em cada parede, sendo maior nas paredes interiores na medida em que as condições de evaporação são menos favoráveis do que no exterior. Quando a humidade é proveniente de águas superficiais, a altura das zonas húmidas varia ao longo das paredes, sendo menor nas paredes interiores do 18
23 que nas exteriores, visto que estão mais afastadas da fonte de alimentação de água (Fig. 21). Fig À esquerda, piso manchado por deposições salinas e, à direita, inundação das fundações de uma construção Fig. 21 [8] - Variação das alturas atingidas pela humidade do terreno em paredes interiores e exteriores, em função do tipo de alimentação: águas freáticas (à esquerda) e águas superficiais (à direita) Outra causa possível de anomalias nas paredes térreas devidas à humidade ascensional são as alterações ao uso ao longo do tempo. Se houver um aumento do nível do solo adjacente à parede, constituída por materiais impermeáveis apenas ao nível das fundações e das zonas que se encontravam adjacentes ao terreno, a zona da parede constituída por materiais não impermeáveis ficará em contacto com o terreno húmido. Assim, a parede que inicialmente se apresentava com capacidade de resistir às migrações de água passa a ficar sujeita à acção da água proveniente do solo em virtude de este contactar com zonas da parede que não foram concebidas para esse fim (Fig. 22). Os sais existentes no solo e nos materiais de construção dissolvem-se na água, sendo arrastados por esta até à superfície da parede, onde cristalizam (Fig. 23) quando ocorre a evaporação 19
24 da água, dando origem às eflorescências e criptoflorescências atrás referidas. Os sais provenientes do solo e dos materiais de construção mais frequentes de se manifestarem são [17]: nitratos: sais de origem orgânica, por isso mais frequentes em zonas rurais; o mais corrente é o nitrato de cálcio, que cristaliza a 25 ºC e a uma humidade relativa de 50%; sulfatos: sais bastante higroscópicos e solúveis; cristalizam com grande aumento de volume - o sulfato de cálcio, por exemplo, aumenta em 40% o seu volume; cloretos: provenientes essencialmente dos materiais de construção, da água e de ambientes marinhos; absorvem grandes quantidades de água quando combinados com outros sais, particularmente com os sulfatos; carbonatos: estão também presentes nos materiais de construção, transformando-se em bicarbonatos sob a acção da água e do dióxido de carbono. Fig. 22 [8] - Anomalias devidas a alterações do nível do terreno Fig Manifestação extrema de sais numa parede de alvenaria 20
25 No Quadro 1 enumeram-se os sais mais frequentemente encontrados nos diversos materiais de construção. Quadro 1 - Sais mais frequentes nos materiais de construção SAL EFLORESCENTE FÓRMULA QUÍMICA POSSÍVEL FONTE Sulfato de sódio Na 2SO 4 * 10H 2O Reacção reboco - tijolo Sulfato de potássio K 2SO 4 Tijolo Sulfato de cálcio CaSO 4 * 2H 2O Tijolo Carbonato de cálcio CaCO 3 Argamassa ou betão Carbonato de sódio Na 2CO 3 Argamassa Carbonato de potássio K 2CO 3 Argamassa Cloreto de potássio KCl Ácidos de limpeza Cloreto de sódio NaCl Água do Mar Óxido de magnésio Mn 3O 4 Tijolo 21
26 3. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO As várias fases que constituem uma intervenção com vista à resolução de um problema de humidade ascendente podem esquematizar-se do seguinte modo [18]: 1. Determinação das causas (diagnóstico); 2. Eliminação da fonte; 3. Intercepção da água; 4. Criação de uma barreira contra a subida da humidade; 5. Desumidificação da parede; 6. Eliminação dos defeitos; 7. Protecção e prevenção. De entre as várias intervenções correctivas atrás referidas, o presente documento deter-se-á apenas um pouco sobre o método de diagnóstico - fase essencial para que qualquer tipo de recuperação seja bem sucedido - e, essencialmente, sobre a criação de barreiras contra a subida de humidade em paredes. A fase de diagnóstico envolve dois processos: a identificação do problema, incluindo a sua natureza e extensão - por exemplo, elevado grau de eflorescências na parede exterior da fachada norte ao nível do piso térreo; área aproximada de 4 m 2 ; a previsão de uma possível causa do problema - por exemplo, o exame executado na base da parede acima referida revelou que esta se encontra fendilhada, o que constitui um ponto de entrada de água. O diagnóstico identifica a causa e o efeito do problema, usualmente começando com a identificação deste último. A Fig. 24 ilustra os locais a inspeccionar numa construção corrente. De seguida, os exames a efectuar são identificados de uma forma detalhada. Exame externo: 22
27 a) coberturas, algerozes, caleiras, etc.; b) estado das alvenarias, argamassas, rebocos e pinturas; c) verificação de possível fendilhação junto a pontos fracos da construção; d) estado das portas e janelas; e) verificação de grelhas de ventilação e outras aberturas em fachadas; f) verificação de chaminés e outros elementos emergentes nas coberturas; g) detecção de uma possível barreira anti humidade existente, incluindo a identificação do produto e sistema utilizados. Fig Check-up de rotina a executar ao edifício na fase de diagnóstico Exame interno: a) verificação da existência de fungos, manchas e bolores; b) verificação de desagregação de pinturas e rebocos; c) verificação da existência de eflorescências; d) identificação de possíveis materiais danificados devido à acção da água. Exame secundário interno (pressupõe o uso de aparelhos de medição de teores de humidade - Fig. 25): a) verificação dos teores de humidade no perímetro e centro dos pavimentos; b) determinação dos teores de humidade dentro e fora das paredes; 23
28 c) verificação das juntas entre pavimentos / paramentos; d) detecção de uma possível barreira anti-humidade existente, incluindo a identificação do produto e sistema utilizados (se instalada no interior do edifício); e) verificação dos teores de humidade nas superfícies paredes sob uma linha vertical e sob uma linha horizontal; f) verificação da existência de criptoflorescências; g) verificação da utilização de folhas de polietileno ou metálicas em paredes; h) listagem do tipo de materiais utilizados em rebocos, pinturas, estuques, etc.. Fig Aparelhos de medição do teor de humidade nas paredes com base na resistência eléctrica Exames adicionais: a) verificação (se possível) do historial do edifício (projecto, obras de recuperação, etc.); b) avaliação do tipo e condições de utilização do edifício (instalações de aquecimento central, ar condicionado, extracção de fumos, caudais de ventilação, etc.) FACTORES A CONSIDERAR Os materiais de construção comuns diferem bastante entre si relativamente à sua resistência à humidade. Este facto encontra-se relacionado com o grau de humidade existente no ar e com a 24
29 capacidade que o material possui para a atrair. Para isto concorre a sua composição química e a presença de sais que se encontram nas paredes - seja por ascensão capilar, seja por integrarem os componentes estruturais do material empregue. A presença de uma ascensão capilar activa é indicada por quantidades excessivas de humidade na base das paredes, que vão diminuindo na razão inversa da sua altura. Este gradiente é geralmente observado até alturas de 1.5 m. Contudo, este valor depende directamente da estrutura e condições das alvenarias, podendo assim ascender a valores mais altos. A contaminação das alvenarias por uma banda de sais higroscópicos poderá confirmar a existência de um problema deste tipo, mas não possibilitará a distinção entre uma ascensão activa ou passada. Para a verificação de tais situações, será necessária a recolha - numa faixa vertical - de amostras in-situ e a posterior determinação dos teores de humidade e higroscopicidade de cada uma (Figs. 26 e 27 e Quadro 2). De facto, a altura onde os sais estão presentes revelará a história da humidade - eles marcarão sempre a altura máxima a que ela ascendeu. Assim, poder-se-á também utilizar este método para testar a eficiência de eventuais barreiras instaladas. Fig Recolha de amostras in-situ para a determinação dos teores de higroscopicidade: à esquerda, materiais necessários (berbequim de baixa rotação, régua, aparelho de medição de teor de humidade, caixas de recolha, etiquetas e bloco de notas) e, à direita, marcação dos pontos de recolha (distanciados entre 5 a 10 cm) 25
30 Fig Recolha de amostras in-situ para a determinação dos teores de higroscopicidade: à esquerda, recolha das amostras e, à direita, medição dos vários níveis do teor de humidade Quadro 2 - Perfil - tipo de uma parede - resultados dos ensaios (situação correspondente ao 1º perfil da Fig. 28) Altura Material Teores totais de Teores de Teores de Cloretos Nitratos (mm) humidade (%) higroscopicidade (%) humidade (%) 2100 Argamassa ns ns 1800 Argamassa ns ns 1500 Argamassa ns ns 1200 Argamassa Argamassa Argamassa Argamassa Argamassa ns ns É também essencial, nesta fase, proceder à eliminação de outras potenciais fontes de humidade - especialmente de condensações em meses frios - bem como à verificação de possíveis tratamentos anteriores nas paredes em causa, de modo a que o diagnóstico se possa executar o mais correctamente possível, já que a determinação da relação causa / efeito se poderá tornar um processo extremamente complicado. De facto, a fase de diagnóstico poderá levar um ano a ser executada - de modo a acompanharse o problema por todas as estações. É também código de boa prática a resolução de um problema de cada vez - caso o mesmo edifício possua mais do que uma patologia - e monitorizar todos os seus efeitos antes de se proceder ao tratamento de qualquer outro. Este processo também toma tempo. Finalmente, também poderão passar vários anos para que uma parede seque completamente depois de ter sido submetida a qualquer processo de reabilitação. Existem casos, em Veneza, que levaram 12 anos para que as barreiras introduzidas fizessem 26
31 qualquer efeito. A paciência é assim, elemento de extrema importância em qualquer tipo de diagnóstico relativo a problemas de humidade. De forma geral, poder-se-á afirmar que, no caso de edificações de construção recente, em que a constituição das paredes e o tipo de ocupação dos espaços sejam bem conhecidos, o diagnóstico poderá ser consideravelmente facilitado, enquanto que em construções antigas, a mesma análise será bastante mais dificultada [19]. Tomando como exemplo a Fig. 28, a interpretação dos resultados seria como se segue: Fig Perfis-tipo possíveis de distribuição da humidade e sais em paredes ascensão capilar activa - os sais marcam a altura máxima a que a humidade ascendeu, mas neste perfil esta continua ainda a subir; no caso da existência de uma barreira, comprova-se a sua ineficácia; ascensão capilar controlada - neste caso, a humidade já atingiu no passado a altura dos sais, mas neste momento encontra-se controlada ou reduzida; penetração de água da chuva acima de humidade ascendente - no último caso, existe a presença de humidade acima da altura máxima de sais; este fenómeno sugere que exista uma possível ocorrência de penetração de água da chuva ocorrendo acima do nível máximo ao qual subiu; em casos como este, será impossível afirmar com certeza que um 27
32 tratamento eliminaria a patologia, pois é impossível saber ao certo qual a sua fonte exacta. Em modo de conclusão, poder-se-á afirmar que um método de diagnóstico que se pretenda de aplicação universal deve ser, necessariamente, completo e exaustivo, incluindo todas as determinações e análises que as situações mais complexas possam eventualmente requerer. A sua aplicação às várias formas de manifestação de humidade em paredes implica que se avalie, caso a caso, qual o tipo de informação necessária, propiciando dessa forma que o método de diagnóstico seja adaptado à situação específica em análise EQUIPAMENTO DE ENSAIO Faz-se de seguida, uma relação do equipamento de ensaio utilizado na fase de diagnóstico para determinação das causas deste tipo de patologia [19] Processos de medição do teor de água nas paredes Processos não destrutivos: a) aparelhos baseados na medição da variação da resistência eléctrica (Fig. 25); b) aparelhos baseados na medição da variação da constante dieléctrica; c) aparelhos baseados na medição da variação da impedância de um semi-condutor; d) aparelhos baseados na utilização de neutrões ou microondas. Processos destrutivos: a) método ponderal (recolha de amostras in-situ - Fig. 24, à esquerda); b) aparelhos baseados na medição da pressão de acetileno; c) método do núcleo independente (recolha de carotes in-situ). Outras determinações: 28
33 a) indicadores da presença de sais; b) indicadores do risco de ocorrência de condensações; c) indicadores de ocorrência de condensações Processos de medição das condições atmosféricas a) temperatura: termómetros correntes (mercúrio, gás e bi-metálicos); b) humidade relativa: psicómetros, higrómetros, instrumentos de determinação do ponto de orvalho, instrumentos baseados nas variações da capacidade ou resistência eléctricas) Processos de medição da temperatura superficial das paredes a) alguns termómetros correntes mediante adaptadores especiais; b) termopares e aparelhos de termografia (criando registos de radiações infravermelhas). 29
34 4. CONCEPÇÃO PARA PREVENÇÃO DA ASCENSÃO CAPILAR 4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS As enormes dificuldades de ordem técnica e económica que se põem nas soluções de reparação de construções afectadas por humidade ascensional justificam plenamente que o problema seja exaustivamente estudado na fase de projecto - constituindo assim um conjunto de medidas preventivas para suprimir ou, pelo menos, minimizar este tipo de anomalias. A presença da humidade em excesso nas obras de construção civil deve-se com frequência a uma construção deficiente, que se pode traduzir nos seguintes aspectos, entre outros: os blocos de betão e os tijolos de barro vermelho são colocados sem terem a quantidade de argamassa suficiente para se solidarizarem uns aos outros, já quebrados ou tortos; os materiais em contacto com o terreno são pouco densos e muito permeáveis; o betão ou argamassa utilizados não são obtidos a partir de um estudo da sua composição, são fabricado com quantidades inadequadas dos seus constituintes, são mal vibrados / compactados, a sua cura é mal efectuada (temperaturas inadequadas, tempo de cofragem insuficiente, etc.) ou não têm os adjuvantes necessários (para serem hidrófugos); ausência ou defeito de impermeabilização (barreiras estanques) e/ou drenagem (valas); as armaduras podem criar o chamado ninho de britas, muito comum quando não se faz um bom estudo da composição do betão, não se compacta o betão em condições ou existe um excesso de armaduras, que cria um volume de vazios devido a uma acumulação de inertes que o ligante não consegue preencher; má avaliação das condições geotécnicas (terrenos impregnados de água) e/ou climatéricas. A primeira precaução para protecção da água ascendente do solo consiste, obviamente, em afastá-la das fundações. Os drenos e poços de absorção têm por missão afastar dos alicerces as águas infiltradas através do solo por gravidade. No entanto, poder-se-á baixar pelo mesmo processo o nível do lençol de água, se for o caso de o edifício a construir estiver implantado abaixo do nível freático. Quando as condições geológicas são favoráveis, um poço que chegue a uma camada absorvente dará o resultado desejado. No entanto, na maior parte dos casos ter- 30
35 se-á de recorrer à drenagem. Segundo [20], a maior parte das anomalias resultante da acção da humidade do solo (manchas, eflorescências, descolamento de pinturas e rebocos) observam-se com as seguintes condições de terreno e soluções de estanqueidade: edifícios em solos impermeáveis ou pouco permeáveis, compostos por argila ou limo; elementos construtivos manifestando grande quantidade de água acumulada, consequência da pendente do terreno ou precedente de drenagem mal executada do próprio edifício (caso dos tubos de queda a escoar directamente para o terreno); ausência de drenagem perimetral e respectivas camadas filtrantes. Convém também referir que algumas das soluções seguidamente descritas poderão constituir soluções eficazes de reparação, sempre que as condições do local o permitam, lembrando também que os custos para a eliminação das referidas anomalias serão sempre elevados. Como seguidamente se irá confirmar, qualquer dos tipos de soluções enumeradas não se esgota em si mesmo. De facto, a combinação inteligente de cada uma delas (Figs. 29 e 30), adaptada a cada tipo de caso, poderá constituir um método mais eficaz e de maior durabilidade. Fig. 29 [20] - Drenagem superficial do terreno conjuntamente com a execução de câmara-dear (à esquerda) e de drenagem periférica conjuntamente com um corte hídrico (à direita) Como referido atrás, a melhor forma de combater as humidades ascensionais consiste na 31
36 prevenção: a fim de evitar todos os problemas provenientes de uma deficiente estanqueidade às humidades do solo, são de tomar as medidas preventivas, ainda em fase de projecto e para os vários materiais e elementos construtivos do edifício [7], que a seguir se referem. Fig. 30 [20] - Solução de colocação de membrana impermeável conjuntamente com a introdução de um elemento descontínuo com funções drenantes (à esquerda) e com a execução de uma câmara de ar (à direita) 4.2. SELECÇÃO DOS MATERIAIS Seleccionarem-se os materiais de construção com um conteúdo mínimo de sais solúveis e um desempenho máximo na protecção hidrófuga da estrutura é o primeiro passo na prevenção da ascensão capilar. As seguintes recomendações são apresentadas para auxílio do projectista na selecção dos materiais, com a finalidade de se limitar a ocorrência da eflorescência Alvenaria Existem diversos tipos de tijolos que não contêm sais solúveis nem contribuem para a ocorrência de eflorescências, e que são comercializados por diversas marcas e fábricas de produção nacional e estrangeira. Recomenda-se que todas as faces sólidas e perfuradas do tijolo sejam testadas quanto à sua tendência para a deposição de sais pelo ensaio da ASTM C- 67, Standard Methods of Sampling and Testing Brick and Structural Clay Tile. Este ensaio consiste em imergir parcialmente amostras representativas de tijolo em água destilada por um período de sete dias. No final desse período, deixam-se secar as unidades, e 32
37 analisam-se as deposições de sais por comparação com as amostras que não foram imersas. O tijolo deve ser classificado nunca acima de ligeiramente salitrado para ser aceitável Enchimento Muitos materiais de enchimento contêm percentagens relativamente elevadas de álcalis que podem contribuir para a deposição de sais na face de uma parede em alvenaria de tijolo. Sugere-se, portanto, que as unidades de enchimento sejam testadas quanto ao seu conteúdo em sais pelo ensaio acima referido. Quando são usados materiais de enchimento que contêm sais solúveis, recomenda-se que todos os pormenores da parede e o projecto sejam tais que os materiais que contenham sais estejam separados dos tijolos exteriores aparentes. Esta precaução de projecto evita a migração através da parede de sais solúveis em água, e que conduz à formação das eflorescências. Isto pode ser feito através do uso de paredes com caixa-de-ar, por exemplo Argamassa A principal contribuição das argamassas para a deposição de sais é o alto teor em álcalis do cimento portland. A tendência do cimento para a salitragem pode ser prevista com razoável rigor pela sua análise química. Os cimentos de alto teor em álcalis estão mais sujeitos a produzirem eflorescências do que os cimentos de baixo teor Aditivos Os aditivos para as argamassas não são geralmente recomendáveis por causa dos seus componentes desconhecidos e da falta de dados sobre os seus efeitos na força de coesão e, consequentemente, na resistência hidrófuga das alvenarias Armazenamento dos materiais 33
38 O método de armazenamento dos materiais num estaleiro de construção pode influenciar a futura ocorrência da deposição de sais. Os materiais devem ser armazenados de tal forma que se evite a sua saturação pela chuva, neve ou humidade do solo, tal como a sua contaminação com sais e outros materiais que possam contribuir para a salitragem. As unidades de alvenaria (tijolos ou blocos) devem ser armazenadas afastadas do solo para se evitar a sua contaminação pela terra e pela água superficial que possa conter sais solúveis. Devem também ser tapadas com uma membrana impermeável para que se mantenham secas. Os materiais cimentícios para as argamassas devem ser armazenados afastados do solo e, de preferência, debaixo de cobertura ou dentro de casa. A areia para as argamassas deve ser armazenada afastada do solo para se evitar a sua contaminação com terra, plantas, materiais orgânicos ou águas superficiais, todos eles podendo contribuir para a deposição de sais. É ainda aconselhável armazenar-se a areia e os outros inertes debaixo de uma membrana de protecção, se possível PAREDES Os mais meticulosos projectos de execução das paredes podem ser postos em causa pela selecção de materiais impróprios ou por assentamento defeituoso. O inverso também é verdadeiro, ou seja, o uso dos melhores materiais e o melhor assentamento não irá, por si só, assegurar uma estrutura permanente e de sucesso, se o seu projecto for deficiente. O projecto de uma parede em alvenaria e a selecção dos materiais para a sua construção deveriam, sob o ponto de vista da resistência à penetração pela água, ser baseados consoante a exposição a que cada parede irá estar sujeita. De acordo com o DTU 20.1, as paredes elevadas devem estar protegidas da ascensão capilar proveniente da água do solo através de um corte hídrico localizado a uma distância de mais de 15 cm do solo exterior. A forma de materializar o corte hídrico depende da tecnologia de construção utilizada, devendo ser executado quer nas paredes exteriores, quer nas paredes interiores, de modo a evitar totalmente a ascensão capilar. Por observação das Figs. 31 a 33, depreende-se que não convém deixar pontos frágeis quando se executa o corte hídrico. 34
39 Os materiais a aplicar recomendados pelo mesmo documento são os seguintes: Fig. 31 [7] - Corte hídrico bem executado (à esquerda) e corte hídrico mal executado (ao centro e à direita) Fig Erros de execução mais comuns na colocação de membranas impermeáveis Fig. 33 [20] - Colocação de uma dupla membrana para protecção de salpicos da água da chuva feltro betuminoso; chapa betuminosa armada; folha de polietileno (Figs. 34 e 35) colocada a seco sobre camada de argamassa de 300 a 350 kg de cimento por m 3 de areia, com 2 cm de espessura, protegida por uma segunda 35
40 camada de argamassa de cimento de igual espessura. Fig Execução de barreira estanque em paredes de alvenaria com folha de polietileno Fig Pormenores de execução de uma barreira estanque em parede de alvenaria numa estrutura de betão armado Contudo, segundo [15] existem outros tipos de materiais que poderão exercer as mesmas funções, conforme se pode verificar no Quadro 3. 36
41 Não sendo adequadas para um corte hídrico efectivo, as pinturas protectoras (Fig. 36), formando uma película contínua e envolvente firmemente ligada à superfície que cobrem, podem ser utilizadas nas superfícies exteriores de paredes térreas. Quadro 3 [15] - Materiais para a execução do corte hídrico MATERIAL CARACTERÍSTICAS MODO DE APLICAÇÃO Ardósias (em edifícios de pouca altura) Espessura média 2.5 mm Sem pirite Duas camadas sobrepostas e alternadas, envolvidas em argamassas gordas de cimento portland que enche todos os interstícios. Camada de 2 cm da mesma argamassa por cima. Asfalto vazado Asfalto para isolamento. Espes-Sobre argamassa de cal ou cimento perfeitamente lisa e sura mín. 6 mm (comprimido) Chapa flexível Sobre tecido de feltro ou chapa metálica Feltro betuminoso Aplicado a quente picada. Camada de 2 cm da mesma argamassa por cima. Sobre argamassa de cimento perfeitamente lisa e picada. Camadas fixadas por meio de pregos na argamassa ou envolvidas por materiais aplicados a quente. Bordos protegidos por banho de betume a quente. Chapa de 2 cm de argamassa de cimento por cima. Sobre argamassa de cimento perfeitamente lisa e picada. Feltro colocado em banho de materiais aplicados a quente. Sobreposições de 8 cm entre feltros. Bordos protegidos por banho de betume a quente. Capa de material a quente por cima com camada de argamassa de cimento portland. Chumbo Folhas de 2.5 mm de espessura Sobre argamassa de cimento portland picado e banho contínuo de materiais colocados a quente. Folhas de chumbo com sobreposição de 10 cm a quente. Capa de material a quente por cima com camada de argamassa de cimento portland. Figura 36 - Pinturas protectoras de paredes Tendo em conta que a humidade do solo penetra nas faces das paredes pela acção das forças capilares, sendo estas tanto mais intensas quanto mais finos forem os seus poros, poderá 37
42 conferir resultados positivos a colocação, entre os elementos de construção ou entre as faces das paredes e o solo, de aglomerados de materiais de poros largos, tais como um enchimento com pedra britada, entulho ou betão ciclópico (barreiras anti-capilares). Este método é geralmente utilizado em aterros e construções subterrâneas. Contudo, na maior parte dos casos, é conveniente reforçar ou substituir a solução pela colocação de membranas impermeáveis (corte hídrico) [15] PILARES Actualmente, a maior parte das construções é executada com estruturas reticuladas de betão armado, preenchidas com painéis de alvenaria. O corte hídrico deve ser contínuo em toda a envolvente da edificação. No entanto, a sua execução nos pilares, apesar de ser uma tarefa possível, é de difícil realização PAVIMENTOS TÉRREOS As humidades ascensionais afectam também os pavimentos térreos. Neste caso, a solução do problema é relativamente simples: para evitar a ascensão capilar, é suficiente a colocação, sob o pavimento, de uma camada impermeável. No entanto, ao ser criada uma barreira estanque sobre o solo húmido, está a impedir-se a evaporação da água, o que poderá provocar um aumento de ascensão capilar nas paredes anexas. Verifica-se, assim, que a execução de uma barreira estanque em pavimentos térreos (Fig. 37), deve ser acompanhada pelo combate da ascensão capilar nas paredes. Embora a membrana impermeável deva preferencialmente ser colocada sob o piso térreo, a hipótese inversa também é possível (Fig. 38). 38
43 Fig. 37 [7] - Influência da colocação de barreira impermeável no pavimento 4.6. DRENAGENS PERIFÉRICAS A drenagem pode ser efectuada horizontalmente, através de uma rede de tubagens porosas convenientemente espaçadas que recolham as águas e as conduzam a um sistema de esgotos, ou na vertical, através da execução de valas em torno da construção, que irão impedir a aproximação da água à mesma. Fig. 38 [20] - Colocação de uma barreira impermeável sob e sobre a laje do piso térreo Em casos de terrenos pouco coerentes, os finos poderão ser arrastados para a vala, colmatando os poros dos seus materiais de enchimento e impedindo o seu bom funcionamento. Nestas circunstâncias, dever-se-á revestir toda a sua superfície com um manto geotêxtil, de modo a anular estes inconvenientes. Quanto à sua localização, as valas poderão ser executadas junto ou longe das paredes (Fig. 39; à esquerda e à direita, respectivamente). No primeiro caso, dever-se-á ter em conta, tal como no caso anterior, a permeabilidade dos rebocos ao vapor de água e, no caso de reabilitação, a remoção de eventuais argamassas estanques que poderão afectar a secagem da parede. No segundo caso, deverá existir o cuidado de criar e impermeabilizar um declive no terreno (da base da parede para a vala). 39
44 A profundidade das valas adjacentes às paredes não deverá exceder o nível das suas fundações. Se a mesma for executada afastada das paredes, a sua profundidade máxima deverá ser condicionada pela pendente de uma recta imaginária que una o nível inferior das fundações existentes e o fundo da vala (Fig. 39, à direita), a qual não deve exceder 15% no caso de o terreno ser constituído por areias finas, ou 30% se for argiloso [19]. Barreira impermeável Eventual impermeabilização do terreno periférico Barreira impermeável Areia Gravilha SUBSO LO Areia 2 m SUBSO LO Revestimento exterior Gravilha Revestimento exterior Enrocamento Enrocamento Terreno impermeável Pedras grandes Dreno Pedras grandes Betão ciclópico Dreno variável Fig Dois exemplos de valas (ambas com enchimento): junto à parede (à esquerda) e afastada desta (à direita) Existem dois tipos de valas periféricas: as sem enchimento e as com enchimento. As primeiras são sempre executadas adjacentes ao muro, enquanto que as segundas poderão ser ou não adjacentes ao muro [8] Valas periféricas sem enchimento As valas sem enchimento não são preenchidas com qualquer material, pelo que deverão apresentar alguma resistência mecânica para resistir aos impulsos horizontais. Estas valas deverão possuir inferiormente uma caleira de encaminhamento das águas recolhidas e superiormente serem cobertas com grelhas para permitir a ventilação (Fig. 40). 40
45 Fig. 40 [7] - Protecção contra a ascensão capilar do terreno através de uma vala periférica sem enchimento Uma das principais vantagens deste método é o facto de, para além de impedir o acesso das águas laterais, favorecer a secagem das paredes contíguas garantindo nelas a permeabilidade ao vapor de água (removendo revestimentos estanques). Mas, para que tal seja possível, terá de ser prevista a colocação de um reboco permeável ao vapor ou, se possível, não lhes aplicar qualquer tipo de revestimento. Dever-se-ão também adaptar soluções construtivas que permitam uma adequada ventilação das valas, geralmente por grelhas de ventilação e pelo próprio traçado que terá de contemplar várias exposições ao sol / sombra (que contribuirão para a criação de temperaturas variáveis que, por sua vez, criarão o efeito de chaminé ). As larguras das valas oscilam entre 30 cm e 1 m e a sua profundidade deverá ser a do nível inferior das paredes (acautelando os devidos aspectos de segurança estrutural) Valas periféricas com enchimento Uma vala com enchimento afastada da parede deve preferencialmente situar-se a 1.5 a 2 m desta. Possuem materiais de enchimento permeáveis no seu interior que irão conduzir as águas infiltradas para uma tubagem existente no seu fundo (Fig. 41). Estes materiais deverão constituir em média quatro camadas distintas, com granulometrias crescentes da superfície para o fundo (Fig. 39) [21]. Nestes casos, deve ter-se o cuidado de impermeabilizar a superfície do terreno adjacente à parede, a fim de evitar infiltrações para a zona que se pretende drenar. Deve também garantir-se uma pequena inclinação do terreno no sentido da vala. Quanto à sua profundidade, será condicionada pelo tipo de terreno. 41
46 Fig. 41 [10] - Drenos de configuração variada Os tubos de drenagem poderão ou não ser porosos, sendo de contemplar, neste último caso, as devidas perfurações ou juntas desligadas entre os diversos troços (Fig. 42). Tendo em conta que estes recolherão grande quantidade de finos provenientes do terreno, convém proceder-se à execução de caixas de limpeza para manutenção periódica. Fig. 42 [14] - Tubos de drenagem de material cerâmico, betão perfurado, plástico e betão filtrante Execução de câmaras-de-ar nas paredes de fundação A execução de valas periféricas com enchimento possui como grande inconveniente o facto de não permitir a ventilação da parede. De modo a atenuar este tipo de problema, existem hoje em dia soluções alternativas que se traduzem, nomeadamente, na colocação de elementos com configurações adequadas junto ao paramento exterior tendo em vista a constituição de uma 42
47 câmara-de-ar (Fig. 43) para que a ventilação ocorra. Uma variante consiste em colocar, junto ao paramento exterior do muro enterrado, peças perfuradas com configurações adequadas que irão permitir alguma ventilação e, portanto, facilitarão a evaporação (Fig. 44) Geodrenos É possível ainda recorrer à colocação de telas filtrantes / geodrenos (Fig. 45), constituídos por dois materiais colados entre si: o primeiro, colocado junto à terra, em poliéster funciona como filtro; o segundo, colocado junto à parede, é um emaranhado espesso de fibras sintéticas ou plástico alveolar. Este dispositivo permitirá o escoamento da água para o dreno. ORIFICIO DE VENTILAÇÃO TABIQ UE Fig Soluções de execução de câmaras-de-ar com orifícios de ventilação da parede Fig. 44 [7] - Colocação de placas de betão e de blocos drenantes 43
48 4.7. DRENAGENS SUPERFICIAIS Em presença de águas superficiais, pode proceder-se à sua recolha através da realização de uma correcção do declive do terreno, da criação de valas drenantes e da impermeabilização superficial do terreno (Fig. 46). Fig Tela drenante: esquema representativo [7] (à esquerda) e forma de colocação (à direita) Fig. 46 [20] - Solução de criação de drenagem superficial 44
49 5. TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO São várias as formas sob as quais as anomalias devidas à presença da humidade podem manifestar-se. A cada tipo de causas correspondem conjuntos definidos de sintomas que, no entanto, não são específicos de um dado tipo de anomalias, podendo ocorrer noutros [8]. É frequente que dois ou mais tipos de fenómenos apareçam associados, quer por existirem condições propícias para tal, quer porque, em certos casos, uns podem ser consequência de outros. É preciso ter em conta que, em muitos casos, as soluções susceptíveis de serem utilizadas na resolução de uma dada anomalia, podem contribuir para solucionar ou agravar outras que com ela co-existam: uma solução orientada para resolver um certo problema pode dar origem a anomalias mais graves do que as que existiam inicialmente, pelo que o processo de reparação deve ser encarado como um todo e não como um somatório de pequenas intervenções pontuais. De uma forma geral, quando se depara com um edifício já construído, em que não foram tomadas as devidas precauções e se verifica a presença de humidade ascensional nas suas paredes, a metodologia de tratamento passa pelas seguintes acções: impedir o acesso de água às paredes; impedir a ascensão da água nas paredes; retirar a água em excesso das paredes; ocultar as anomalias IMPEDIMENTO DO ACESSO DE ÁGUA ÀS PAREDES Secagem da fonte de alimentação da água É um procedimento aplicável às situações em que seja possível identificar a fonte de alimentação de água, e que não tenha um carácter generalizado [8]. As situações mais correntes de aplicação desta técnica são as de ruptura de colectores de água ou esgoto e as de 45
50 deficiente escoamento das águas pluviais recolhidas pela cobertura, muitas vezes causadas pela inexistência de algerozes, caleiras ou tubos de queda, permitindo que a água descarregue directamente sobre as paredes e sobre o terreno (Fig. 47). Fig Inexistência de colectores para receber as águas pluviais da cobertura A solução consiste na criação, colocação ou substituição de dispositivos que recolham e afastem estas águas pluviais da edificação, ligados posteriormente a um esgoto, permitindo resolver um problema aparentemente complicado de uma forma simples e económica Tratamento superficial do terreno Por vezes, os terrenos adjacentes às paredes afectadas apresentam um declive que permite às águas pluviais entrar em contacto com estas. Nestes casos, um tratamento adequado do terreno permite evitar a ascensão capilar, através de soluções que passam pela correcção do declive do terreno, pela criação de valas drenantes nas zonas adequadas, pela impermeabilização superficial do terreno, como forma de evitar a infiltração da água das chuvas, ou pela criação de uma zona drenante superficial [8] Rebaixamento do nível freático Este método consiste na execução de poços ou drenos verticais dispostos de tal forma que o 46
51 novo nível freático do terreno se situe abaixo da cota mínima das zonas afectadas. É um tipo de solução de difícil execução e dispendiosa e requer a existência de dispositivos que conduzam a água recolhida nos poços ou nos drenos para um esgoto adequado a esse fim. Em circunstâncias correntes, tal só é conseguido através do recurso a equipamentos mecânicos de extracção de água que permitam a sua elevação para um nível tal que torne viável o acesso aos sistemas de esgoto existentes. Convém ter em conta que o rebaixamento do nível freático em determinados tipos de terreno pode conduzir à ocorrência de assentamentos diferenciais nas edificações originando, mais tarde, anomalias de ordem estrutural. Estas soluções poderão ser eficazes nas situações em que a água é de origem freática, sendo completamente ineficazes quando a ascensão capilar é originada pelas águas superficiais Drenagem do terreno A drenagem do terreno é um tipo de intervenção destinado a recolher as águas superficiais (duma forma geral, águas pluviais), conduzindo-as a um sistema de esgotos apropriado. O objectivo deste método consiste em evitar que as águas superficiais existentes no terreno atinjam as paredes (Figs. 48 e 49) ou as fundações [7]. Fig Anomalias provocadas pela ascensão capilar em paramentos exteriores A drenagem pode ser efectuada horizontalmente, através de uma rede de tubagens porosas convenientemente espaçadas que recolham as águas e as conduzam a um sistema de esgotos, ou na vertical, através da execução de valas em torno da construção, que irão impedir a 47
52 aproximação da água à mesma (Fig. 50). Fig Anomalias provocadas pela ascensão capilar em paramentos interiores Fig. 50 [14] - Planta do esquema de drenagem de um edifício Execução de valas periféricas Com o intuito de eliminar a água em excesso adjacente aos elementos de construção, podem executar-se valas periféricas (que, à partida, não resolvem problemas relacionados com as águas freáticas). Esta técnica, bastante eficaz para impedir o acesso à parede de águas superficiais, deve ser preferencialmente utilizada quando existem infiltrações laterais, ou seja, quando a profundidade atingida pelas águas superficiais no terreno seja inferior à cota mínima das fundações das paredes, já que as valas periféricas não impedem totalmente a ascensão capilar. 48
53 Quando a profundidade da água for superior àquela cota, dever-se-á executar uma vala mais profunda do que as fundações, tendo em conta as suas vantagens e inconvenientes. Conforme referido anteriormente, as valas periféricas podem ser sem enchimento (Fig. 51) ou com enchimento (junto - Fig ou afastadas da parede afectada - Fig. 53). Fig. 51 [8] [9] - Valas sem enchimento Fig. 52 [9] - Valas com enchimento junto à parede afectada, incorporando geodrenos 5.2. IMPEDIMENTO DA ASCENSÃO DE ÁGUA NAS PAREDES 49
54 Este tipo de soluções é utilizado quando se está em presença de água cuja fonte de alimentação é o nível freático. Pretende-se com estes métodos estabelecer um corte hídrico na base das paredes, impedindo a ascensão da água. As soluções existentes consistem na: redução da secção absorvente; introdução de barreiras estanques, através do corte da parede; introdução de produtos impermeabilizantes. Fig. 53 [22] - Vala com enchimento afastada da parede afectada Este conjunto de técnicas é o mais eficaz no que respeita à correcção das anomalias provocadas pela ascensão capilar [7] Redução da secção absorvente Esta técnica, cujo fundamento é muito interessante, consiste em tentar reduzir a secção absorvente. Imaginada por Koch, consiste na substituição de parte do painel de material onde se dá a ascensão capilar por espaços vazios, de forma a reduzir ao mínimo a quantidade de tubos capilares por onde se possa dar a ascensão. O princípio é ilustrado na Fig. 54, onde se pode observar a altura atingida pela água antes e depois da execução das aberturas semicirculares na base da parede. A ideia base, sem a utilização de materiais impermeáveis, é a de que a quantidade de água absorvida pela secção reduzida da parede seja compensada pela evaporação que se produz na 50
55 zona imediatamente a seguir às aberturas, impedindo que a migração se continue a verificar. Embora seja uma ideia interessante é, obviamente, uma técnica pouco usada por questões arquitectónicas e estruturais e apenas aplicável em certos edifícios. Fig. 54 [7] - Redução da secção absorvente Introdução de barreiras estanques através do corte da parede Enquanto que no método anterior se pretendia reduzir a secção absorvente, neste caso pretende-se pura e simplesmente criar um corte hídrico, impedindo totalmente a subida da água. Relacionados com este método, podem distinguir-se quatro tipos de corte nas paredes, permitindo em cada um deles, a introdução de diferentes tipos de materiais estanques (Fig. 55). Fig Tratamento por introdução de barreiras estanques Este processo é, de entre todos o mais fiável, mas é também muito caro e susceptível de pôr em causa a estabilidade das paredes. Quando cuidadosamente colocadas, as membranas estanques garantem uma eficácia quase total. 51
56 Substituição de elementos de alvenaria A técnica consiste em demolir a alvenaria, por pequenos troços, ao longo de uma faixa prédefinida e substitui-la por materiais impermeáveis (novos blocos de alvenaria, impermeabilizados e bastante mais densos na sua constituição, e argamassa modificada hidrófuga nas juntas é utilizada), em toda a sua espessura e comprimento (Fig. 56). Deste modo, é criada uma barreira física, de 20 a 30 cm que impede a ascensão da água à parede. Fig. 56 [14] - Substituição de tijolos correntes por tijolos tipo clínquer Este método, embora eficaz, é de execução difícil e morosa e é aplicável apenas em paredes constituídas por elementos de alvenaria pequenos e regulares, pelo que tem caído em desuso Corte com serra Uma forma mais expedita de executar um corte na parede consiste na utilização de uma serra de disco ou similar (Fig. 57, à esquerda), procedendo-se ao corte das paredes em troços alternados com cerca de 1 metro de comprimento. A abertura do roço em paredes com acesso pelas duas faces pode ser executada com um fio helicoidal (Fig. 57, à direita), o que facilita o trabalho no caso de paredes de grande espessura. As aberturas praticadas nas paredes são preenchidas com materiais impermeáveis, como as membranas betuminosas, as placas de chumbo, as folhas de polietileno ou de policloreto de vinilo ou, ainda, as argamassas de ligantes sintéticos. A continuidade dos materiais utilizados deve ser assegurada para garantir a total estanqueidade da zona tratada e o preenchimento do 52
57 espaço eventualmente livre, existente após a aplicação destes materiais, deve ser garantido de forma a não ocorrerem assentamentos posteriores. Fig Corte com serra (à esquerda) e com fio helicoidal [9] (à direita) Este método tem como inconvenientes a produção de grande quantidade de poeiras e vibrações que, sobretudo em alvenarias pouco coerentes, podem provocar problemas de estabilidade Método de Massari (corte por carotagens sucessivas) O método desenvolvido por G. Massari, em 1965, consiste na execução de cortes na parede, por carotagens sucessivas (Fig. 59; à esquerda), em troços de cerca de 45 a 50 cm de comprimento. Estas furações, com diâmetro de 3.5 cm, são executadas alternadamente e em duas séries, tais que a segunda permita cortar o material remanescente entre os furos da primeira, dando origem a uma abertura contínua (Fig. 58) [23]. Este processo de corte permite efectuar furações em paredes de qualquer espessura, mesmo naquelas com acesso por apenas um dos lados. 53
58 Fig. 58 [4] [8] - Princípio do método de Massari (corte por carotagens sucessivas) Nos espaços assim obtidos, procede-se, após limpeza, à introdução de uma argamassa de ligantes sintéticos, constituída por pó de mármore, areia fina e uma mistura de resina de poliéster com carbonato de cálcio. Esta composição, desde que aplicada com temperaturas ambientes não inferiores a 20 ºC, assegura uma trabalhabilidade suficiente para o preenchimento de cortes até 1.60 m de profundidade, polimerização total ao fim de 3 a 4 horas, resistências mecânicas adequadas, ausência de retracção e estanqueidade à água [8]. Uma vez endurecida a argamassa, avança-se para o troço seguinte. Resta apenas referir que esta técnica acarreta custos e dificuldades de execução elevados Método de Shöner Turn (introdução forçada de materiais metálicos) O método de Shöner Turn (Fig. 59, à direita) consiste na introdução de chapas metálicas onduladas (em geral, de aço inoxidável) nas paredes afectadas, através de martelos pneumáticos que forçam a penetração das chapas através da aplicação descontínua de forças de percussão baixas (200 a 400 N) com uma frequência elevada (1000 a 1500 vezes por minuto) [7]. Como se pode imaginar, a aplicação deste método está restringida a alvenarias executadas com elementos regulares e com juntas contínuas bem definidas, nas quais as chapas metálicas são inseridas. 54
59 Fig Método de Massari (à esquerda) e de Shöner Turn (à direita) O método tem como inconveniente as vibrações produzidas pelo sistema pneumático de percussão, devendo apenas ser aplicado em construções recentes, com boas características resistentes Introdução de produtos impermeabilizantes Qualquer das barreiras físicas, descritas anteriormente, tem limitações de aplicação. O aparecimento de novos materiais sintéticos permitiu a colocação em prática de outras soluções de reparação das anomalias devidas à ascensão capilar. Este método consiste, basicamente, na criação de zonas estanques nas paredes através da introdução de produtos que, por via química, impedem a progressão da água nas paredes (Fig. 60). Para este efeito, os tratamentos superficiais não são adequados já que os sais se podem continuar a formar no interior da parede. Fig. 60 [9] - Criação de uma zona estanque na parede 55
60 A barreira estanque deve ser localizada o mais próximo possível do nível do terreno (cerca de 15 cm acima deste - Fig. 67, à esquerda). A técnica inicia-se com a realização de furos, levemente oblíquos em relação à parede e de diâmetro apropriado às hastes a introduzir na parede para a impregnação, que deverão ter um afastamento de 10 a 20 cm e uma profundidade total de 2/3 da espessura da parede. Se a parede for muito espessa (> 0.50 m) e houver acesso a ambas as faces, devem fazer-se dois furos, um em cada face, desencontrados, cada um deles com a profundidade de 1/3 da espessura da parede (Figs. 61 e 62). A obturação dos furos - com argamassas adequadas e não retrácteis - só poderá ser executada após a secagem total do paramento. Fig. 61 [7] - Furos na parede para introdução dos produtos Fig Possíveis tipos de colocação dos furos consoante a natureza da parede a tratar 56
61 Estas regras são, na maior parte das situações, suficientes para obter uma boa distribuição do produto em toda a espessura da parede - uma das condições de sucesso desta técnica é que a barreira estanque abranja rigorosamente toda a espessura e largura da parede, de forma a não deixar qualquer caminho livre que permita a ascensão capilar Técnicas de introdução dos produtos O processo através do qual estes produtos são introduzidos nas paredes (dependendo da situação em causa ou do tipo de produto) pode ser por gravidade ou sob pressão (Fig. 63, à direita e à esquerda, respectivamente). Fig Introdução de produtos impermeabilizantes numa parede por injecção [9] (à esquerda) e por gravidade (à direita) No processo de introdução por gravidade (Figs. 64 e 65), os furos podem ser horizontais ou inclinados no sentido da base da parede, sendo-lhes introduzidos frascos contendo o produto impermeabilizante que, na sua parte inferior, possuem um tubo que permitirá a fácil escorrência do produto para a parede. A difusão desse produto no interior da alvenaria é efectuada pelas acções de gravidade e de capilaridade dos materiais. 57
62 Fig Introdução em obra do impermeabilizante por gravidade / difusão: da esquerda para a direita, parede a tratar; execução dos furos; introdução dos reservatórios de produto; verificação e controlo dos tubos de injecção A utilização da técnica de injecção do produto sob pressão (Fig. 66) requer o uso de um equipamento de pressão: uma bomba injectora, que pode estar ligada simultaneamente a vários furos, ou empregue a cada um deles isoladamente (Fig. 67, à direita). A pressão utilizada é variável, mas não deve exceder os 0.4 MPa, para evitar a rotura dos materiais constituintes da parede. Esta introdução sob pressão tem a vantagem de facilitar a expulsão da água contida nos poros, facilitando assim a penetração do produto. Fig Introdução em obra do impermeabilizante por gravidade / difusão: da esquerda para a direita, período de permanência dos reservatórios no local para difusão do líquido; verificação dos níveis do líquido nos reservatórios (estes encher-se-ão sempre que estiverem vazios); após a aplicação do método, a parede só será rebocada quando os teores de humidade não excederem 5% 58
63 Fig Introdução em obra do impermeabilizante sob pressão: da esquerda para a direita, remoção e limpeza do reboco afectado; execução dos furos; colocação do sistema Fig Posicionamento dos furos na vertical [9] (à esquerda) e injecção de furos individualmente [22] (à direita) De modo a promover-se a boa reabilitação da parede após o tratamento, será necessário proceder-se à substituição dos antigos rebocos. Estes só deverão ser executados quando os teores médios de humidade dos paramentos sejam iguais ou inferiores a 5% [12]. Esta operação reveste-se de extrema importância, pois irá remover todos os depósitos de sais higroscópicos neles depositados ao longo do período em que a anomalia esteve activa. Deste modo, os novos rebocos a aplicar terão, para além da inevitável compatibilidade com o suporte, uma importante função: a capacidade de prevenir a passagem dos referidos sais da superfície ainda contaminada para o exterior, pois as paredes poderão levar anos a secar e a sua base permanecerá sempre húmida. Como tal, poder-se-á distinguir duas fases distintas e indissociáveis neste processo: a introdução dos produtos - que irá exercer funções de controlo da humidade; 59
64 a substituição dos rebocos antigos - que irá exercer funções de prevenção relativamente a futuros estragos. Quadro 4 [7] - Produtos impermeabilizantes Produtos utilizados Os produtos susceptíveis de serem utilizados nestas reparações são de dois tipos diferentes (Quadro 4): os tapa-poros e os hidrófugos. Nos primeiros incluem-se as resinas epoxídicas, os silicatos alcalinos e as acrilamidas. O segundo conjunto é constituído pelos siliconatos, silicones (siloxanos e resinas silicónicas) e os organometálicos. Em geral, todos podem ser aplicados sob pressão, embora apenas os silicatos alcalinos e os siliconatos possam utilizar o processo de gravidade como método de aplicação [7]. Existe, portanto, um vasto conjunto de produtos aplicáveis por injecção e por gravidade / difusão de forma a criar uma barreira estanque, devendo ser repelentes de água, em forma líquida ou viscosa, e diluíveis em água e possuir as seguintes características principais [18]: capacidade de modificação do ângulo de contacto entre a água ascendente e a superfície interior dos poros; boa ligação química à parede existente; manutenção do aspecto e propriedades do substrato mineral; constância de propriedades a temperaturas entre os 5 e os 40 ºC; baixa resistência à difusão do vapor de água, permitindo a respiração das paredes; 60
65 resistência aos álcalis; serem fungicidas; não serem poluentes; serem isentos de solventes químicos. No entanto, para que uma barreira química cumpra totalmente os objectivos para que foi concebida, além dos aspectos já referidos, deve ter-se em atenção o seguinte: a eficácia de qualquer produto depende de uma boa penetração do mesmo e da continuidade da barreira; este aspecto é um ponto essencial para a garantir da qualidade do trabalho mas na prática é muito difícil verificar esta continuidade; em função do tipo de parede, deve procurar-se o produto e modo de aplicação mais adequados; se houver dúvidas na escolha, o melhor será proceder a um ensaio numa zona localizada da parede e validar os resultados; tendo em conta que estas aplicações são efectuadas em materiais fortemente saturados de água e nos quais a migração ascensional da humidade está a decorrer, pode acontecer que os produtos não polimerizem ou sejam arrastados para fora da zona a impermeabilizar; para minimizar este problema, pode proceder-se à secagem prévia das alvenarias nas zonas dos furos praticados com recurso a um equipamento de micro-ondas Eficácia e limitações da solução As injecções não formam um plano impermeável como as membranas estanques, mas sim uma banda difusa. Quando as soluções são injectadas em substratos heterogéneos (caso das alvenarias), de um modo geral não preenchem igualmente toda a estrutura. Irão criar caminhos preferenciais (Fig. 68) que correspondem às linhas de menor resistência dos materiais: geralmente poros mais largos ou fendas. Infelizmente, não são estes os caminhos mais importantes para a condução da água na parede. Para além disto, quanto mais húmida estiver a parede, maior tendência tem este fenómeno de acontecer, especialmente com sistemas baseados em solventes que não se misturam com água. O fenómeno (cuja designação anglo-saxã é viscous fingering ) assume maior significado no caso das injecções sob pressão. 61
66 Fig Caminhos preferenciais do líquido dentro da parede A eficácia deste tipo de sistemas poderá também ser afectada quando existem anteriores soluções impregnadas na parede a tratar. Problemas semelhantes poderão ocorrer quando as paredes são tratadas contra infestações de animais. De um modo geral, poder-se-á afirmar que os processos de injecção, seja por gravidade ou sob pressão, podem atingir bons resultados, se utilizados inteligentemente e instalados de forma conscienciosa. De facto, o sistema exige o recurso a mão-de-obra especializada, motivo pelo qual tem começado a cair em desuso em alguns países, associando-se inevitavelmente ao elevado número de falhas. Outra grande limitação da utilização deste tipo de sistemas é o facto de a base das paredes permanecer sempre húmida, já que o processo não constitui uma barreira totalmente estanque e uniforme. A utilização de emulsões à base de solventes poderá também causar problemas nocivos à saúde dos utilizadores dos espaços tratados, nomeadamente em condições higrométricas desfavoráveis / elevadas humidades relativas. Num estudo experimental [7] efectuado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto sobre a eficácia da injecção de produtos químicos para prevenção da ascensão capilar em paredes de tijolo maciço e tijolo vazados (Fig. 69), chegou-se às seguintes conclusões: 62
67 Fig. 69 [7] - Configuração dos provetes a prevenção constitui o melhor, mais eficiente e garantido meio de combate contra a humidade ascensional em paredes; esta prevenção passa obrigatoriamente pela correcta concepção e execução das paredes e uma adequada pormenorização; a melhor solução para o tratamento da humidade ascensional em paredes é, actualmente, a introdução de produtos hidrófugos injectáveis; a impermeabilização das faces da parede provoca um aumento da altura da humidade ascensional; a presença de sais agrava a ascensão capilar; a introdução dos produtos nas paredes de tijolo vazado, na primeira fiadas de furos (Fig. 70), conduziu a resultados aceitáveis. Fig. 70 [7] - Provetes de tijolo vazado ensaiados em que se introduziu o produto na primeira fiada de furos 63
68 5.3. REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NAS PAREDES No conjunto das soluções destinadas a retirar a água em excesso das paredes, estão incluídos os métodos de electro-osmose (baseados na diferença de potencial eléctrico que se forma entre o terreno e a parede devida à ascensão da água) e os drenos atmosféricos (drenos de Knapen) Sistemas de electro-osmose (criação de um potencial oposto ao potencial capilar) A ascensão de água nas paredes provoca uma diferença de potencial eléctrico entre o terreno e essas paredes, cujos efeitos se somam às forças de capilaridade e à evaporação superficial. Com base nesta constatação, surgiu a ideia de que, anulando essa diferença de potencial (com eléctrodos do mesmo material) ou introduzindo uma tensão inversa (com eléctrodos de materiais diferentes: cobre para o ânodo e aço galvanizado para o cátodo), a ascensão da água deveria parar ou ser invertida: estava assim criado o princípio da electro-osmose (Fig. 71), passiva ou semi-passiva, respectivamente (existe ainda a electro-osmose activa - Fig. 71, à direita, que corresponde à interposição entre os eléctrodos da parede e do terreno de uma fonte de corrente contínua, ainda que de baixa tensão V - para evitar a electrólise da água; no entanto, a intensidade desta corrente perde-se com o tempo). O princípio consiste na introdução na parede, de uma série de sondas condutoras ligadas entre si, que funcionam como ânodo, ligadas a uma tomada de terra, que actua como cátodo. Fig Método de electro-osmose 64
69 Existe ainda a electro-osmose forese, a qual surgiu como complemento das primeiras já descritas, com a finalidade de ultrapassar o seu maior inconveniente: o reaparecimento dos problemas de humidade após a interrupção do sistema. Esta forma de electro-osmose consiste em introduzir produtos de forese, contendo partículas metálicas em suspensão, os quais são injectados nas paredes, por forma a que, sob a acção da corrente eléctrica produzida, a água contida na parede, ao deslocar-se, arraste consigo essas partículas que se irão depositar nos poros do material da alvenaria. Desta forma, após um período de ano e meio a dois anos de funcionamento do sistema, este poderá ser interrompido, uma vez que os poros, já obstruídos, impedirão a ascensão da água na parede. A instalação faz-se no interior ou no exterior da parede e, em certos casos, em ambos os lados, simultaneamente. Os circuitos colocados na parede, bem como os do solo, podem ficar completamente invisíveis, não influenciando, assim, o aspecto estético da construção. Devem tomar-se as precauções necessárias para garantir que os elementos utilizados, sobretudo os colocados no solo, se mantenham conservados de forma a não prejudicar o bom funcionamento do sistema. A aplicação deste método exige, ainda, indubitavelmente a intervenção de especialistas encarregados de estabelecer os planos de instalação, o uso de aparelhos de medição especiais e aperfeiçoados, uma grande experiência no processo e um juízo acertado da situação que se apresente. Cada edifício a tratar deve ser considerado como um caso particular, devendo determinar-se para cada caso: altura, colocação e quantidade de dispositivos de contacto; separação entre si e profundidade da cravação na parede; número e colocação dos condutores que unem o conjunto de dispositivos de contacto ao conjunto de tomadas de terra; distância da linha de tomadas de terra à parede e sua colocação no interior ou no exterior da construção; separação entre si e profundidade das tomadas de terra. Esta escolha deverá ser exaustivamente ponderada, tendo em conta que as correntes favorá- 65
70 veis se medem em milivolts e que terão de contrariar um sistema muito complexo de forças que elevam a água nas alvenarias. Deverão ainda considerar-se factores como a natureza do solo, sua topografia, grau de humidade e características eléctricas, bem como outros, relativos ao edifício ou parede a tratar, tais como a natureza dos seus materiais, sua configuração, orientação e características eléctricas. Quando as zonas a tratar estão perfeitamente localizadas e delimitadas, a instalação é suficiente apenas nessa zona do edifício. A eficácia deste método é bastante reduzida para sondas em cobre (cobrem-se com relativa rapidez de uma camada protectora de carbonato-hidróxido) e reduzida para sondas em aço inoxidável (varia também de acordo com o modo de contacto entre a sonda e a alvenaria e a inércia química do condutor utilizado; no sentido de melhorar o desempenho do sistema, deverá assegurar-se um contacto pleno entre a sonda e a alvenaria, pelo que poderá utilizar-se uma argamassa para corrigir as eventuais folgas), pelo que não é muito utilizado. Quando o é, aparece aplicado em associação com outros métodos, tais como a substituição dos rebocos ou o aumento da ventilação natural, ambos na sua generalidade mais eficazes e mais económicos que o próprio sistema da electro-osmose Drenos atmosféricos Knapen concebeu a ideia de utilizar tubos de material cerâmico introduzidos obliquamente na alvenaria, como forma de proceder à sua secagem (Fig. 72). O princípio de funcionamento parecia simples: o ar que entrava nesses tubos ficava rapidamente saturado e era substituído por ar seco, mais leve, gerando-se um processo de ventilação. A posição oblíqua dos drenos favorece a corrente de convecção ligada ao arrefecimento do ar que promove a evaporação. 66
71 Fig. 72 [10] [4] - Modo de funcionamento dos drenos atmosféricos A realidade é, porém, diferente, na medida em que a temperatura no interior dos tubos é diferente da do exterior, sendo difícil avaliar o comportamento real do sistema (que depende de factores externos, tais como o aquecimento no interior do edifício, a penetração solar, a humidade existente, etc.). Para além disso, mesmo que o sistema seja válido (a abertura de cavidades nas paredes poderá provocar pontes térmicas, as quais em presença de temperaturas mais baixas, favorecerão condensações localizadas), os sais que existem nas alvenarias acabam por colmatar as zonas de contacto entre os tubos e a parede, dificultando ou impedindo a passagem do vapor de água. Este inconveniente poderá eventualmente ser ultrapassado recorrendo à colocação de uma barreira de estanqueidade através de injecção de silicones (descrita posteriormente), mas o processo de reparação mais frequente é o da substituição dos próprios drenos, geralmente de 5 em 5 anos. Inicialmente, os tubos utilizados eram de material cerâmico, tendo posteriormente surgido no mercado outros de plástico com perfurações (Fig. 73), para compensar a ausência de porosidade. Este processo consiste na execução de simples furos de arejamento (Fig. 74, à esquerda), dispostos em quincôncio e inclinados de 20º a 30º com a horizontal, distando entre si cerca de 35 a 40 cm, não devendo a sua profundidade ultrapassar ¾ da largura da parede a tratar. Nestes furos são colocados os drenos (Fig. 74, à direita), os quais podem ser cerâmicos, plásticos ou metálicos, e apresentar diversas formas e dimensões, consoante o caso onde serão aplicados. Em seguida, a cavidade deverá ser preenchida com uma argamassa porosa, de forma a fixar o dreno e favorecer a circulação do ar. Finalmente, é aplicada uma argamassa de acabamento e colocada uma grelha de protecção aparente na extremidade livre do dreno. 67
72 Fig À esquerda, dreno plástico e, à direita, parede tratada com drenos atmosféricos plásticos Fig. 74 [21] - Esquema de montagem dos drenos atmosféricos Por ser muito económico, este sistema foi muito utilizado, mas com pouco sucesso. Os drenos não reparam, apenas atenuam o efeito da humidade e têm um efeito estético indesejável. Por outro lado, este sistema não poderá ser aplicado em paredes muito espessas, mal consolidadas ou em alvenarias de pedra. Em algumas circunstâncias, quando se registam humidades e condensações excessivas, tais como em instalações sanitárias, lavandarias ou cozinhas, este sistema poderá mesmo funcionar de forma inversa, aumentando o problema OCULTAÇÃO DAS ANOMALIAS Estas soluções englobam as técnicas que, apesar de não terem interferência nas anomalias nem nas respectivas causas, permitem que essas anomalias deixem de ser visíveis. Existem, assim, dois tipos de soluções Execução de uma nova parede pelo interior 68
73 Esta técnica consiste na execução de uma parede pelo interior, com a menor espessura possível, afastada 5 a 10 cm da parede inicial e sem qualquer ponto de contacto com esta (Fig. 75). Fig. 75 [9] - Execução de uma nova parede pelo interior do compartimento Fig. 76 [8] - Protecção do pavimento com membranas impermeáveis Na construção desta parede, são utilizados elementos autoportantes de pequena espessura, sendo necessário garantir que não haja ascensão de água do solo através dos seus materiais constituintes. Para tal, deve criar-se uma base para a parede através de um material impermeável (membranas betuminosas ou argamassas de polímeros - Fig. 76), a fim de garantir a estanqueidade da nova parede. O contraventamento da parede deve ser executado de modo a não permitir a passagem de água da parede afectada para a nova [24]. O espaço de ar entre as duas paredes deve ser, preferencialmente, ventilado. Nesse caso, o seu 69
74 arejamento não deve ser dirigido para o interior do local a tratar, pois assim estar-se-ia a promover o aumento da humidade relativa no interior (Fig. 77, à esquerda) [7]. A solução ideal será aquela que possibilite uma ventilação para o exterior, através da localização de um conjunto de orifícios a um nível inferior e superior que permita a circulação do ar (figura 77, à direita - técnica já preconizada no século I a.c., pelo arquitecto romano Vitrúvio). Esta solução obriga à colocação de isolamento térmico no interior da caixa-de-ar assim formada. Fig. 77 [7] [22] - Ventilação do espaço da caixa de ar através de duas aberturas para o exterior Os inconvenientes da solução, para além da redução de área do compartimento, prendem-se com a necessidade de compatibilizar a nova solução com os interruptores, tomadas eléctricas, rodapés e remates em zonas de portas e janelas existentes Aplicação de revestimentos especiais de parede Neste método, engloba-se a aplicação de revestimentos de parede impermeáveis ou revestimentos associados a outros materiais que garantam a estanqueidade: as argamassas de reboco e betões aditivados (hidrófugos), materiais sintéticos especiais (por exemplo, as pastas betuminosas de alcatrão de hulha) e pinturas estanques (geralmente em duas ou mais camadas, na composição da última das quais poderão entrar resinas epoxídicas ou poliuretânicas ou borrachas), folhas de polietileno, cartões e telas betuminosos, telas adesivas e termoplásticas e os revestimentos descontínuos (Figs. 78 a 80). 70
75 Fig Revestimentos especiais de parede: modo de funcionamento 71
76 Fig Execução de revestimentos especiais para reparação de anomalias causadas pela ascensão capilar 72
Projecto FEUP 2012/2013 Humidade Em Edifícios Intervenções
 Projecto FEUP 2012/2013 Humidade Em Edifícios Intervenções Bruno Linhares; Bruno Ribeiro; Helena Paixão; Márcio Monte; Pedro Oliveira; Raquel Castro; Projeto FEUP 12MC05_03 Outubro 2012 1 Humidade em Edifícios
Projecto FEUP 2012/2013 Humidade Em Edifícios Intervenções Bruno Linhares; Bruno Ribeiro; Helena Paixão; Márcio Monte; Pedro Oliveira; Raquel Castro; Projeto FEUP 12MC05_03 Outubro 2012 1 Humidade em Edifícios
Nº9 NOVEMBRO 2002 HUMIDADE ASCENDENTE EM PAREDES DE EDIFÍCIOS ANTIGOS PROCESSOS DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO
 Nº9 NOVEMBRO 2002 HUMIDADE ASCENDENTE EM PAREDES DE EDIFÍCIOS ANTIGOS PROCESSOS DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO Sónia Cabaça ÍNDICE I. INTRODUÇÃO HISTÓRICA 4 II. A HUMIDADE ASCENDENTE 6 2.1 PRINCIPAIS CAUSAS
Nº9 NOVEMBRO 2002 HUMIDADE ASCENDENTE EM PAREDES DE EDIFÍCIOS ANTIGOS PROCESSOS DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO Sónia Cabaça ÍNDICE I. INTRODUÇÃO HISTÓRICA 4 II. A HUMIDADE ASCENDENTE 6 2.1 PRINCIPAIS CAUSAS
Figura 1 Figura 2. Introdução1/21
 Figura 1 Figura 2 Introdução1/21 Introdução 2/21 A humidade surge principalmente devido a: condensação, capilaridade e/ou infiltração. Humidade nos edifícios provoca erosão, desgaste e deteorização dos
Figura 1 Figura 2 Introdução1/21 Introdução 2/21 A humidade surge principalmente devido a: condensação, capilaridade e/ou infiltração. Humidade nos edifícios provoca erosão, desgaste e deteorização dos
MESTRADO EM ARQUITECTURA
 MESTRADO EM ARQUITECTURA DISCIPLINA DE FÍSICA DAS CONSTRUÇÕES PARA ARQUITECTURA HUMIDADES EM EDIFÍCIOS Cristina Matos Silva Maria da Glória Gomes Tipos de Humidades A manifestação de humidade nos edifícios
MESTRADO EM ARQUITECTURA DISCIPLINA DE FÍSICA DAS CONSTRUÇÕES PARA ARQUITECTURA HUMIDADES EM EDIFÍCIOS Cristina Matos Silva Maria da Glória Gomes Tipos de Humidades A manifestação de humidade nos edifícios
PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO ESTUDO DE CASOS
 PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO ESTUDO DE CASOS Vasco Peixoto de Freitas Vasco Peixoto de Freitas FC_FEUP Novembro de 2007-1 www.patorreb.com Estrutura do Site Vasco Peixoto de Freitas FC_FEUP Novembro de 2007-2
PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO ESTUDO DE CASOS Vasco Peixoto de Freitas Vasco Peixoto de Freitas FC_FEUP Novembro de 2007-1 www.patorreb.com Estrutura do Site Vasco Peixoto de Freitas FC_FEUP Novembro de 2007-2
MESTRADO EM ARQUITECTURA
 MESTRADO EM ARQUITECTURA DISCIPLINA DE FÍSICA DAS CONSTRUÇÕES PARA ARQUITECTURA HUMIDADES EM EDIFÍCIOS Cristina Matos Silva Tipos de Humidades A manifestação de humidade nos edifícios pode provocar graves
MESTRADO EM ARQUITECTURA DISCIPLINA DE FÍSICA DAS CONSTRUÇÕES PARA ARQUITECTURA HUMIDADES EM EDIFÍCIOS Cristina Matos Silva Tipos de Humidades A manifestação de humidade nos edifícios pode provocar graves
A Humidade em Edifícios
 Professora Doutora Ana Sofia Guimarães Monitor Hugo Vieira A Humidade em Edifícios Quais são as origens e formas de manifestação de humidade existentes nos edifícios? André Ranito (ec12112) Francisco Branco
Professora Doutora Ana Sofia Guimarães Monitor Hugo Vieira A Humidade em Edifícios Quais são as origens e formas de manifestação de humidade existentes nos edifícios? André Ranito (ec12112) Francisco Branco
Projeto FEUP. Patologias e medidas de intervenção
 Projeto FEUP MIEC 2012/2013 Patologias e medidas de intervenção Apresentação realizada por: Fábio Silva Filipe Batista José Martins Luís Silva Paulo Rocha Rui Pina Sílvia Santos Identificar: Os principais
Projeto FEUP MIEC 2012/2013 Patologias e medidas de intervenção Apresentação realizada por: Fábio Silva Filipe Batista José Martins Luís Silva Paulo Rocha Rui Pina Sílvia Santos Identificar: Os principais
2. METODOLOGIA DE INSPECÇÃO
 METODOLOGIA DE INSPECÇÃO 1/240 2. METODOLOGIA DE INSPECÇÃO INSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO Sub-capítulos: 2.1 Introdução 2.4 Métodos de diagnóstico 2.5 Conclusões do capítulo 2/240 1 2.1 Introdução 3/240 1. INSPECÇÃO
METODOLOGIA DE INSPECÇÃO 1/240 2. METODOLOGIA DE INSPECÇÃO INSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO Sub-capítulos: 2.1 Introdução 2.4 Métodos de diagnóstico 2.5 Conclusões do capítulo 2/240 1 2.1 Introdução 3/240 1. INSPECÇÃO
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
 FICHA TÉCNICA DO PRODUTO TOPECA, Lda Rua do Mosqueiro 2490 115 Cercal Ourém PORTUGAL Tel.: 00 351 249 580 070 Fax.: 00 351 249 580 079 geral@ topeca. pt www.topeca.pt Pág. 2 silitop barreira utilização
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO TOPECA, Lda Rua do Mosqueiro 2490 115 Cercal Ourém PORTUGAL Tel.: 00 351 249 580 070 Fax.: 00 351 249 580 079 geral@ topeca. pt www.topeca.pt Pág. 2 silitop barreira utilização
Cristalização de sais solúveis em materiais porosos
 Seminário MATERIAIS EM AMBIENTE MARÍTIMO Cristalização de sais solúveis em materiais porosos Teresa Diaz Gonçalves Funchal Outubro de 2007 Observei ( ) que o sal saía do solo em tal quantidade que até
Seminário MATERIAIS EM AMBIENTE MARÍTIMO Cristalização de sais solúveis em materiais porosos Teresa Diaz Gonçalves Funchal Outubro de 2007 Observei ( ) que o sal saía do solo em tal quantidade que até
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
 Relatório realizado no âmbito da disciplina Projecto FEUP A Supervisora: Eng.ª Ana Sofia Guimarães O Monitor: Pedro Paupério Outubro 2012 Mestrado Integrado em Engenharia Civil Tema: A Supervisora: Eng.ª
Relatório realizado no âmbito da disciplina Projecto FEUP A Supervisora: Eng.ª Ana Sofia Guimarães O Monitor: Pedro Paupério Outubro 2012 Mestrado Integrado em Engenharia Civil Tema: A Supervisora: Eng.ª
AMOSTRAGEM PARA PERFIS DE SAIS SOLÚVEIS E DE HUMIDADE
 AMOSTRAGEM PARA PERFIS DE SAIS SOLÚVEIS E DE HUMIDADE 1-5 AMOSTRAGEM PARA PERFIS DE SAIS SOLÚVEIS E DE HUMIDADE Graham Roy Coleman. B.Sc(Hons),M.I.Biol.,C.Biol.,A.I.W.Sc.,F.Inst.R.T.S.. «http://www.mill-rise.freeserve.co.uk/profiling.htm»
AMOSTRAGEM PARA PERFIS DE SAIS SOLÚVEIS E DE HUMIDADE 1-5 AMOSTRAGEM PARA PERFIS DE SAIS SOLÚVEIS E DE HUMIDADE Graham Roy Coleman. B.Sc(Hons),M.I.Biol.,C.Biol.,A.I.W.Sc.,F.Inst.R.T.S.. «http://www.mill-rise.freeserve.co.uk/profiling.htm»
DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE GEOTECNIA TEXTOS DE APOIO ÁS AULAS PRÁTICAS
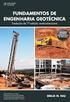 Faculdade de Ciências e Tecnologia Departamento de Engenharia Civil DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE GEOTECNIA TEXTOS DE APOIO ÁS AULAS PRÁTICAS (Apontamentos elaborados pelo Eng. Marco Marques) 2006/2007
Faculdade de Ciências e Tecnologia Departamento de Engenharia Civil DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE GEOTECNIA TEXTOS DE APOIO ÁS AULAS PRÁTICAS (Apontamentos elaborados pelo Eng. Marco Marques) 2006/2007
WATSTOP. Barreira de cimento com resina epoxídica, para humidades ascensionais e infiltrações de água.
 WATSTOP Barreira de cimento com resina epoxídica, para humidades ascensionais e infiltrações de água. Características e Vantagens IMPERMEABILIZANTE TOTAL Elevado desempenho impermeabilizante de água, tanto
WATSTOP Barreira de cimento com resina epoxídica, para humidades ascensionais e infiltrações de água. Características e Vantagens IMPERMEABILIZANTE TOTAL Elevado desempenho impermeabilizante de água, tanto
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS II PATOLOGIAS EM REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
 PATOLOGIAS EM REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA AS FISSURAS NOS REVESTIMENTOS RESPONDEM EM MÉDIA POR 15% DOS CHAMADOS PARA ATENDIMENTO PÓS-OBRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA ORIGEM E INCIDÊNCIA DAS MANIFESTAÇÕES
PATOLOGIAS EM REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA AS FISSURAS NOS REVESTIMENTOS RESPONDEM EM MÉDIA POR 15% DOS CHAMADOS PARA ATENDIMENTO PÓS-OBRA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA ORIGEM E INCIDÊNCIA DAS MANIFESTAÇÕES
HUMIDADE NA CONSTRUÇÃO
 HUMIDADE NA CONSTRUÇÃO HUMIDADE ASCENSIONAL Vasco Peixoto de Freitas Pedro Filipe Gonçalves Vasco Peixoto de Freitas Pedro Filipe Gonçalves Outubro 2003-1 ESTRUTURAÇÃO I. INTRODUÇÃO II. III. IV. HUMIDADES
HUMIDADE NA CONSTRUÇÃO HUMIDADE ASCENSIONAL Vasco Peixoto de Freitas Pedro Filipe Gonçalves Vasco Peixoto de Freitas Pedro Filipe Gonçalves Outubro 2003-1 ESTRUTURAÇÃO I. INTRODUÇÃO II. III. IV. HUMIDADES
Morada: Est. da Batalha, Curral dos Frades Apartado FÁTIMA. Contactos: Telefone Fax
 Morada: Est. da Batalha, Curral dos Frades Apartado 267 2496-908 FÁTIMA Contactos: Telefone 244 709 050 Fax 244 709 051 e-mail: geral@lusomi.pt www.lusomi.pt SISTEMA LUSOSAINEMENT REBOCO SISTEMA DEFINIDO
Morada: Est. da Batalha, Curral dos Frades Apartado 267 2496-908 FÁTIMA Contactos: Telefone 244 709 050 Fax 244 709 051 e-mail: geral@lusomi.pt www.lusomi.pt SISTEMA LUSOSAINEMENT REBOCO SISTEMA DEFINIDO
índice 1 o Tijolo Cerâmico 17
 indice índice 1 o Tijolo Cerâmico 17 1.1 Introdução 17 1.2 O tijolo cerâmico como produto de construção 18 1.2.1 Tipos de tijolo cerâmico 18 1.2.2 As matérias primas e o processo cerâmico 19 1.2.3 Características
indice índice 1 o Tijolo Cerâmico 17 1.1 Introdução 17 1.2 O tijolo cerâmico como produto de construção 18 1.2.1 Tipos de tijolo cerâmico 18 1.2.2 As matérias primas e o processo cerâmico 19 1.2.3 Características
Água no Solo. V. Infiltração e água no solo Susana Prada. Representação esquemática das diferentes fases de um solo
 V. Infiltração e água no solo Susana Prada Água no Solo ROCHA MÃE SOLO TEMPO Meteorização Química Física + Actividade orgânica Os Solos actuam na fase terrestre do ciclo hidrológico como reservatórios
V. Infiltração e água no solo Susana Prada Água no Solo ROCHA MÃE SOLO TEMPO Meteorização Química Física + Actividade orgânica Os Solos actuam na fase terrestre do ciclo hidrológico como reservatórios
FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIOS ANTIGOS
 FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIOS ANTIGOS CONSTRUÇÃO TRADICIONAL Licenciatura em Arquitectura IST António Moret Rodrigues TIPOS DE FUNDAÇÃO I As FUNDAÇÕES ou ALICERCES dos edifícios antigos dependiam, como hoje:
FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIOS ANTIGOS CONSTRUÇÃO TRADICIONAL Licenciatura em Arquitectura IST António Moret Rodrigues TIPOS DE FUNDAÇÃO I As FUNDAÇÕES ou ALICERCES dos edifícios antigos dependiam, como hoje:
ANOMALIAS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS APLICADOS NA FAIXA COSTEIRA
 ANOMALIAS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS APLICADOS NA FAIXA COSTEIRA Teresa de Deus Ferreira, Arq.ª, Mestre em Construção pelo Instituto Superior Técnico Jorge de Brito, Eng.º Civil, Professor Associado no
ANOMALIAS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS APLICADOS NA FAIXA COSTEIRA Teresa de Deus Ferreira, Arq.ª, Mestre em Construção pelo Instituto Superior Técnico Jorge de Brito, Eng.º Civil, Professor Associado no
Colagem de Cerâmicos em Fachadas'
 Colagem de Cerâmicos em Fachadas' Coimbra 13. Novembro. 2013 Agenda Causas das patologias mas antigamente...? Como resolver... Exemplos Reabilitação Conclusões Reboco SUPORTE: Alvenaria de tijolo cerâmico
Colagem de Cerâmicos em Fachadas' Coimbra 13. Novembro. 2013 Agenda Causas das patologias mas antigamente...? Como resolver... Exemplos Reabilitação Conclusões Reboco SUPORTE: Alvenaria de tijolo cerâmico
Controlo e prevenção de anomalias devidas à cristalização de sais solúveis em edifícios antigos. Pedro Puim Teresa Diaz Gonçalves Vânia Brito
 Controlo e prevenção de anomalias devidas à cristalização de sais solúveis em edifícios antigos Pedro Puim Teresa Diaz Gonçalves Vânia Brito Introdução Degradação por cristalização de sais Tipos de danos
Controlo e prevenção de anomalias devidas à cristalização de sais solúveis em edifícios antigos Pedro Puim Teresa Diaz Gonçalves Vânia Brito Introdução Degradação por cristalização de sais Tipos de danos
Transporte nas Plantas
 Transporte nas Plantas Para sua sobrevivência, os seres vivos necessitam de substâncias (moléculas e iões) que têm de ser transportadas a cada uma das células que os constituem. Os seres vivos simples
Transporte nas Plantas Para sua sobrevivência, os seres vivos necessitam de substâncias (moléculas e iões) que têm de ser transportadas a cada uma das células que os constituem. Os seres vivos simples
Amassadura do betão preparado em central distribuidora
 Amassadura do betão preparado em central distribuidora Pode ser amassado: a) Completamente amassado na central, donde passa por um camião transportador que o mantém em agitação a fim de evitar a segregação.
Amassadura do betão preparado em central distribuidora Pode ser amassado: a) Completamente amassado na central, donde passa por um camião transportador que o mantém em agitação a fim de evitar a segregação.
Análise comparativa de argamassas de cal aérea, medianamente hidráulicas e de ligantes mistos para rebocos de edifícios antigos
 2º Congresso Nacional de Argamassas de Construção Lisboa, Novembro 27 Análise comparativa de argamassas de cal aérea, medianamente hidráulicas e de ligantes mistos para rebocos de edifícios antigos Carlos
2º Congresso Nacional de Argamassas de Construção Lisboa, Novembro 27 Análise comparativa de argamassas de cal aérea, medianamente hidráulicas e de ligantes mistos para rebocos de edifícios antigos Carlos
DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO DTA 01
 DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO SISTEMA SOTECNISOL PY40 LAJES DE PAVIMENTO EM CONTATO DIRECTO COM O SOLO Impermeabilização de lajes de pavimento 1. - DESCRIÇÃO As membranas ECOPLAS PY 40, são fabricadas
DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO SISTEMA SOTECNISOL PY40 LAJES DE PAVIMENTO EM CONTATO DIRECTO COM O SOLO Impermeabilização de lajes de pavimento 1. - DESCRIÇÃO As membranas ECOPLAS PY 40, são fabricadas
Fichas das Patologias
 Fichas das Patologias 1. Fendilhação Exterior Nº: 1.1 Patologia: Fendilhação da Fachadas Localização: Paredes exteriores Causa/Origem: Deve-se à retracção do reboco, provavelmente causada pela má execução
Fichas das Patologias 1. Fendilhação Exterior Nº: 1.1 Patologia: Fendilhação da Fachadas Localização: Paredes exteriores Causa/Origem: Deve-se à retracção do reboco, provavelmente causada pela má execução
TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO TÉRMICA DOS ELEMENTOS DA ENVOLVENTE CAPÍTULO 5
 TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO TÉRMICA DOS ELEMENTOS DA ENVOLVENTE CAPÍTULO 5 TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO TÉRMICA DOS ELEMENTOS DA ENVOLVENTE 37 CAPÍTULO 5 ÍNDICE 5. TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO TÉRMICA DOS ELEMENTOS
TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO TÉRMICA DOS ELEMENTOS DA ENVOLVENTE CAPÍTULO 5 TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO TÉRMICA DOS ELEMENTOS DA ENVOLVENTE 37 CAPÍTULO 5 ÍNDICE 5. TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO TÉRMICA DOS ELEMENTOS
SISTEMA DE INSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE REVESTIMENTOS EPÓXIDOS EM PISOS INDUSTRIAIS
 SISTEMA DE INSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE REVESTIMENTOS EPÓXIDOS EM PISOS INDUSTRIAIS João Garcia maxit / Mestrando IST Jorge de Brito Prof. Associado IST 1º Congresso Nacional de Argamassas de Construção
SISTEMA DE INSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE REVESTIMENTOS EPÓXIDOS EM PISOS INDUSTRIAIS João Garcia maxit / Mestrando IST Jorge de Brito Prof. Associado IST 1º Congresso Nacional de Argamassas de Construção
Conceitos básicos da morfologia de angiospemas
 Nomes: Helena Streit, Juliana Schmidt da Silva e Mariana Santos Stucky Introdução Ascensão da água e nutrientes inorgânicos A ascensão da água e dos solutos através do xilema é um processo que requer uma
Nomes: Helena Streit, Juliana Schmidt da Silva e Mariana Santos Stucky Introdução Ascensão da água e nutrientes inorgânicos A ascensão da água e dos solutos através do xilema é um processo que requer uma
REABILITAÇÃO E PROTECÇÃO DE BETÃO 26 MARÇO 2105, PEDRO AZEVEDO SIKA PORTUGAL/ REFURBISHMENT & STRENGTHENING
 REABILITAÇÃO E PROTECÇÃO DE BETÃO 26 MARÇO 2105, PEDRO AZEVEDO SIKA PORTUGAL/ REFURBISHMENT & STRENGTHENING REABILITAÇÃO E PROTECÇÃO DE BETÃO 26 MARÇO 2105, PEDRO AZEVEDO SIKA PORTUGAL/ REFURBISHMENT &
REABILITAÇÃO E PROTECÇÃO DE BETÃO 26 MARÇO 2105, PEDRO AZEVEDO SIKA PORTUGAL/ REFURBISHMENT & STRENGTHENING REABILITAÇÃO E PROTECÇÃO DE BETÃO 26 MARÇO 2105, PEDRO AZEVEDO SIKA PORTUGAL/ REFURBISHMENT &
Referências técnicas para argamassas e assuntos relacionados
 1-12 Referências técnicas para argamassas e assuntos relacionados NOTA TÉCNICA 9 Publicações da Mortar Industry Association (MIA) Referência Data de publicação Nota Técnica n.º 1 : Nota Técnica n.º 2 :
1-12 Referências técnicas para argamassas e assuntos relacionados NOTA TÉCNICA 9 Publicações da Mortar Industry Association (MIA) Referência Data de publicação Nota Técnica n.º 1 : Nota Técnica n.º 2 :
PROCESSO INDUSTRIAL PREPARAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA - PASTA CONFORMAÇÃO SECAGEM COZEDURA RETIRADA DO FORNO E ESCOLHA
 MATERIAIS CERÂMICOS Tecnologia de produção, exigências e características Hipólito de Sousa 1. PROCESSO INDUSTRIAL PREPARAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA - PASTA CONFORMAÇÃO SECAGEM COZEDURA RETIRADA DO FORNO E ESCOLHA
MATERIAIS CERÂMICOS Tecnologia de produção, exigências e características Hipólito de Sousa 1. PROCESSO INDUSTRIAL PREPARAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA - PASTA CONFORMAÇÃO SECAGEM COZEDURA RETIRADA DO FORNO E ESCOLHA
CAPÍTULO 5 Aplicação do programa a um caso prático
 CAPÍTULO 5 Aplicação do programa a um caso prático 5.1 Introdução Uma vez desenvolvido o programa, este foi testado com o objectivo de verificar a sua eficácia. Para isso, utilizou-se uma simulação efectuada
CAPÍTULO 5 Aplicação do programa a um caso prático 5.1 Introdução Uma vez desenvolvido o programa, este foi testado com o objectivo de verificar a sua eficácia. Para isso, utilizou-se uma simulação efectuada
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS BARREIRAS QUÍMICAS HIDROFUGANTES INJECTADAS
 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS BARREIRAS QUÍMICAS 1-5 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS BARREIRAS QUÍMICAS HIDROFUGANTES INJECTADAS Graham Roy Coleman. B.Sc(Hons),M.I.Biol.,C.Biol.,A.I.W.Sc.,F.Inst.R.T.S.. «http://www.mill-rise.freeserve.co.uk/evaluating%20chemical%20dpcs2.htm»
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS BARREIRAS QUÍMICAS 1-5 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS BARREIRAS QUÍMICAS HIDROFUGANTES INJECTADAS Graham Roy Coleman. B.Sc(Hons),M.I.Biol.,C.Biol.,A.I.W.Sc.,F.Inst.R.T.S.. «http://www.mill-rise.freeserve.co.uk/evaluating%20chemical%20dpcs2.htm»
AVALIAÇÃO IN-SITU DA ADERÊNCIA DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO
 AVALIAÇÃO IN-SITU DA ADERÊNCIA DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO Inês Flores-Colen (I.S.T) Jorge de Brito (I.S.T) Fernando A. Branco (I.S.T.) Introdução Índice e objectivo Ensaio de arrancamento pull-off Estudo
AVALIAÇÃO IN-SITU DA ADERÊNCIA DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO Inês Flores-Colen (I.S.T) Jorge de Brito (I.S.T) Fernando A. Branco (I.S.T.) Introdução Índice e objectivo Ensaio de arrancamento pull-off Estudo
Professor: Eng Civil Diego Medeiros Weber.
 Professor: Eng Civil Diego Medeiros Weber. PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS, PISOS DE CONCRETO E DOS REVESTIMENTOS. CONSTRUÇÃO CIVIL PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS CONSTRUÇÃO CIVIL PATOLOGIA "A patologia na construção
Professor: Eng Civil Diego Medeiros Weber. PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS, PISOS DE CONCRETO E DOS REVESTIMENTOS. CONSTRUÇÃO CIVIL PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS CONSTRUÇÃO CIVIL PATOLOGIA "A patologia na construção
GET GESTÃO DE ENERGIA TÉRMICA Lda.
 1 Dados climáticos de referência para a região do Porto: Inverno: Região climática I1, número de graus dias = 1610 (º dias), duração da estação de aquecimento = 6,7 meses. Verão: Região climática V1, Temperatura
1 Dados climáticos de referência para a região do Porto: Inverno: Região climática I1, número de graus dias = 1610 (º dias), duração da estação de aquecimento = 6,7 meses. Verão: Região climática V1, Temperatura
Argamassas de revestimento para paredes afectadas por cristalização de sais solúveis:
 Argamassas de revestimento para paredes afectadas por cristalização de sais solúveis: influência do substrato Teresa Diaz Gonçalves José Delgado Rodrigues Investigação sobre o comportamento dos rebocos
Argamassas de revestimento para paredes afectadas por cristalização de sais solúveis: influência do substrato Teresa Diaz Gonçalves José Delgado Rodrigues Investigação sobre o comportamento dos rebocos
DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO DTA 08
 DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO SISTEMA SOTECNISOL MUROS MUROS DE SUPORTE E DE CAVES Impermeabilização de muros de suporte e caves 1. - DESCRIÇÃO As membranas ECOPLAS PY 40, são fabricadas de acordo com
DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO SISTEMA SOTECNISOL MUROS MUROS DE SUPORTE E DE CAVES Impermeabilização de muros de suporte e caves 1. - DESCRIÇÃO As membranas ECOPLAS PY 40, são fabricadas de acordo com
HIDROLOGIA AULA 06 e semestre - Engenharia Civil INFILTRAÇÃO. Profª. Priscila Pini
 HIDROLOGIA AULA 06 e 07 5 semestre - Engenharia Civil INFILTRAÇÃO Profª. Priscila Pini prof.priscila@feitep.edu.br INTERCEPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA Retenção de água da chuva antes que ela atinja o solo.
HIDROLOGIA AULA 06 e 07 5 semestre - Engenharia Civil INFILTRAÇÃO Profª. Priscila Pini prof.priscila@feitep.edu.br INTERCEPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA Retenção de água da chuva antes que ela atinja o solo.
Manutenção e Reabilitação ENCONTRO 20 ANOS ENGENHARIA CIVIL
 ENCONTRO 20 ANOS ENGENHARIA CIVIL 1986-2006 Inspecções e TECNOLOGIAS PARA A MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS Durante o período de utilização de uma edificação, deverão ser mantidas os parâmetros
ENCONTRO 20 ANOS ENGENHARIA CIVIL 1986-2006 Inspecções e TECNOLOGIAS PARA A MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS Durante o período de utilização de uma edificação, deverão ser mantidas os parâmetros
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
 FICHA TÉCNICA DO PRODUTO TOPECA, Lda Rua do Mosqueiro 2490 115 Cercal Ourém PORTUGAL Tel.: 00 351 249 580 070 Fax.: 00 351 249 580 079 geral@topeca.pt www.topeca.pt rebetop color Pág. 2 utilização Revestimento
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO TOPECA, Lda Rua do Mosqueiro 2490 115 Cercal Ourém PORTUGAL Tel.: 00 351 249 580 070 Fax.: 00 351 249 580 079 geral@topeca.pt www.topeca.pt rebetop color Pág. 2 utilização Revestimento
Humidade em edifícios
 Projeto FEUP MIEC 2012/2013 Humidade em edifícios Tipos de intervenções necessárias Relatório realizado por: Monitor: Hugo Vieira Orientadora: Ana Sofia Guimarães Fábio Silva Filipe Batista Luís Silva
Projeto FEUP MIEC 2012/2013 Humidade em edifícios Tipos de intervenções necessárias Relatório realizado por: Monitor: Hugo Vieira Orientadora: Ana Sofia Guimarães Fábio Silva Filipe Batista Luís Silva
LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL FEUP TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 3º Ano, 2º Semestre 2h Teóricas + 3h Teórico/Práticas / semana PROGRAMA
 LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL FEUP TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 3º Ano, 2º Semestre 2h Teóricas + 3h Teórico/Práticas / semana PROGRAMA CAPÍTULO 1.ÂMBITO E OBJECTIVO DA DISCIPLINA 1.1. Descrição e justificação
LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL FEUP TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 3º Ano, 2º Semestre 2h Teóricas + 3h Teórico/Práticas / semana PROGRAMA CAPÍTULO 1.ÂMBITO E OBJECTIVO DA DISCIPLINA 1.1. Descrição e justificação
DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO DTA 03
 1 DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO SISTEMA SOTECNISOL FV40 + PY40G COBERTURAS DE ACESSIBILIDADE LIMITADA Impermeabilização de coberturas 1. - DESCRIÇÃO As membranas ECOPLAS 40, ECOPLAS PY 40G são fabricadas
1 DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO SISTEMA SOTECNISOL FV40 + PY40G COBERTURAS DE ACESSIBILIDADE LIMITADA Impermeabilização de coberturas 1. - DESCRIÇÃO As membranas ECOPLAS 40, ECOPLAS PY 40G são fabricadas
 Disciplina: Materiais de Construção I Assunto: Argamassas no estado seco e fresco Prof. Ederaldo Azevedo Aula 6 e-mail: ederaldoazevedo@yahoo.com.br 1.1 Conceitos Básicos: Argamassa é um material composto,
Disciplina: Materiais de Construção I Assunto: Argamassas no estado seco e fresco Prof. Ederaldo Azevedo Aula 6 e-mail: ederaldoazevedo@yahoo.com.br 1.1 Conceitos Básicos: Argamassa é um material composto,
Revestimentos exteriores de construções antigas em taipa - Traços de misturas determinados em laboratório
 Revestimentos exteriores de construções antigas em taipa - Traços de misturas determinados em laboratório Introdução As construções em terra assumem, na história da construção nacional, um papel muito
Revestimentos exteriores de construções antigas em taipa - Traços de misturas determinados em laboratório Introdução As construções em terra assumem, na história da construção nacional, um papel muito
TC MECÂNICA DOS SOLOS TENSÕES NO SOLO PARTE II
 TENSÕES NO SOLO PARTE II Tensão superficial e Capilaridade - A água apresenta um comportamento diferenciado na superfície em contato com o ar; - Forças intermoleculares: atração dos hidrogênios de determinadas
TENSÕES NO SOLO PARTE II Tensão superficial e Capilaridade - A água apresenta um comportamento diferenciado na superfície em contato com o ar; - Forças intermoleculares: atração dos hidrogênios de determinadas
Tecnologia de construção para uma habitação unifamiliar
 Tecnologia de construção para uma habitação unifamiliar Módulo Processos de construção LABORATÓRIO DE CONSTRUÇÃO A68262 Sara Cardoso A68222 Ana Catarina Silva Guimarães, 07 de fevereiro de 2014 Índice
Tecnologia de construção para uma habitação unifamiliar Módulo Processos de construção LABORATÓRIO DE CONSTRUÇÃO A68262 Sara Cardoso A68222 Ana Catarina Silva Guimarães, 07 de fevereiro de 2014 Índice
Cap. 2 CONSTRUÇÃO DE ATERROS
 Cap. 2 CONSTRUÇÃO DE ATERROS 1. CONSTRUÇÃO DE ATERROS A construção de aterros envolve os seguintes aspectos: 1. Estudos geológicos e geotécnicos, prospecção solos presentes e suas características, localização
Cap. 2 CONSTRUÇÃO DE ATERROS 1. CONSTRUÇÃO DE ATERROS A construção de aterros envolve os seguintes aspectos: 1. Estudos geológicos e geotécnicos, prospecção solos presentes e suas características, localização
HUMIDADES EM EDIFÍCIOS Fenómenos de condensação. António Moret Rodrigues IST
 HUMIDADES EM EDIFÍCIOS Fenómenos de condensação António Moret Rodrigues IST ÍNDICE (1) Introdução: Tipos de humidade (1 slide) Humidade de obra (1 slide) Humidade ascensional (1 slide) Humidade higroscópica
HUMIDADES EM EDIFÍCIOS Fenómenos de condensação António Moret Rodrigues IST ÍNDICE (1) Introdução: Tipos de humidade (1 slide) Humidade de obra (1 slide) Humidade ascensional (1 slide) Humidade higroscópica
O FENÔMENO DA EFLORESCÊNCIA
 Página 1 de 6 O FENÔMENO DA EFLORESCÊNCIA As eflorescências são uma patologia muito comum em obras e que preocupa cada vez mais os construtores. A sua manifestação pode trazer dois tipos de problema: O
Página 1 de 6 O FENÔMENO DA EFLORESCÊNCIA As eflorescências são uma patologia muito comum em obras e que preocupa cada vez mais os construtores. A sua manifestação pode trazer dois tipos de problema: O
FICHA TÉCNICA. Isolamento Térmico de fachadas pelo exterior. nº 17. Nº Pág.s: Fevereiro 2007
 nº 17 FICHA TÉCNICA Isolamento Térmico de fachadas pelo exterior Nº Pág.s: 07 17 12 Fevereiro 2007 Isolamento Térmico de fachadas pelo exterior 01 Para responder às crescentes exigências de conforto higrotérmico,
nº 17 FICHA TÉCNICA Isolamento Térmico de fachadas pelo exterior Nº Pág.s: 07 17 12 Fevereiro 2007 Isolamento Térmico de fachadas pelo exterior 01 Para responder às crescentes exigências de conforto higrotérmico,
Dia do Betão 2018 Vila Franca de Xira 24 de Maio 2018
 Dia do Betão 2018 Vila Franca de Xira 24 de Maio 2018 Introdução Conceitos básicos Apresentação de um conjunto de obras para ilustrar Anomalias Técnicas de reparação Evolução do estado das obras após reabilitação
Dia do Betão 2018 Vila Franca de Xira 24 de Maio 2018 Introdução Conceitos básicos Apresentação de um conjunto de obras para ilustrar Anomalias Técnicas de reparação Evolução do estado das obras após reabilitação
1º RELATÓRIO Março/2003. a) identificação de patologias e suas causas; b) definição de acções de reabilitação; c) definição de plano de manutenção.
 Reabilitação Estrutural e Funcional do Pavilhão de Civil do Instituto Superior Técnico 1º RELATÓRIO Março/2003 1. Objectivo Desde a ocupação do Pavilhão de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico,
Reabilitação Estrutural e Funcional do Pavilhão de Civil do Instituto Superior Técnico 1º RELATÓRIO Março/2003 1. Objectivo Desde a ocupação do Pavilhão de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico,
GUIÃO TÉCNICO CORRECÇÃO DE PONTES TÉRMICAS PAREDES SIMPLES. FICHA TÉCNICA DOW Nº 14 Nº de pág.: 5 16 de Setembro de
 GUIÃO TÉCNICO CORRECÇÃO DE PONTES TÉRMICAS PAREDES SIMPLES FICHA TÉCNICA DOW Nº 14 Nº de pág.: 5 16 de Setembro de 2005 www.construlink.com CORRECÇÃO DE PONTES TÉRMICAS - PAREDES SIMPLES A necessidade
GUIÃO TÉCNICO CORRECÇÃO DE PONTES TÉRMICAS PAREDES SIMPLES FICHA TÉCNICA DOW Nº 14 Nº de pág.: 5 16 de Setembro de 2005 www.construlink.com CORRECÇÃO DE PONTES TÉRMICAS - PAREDES SIMPLES A necessidade
DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO DTA 02.3
 DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO DTA 02.3 SISTEMA SOTECNISOL FV40 + PY50 COBERTURAS ACESSÍVEIS À CIRCULAÇÃO E PERMANÊNCIA DE PESSOAS Impermeabilização de coberturas 1. - DESCRIÇÃO As membranas ECOPLAS FV
DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO DTA 02.3 SISTEMA SOTECNISOL FV40 + PY50 COBERTURAS ACESSÍVEIS À CIRCULAÇÃO E PERMANÊNCIA DE PESSOAS Impermeabilização de coberturas 1. - DESCRIÇÃO As membranas ECOPLAS FV
Aulas práticas. Figura do problema 4.3. Mecânica dos Solos Engª Geológica DEC/FCT/UNL 4.1
 Figura do problema 4.3 Mecânica dos Solos Engª Geológica DEC/FCT/UNL 4.1 4.4 - Sobre o terreno representado pelo perfil geotécnico da figura, pretende-se construir um edifício com uma área de 20x20 m 2,
Figura do problema 4.3 Mecânica dos Solos Engª Geológica DEC/FCT/UNL 4.1 4.4 - Sobre o terreno representado pelo perfil geotécnico da figura, pretende-se construir um edifício com uma área de 20x20 m 2,
Humidade em Edifícios Intervenções
 Humidade em Edifícios Intervenções Bruno Linhares, Bruno Ribeiro, Helena Paixão, Márcio Monte, Pedro Oliveira e Raquel Castro. Mestrado Integrado em Engenharia Civil Orientadora: Engª Assis. Ana Vaz Sá
Humidade em Edifícios Intervenções Bruno Linhares, Bruno Ribeiro, Helena Paixão, Márcio Monte, Pedro Oliveira e Raquel Castro. Mestrado Integrado em Engenharia Civil Orientadora: Engª Assis. Ana Vaz Sá
Reabilitação Estrutural e Funcional do Pavilhão de Civil do Instituto Superior Técnico. 1º RELATÓRIO Março/2003
 Reabilitação Estrutural e Funcional do Pavilhão de Civil do Instituto Superior Técnico 1º RELATÓRIO Março/2003 1. Objectivo Desde a ocupação do Pavilhão de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico,
Reabilitação Estrutural e Funcional do Pavilhão de Civil do Instituto Superior Técnico 1º RELATÓRIO Março/2003 1. Objectivo Desde a ocupação do Pavilhão de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico,
Este procedimento tem como objectivo estabelecer regras básicas para a realização de drenagem longitudinal.
 Procedimento Específico da Qualidade PÁGINA: 1/7 1. OBJECTIVO E ÂMBITO Este procedimento tem como objectivo estabelecer regras básicas para a realização de drenagem longitudinal. 1.1. Abreviaturas e definições
Procedimento Específico da Qualidade PÁGINA: 1/7 1. OBJECTIVO E ÂMBITO Este procedimento tem como objectivo estabelecer regras básicas para a realização de drenagem longitudinal. 1.1. Abreviaturas e definições
SISTEMA DE TRATAMENTO INDIVIDUAL DE ESGOTO SANITÁRIO
 Universidade Federal do Paraná Setor de Tecnologia Departamento de Hidráulica e Saneamento Curso: Arquitetura e Urbanismo Disciplina: TH053 Saneamento Urbano II SISTEMA DE TRATAMENTO INDIVIDUAL DE ESGOTO
Universidade Federal do Paraná Setor de Tecnologia Departamento de Hidráulica e Saneamento Curso: Arquitetura e Urbanismo Disciplina: TH053 Saneamento Urbano II SISTEMA DE TRATAMENTO INDIVIDUAL DE ESGOTO
1. FATORES CLIMÁTICOS
 Capítulo Elementos de Hidrometeorologia 3 1. FATORES CLIMÁTICOS A hidrologia de uma região depende principalmente de seu clima e secundariamente de sua topografia e geologia. A topografia influencia a
Capítulo Elementos de Hidrometeorologia 3 1. FATORES CLIMÁTICOS A hidrologia de uma região depende principalmente de seu clima e secundariamente de sua topografia e geologia. A topografia influencia a
Decantador Lamelar ECODEPUR, modelo DEKTECH
 0 v1.2-300511 Decantador Lamelar ECODEPUR, modelo DEKTECH APRESENTAÇÃO Os Decantadores Lamelares ECODEPUR, Modelo DEKTECH são equipamentos destinados à separação das areias e lamas que são arrastadas pelo
0 v1.2-300511 Decantador Lamelar ECODEPUR, modelo DEKTECH APRESENTAÇÃO Os Decantadores Lamelares ECODEPUR, Modelo DEKTECH são equipamentos destinados à separação das areias e lamas que são arrastadas pelo
O sistema ETICS como técnica de excelência na reabilitação de edifícios da segunda metade do século XX
 O sistema ETICS como técnica de excelência na reabilitação de edifícios da segunda metade do século XX Objectivos do trabalho Caracterização da solução ETICS para o revestimento de fachadas, do ponto de
O sistema ETICS como técnica de excelência na reabilitação de edifícios da segunda metade do século XX Objectivos do trabalho Caracterização da solução ETICS para o revestimento de fachadas, do ponto de
TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO IN SITU DE REVESTIMENTOS DE PISOS
 TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO IN SITU DE REVESTIMENTOS DE PISOS Jorge de Brito, Professor Associado IST 1. Introdução Nesta segunda edição da coluna Elementos de construção não estruturais, inserida no número
TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO IN SITU DE REVESTIMENTOS DE PISOS Jorge de Brito, Professor Associado IST 1. Introdução Nesta segunda edição da coluna Elementos de construção não estruturais, inserida no número
Mecânica dos Fluidos I
 Mecânica dos Fluidos I Revisão dos primeiros capítulos (Setembro Outubro de 2008) EXERCÍCIO 1 Um êmbolo de diâmetro D 1 move-se verticalmente num recipiente circular de diâmetro D 2 com água, como representado
Mecânica dos Fluidos I Revisão dos primeiros capítulos (Setembro Outubro de 2008) EXERCÍCIO 1 Um êmbolo de diâmetro D 1 move-se verticalmente num recipiente circular de diâmetro D 2 com água, como representado
Centro Histórico de Viseu Brochura informativa Estado de conservação de fachadas julho 2017
 Centro Histórico de Viseu Brochura informativa Estado de conservação de fachadas julho Ficha Técnica Título Coordenação J. Raimundo Mendes da Silva António Bettencourt Equipa Técnica Carlos Sá Catarina
Centro Histórico de Viseu Brochura informativa Estado de conservação de fachadas julho Ficha Técnica Título Coordenação J. Raimundo Mendes da Silva António Bettencourt Equipa Técnica Carlos Sá Catarina
Em vigor desde 29/12/2017 Máquinas e Ferramentas - 1 / 6 TABELA DE PREÇOS
 Em vigor desde 29/12/2017 Máquinas e Ferramentas - 1 / 6 1625202 LENA1BASIC CIMENTO COLA BR(S25K)$ UN 7,40 Ligantes hidráulicos, inertes calcáricos e silicioso e aditivos Peças de pequenas dimensões (15x15cm),
Em vigor desde 29/12/2017 Máquinas e Ferramentas - 1 / 6 1625202 LENA1BASIC CIMENTO COLA BR(S25K)$ UN 7,40 Ligantes hidráulicos, inertes calcáricos e silicioso e aditivos Peças de pequenas dimensões (15x15cm),
ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO I PROGRAMA
 Válter Lúcio Mar.06 1 PROGRAMA 1.Introdução ao betão armado 2.Bases de Projecto e Acções 3.Propriedades dos materiais 4.Durabilidade 5.Estados limite últimos de resistência à tracção e à compressão 6.Estado
Válter Lúcio Mar.06 1 PROGRAMA 1.Introdução ao betão armado 2.Bases de Projecto e Acções 3.Propriedades dos materiais 4.Durabilidade 5.Estados limite últimos de resistência à tracção e à compressão 6.Estado
Estruturas de Fundação
 Capítulo 5 Reforço de fundações 1 Reforço de fundações A intervenção na fundação pode ser imposta por várias causas, nomeadamente: alteração da estrutura alteração do uso da estrutura adequação de uma
Capítulo 5 Reforço de fundações 1 Reforço de fundações A intervenção na fundação pode ser imposta por várias causas, nomeadamente: alteração da estrutura alteração do uso da estrutura adequação de uma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
 SUMÁRIO 1. Objetivo e campo de aplicação...2 2. Referências...2 3. Definições...2 4. Condições para início dos serviços...2 5. Materiais e equipamentos necessários...2 5.1 Materiais...3 5.2 Equipamentos...3
SUMÁRIO 1. Objetivo e campo de aplicação...2 2. Referências...2 3. Definições...2 4. Condições para início dos serviços...2 5. Materiais e equipamentos necessários...2 5.1 Materiais...3 5.2 Equipamentos...3
(73) Titular(es): (72) Inventor(es): (74) Mandatário:
 (11) Número de Publicação: PT 104385 (51) Classificação Internacional: E04B 5/48 (2006) E04B 1/70 (2006) E02D 31/02 (2006) (12) FASCÍCULO DE PATENTE DE INVENÇÃO (22) Data de pedido: 2011.01.14 (30) Prioridade(s):
(11) Número de Publicação: PT 104385 (51) Classificação Internacional: E04B 5/48 (2006) E04B 1/70 (2006) E02D 31/02 (2006) (12) FASCÍCULO DE PATENTE DE INVENÇÃO (22) Data de pedido: 2011.01.14 (30) Prioridade(s):
INFILTRAÇÃO* E ARMAZENAMENTO NO SOLO. Prof. José Carlos Mendonça
 INFILTRAÇÃO* E ARMAZENAMENTO NO SOLO Prof. José Carlos Mendonça ÁGUA NO SOLO As propriedades do solo, estão associadas ao funcionamento hidrológico do solo. Causa a destruição da estrutura do solo Excesso
INFILTRAÇÃO* E ARMAZENAMENTO NO SOLO Prof. José Carlos Mendonça ÁGUA NO SOLO As propriedades do solo, estão associadas ao funcionamento hidrológico do solo. Causa a destruição da estrutura do solo Excesso
fct - UNL ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO I ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO I 4 DURABILIDADE Válter Lúcio Mar
 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO I Válter Lúcio Mar.06 1 PROGRAMA 1.Introdução ao betão armado 2.Bases de Projecto e Acções 3.Propriedades dos materiais 4.Durabilidade 5.Estados limite últimos de resistência
ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO I Válter Lúcio Mar.06 1 PROGRAMA 1.Introdução ao betão armado 2.Bases de Projecto e Acções 3.Propriedades dos materiais 4.Durabilidade 5.Estados limite últimos de resistência
Colagem de Cerâmica e Rochas Ornamentais
 Colagem de Cerâmica e Rochas Ornamentais Pedro Sequeira Dina Frade José Severo Associação Portuguesa de Fabricantes de Argamassas e ETICS Colagem de Cerâmica e Rochas Ornamentais TEKtónica, Lisboa, 2014.05.09
Colagem de Cerâmica e Rochas Ornamentais Pedro Sequeira Dina Frade José Severo Associação Portuguesa de Fabricantes de Argamassas e ETICS Colagem de Cerâmica e Rochas Ornamentais TEKtónica, Lisboa, 2014.05.09
FACE é a solução completa de fachada ventilada com peças alveolares de 25mm. Inércia Térmica A fachada ventilada funciona como. calor. ventilação.
 1_INFORMAÇÃO GERAL FACE é a solução completa de fachada ventilada com peças alveolares de 25mm Nascida em 2004, a solução FACE apresenta-se como uma solução construtiva de revestimento exterior, tanto
1_INFORMAÇÃO GERAL FACE é a solução completa de fachada ventilada com peças alveolares de 25mm Nascida em 2004, a solução FACE apresenta-se como uma solução construtiva de revestimento exterior, tanto
LIGANTES E CALDAS BETÃO
 LIGANTES E CALDAS BETÃO Mistura fabricada in situ constituída por: ligante hidráulico (cimento) agregados grosso (brita ou godo) fino (areia) água [adjuvantes] [adições] Controlo de qualidade na obra Qualidade
LIGANTES E CALDAS BETÃO Mistura fabricada in situ constituída por: ligante hidráulico (cimento) agregados grosso (brita ou godo) fino (areia) água [adjuvantes] [adições] Controlo de qualidade na obra Qualidade
Compactação. Compactação
 Compactação Compactação Objectivo tornar o betão mais compacto possível provocando a saída do ar e facilitando o arranjo interno das partículas. O contacto com os moldes e armaduras deve ser perfeito.
Compactação Compactação Objectivo tornar o betão mais compacto possível provocando a saída do ar e facilitando o arranjo interno das partículas. O contacto com os moldes e armaduras deve ser perfeito.
Desempenho em serviço Prof. Maristela Gomes da Silva
 Desempenho em serviço Prof. Maristela Gomes da Silva Departamento de Engenharia Civil Bibliografia referência para esta aula ISAIA, G. C. (editor) Materiais de Construção Civil e Princípios de ciência
Desempenho em serviço Prof. Maristela Gomes da Silva Departamento de Engenharia Civil Bibliografia referência para esta aula ISAIA, G. C. (editor) Materiais de Construção Civil e Princípios de ciência
Compactação. Para se conseguir este objectivo torna-se indispensável diminuir o atrito interno das partículas.
 Compactação Objectivo tornar o betão mais compacto possível provocando a saída do ar e facilitando o arranjo interno das partículas. O contacto com os moldes e armaduras deve ser perfeito. Para se conseguir
Compactação Objectivo tornar o betão mais compacto possível provocando a saída do ar e facilitando o arranjo interno das partículas. O contacto com os moldes e armaduras deve ser perfeito. Para se conseguir
MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL VIAS DE COMUNICAÇÃO. Luís de Picado Santos Drenagem
 MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL VIAS DE COMUNICAÇÃO Luís de Picado Santos (picsan@civil.ist.utl.pt) Drenagem Caracterização das possibilidades de intervenção Estimativa do caudal de ponta de cheia
MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL VIAS DE COMUNICAÇÃO Luís de Picado Santos (picsan@civil.ist.utl.pt) Drenagem Caracterização das possibilidades de intervenção Estimativa do caudal de ponta de cheia
Construction. e Controlo de Custos. Relação de Confiança
 Reabilitação de Edifícios Soluções Térmicas T e Controlo de Custos Membranas Líquidas L de Impermeabilização Relação de Confiança Estado da Arte Coberturas em Portugal Coberturas com telha cerâmica Substituição
Reabilitação de Edifícios Soluções Térmicas T e Controlo de Custos Membranas Líquidas L de Impermeabilização Relação de Confiança Estado da Arte Coberturas em Portugal Coberturas com telha cerâmica Substituição
O que são agregados? Agregados 2
 AGREGADOS O que são agregados? Agregados 2 O que são agregados? Agregados 3 O que são agregados? Agregados 4 O que são agregados? ABNT NBR 9935/2005: Material sem forma ou volume definido, geralmente inerte,
AGREGADOS O que são agregados? Agregados 2 O que são agregados? Agregados 3 O que são agregados? Agregados 4 O que são agregados? ABNT NBR 9935/2005: Material sem forma ou volume definido, geralmente inerte,
INFRAESTRUTURA DE PONTES FUNDAÇÕES PROFUNDAS
 INFRAESTRUTURA DE PONTES FUNDAÇÕES PROFUNDAS GENERALIDADES Fundações são elementos estruturais destinados a transmitir ao terreno as cargas da estrutura; Devem ter resistência adequada para suportar as
INFRAESTRUTURA DE PONTES FUNDAÇÕES PROFUNDAS GENERALIDADES Fundações são elementos estruturais destinados a transmitir ao terreno as cargas da estrutura; Devem ter resistência adequada para suportar as
REDUR BRANCO EXTERIOR
 1. DESCRIÇÃO O é uma argamassa seca produzida em fábrica e formulada a partir de ligantes hidráulicos, inertes selecionados, adjuvantes e hidrófugos. É um reboco branco hidrófugo vocacionado para aplicação
1. DESCRIÇÃO O é uma argamassa seca produzida em fábrica e formulada a partir de ligantes hidráulicos, inertes selecionados, adjuvantes e hidrófugos. É um reboco branco hidrófugo vocacionado para aplicação
Alvenaria, aspecto final face à vista e correntes, rebocadas.
 Terminologia relativa a alvenarias Hipólito de Sousa ALVENARIAS Alvenaria associação de elementos naturais ou artificiais, constituindo uma construção. Correntemente a ligação é assegurada por uma argamassa.
Terminologia relativa a alvenarias Hipólito de Sousa ALVENARIAS Alvenaria associação de elementos naturais ou artificiais, constituindo uma construção. Correntemente a ligação é assegurada por uma argamassa.
Patologia e recuperação de obras ENG /2
 Patologia e recuperação de obras ENG 1690 2016/2 Prof. Marcelo Cândido Principais patologias na alvenaria Principais manifestações patológicas na alvenaria 2/26 As manifestações mais comuns em alvenarias
Patologia e recuperação de obras ENG 1690 2016/2 Prof. Marcelo Cândido Principais patologias na alvenaria Principais manifestações patológicas na alvenaria 2/26 As manifestações mais comuns em alvenarias
Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia Departamento de Engenharia Civil
 Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia Departamento de Engenharia Civil ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HIGROTÉRMICO DA SOLUÇÃO ETICS NA ÓPTICA DA IDENTIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DE ANOMALIAS
Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia Departamento de Engenharia Civil ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HIGROTÉRMICO DA SOLUÇÃO ETICS NA ÓPTICA DA IDENTIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DE ANOMALIAS
CINCO POR CENTO DE HUMIDADE NAS PAREDES : ESTARÃO SECAS?
 CINCO POR CENTO DE HUMIDADE NAS PAREDES 1-5 CINCO POR CENTO DE HUMIDADE NAS PAREDES : ESTARÃO SECAS? Graham Roy Coleman. B.Sc(Hons),M.I.Biol.,C.Biol.,A.I.W.Sc.,F.Inst.R.T.S.. «http://www.mill-rise.freeserve.co.uk/bre%20digest%20245.htm»
CINCO POR CENTO DE HUMIDADE NAS PAREDES 1-5 CINCO POR CENTO DE HUMIDADE NAS PAREDES : ESTARÃO SECAS? Graham Roy Coleman. B.Sc(Hons),M.I.Biol.,C.Biol.,A.I.W.Sc.,F.Inst.R.T.S.. «http://www.mill-rise.freeserve.co.uk/bre%20digest%20245.htm»
4. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO
 4. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO 78 4 - RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO A metodologia utilizada neste trabalho, possibilitou a quantificação do grau do dano de cada um dos edifícios estudados, possibilitando
4. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO 78 4 - RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO A metodologia utilizada neste trabalho, possibilitou a quantificação do grau do dano de cada um dos edifícios estudados, possibilitando
INSPECÇÃO, PATOLOGIA E REABILITAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE E PISOS
 INSPECÇÃO, PATOLOGIA E REABILITAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE E PISOS 1/72 Adaptado dos textos originais: Autores: Arq.ª Sofia Ruivo, Arq.ª Teresa Ferreira, Eng.º João Garcia Coordenação: Prof. F.A. Branco,
INSPECÇÃO, PATOLOGIA E REABILITAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE E PISOS 1/72 Adaptado dos textos originais: Autores: Arq.ª Sofia Ruivo, Arq.ª Teresa Ferreira, Eng.º João Garcia Coordenação: Prof. F.A. Branco,
Comportamento de Argamassas e Elementos de Alvenaria Antiga Sujeitos à Acção de Sais. Lisboa, 23 de Novembro 2007
 Comportamento de Argamassas e Elementos de Alvenaria Antiga Sujeitos à Acção de Sais Lisboa, 23 de Novembro 2007 Introdução Compatibilidade química (?) Introdução de sais solúveis Resistência a sais solúveis
Comportamento de Argamassas e Elementos de Alvenaria Antiga Sujeitos à Acção de Sais Lisboa, 23 de Novembro 2007 Introdução Compatibilidade química (?) Introdução de sais solúveis Resistência a sais solúveis
REABILITAÇÃO E REFORÇO DA PONTE DE TAVIRA
 REABILITAÇÃO E REFORÇO DA PONTE DE TAVIRA Júlio Appleton, João Nunes da Silva Eng. Civis, A2P Consult Lda 1. DESCRIÇÃO DA PONTE E ANTECEDENTES A Ponte Romana de Tavira sobre o Rio Gilão é constituída por
REABILITAÇÃO E REFORÇO DA PONTE DE TAVIRA Júlio Appleton, João Nunes da Silva Eng. Civis, A2P Consult Lda 1. DESCRIÇÃO DA PONTE E ANTECEDENTES A Ponte Romana de Tavira sobre o Rio Gilão é constituída por
Introdução ao Ciclo hidrológico
 Introdução ao Ciclo hidrológico Água Uma realidade com várias dimensões Ciclo hidrológico Movimento permanente Sol evaporação + Gravidade precipitação escoamento superficial escoamento subterrâneo O conceito
Introdução ao Ciclo hidrológico Água Uma realidade com várias dimensões Ciclo hidrológico Movimento permanente Sol evaporação + Gravidade precipitação escoamento superficial escoamento subterrâneo O conceito
Materiais de Construção
 Materiais de Construção Materiais de construção Os podem ser simples ou compostos, obtidos diretamente da natureza ou resultado de trabalho industrial. Condições econômicas. As condições técnicas (solidez,
Materiais de Construção Materiais de construção Os podem ser simples ou compostos, obtidos diretamente da natureza ou resultado de trabalho industrial. Condições econômicas. As condições técnicas (solidez,
