Fungicidas: Modo de ação e Programas de controle. Módulo II
|
|
|
- Mauro Cabreira Sampaio
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 1 Fungicidas: Modo de ação e Programas de controle Módulo II
2 2 No Módulo 2 veremos a classificação dos principais fungicidas utilizados na agricultura quanto ao modo de ação e também abordaremos o tema formulações. Vamos começar? Os fungicidas podem atuar em duas frentes: i) Inibindo a germinação do esporo (ii) Inibindo o crescimento vegetativo (micélio) Saiba mais... A parede celular do micélio (estrutura vegetativa do fungo) é constituída pelas seguintes camadas: (a) -1,3 e -1,6-glucanas, (b) retículo glicoproteico, (c) proteína, (d) microfibrilas de quitina e (e) plasmalema.
3 3 Modo de ação Segundo classificação do Fungicide Resistance Action Committee (FRAC, 2013) A inibição dessas frentes pode ocorrer pela ação em diferentes sítios, tais como: A: Síntese de ácidos nucléicos F: Síntese de lipídeos e membranas B: Divisão celular e mitose G: Síntese de esteróis em membranas C: Respiração H: Biossíntese de parede celular D: Síntese de aminoácidos I: Síntese de melanina na parede celular E: Transdução de sinais P: Defesas vegetais
4 4 A: Síntese de ácidos nucléicos Fungicidas classificados com modo de ação A, atuam inibindo a síntese de DNA e RNA (ácidos nucléicos), que são compostos químicos responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética. Em fungicidas com modo de ação A um exemplo de ingrediente ativo do grupo químico das acylalanines (acylalanina) é o Metalaxyl, produto sistêmico de caráter protetor e curativo em tratamento de sementes, raízes e aplicações foliares. Após absorvidos, possuem movimentação através do xilema, permitindo proteger os meristemas (pontos de crescimento). B: Divisão celular e mitose Fungicidas classificados com modo de ação B, atuam na divisão celular e mitose, impedindo a multiplicação celular e, consequentemente, o crescimento e desenvolvimento do fungo. Benzimidazoles (Benzimidazóis) e Thiophanates (Tiofanatos) são exemplos de grupos químicos que atuam na divisão celular e mitose, através da inibição da polimerização de tubulinas (proteína que compõe os microtúbulos). A formação dos microtúbulos é distorcida, não ocorrendo a divisão do núcleo e a consequente divisão celular. Destacam-se os seguintes ingredientes ativos pertencentes à estes grupos: Benomyl: amplo espectro; inefetivo contra Oomicetos, Bipolaris, Drechslera e Alternaria. Carbendazim: ativo sistêmico, de ação protetora e curativa; amplo espectro. Thiabendazole: tratamento de pós-colheita. Fuberidazole: tratamento pós-colheita e de sementes, manchas foliares, mofo branco, giberela em trigo, Botrytis.
5 5 Tiofanato metílico: apresenta alta taxa de absorção foliar e, após absorvido, é transformado em Carbendazim. C: Respiração Fungicidas classificados com modo de ação C atuam na respiração mitocondrial, privando o organismo do principal produto deste processo, o ATP. Dentre os fungicidas que atuam na respiração, os C2 apresentam efeito inibidor sobre a produção da enzima Succinato Desidrogenase (SDHI), atuante no Complexo II da cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria do fungo. O Complexo II é formado por quatro proteínas, C II-1 (Flavoproteína) e C II-2 (Proteína Enxofre ferroso) ligadas a SDHI e as proteínas C II-3 e C II-4 que são formadoras de polipeptídeos ligados as membranas. Saiba mais... A proteína C II-2 é responsável pelo transporte de elétrons da cadeia respiratória do Complexo I para o Complexo III. A proteína C II-3 é o principal local de ação das Carboxamidas. O surgimento da resistência de SDHI depende do arranjo dos aminoácidos dentro da proteína. Alguns representantes deste grupo são conhecidos como Carboxamidas. Possuem elevada sistemicidade e grande espectro de ação em ascomicetos, basidiomicetos e deuteromicetos (mitospóricos), acrescentando consistência no residual de controle. Além disso, apresentam ação protetora e curativa, controlando inclusive patógenos resistentes a estrobilurinas. Saiba mais... A nível celular, estudos no modo de ação das Carboxamidas indicam possível efeito na biossíntese de proteínas, lipídeos, DNA e RNA, além de ser observada maior transformação de glicose ou acetato em succinato e uma diminuição na transformação de citrato, malato e fumarato.
6 6 Após a deposição dos fungicidas deste grupo sobre os tecidos da planta, são mobilizados via transporte xilemático acropetal e mesostêmico, através da sua absorção na camada cerosa (grande quantidade do ativo mantém-se absorvido nestes tecidos pressão de vapor) e de forma translaminar acumulando-se na face oposta da folha. Saiba mais... Como resultado da ação dos produtos do grupo das Carboxamidas sobre a fisiologia das plantas, foi observado longevidade foliar significativa, superior ao visualizado quando utilizado produtos do grupo das estrobilurinas, demonstrando grande avanço em termos de atividade, tanto no controle dos patógenos como sobre processos fisiológicos das plantas. Este conjunto de benefícios, mesmo que ainda a nível experimental, resulta em significativo aumento de produtividade. Dentre as Carboxamidas existem diferenças entre os princípios ativos quanto à eficácia e mobilidade, devido à sua diferença de lipofilicidade. Pyrazole-4-carboxamides é um grupo químico que apresenta os seguintes ingredientes ativos: benzovindiflurpyr, bixafen, fluxapyroxad, furametpyr, isopyrazam, penflufen, penthiopyrad e sedaxane. Outros exemplos são os grupos químicos: Pyridine-carboxamides, representado pelo i.a. boscalid, Oxathiin-carboxamides, representado pelos i. a. carboxin e oxycarboxin Pyridinyl-ethyl-benzamides, representado pelo i.a. fluopyran Phenyl-oxo-ethylthiophene amide, representado pelo i.a. isofetamide Ainda no modo de ação C, os C3 bloqueiam a transferência de elétrons entre o citocromo b e o citocromo c1, no sítio Qo, interrompendo a produção de ATP, resultando na morte do fungo.
7 7 As estrobilurinas são exemplos do grupo classificado como C3. Possuem forte ação preventiva, inibindo a germinação de esporos, ação curativa no micélio primário e ação erradicante limitada. Apresentam boa atividade mesostêmica com o aumento da umidade relativa do ar. São fungicidas com amplo espectro de ação, letais ao fungo em baixas concentrações. Exemplos de grupos químicos C3 e respectivos ingredientes ativos: Methoxy-acrylates, representado pelos i.a. azoxystrobin e picoxystrobin Methoxy-carbamates, representado pelo i. a. piraclostrobin Oximino acetates, representado pelos i.a. kresoxim-methyl e trifloxystrobin Oximino-acetamides, representado pelos i.a. dimoxystrobin e metominostrobin Oxazolidine-diones representado pelo i.a. famoxadone D: Síntese de Aminoácidos Fungicidas classificados com modo de ação D atuam na síntese de aminoácidos, que são compostos que se unem através de ligações peptídicas, formando as proteínas. Fungicidas com modo de ação D tem atividade sistêmica, através do xilema, inibindo a penetração e crescimento micelial. Podem ser utilizados em ampla gama de culturas, podendo atuar sobre um grande espectro de patógenos. Importantes ingredientes ativos dessa classificação são o Cyprodinil, Kasugamycin e Streptomycin, sendo que os dois últimos apresentam ação bactericida.
8 8 E: Transdução de sinais Fungicidas classificados com modo de ação E atuam na transdução de sinais, interrompendo estes processos. A transdução de sinal ocorre em uma cascata de eventos de fosforilação e desfosforilação de proteínas, ocorrendo ativação de enzimas mediante respostas a estímulos distintos que são percebidos pelos receptores. Dicarboxamides, representados pelos ingredientes ativos iprodione e procymidone é um exemplo de grupo químico de fungicida com modo de ação E. Os Dicarboxamides atuam na germinação do esporo e no crescimento do micélio primário, possuem ação de contato (iprodione) e sistêmico (procymidone). F: Síntese de lipídeos e membranas Fungicidas classificados com modo de ação F atuam inibindo a síntese de lipídeos e membranas, causando desorganização celular e morte do fungo. Devido a desorganização das membranas causadas pela ação destes fungicidas, prejudicam o desenvolvimento de apressórios a partir da germinação do patógeno. O edifenfós é um exemplo de ingrediente ativo deste grupo com ação protetora e curativa, que também inibe a biossíntese de melanina e quitina, responsáveis pela integridade da membrana celular do fungo. Desta forma, possui boa ação sobre o gênero Pyricularia spp. (Brusone). G: Síntese de esteróis em membranas Fungicidas classificados com modo de ação G inibem a síntese de esteróis em membranas.
9 9 Dentre os fungicidas com modo de ação G, os classificados como G1 são inibidores da demetilação. Demetilação é a produção de esteróis demetilados, por exemplo, o ergosterol, que é o responsável pela integridade da membrana do patógeno. A inibição deste produz compostos metilados (esteróis que não executam as mesmas funções específicas) levando à um desequilíbrio entre os lipídeos da membrana, atingindo níveis tóxicos para o patógeno. O grupo químico dos Triazoles (Triazóis) é o principal representante dos fungicidas classificados como G1. Apresentam rápida penetração e translocação pelo xilema, não se acumulando na camada de cera da folha. Como ação preventiva sobre o patógeno, atuam na germinação dos esporos, tubo germinativo e apressório. Já na ação curativa, atua sobre o micélio primário (haustório). O ergosterol é sintetizado pela ação da enzima Acetil-CoA a partir de um precursor denominado lanosterol. Os triazóis atuam nessa enzima, inibindo a produção do ergosterol. O ergosterol está presente em fungos superiores, tais como, Ascomycotas, Basidimycotas e Mitospóricos (Deuteromicotas). Os triazóis não atuam sobre a Classe dos Oomycetos, como por exemplo patógenos do gênero Pythium, Peronospora e Phytophthora, já que estes não sintetizam ergosterol.
10 10 Um importante subgrupo químico classificado como G1 é o dos Triazolinthiones, representado pelo ingrediente ativo protioconazole. Também são classificados como G1 os grupos químicos dos Imidazoles (Imidazóis), Pyridines (Piridinas), Pyrimidines (Piramidinas) e Piperazines (Piperazinas). Ainda dentre os fungicidas com modo de ação G, os classificados como G2 são inibidores de 8,7 isomerase e 14 redutase, responsáveis pela síntese de fecosterol e episterol (intermediários da síntese de ergosterol). O principal exemplo de grupo químico pertencente ao G2 é o das Morpholines (Morfolinas), onde o ativo fenpropimorph é um importante representante. Além de interferir na síntese de esteróis, também atua na síntese de proteínas, lipídeos e carboidratos. H: Biossíntese da parede celular Fungicidas classificados com modo de ação H inibem a síntese da parede celular. Os fungicidas deste grupo atuam principalmente na síntese de celulose e β-glucanas, componentes principais da parede dos Oomycetos, que não possuem quitinia e ergosterol. Os fungicidas classificados como H, possuem atividade mesostêmica, sendo protetores, curativos e antiesporulantes. Apesar de serem efetivos contra Oomycetos, não controlam de modo eficiente fungos do gênero Pythium spp. É um exemplo deste modo de ação o ingrediente ativo dimetomorfe. Saiba mais... Apesar de bom efeito antiesporulante, é recomendada a aplicação preventiva para controle de Oomycetos, devido a alta taxa de progresso e consequente dificuldade de controle após a doença estabelecida.
11 11 I: Síntese de melanina na parede celular Fungicidas classificados com modo de ação I inibem a síntese de melanina na parede celular. Os fungicidas classificados como I inibem a produção de melanina, que nos fungos é sintetizada a partir de compostos fenólicos e auxilia no processo de infecção do hospedeiro, acumulando-se no apressório. Um principio ativo importante deste grupo é o tricyclazole, que impede a concentração de melanina no apressório, dificultando o processo de infecção, porém não tem ação sobre a germinação do esporo. Esse ativo é facilmente absorvido pelas folhas e raízes da planta, movimentando-se pelo xilema. Saiba mais... A melanina é fundamental para interação do patógeno com o hospedeiro, visto que sua síntese na parede do apressório é importante para o desenvolvimento da hifa de infecção e posterior penetração na epiderme do hospedeiro. Exemplo de organismo com produção acentuada de melanina é o gênero Pyricularia, agente causal da Brusone. Segundo alguns autores, quando os indivíduos do gênero Pyricularia spp. não produzem esse composto devido a alguma alteração genética, perdem a capacidade de causar a doença. P: Defesas vegetais Fungicidas classificados com modo de ação P não possuem efeito sobre os patógenos, mas induzem a produção de compostos de defesa. Esses fungicidas induzem uma resposta da planta (hospedeiro) conhecida como resistência sistêmica adquirida (SAR, sigla em inglês de Systemic Acquired Resistance). Estes indutores de SAR basicamente mimetizam sinais químicos nas plantas que ativam os mecanismos de defesa, tais como a produção de parede celular mais espessa e proteínas antifúngicas.
12 12 A utilidade dos indutores de SAR, no entanto, tem sido limitada até agora, uma vez que muitos patógenos são capazes de superar tais defesas. Exemplos de ingredientes ativos: acibenzolar-s-methyl. Saiba mais... A produção de compostos secundários pela planta é maximizada após a aplicação destes ativos, porém estes não se acumulam nos tecidos vegetais. Por tal motivo, são necessárias aplicações frequentes. No caso de plantas sadias, esses compostos não são sintetizados, permanecendo somente o metabolismo primário. Atividade Multi-sítios Fungicidas classificados com modo de ação Multi-sítios apresentam atividade em dois ou mais dos sítios apresentados anteriormente. Os fungicidas com modo de ação Multi-sítios surgiram antes dos fungicidas sistêmicos, partindo de compostos inorgânicos até moléculas orgânicas. Eles são classificados como de contato, não penetrando na cutícula nem sendo absorvidos pelas células, tampouco translocados, podendo ser removidos pela ação da chuva. Desta forma, necessitam de aplicação que resulte em boa cobertura. Saiba mais... Devido as características deste modo de ação, esses fungicidas necessitam aplicação antes da chegada do patógeno na planta (preventivo) para alcançar maior eficiência. Apesar de apresentarem ação sobre a lesão estabelecida (erradicante), a eficiência é baixa devido à alta taxa de esporulação do fungo. São exemplos desse modo de ação os ingredientes ativos Mancozeb, Maneb e Thiram, pertencentes ao grupo químico dos Dithiocarbamates, que podem ser usados no tratamento de parte aérea, sementes ou de solo.
13 13 O Chloronitriles é outro grupo químico com características Multi-sítios que atua sobre o Ciclo de Krebs, impedindo a produção de ATP e causando a morte do fungo. O principal representante desse grupo é o Chlorothalonil, que apresenta ação protetora e de amplo espectro. Saiba mais... Os ingredientes ativos desse modo de ação costumam ser utilizados em misturas comerciais com produtos sistêmicos como estratégia para evitar o surgimento de resistência por parte do patógeno. Estamos chegando ao final do Módulo 2. Antes disso, abordaremos o tema formulações. Você sabe o que são formulações e qual seu propósito? A formulação de um fungicida é fornecida pelo fabricante e inclui, no conteúdo do recipiente, os ingredientes ativos mais os ingredientes inertes (tais como solventes, emulsificantes, molhantes, dispersantes, espessantes, entre outros). O propósito de formular um fungicida (ou demais agrotóxicos) é: Facilitar a aplicação: A formulação de um fungicida permite que uma pequena quantidade do produto seja misturada com um volume de calda maior (veículo água ou óleo), permitindo uma aplicação uniforme em grandes áreas. Melhorar o desempenho do produto: De acordo com o tipo de formulação é possível aumentar a concentração de Ingrediente Ativo (i.a.) por volume, incrementando a eficácia de controle. Porém, o aumento demasiado da concentração pode levar a problemas de fitoxicidade se trabalhado com a formulação inadequada. Estabilidade: A estabilidade de um fungicida está relacionada ao período em que o produto permanece dentro da embalagem, sob temperatura e luz adequadas, sem apresentar incompatibilidades físicas ou químicas.
14 14 Segurança: A formulação de um fungicida dilui o ingrediente ativo e seu efeito tóxico agudo. Sendo assim, o responsável pela aplicação ficará exposto a concentrações mais baixas do produto. A formulação de um fungicida pode ser elaborada de diferentes maneiras, conforme esquema apresentado abaixo. Formulações 1- Ingredientes ativos solúveis em água Concentrado Solúvel (SL): é composto pelo ingrediente ativo, água ou outro solvente polar + tensoativo (adjuvante). Por apresentar características polares, é solúvel em água. Neste caso, o tensoativo é adicionado apenas para aperfeiçoar a eficiência biológica e o espalhamento do i.a. na superfície do alvo. Vantagens: Manipulação e baixo custo.
15 15 Pó solúvel (SP): os sólidos são finamente moídos e se dissolvem completamente em água, não ocorrendo separação após a mistura e, portanto, não necessitam de agitação uma vez inicialmente misturados. 2- Ingredientes ativos solúveis em solvente orgânico Concentrado emulsionáveis (CE): composto por i.a., solvente orgânico e tensoativo (emulsionante). É altamente solúvel em solventes orgânicos, principalmente solventes aromáticos. O tensoativo é utilizado para emulsionar o i.a. e o solvente é utilizado quando o produto é aplicado à água e, muitas vezes também ajuda a dissolver i.a. Vantagens: Simplicidade de processo e boa eficiência biológica Desvantagens: É a classe de formulação mais tóxica e a qualidade da emulsão é muito influenciada pela qualidade da água. Microemulsão (ME): composto por i.a., solvente orgânico, tensoativo (emulsionante), co-tensoativo e/ou co-solvente (redutores de tensão interfacial) e água. É uma formulação altamente solúvel em solventes orgânicos. O tensoativo é utilizado para emulsionar o i.a. e o solvente. É necessária uma quantidade de tensoativo muito maior do que aquela utilizada nas formulações CE e EW. O co-tensoativo é utilizado para reduzir a tensão interfacial entre fase óleo e fase aquosa, não apresentando função tensoativa isoladamente, mas somente na presença de um tensoativo. O co-solvente não é um solvente ideal para o i.a., mas assim como o co-tensoativo, ajuda a reduzir a tensão interfacial entre as fases. Vantagens: Altíssima eficiência biológica; junto com as formulações SL são as únicas que não separam as fases nem na calda do tanque. Desvantagens: Difícil e oneroso desenvolvimento. Cápsulas suspensas (CS): composto por i.a., solvente orgânico, tensoativo (dispersante), água, agente de estrutura e copolímero (agente encapsulante ). É altamente solúvel em solventes orgânicos, principalmente solventes aromáticos. O tensoativo é utilizado para dispersar as cápsulas. O copolímero (agente encapsulante) envolve o i.a. (+ solvente), formando um filme sobre ele.
16 16 Vantagens: Pouca toxicidade, liberação controlada e não inflamável. Desvantagens: Complexidade do processo e processo oneroso. Emulsão em água (EW): composto por i.a., solvente orgânico, tensoativo (emulsionante), água e agente de estrutura. É altamente solúvel em solventes orgânicos, principalmente solventes aromáticos. O tensoativo é utilizado para emulsionar o i.a. e o solvente quando o produto é aplicado à água, muitas vezes ajudando à dissolver o i.a. na formulação, aumentando a polaridade do solvente. Vantagens: Substituição parcial ou total do solvente por água; menos tóxico que CE; boa eficiência biológica. Desvantagens: Qualidade da emulsão é muito influenciada pela qualidade da água; ocorre separação de fases. 3- Ingredientes ativos insolúveis em solvente orgânico (aplicação direta) Pó molhável (WP): composto por i.a., carga e tensoativo (dispersante). É uma formulação sólida à 25ºC e insolúvel em água. O tensoativo é adicionado para manter o i.a. disperso em calda durante aplicação. Vantagens: Alto teor de i.a.; descarte de embalagem. Desvantagens: Formação de névoa durante aplicação; suspensibilidade; eficiência biológica. Grânulos dispersíveis (WG): composto por i.a., carga, tensoativo (dispersante) e agente aglomerante. Formulação sólida a 25ºC e insolúvel em água. O tensoativo é adicionado para manter i.a. disperso em calda durante aplicação. O agente aglomerante é adicionado para formar grãos. Basicamente mesma formulação que WP, porém na forma de grãos. Vantagens: Alto teor de i.a., não forma nuvens de pó como o WP Desvantagens: Alto custo; processo complexo. Suspensão concentrada (SC): composto por i.a., água, tensoativo (dispersante / umectante), agente de estrutura e anticongelante. Formulação sólida à 25ºC e insolúvel em água. O tensoativo é adicionado para molhar o i.a. antes do processo de moagem e mantê-lo disperso tanto na formulação quanto em calda durante
17 17 aplicação. O agente de estrutura é adicionado para aumentar a viscosidade do meio, implicando no maior tempo para decantação/compactação do ativo. Vantagens: Formulação pouco tóxica quando comparada ao CE; não produz poeira; não inflamável. Desvantagens: Pode sofrer alteração na embalagem pela ação da luz ou temperatura, por exemplo, pode estufar devido à degradação do agente de estrutura. No Módulo 2 você viu que... Os fungicidas podem agir em diferentes sítios (A, B, C, D, E, F, G, H, I e P) ou em multi-sítios; A formulação de um fungicida, que inclui os ingredientes ativos e ingredientes inertes, tem como propósito facilitar as operações de aplicação e melhorar o desempenho do produto, tornando-o estável e seguro.
18 18 GLOSSÁRIO APRESSÓRIO: Apressório refere-se à uma estrutura desenvolvida por fungos patogênicos para romper a epiderme do hospedeiro. ATP: ATP ou adenosina trifosfato é encontrado universalmente nos sistemas vivos. Sua função essencial é armazenar energia para as atividades vitais básicas das células. O ATP libera uma grande quantidade de energia utilizável quando é desdobrado pela adição de uma molécula de água (hidrólise). BENZIMIDAZÓIS: Benzimidazóis causam interferência na divisão nuclear dos fungos pela formação de carbamato benzimidazole metílico. COMPOSTOS DE DEFESA: Compostos de defesa são metabólitos secundários que protegem as plantas contra herbívoros e contra a infecção por microrganismos patogênicos, através da produção de compostos (terpenos, compostos fenólicos e compostos nitrogenados) DISPERSANTE: Dispersante é a substância que impede a aglomeração de moléculas. EMULSIFICANTE: Emulsificante é a substância que compatibiliza frações polares e apolares. ESPESSANTE: Espessante é a substância que aumenta a viscosidade do produto. ESTERÓIS: Esteróis são substâncias encontradas em abundância nos organismos vivos e desempenham diversas funções. Particularmente em fungos e leveduras, estão presentes esteróis do tipo ergosterol, que são precursores da vitamina D. DESSFOSFORILAÇÃO: Desfosforilação é a retirada de um grupo fosfato (PO 4 ) de uma proteína ou outra molécula. FOSFORILAÇÃO: Fosforilação é a adição de um grupo fosfato (PO 4 ) à uma proteína ou outra molécula.
19 19 INGREDIENTE ATIVO: Ingrediente ativo é a substância que entra na formulação dos defensivos químicos em concentração determinada, sendo a responsável direta pelo controle de fungos, insetos ou plantas daninhas. QO: Qo refere-se ao sítio de oxidação da enzima ubiquinol oxidase. LIPOFILICIDADE: Lipofilicidade refere-se a capacidade de um composto químico dissolver-se em gorduras, óleos, e lipídeos em geral. MELANINA: Melanina é uma classe de compostos poliméricos derivados da tirosina, existente nos reinos Animal, Vegetal e Protista, cuja principal função é a pigmentação e proteção contra a radiação solar. MEMBRANA: A membrana celular, também chamada de membrana plasmática ou plasmalema, é uma estrutura que define o limite celular, separando o citoplasma do ambiente externo. Apresenta estrutura descrita como mosaico fluído, ou seja, uma bicamada de fosfolipídeos que contém algumas proteínas ligadas. MITOSE: Mitose é a divisão celular em que se produzem duas células com núcleos qualitativamente iguais ao da célula original. MOLHANTE: Molhante é a substância que permite a umectação do produto em contato com a água. PAREDE CELULAR: Parede celular é o nome dado à uma estrutura que envolve as células, composta por diferentes substâncias. Por ser uma estrutura rígida, confere proteção à célula. PLASMALEMA: Plasmalema é a estrutura que delimita todas as células vivas, também chamada de membrana celular ou membrana plasmática. PROTEÍNAS: Proteínas são compostos orgânicos constituídos por um ou mais polipeptídios, sintetizadas pelos organismos vivos através da condensação de um grande número de moléculas aminoácidos. São consideradas as macromoléculas mais importantes das células. PROTIOCONAZOLE: O Protioconazole apresenta como diferencial uma estrutura de molécula onde o anel representativo dos triazóis possui uma ligação dupla com o enxofre.
20 20 SÍTIOS: Sítios são locais do patógeno nos quais atuam os fungicidas, podendo ser na respiração celular, estrutura da membrana e atividade enzimática. SOLVENTE: Solvente é a substância que dissolve o ingrediente ativo. TRANSDUÇÃO DE SINAIS: Transdução de sinal refere-se a qualquer processo através do qual uma célula converte um tipo de sinal ou estímulo (como luz, privação de nutrientes, reguladores de crescimento, estresses variados e ataque de patógenos) em outro.
21 21 LITERATURAS CONSULTADAS ABETA (ed.). Manual de fungicidas. São Paulo p. AMORIN, L.; REZENDE, J. A. M.; FILHO, A. B. Manual de Fitopatologia: Princípios e Conceito, 4ª Edição. Editora Agronômica Ceres Ltda., São Paulo, p. ANDREI, E. Compêndio de defensivos agrícolas: guia prático de produtos fitossanitários para uso agrícola. 2 ed. São Paulo, Organização Andrei p. ANONYMOUS. Definitions of fungicide terms. Phytopathology. 33: AZEVEDO, L.A.S. Manual de quantificação de doenças de plantas. São Paulo, Novartis Biociências - Setor Agro, AZEVEDO, L.A.S. Fungicides: basis for rational use. São Paulo, 319 p AZEVEDO, L. A. S.; CASTELANI, P. Agricultural Adjuvants for Crop Protection. Imos Gráfica Editora, Rio de Janeiro, 1 st ed, p. BALARDIN R. S. (2005) Notebook teaching the discipline of plant pathology farm. Universidade Federal de Santa Maria - RS, Brazil, Santa Maria, Available at Accessed July 22, BARBERA, C. Pesticidas agrícolas. Barcelona: Omega, p. BLUM, L.E.B. & GABARDO, H. Controle químico da ferrugem do alho na região de Curitibanos/SC. Fitopatologia Brasileira 18: CRUZ FILHO, J. da & CHAVES, G. M. Antibióticos, fungicidas e nematicidas empregados no controle de doenças das plantas. Viçosa, Centro de Ensino de Extensão, UFV, p. DEBORTOLI, M.P. (2008) Effect of rainfastness and adjuvants in the fungicides application on soybeans cultivars. Master Dissertation - Graduate Program in Agricultural Engineer. Federal University of Santa Maria, RS, Brazil. DHINGRA, O.D., MUCHOVEJ, J.J., FILHO, J.C. Tratamento de sementes (controle de patógenos). Imprensa Universitária, Viçosa, Minas Gerais, 121 p, EDGINGTON, L. V., KLEW, K. L. Fungitoxic spectrum of benzimidazole compounds. Phytopathology 61:42-44,1971.
22 22 HEWITT, H. G. Fungicides in crop protection. CAB International, Chapter 4. Fungicide Performance. P HORSFALL, J. G. Fungicides and their action. Waltham Chronica Botanica Company, p. KIMATI, H.; AMORIN, L.; REZENDE, J. A. M.; FILHO, A. B.; CAMARGO, L. E. A. Manual de Fitopatologia: Doenças das Plantas Cultivadas, 4ª Edição. Editora Agronômica Ceres Ltda, São Paulo, p. LENZ, G. (2010) Effect of drops spectra and leaflets age on the fungicides absorption rate in soybean. Master Dissertation - Graduate Program in Agricultural Engineer. Federal University of Santa Maria, RS, Brazil. MACHADO, J.C. Patologia de sementes: fundamentos e aplicações. Brasília: Ministério da Educação. Lavras: ESAL/FAEPE, 106 p, MADALOSSO M. G. (2007) Row spacing and spray nozzle in the Phakopsora pachyrhizi Sidow control. Master Dissertation - Graduate Program in Agricultural Engineer. Federal University of Santa Maria, RS, Brazil. MARSH, R. W. Systemic fungicides. 2º ed. London: Longman p. McGEE, D.C. Soybean diseases: a reference source for seed technologists. St. Paul, APS Press, NENE, Y. L.; THAPLIYAL, P. N. Fungicides in plant disease control. 2ºed. New Delhi: Oxford & IBH Publishing, p. REIS, E. M.; FORCELINI, C. A.; REIS, A. C. Manual de Fungicidas: guia para o controle químico de doenças de plantas, 4ª Edição. Insular, Florianopólis, p. SHARVELLE, E. G. Chemical control of plant diseases. Lafayette: Purdue University, p. SHARVELLE, E. G. The nature and uses of modern fungicides. Minneapolis: Burgess Publishing Company, p. TORGESON, D. C. Fungicides: an advanced treatise. New York: Academic Press, 1967/ v.
CONTROLE QUÍMICO. Variedades com bom desempenho agronômico X suscetibilidade a doenças
 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Variedades com bom desempenho agronômico X suscetibilidade a doenças Alternativas de controle X controle químico indispensável Culturas dependentes de controle químico: batata / tomate
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Variedades com bom desempenho agronômico X suscetibilidade a doenças Alternativas de controle X controle químico indispensável Culturas dependentes de controle químico: batata / tomate
LEITURA DE TEXTOS DOENÇAS PARA TERCEIRA PROVA Textos disponíveis no Stoa - USP
 LEITURA DE TEXTOS DOENÇAS PARA TERCEIRA PROVA Textos disponíveis no Stoa - USP Mal das folhas da seringueira Mancha angular do algodoeiro Mosaico dourado do feijoeiro DESCOBERTA E DESENVOLVIMENTO DE FUNGICIDAS
LEITURA DE TEXTOS DOENÇAS PARA TERCEIRA PROVA Textos disponíveis no Stoa - USP Mal das folhas da seringueira Mancha angular do algodoeiro Mosaico dourado do feijoeiro DESCOBERTA E DESENVOLVIMENTO DE FUNGICIDAS
CURSO DE DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
 CURSO DE DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS MODULO - II.1 Produto fitofarmacêutico Fevereiro 2015 1. Definição de Produto Fitofarmacêutico 2. Classificação química
CURSO DE DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS MODULO - II.1 Produto fitofarmacêutico Fevereiro 2015 1. Definição de Produto Fitofarmacêutico 2. Classificação química
Monitoramento da Resistência de Ramularia areola a Fungicidas. Fabiano J. Perina Jackson A. Tavares Júlio C. Bogiani Nelson D.
 Monitoramento da Resistência de Ramularia areola a Fungicidas Fabiano J. Perina Jackson A. Tavares Júlio C. Bogiani Nelson D. Suassuna Safras 13/14 e 14/15 Levantamentos Controle de Ramulária - Severidade
Monitoramento da Resistência de Ramularia areola a Fungicidas Fabiano J. Perina Jackson A. Tavares Júlio C. Bogiani Nelson D. Suassuna Safras 13/14 e 14/15 Levantamentos Controle de Ramulária - Severidade
Seu braço forte contra as doenças da Cana. Nativo - Protege muito, contra mais doenças.
 Seu braço forte contra as doenças da Cana. Nivo - Protege muito, contra mais doenças. Características Técnicas de NATIVO Fungicida Sistêmico e Mesostêmico COMPOSIÇÃO Trifloxistrobina - 100 g/l (10% m/v)
Seu braço forte contra as doenças da Cana. Nivo - Protege muito, contra mais doenças. Características Técnicas de NATIVO Fungicida Sistêmico e Mesostêmico COMPOSIÇÃO Trifloxistrobina - 100 g/l (10% m/v)
O Futuro do Controle de Ferrugem
 Foto: Navarini, RS-2010 O Futuro do Controle de Ferrugem Pesquisador Dr. Lucas Navarini Fitopatologista Pesquisa, tecnologia e consultoria agrícola/rs Fonte: Spark - 2018 Cenário Número de aplicações por
Foto: Navarini, RS-2010 O Futuro do Controle de Ferrugem Pesquisador Dr. Lucas Navarini Fitopatologista Pesquisa, tecnologia e consultoria agrícola/rs Fonte: Spark - 2018 Cenário Número de aplicações por
Métodos de Controle: Biológico, Genético e Químico
 Centro Universitário do Triângulo Definição Métodos de Controle: Biológico, Genético e Químico Controle biológico é "a redução da soma de inóculo ou das atividades determinantes da doença, provocada por
Centro Universitário do Triângulo Definição Métodos de Controle: Biológico, Genético e Químico Controle biológico é "a redução da soma de inóculo ou das atividades determinantes da doença, provocada por
A Nova Geração de Cobre Super
 A Nova Geração de Cobre Super 2019 Syngenta. Todos os direitos reservados. ou são marcas comerciais de uma empresa do Grupo Syngenta. Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre
A Nova Geração de Cobre Super 2019 Syngenta. Todos os direitos reservados. ou são marcas comerciais de uma empresa do Grupo Syngenta. Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre
Fungicidas: Modo de ação e Programas de controle. Módulo III
 1 Fungicidas: Modo de ação e Programas de controle Módulo III 2 No Módulo 3 abordaremos temas relacionados ao momento de aplicação, aos fatores que influenciam na performance dos produtos, alguns conceitos
1 Fungicidas: Modo de ação e Programas de controle Módulo III 2 No Módulo 3 abordaremos temas relacionados ao momento de aplicação, aos fatores que influenciam na performance dos produtos, alguns conceitos
Trabalho de Recuperação 1º SEMESTRE
 Curso: ENSINO FUNDAMENTAL 2 Trabalho de Recuperação 1º SEMESTRE Foco, Força e Fé Turma: 9º Ano Data: / /2019 Valor: 12,0 Nota: Disciplina: BIOLOGIA Professor(a) NIZE G.CHAGAS PAVINATO Nome do Aluno(a):
Curso: ENSINO FUNDAMENTAL 2 Trabalho de Recuperação 1º SEMESTRE Foco, Força e Fé Turma: 9º Ano Data: / /2019 Valor: 12,0 Nota: Disciplina: BIOLOGIA Professor(a) NIZE G.CHAGAS PAVINATO Nome do Aluno(a):
Embebição. Síntese de RNA e proteínas. enzimática e de organelas. Atividades celulares fundamentais que ocorrem na germinação. Crescimento da plântula
 Embebição Respiração Atividade enzimática e de organelas Síntese de RNA e proteínas Atividades celulares fundamentais que ocorrem na germinação Crescimento da plântula Manifestações metabólicas ou bioquímicas
Embebição Respiração Atividade enzimática e de organelas Síntese de RNA e proteínas Atividades celulares fundamentais que ocorrem na germinação Crescimento da plântula Manifestações metabólicas ou bioquímicas
Plano de Aulas. Biologia. Módulo 4 A célula e os componentes da matéria viva
 Plano de Aulas Biologia Módulo 4 A célula e os componentes da matéria viva Resolução dos exercícios propostos Retomada dos conceitos 12 CAPÍTULO 1 1 b Graças ao microscópio óptico descobriu-se que os seres
Plano de Aulas Biologia Módulo 4 A célula e os componentes da matéria viva Resolução dos exercícios propostos Retomada dos conceitos 12 CAPÍTULO 1 1 b Graças ao microscópio óptico descobriu-se que os seres
Constituintes químicos dos seres vivos
 REVISÃO Bioquímica Constituintes químicos dos seres vivos S A I S I N O R G Â N I C O S CARBOIDRATOS São denominados: açúcares, hidratos de carbono, glicídios ou glicosídeos Energia para o trabalho celular
REVISÃO Bioquímica Constituintes químicos dos seres vivos S A I S I N O R G Â N I C O S CARBOIDRATOS São denominados: açúcares, hidratos de carbono, glicídios ou glicosídeos Energia para o trabalho celular
Bioquímica: Componentes orgânicos e inorgânicos necessários à vida. Leandro Pereira Canuto
 Bioquímica: orgânicos e inorgânicos necessários à vida Leandro Pereira Canuto Toda matéria viva: C H O N P S inorgânicos orgânicos Água Sais Minerais inorgânicos orgânicos Carboidratos Proteínas Lipídios
Bioquímica: orgânicos e inorgânicos necessários à vida Leandro Pereira Canuto Toda matéria viva: C H O N P S inorgânicos orgânicos Água Sais Minerais inorgânicos orgânicos Carboidratos Proteínas Lipídios
BIOLOGIA. Professora Fernanda Santos
 BIOLOGIA Professora Fernanda Santos Introdução a Biologia Estudo da vida Introdução a Biologia Introdução a Biologia Todos os seres vivos são constituídos de células menos os vírus! Unicelulares Pluricelulares
BIOLOGIA Professora Fernanda Santos Introdução a Biologia Estudo da vida Introdução a Biologia Introdução a Biologia Todos os seres vivos são constituídos de células menos os vírus! Unicelulares Pluricelulares
para Piriculariose e Helmintosporiose
 para Piriculariose e Helmintosporiose ÚNICO COM DOIS MODOS DE AÇÃO Tecnologia AMISTAR comprovada é o selo que garante aos agricultores que o fungicida que têm em mãos foi testado durante anos e que se
para Piriculariose e Helmintosporiose ÚNICO COM DOIS MODOS DE AÇÃO Tecnologia AMISTAR comprovada é o selo que garante aos agricultores que o fungicida que têm em mãos foi testado durante anos e que se
Biomoléculas e processos Passivos/Ativos na célula
 Biomoléculas e processos Passivos/Ativos na célula ICB Dep. Mofologia Disciplina: Biologia Celular Bases moleculares e Macromoleculares Substâncias Inorgânicas/Orgânicas Processos Celulares Passivos/Ativos
Biomoléculas e processos Passivos/Ativos na célula ICB Dep. Mofologia Disciplina: Biologia Celular Bases moleculares e Macromoleculares Substâncias Inorgânicas/Orgânicas Processos Celulares Passivos/Ativos
Todos tem uma grande importância para o organismo.
 A Química da Vida ÁGUA A água é um composto químico formado por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Sua fórmula química é H2O. A água pura não possui cheiro nem cor. Ela pode ser transformada em
A Química da Vida ÁGUA A água é um composto químico formado por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Sua fórmula química é H2O. A água pura não possui cheiro nem cor. Ela pode ser transformada em
BOLETIM TÉCNICO IHARA RETOME A DIREÇÃO DA SUA LAVOURA
 BOLETIM TÉCNICO IHARA RETOME A DIREÇÃO DA SUA LAVOURA FUNGICIDA INOVAÇÃO E QUALIDADE JAPONESAS A SERVIÇO DA AGRICULTURA BRASILEIRA Há mais de 50 anos, trabalhamos com os agricultores brasileiros para
BOLETIM TÉCNICO IHARA RETOME A DIREÇÃO DA SUA LAVOURA FUNGICIDA INOVAÇÃO E QUALIDADE JAPONESAS A SERVIÇO DA AGRICULTURA BRASILEIRA Há mais de 50 anos, trabalhamos com os agricultores brasileiros para
MÓDULO 2 - METABOLISMO. Bianca Zingales IQ-USP
 MÓDULO 2 - METABOLISMO Bianca Zingales IQ-USP INTRODUÇÃO AO METABOLISMO CARACTERÍSTICAS DO SER VIVO 1- AUTO-REPLICAÇÃO Capacidade de perpetuação da espécie 2- TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA O ser vivo extrai
MÓDULO 2 - METABOLISMO Bianca Zingales IQ-USP INTRODUÇÃO AO METABOLISMO CARACTERÍSTICAS DO SER VIVO 1- AUTO-REPLICAÇÃO Capacidade de perpetuação da espécie 2- TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA O ser vivo extrai
Vamos iniciar o estudo da unidade fundamental que constitui todos os organismos vivos: a célula.
 Aula 01 Composição química de uma célula O que é uma célula? Vamos iniciar o estudo da unidade fundamental que constitui todos os organismos vivos: a célula. Toda célula possui a capacidade de crescer,
Aula 01 Composição química de uma célula O que é uma célula? Vamos iniciar o estudo da unidade fundamental que constitui todos os organismos vivos: a célula. Toda célula possui a capacidade de crescer,
Biomoléculas e processos Passivos/Ativos na célula
 Biomoléculas e processos Passivos/Ativos na célula ICB Dep. Mofologia Disciplina: Biologia Celular Prof: Dr. Cleverson Agner Ramos Bases moleculares e Macromoleculares Substâncias Inorgânicas/Orgânicas
Biomoléculas e processos Passivos/Ativos na célula ICB Dep. Mofologia Disciplina: Biologia Celular Prof: Dr. Cleverson Agner Ramos Bases moleculares e Macromoleculares Substâncias Inorgânicas/Orgânicas
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA CÉLULA. Prof.(a):Monyke Lucena
 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA CÉLULA Prof.(a):Monyke Lucena Composição Química da Célula Substâncias Inorgânicas Substâncias Orgânicas Água Sais Minerais Carboidratos Lipídios Proteínas Ácidos Nucléicos Composição
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA CÉLULA Prof.(a):Monyke Lucena Composição Química da Célula Substâncias Inorgânicas Substâncias Orgânicas Água Sais Minerais Carboidratos Lipídios Proteínas Ácidos Nucléicos Composição
CABOIDRATOS, FIBRAS, LIPÍDEOS, PROTEÍNAS E ÁGUA
 CABOIDRATOS, FIBRAS, LIPÍDEOS, PROTEÍNAS E ÁGUA ÁGUA É o componente majoritário dos seres vivos; Na carne pode chegar a 70% e nas verduras até 95%; É o solvente universal; Desempenha diversas funções:
CABOIDRATOS, FIBRAS, LIPÍDEOS, PROTEÍNAS E ÁGUA ÁGUA É o componente majoritário dos seres vivos; Na carne pode chegar a 70% e nas verduras até 95%; É o solvente universal; Desempenha diversas funções:
Disciplina Biologia Celular. Profª Cristina Lacerda Soares Petrarolha Silva Curso de Agronomia FISMA / FEA
 Disciplina Biologia Celular Profª Cristina Lacerda Soares Petrarolha Silva Curso de Agronomia FISMA / FEA Aula 4: Bases Macromoleculares da Constituição Celular Bio Cel Profª Cristina Introdução Células
Disciplina Biologia Celular Profª Cristina Lacerda Soares Petrarolha Silva Curso de Agronomia FISMA / FEA Aula 4: Bases Macromoleculares da Constituição Celular Bio Cel Profª Cristina Introdução Células
Aula: 09 Temática: Metabolismo das principais biomoléculas parte I. Na aula de hoje, irei abordar o metabolismo das principais biomoléculas. Veja!
 Aula: 09 Temática: Metabolismo das principais biomoléculas parte I Na aula de hoje, irei abordar o metabolismo das principais biomoléculas. Veja! Respiração Celular: Parte do metabolismo celular ocorre
Aula: 09 Temática: Metabolismo das principais biomoléculas parte I Na aula de hoje, irei abordar o metabolismo das principais biomoléculas. Veja! Respiração Celular: Parte do metabolismo celular ocorre
FISIOLOGIA VEGETAL 24/10/2012. Respiração. Respiração. Respiração. Substratos para a respiração. Mas o que é respiração?
 Respiração Mas o que é respiração? FISIOLOGIA VEGETAL Respiração É o processo pelo qual compostos orgânicos reduzidos são mobilizados e subsequentemente oxidados de maneira controlada É um processo de
Respiração Mas o que é respiração? FISIOLOGIA VEGETAL Respiração É o processo pelo qual compostos orgânicos reduzidos são mobilizados e subsequentemente oxidados de maneira controlada É um processo de
BIOLOGIA. Moléculas, células e tecidos. Estrutura e fisiologia da Membrana Plasmática - Parte 1. Professor: Alex Santos
 BIOLOGIA Moléculas, células e tecidos Estrutura e fisiologia da Membrana Plasmática - Parte 1 Professor: Alex Santos Tópicos em abordagem: Estrutura e fisiologia da Membrana Plasmática - Parte 1 Parte
BIOLOGIA Moléculas, células e tecidos Estrutura e fisiologia da Membrana Plasmática - Parte 1 Professor: Alex Santos Tópicos em abordagem: Estrutura e fisiologia da Membrana Plasmática - Parte 1 Parte
Disciplina: Fitopatologia Agrícola CONTROLE FÍSICO DE DOENÇAS DE PLANTAS
 Disciplina: Fitopatologia Agrícola CONTROLE FÍSICO DE DOENÇAS DE PLANTAS DOENÇAS DE PLANTAS DOENÇAS DE PLANTAS FORMAS DE CONTROLE Controle biológico Controle cultural Controle físico Controle genético
Disciplina: Fitopatologia Agrícola CONTROLE FÍSICO DE DOENÇAS DE PLANTAS DOENÇAS DE PLANTAS DOENÇAS DE PLANTAS FORMAS DE CONTROLE Controle biológico Controle cultural Controle físico Controle genético
Hoje iremos conhecer o ciclo de Krebs e qual a sua importância no metabolismo aeróbio. Acompanhe!
 Aula: 13 Temática: Metabolismo aeróbio parte I Hoje iremos conhecer o ciclo de Krebs e qual a sua importância no metabolismo aeróbio. Acompanhe! O Ciclo de Krebs ou Ciclo do Ácido Cítrico A molécula de
Aula: 13 Temática: Metabolismo aeróbio parte I Hoje iremos conhecer o ciclo de Krebs e qual a sua importância no metabolismo aeróbio. Acompanhe! O Ciclo de Krebs ou Ciclo do Ácido Cítrico A molécula de
Processo de obtenção de energia das células respiração celular
 Processo de obtenção de energia das células respiração celular Lipídeos de armazenamento (Gorduras e óleos) Substâncias que originam ácidos graxos e usadas como moléculas que armazenam energia nos seres
Processo de obtenção de energia das células respiração celular Lipídeos de armazenamento (Gorduras e óleos) Substâncias que originam ácidos graxos e usadas como moléculas que armazenam energia nos seres
TRATAMENTO DE SEMENTES
 INTRODUÇÃO TRATAMENTO DE SEMENTES LPV 638 - PRODUÇÃO DE SEMENTES Ana D. L. Coelho Novembre PARÂMETROS DE QUALIDADE DA SEMENTE GENÉTICO FÍSICO FISIOLÓGICO SANITÁRIO 1 2 INTRODUÇÃO SEMENTE ALVO DAS PRAGAS
INTRODUÇÃO TRATAMENTO DE SEMENTES LPV 638 - PRODUÇÃO DE SEMENTES Ana D. L. Coelho Novembre PARÂMETROS DE QUALIDADE DA SEMENTE GENÉTICO FÍSICO FISIOLÓGICO SANITÁRIO 1 2 INTRODUÇÃO SEMENTE ALVO DAS PRAGAS
Fisiologia do Exercício
 Fisiologia do Exercício REAÇÕES QUÍMICAS Metabolismo inclui vias metabólicas que resultam na síntese de moléculas Metabolismo inclui vias metabólicas que resultam na degradação de moléculas Reações anabólicas
Fisiologia do Exercício REAÇÕES QUÍMICAS Metabolismo inclui vias metabólicas que resultam na síntese de moléculas Metabolismo inclui vias metabólicas que resultam na degradação de moléculas Reações anabólicas
Introdução ao Metabolismo Microbiano
 Introdução ao Metabolismo Microbiano METABOLISMO DEFINIÇÃO: Grego: metabole = mudança, transformação; Toda atividade química realizada pelos organismos; São de dois tipos: Envolvem a liberação de energia:
Introdução ao Metabolismo Microbiano METABOLISMO DEFINIÇÃO: Grego: metabole = mudança, transformação; Toda atividade química realizada pelos organismos; São de dois tipos: Envolvem a liberação de energia:
Dra. Maria Izabel Gallão
 As proteínas estruturais de parede celular são classificadas em: proteínas ricas em hidroxiprolina (HRPG) proteínas ricas em glicina (RGPs) proteínas ricas em prolina (PRPs) proteínas arabinogalactanas
As proteínas estruturais de parede celular são classificadas em: proteínas ricas em hidroxiprolina (HRPG) proteínas ricas em glicina (RGPs) proteínas ricas em prolina (PRPs) proteínas arabinogalactanas
Composição Química das Células: Água e Sais Minerais
 Composição Química das Células: Água e Sais Minerais Uma das evidências da evolução biológica e da ancestralidade comum dos seres vivos é que todas as formas de vida possuem composição química semelhante.
Composição Química das Células: Água e Sais Minerais Uma das evidências da evolução biológica e da ancestralidade comum dos seres vivos é que todas as formas de vida possuem composição química semelhante.
Introdução à Bioquímica. Lipídeos. Dra. Fernanda Canduri Laboratório de Sistemas BioMoleculares. Departamento de Física.. UNESP. www.
 Introdução à Bioquímica Lipídeos Dra. Fernanda Canduri Laboratório de Sistemas BioMoleculares. Departamento de Física.. UNESP São José do Rio Preto - SP. Tópicos! Classificação dos lipídeos! Ácidos graxos!
Introdução à Bioquímica Lipídeos Dra. Fernanda Canduri Laboratório de Sistemas BioMoleculares. Departamento de Física.. UNESP São José do Rio Preto - SP. Tópicos! Classificação dos lipídeos! Ácidos graxos!
Processo de obtenção de energia das células respiração celular
 Processo de obtenção de energia das células respiração celular Lipídeos de armazenamento (Gorduras e óleos) Os lipideos de armazenamento são constituidos por ácidos graxos esterificados ao glicerol - triglicerídeos
Processo de obtenção de energia das células respiração celular Lipídeos de armazenamento (Gorduras e óleos) Os lipideos de armazenamento são constituidos por ácidos graxos esterificados ao glicerol - triglicerídeos
Disciplina de Biologia Celular. Profª Larissa dos Santos
 Universidade Salgado de Oliveira Disciplina de Biologia Celular Organização Geral e Evolução das Células Profª Larissa dos Santos Evolução do conceito celular 1663 célula seria pequena cela (físico inglês
Universidade Salgado de Oliveira Disciplina de Biologia Celular Organização Geral e Evolução das Células Profª Larissa dos Santos Evolução do conceito celular 1663 célula seria pequena cela (físico inglês
As bases bioquímicas da vida
 As bases bioquímicas da vida Água, Sais Minerais, Carboidratos, Lipídios, Proteínas e Vitaminas 1º Ano Profª Priscila F Binatto Constituintes Bioquímicos da Célula Água e Minerais Carboidratos Lipídios
As bases bioquímicas da vida Água, Sais Minerais, Carboidratos, Lipídios, Proteínas e Vitaminas 1º Ano Profª Priscila F Binatto Constituintes Bioquímicos da Célula Água e Minerais Carboidratos Lipídios
Nutrição e metabolismo. microbiano. Nutrição e Metabolismo. microbiano. Nutrição e metabolismo microbiano. Nutrição e metabolismo microbiano
 Nutrição e Metabolismo 1. Introdução 3. Cultivo e crescimento bacteriano 1. Introdução Origem dos seus precursores retirados do meio sintetizados a partir de compostos mais simples O que contém uma célula
Nutrição e Metabolismo 1. Introdução 3. Cultivo e crescimento bacteriano 1. Introdução Origem dos seus precursores retirados do meio sintetizados a partir de compostos mais simples O que contém uma célula
FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE A
 FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE A REGISTRADO NO MAPA SOB O Nº PA-07526 10001-7 GARANTIAS DE REGISTRO 11% Nitrogênio Total (N) 20% Carbono Orgânico Total (COT) É um fertilizante fluido com alta concentração
FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE A REGISTRADO NO MAPA SOB O Nº PA-07526 10001-7 GARANTIAS DE REGISTRO 11% Nitrogênio Total (N) 20% Carbono Orgânico Total (COT) É um fertilizante fluido com alta concentração
Obtenção de Energia. Obtenção de Energia. Obtenção de Energia. Oxidação de Carboidratos. Obtenção de energia por oxidação 19/08/2014
 , Cadeia de Transporte de Elétrons e Fosforilação Oxidativa Prof. Dr. Bruno Lazzari de Lima Para que um organismo possa realizar suas funções básicas: Obtenção de nutrientes. Crescimento. Multiplicação.
, Cadeia de Transporte de Elétrons e Fosforilação Oxidativa Prof. Dr. Bruno Lazzari de Lima Para que um organismo possa realizar suas funções básicas: Obtenção de nutrientes. Crescimento. Multiplicação.
INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA DA CÉLULA. Bioquímica Celular Prof. Júnior
 INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA DA CÉLULA Histórico INTRODUÇÃO 1665: Robert Hooke Compartimentos (Células) 1840: Theodor Schwann Teoria Celular 1. Todos os organismos são constituídos de uma ou mais células 2.
INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA DA CÉLULA Histórico INTRODUÇÃO 1665: Robert Hooke Compartimentos (Células) 1840: Theodor Schwann Teoria Celular 1. Todos os organismos são constituídos de uma ou mais células 2.
Diferente e complementar. Existem formas mais versáteis de combater o míldio
 As 2 substâncias ativas têm excelente performance face à pela O produto mantém o seu poder de ação durante após a secagem ferramenta valiosa na prevenção e gestão de. Para evitar o desenvolvimento de não
As 2 substâncias ativas têm excelente performance face à pela O produto mantém o seu poder de ação durante após a secagem ferramenta valiosa na prevenção e gestão de. Para evitar o desenvolvimento de não
A Química da Vida. As substâncias que constituem os corpos dos seres vivos possuem em sua constituição entre 75-85% de água. Ou seja, cerca de 80% do
 A Química da Vida. A Química da Vida. As substâncias que constituem os corpos dos seres vivos possuem em sua constituição entre 75-85% de água. Ou seja, cerca de 80% do corpo de um ser vivo é composto
A Química da Vida. A Química da Vida. As substâncias que constituem os corpos dos seres vivos possuem em sua constituição entre 75-85% de água. Ou seja, cerca de 80% do corpo de um ser vivo é composto
Água A superfície da Terra é constituída de três quartos de água, cerca de 70%, a maior parte está concentrada nos oceanos e mares, cerca de 97,5%, o
 A química da Vida Água A superfície da Terra é constituída de três quartos de água, cerca de 70%, a maior parte está concentrada nos oceanos e mares, cerca de 97,5%, o restante 2,5% está concentrado em
A química da Vida Água A superfície da Terra é constituída de três quartos de água, cerca de 70%, a maior parte está concentrada nos oceanos e mares, cerca de 97,5%, o restante 2,5% está concentrado em
BOLETIM TÉCNICO IHARA
 BOLETIM TÉCNICO IHARA FUNGICIDA TODA SEMENTE PRECISA SER MUITO BEM PROTEGIDA INOVAÇÃO E QUALIDADE JAPONESAS A SERVIÇO DA AGRICULTURA BRASILEIRA Há mais de 50 anos, trabalhamos com os agricultores brasileiros
BOLETIM TÉCNICO IHARA FUNGICIDA TODA SEMENTE PRECISA SER MUITO BEM PROTEGIDA INOVAÇÃO E QUALIDADE JAPONESAS A SERVIÇO DA AGRICULTURA BRASILEIRA Há mais de 50 anos, trabalhamos com os agricultores brasileiros
TRABALHO DE BIOLOGIA QUÍMICA DA VIDA
 TRABALHO DE BIOLOGIA QUÍMICA DA VIDA Água Sais minerais Vitaminas Carboidratos Lipídios Proteínas Enzimas Ácidos Núcleos Arthur Renan Doebber, Eduardo Grehs Água A água é uma substância química composta
TRABALHO DE BIOLOGIA QUÍMICA DA VIDA Água Sais minerais Vitaminas Carboidratos Lipídios Proteínas Enzimas Ácidos Núcleos Arthur Renan Doebber, Eduardo Grehs Água A água é uma substância química composta
CONTROLE QUÍMICO AGROTÓXICOS. Sistema de agrotóxicos agropecuários MAPA Todos os produtos registrados
 CONTROLE QUÍMICO Sistema de agrotóxicos agropecuários MAPA www.agricultura.gov.br AGROTÓXICOS Todos os produtos registrados FUNGICIDAS ANTIBIÓTICOS NEMATICIDAS INSETICIDAS/ACARICIDAS Inclusive... ativador
CONTROLE QUÍMICO Sistema de agrotóxicos agropecuários MAPA www.agricultura.gov.br AGROTÓXICOS Todos os produtos registrados FUNGICIDAS ANTIBIÓTICOS NEMATICIDAS INSETICIDAS/ACARICIDAS Inclusive... ativador
Pontifícia Universidade Católica de Goiás Departamento de Biologia Bioquímica Metabólica ENZIMAS
 Pontifícia Universidade Católica de Goiás Departamento de Biologia Bioquímica Metabólica ENZIMAS Origem das proteínas e de suas estruturas Níveis de Estrutura Protéica Estrutura das proteínas Conformação
Pontifícia Universidade Católica de Goiás Departamento de Biologia Bioquímica Metabólica ENZIMAS Origem das proteínas e de suas estruturas Níveis de Estrutura Protéica Estrutura das proteínas Conformação
Introdução ao Metabolismo. Profª Eleonora Slide de aula
 Introdução ao Metabolismo Profª Eleonora Slide de aula Metabolismo Profª Eleonora Slide de aula Relacionamento energético entre as vias catabólicas e as vias anabólicas Nutrientes que liberam energia Carboidratos
Introdução ao Metabolismo Profª Eleonora Slide de aula Metabolismo Profª Eleonora Slide de aula Relacionamento energético entre as vias catabólicas e as vias anabólicas Nutrientes que liberam energia Carboidratos
Trabalho de biologia. Nome: Naiheverton e wellinton. Turma:103
 Trabalho de biologia Nome: Naiheverton e wellinton Turma:103 VITAMINAS São compostos orgânicos imprescindível para algumas reações metabólicas especificas,requeridos pelo corpo em quantidade minimas para
Trabalho de biologia Nome: Naiheverton e wellinton Turma:103 VITAMINAS São compostos orgânicos imprescindível para algumas reações metabólicas especificas,requeridos pelo corpo em quantidade minimas para
REVISÃO: A CÉLULA E SEU FUNCIONAMENTO
 REVISÃO: A CÉLULA E SEU FUNCIONAMENTO 2 O que são Células? São as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos; Envolvidas por membranas preenchidas por solução aquosa, onde estão presentes biomoléculas
REVISÃO: A CÉLULA E SEU FUNCIONAMENTO 2 O que são Células? São as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos; Envolvidas por membranas preenchidas por solução aquosa, onde estão presentes biomoléculas
BIOQUÍMICA CELULAR. Ramo das ciências naturais que estuda a química da vida. Prof. Adaianne L. Teixeira
 BIOQUÍMICA CELULAR Ramo das ciências naturais que estuda a química da vida Prof. Adaianne L. Teixeira Principais elementos químicos dos seres vivos CARBONO (C) (Essencial) HIDROGÊNIO (H) OXIGÊNIO (O) NITROGÊNIO
BIOQUÍMICA CELULAR Ramo das ciências naturais que estuda a química da vida Prof. Adaianne L. Teixeira Principais elementos químicos dos seres vivos CARBONO (C) (Essencial) HIDROGÊNIO (H) OXIGÊNIO (O) NITROGÊNIO
A função da água e sais minerais dentro da célula
 A QUÍMICA DA VIDA A função da água e sais minerais dentro da célula Eles tem a ver com o metabolismo das mitocôndrias na qual a principal função seria de não parar a que sustenta, vejamos isso entre água
A QUÍMICA DA VIDA A função da água e sais minerais dentro da célula Eles tem a ver com o metabolismo das mitocôndrias na qual a principal função seria de não parar a que sustenta, vejamos isso entre água
BIOQUÍMICA - composição química das células
 BIOQUÍMICA - composição química das células I) Substâncias inorgânicas: água e sais minerais II) Substâncias orgânicas: carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucléicos,... Substâncias mais presentes
BIOQUÍMICA - composição química das células I) Substâncias inorgânicas: água e sais minerais II) Substâncias orgânicas: carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucléicos,... Substâncias mais presentes
ABSORÇÃO RADICULAR, TRANSPORTE E REDISTRIBUIÇÃO DE NUTRIENTES
 ABSORÇÃO RADICULAR, TRANSPORTE E REDISTRIBUIÇÃO DE NUTRIENTES Prof. Volnei Pauletti Departamento de Solos e Engenharia Agrícola Mestrado em Ciência do Solo vpauletti@ufpr.br CONTATO NUTRIENTE - RAIZ Absorção
ABSORÇÃO RADICULAR, TRANSPORTE E REDISTRIBUIÇÃO DE NUTRIENTES Prof. Volnei Pauletti Departamento de Solos e Engenharia Agrícola Mestrado em Ciência do Solo vpauletti@ufpr.br CONTATO NUTRIENTE - RAIZ Absorção
ABSORÇÃO RADICULAR, TRANSPORTE E REDISTRIBUIÇÃO DE NUTRIENTES
 ABSORÇÃO RADICULAR, TRANSPORTE E REDISTRIBUIÇÃO DE NUTRIENTES Prof. Volnei Pauletti Departamento de Solos e Engenharia Agrícola Mestrado em Ciência do Solo vpauletti@ufpr.br CONTATO NUTRIENTE - RAIZ DEFINIÇÕES
ABSORÇÃO RADICULAR, TRANSPORTE E REDISTRIBUIÇÃO DE NUTRIENTES Prof. Volnei Pauletti Departamento de Solos e Engenharia Agrícola Mestrado em Ciência do Solo vpauletti@ufpr.br CONTATO NUTRIENTE - RAIZ DEFINIÇÕES
Água A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio (H2O). É abundante no planeta Terra,
 A Química da Vida Água A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio (H2O). É abundante no planeta Terra, onde cobre grande parte de sua superfície
A Química da Vida Água A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio (H2O). É abundante no planeta Terra, onde cobre grande parte de sua superfície
COMPORTAMENTO DE HERBICIDAS EM PLANTAS
 COMPORTAMENTO DE HERBICIDAS EM PLANTAS Arthur Arrobas Martins Barroso PhD Weed Science - 2018 Por onde o herbicida pode ser absorvido? Folha Caule Flores Frutos Raízes Rizomas Estolões Tubérculos O que
COMPORTAMENTO DE HERBICIDAS EM PLANTAS Arthur Arrobas Martins Barroso PhD Weed Science - 2018 Por onde o herbicida pode ser absorvido? Folha Caule Flores Frutos Raízes Rizomas Estolões Tubérculos O que
A análise da matéria que constitui os seres vivos revela abundância de água. Os demais constituintes moleculares estão representados pelos sais
 1 2 A análise da matéria que constitui os seres vivos revela abundância de água. Os demais constituintes moleculares estão representados pelos sais minerais e pelas substâncias orgânicas como proteínas,
1 2 A análise da matéria que constitui os seres vivos revela abundância de água. Os demais constituintes moleculares estão representados pelos sais minerais e pelas substâncias orgânicas como proteínas,
Membrana plasmática (plasmalema)
 Membrana plasmática (plasmalema) Bicamada lipídica (fosfolipídio + colesterol) responsável pela proteção e pelo controle da entrada e saída de substâncias da célula (permeabilidade seletiva). Modelo do
Membrana plasmática (plasmalema) Bicamada lipídica (fosfolipídio + colesterol) responsável pela proteção e pelo controle da entrada e saída de substâncias da célula (permeabilidade seletiva). Modelo do
Lista de Exercícios (BIO-LEO)
 Lista de Exercícios (BIO-LEO) 1. As principais substâncias que compõem o sêmen humano são enzimas, ácido cítrico, íons (cálcio, zinco, e magnésio), frutose, ácido ascórbico e prostaglandinas, essas últimas
Lista de Exercícios (BIO-LEO) 1. As principais substâncias que compõem o sêmen humano são enzimas, ácido cítrico, íons (cálcio, zinco, e magnésio), frutose, ácido ascórbico e prostaglandinas, essas últimas
BASES MACROMOLECULARES CELULAR
 BASES MACROMOLECULARES CELULAR BIOQUÍMICA- FARMÁCIA FIO Faculdades Integradas de Ourinhos Prof. Esp. Roberto Venerando Fundação Educacional Miguel Mofarrej. FIO robertovenerando@fio.edu.br BASES MACROMOLECULARES
BASES MACROMOLECULARES CELULAR BIOQUÍMICA- FARMÁCIA FIO Faculdades Integradas de Ourinhos Prof. Esp. Roberto Venerando Fundação Educacional Miguel Mofarrej. FIO robertovenerando@fio.edu.br BASES MACROMOLECULARES
Funções do Metabolismo
 Universidade Federal de Mato Grosso Disciplina de Bioquímica Conceito de Metabolismo METABOLISMO DOS CARBOIDRATOS Prof. Msc. Reginaldo Vicente Ribeiro Atividade celular altamente dirigida e coordenada,
Universidade Federal de Mato Grosso Disciplina de Bioquímica Conceito de Metabolismo METABOLISMO DOS CARBOIDRATOS Prof. Msc. Reginaldo Vicente Ribeiro Atividade celular altamente dirigida e coordenada,
Água A queda do teor de água, nas células e no organismo, abaixo de certo limite, gera uma situação de desequilíbrio hidrossalino, com repercussões
 A Química da Vida Água A queda do teor de água, nas células e no organismo, abaixo de certo limite, gera uma situação de desequilíbrio hidrossalino, com repercussões nos mecanismos osmóticos e na estabilidade
A Química da Vida Água A queda do teor de água, nas células e no organismo, abaixo de certo limite, gera uma situação de desequilíbrio hidrossalino, com repercussões nos mecanismos osmóticos e na estabilidade
CADEIA DE TRANSPORTE DE ELÉTRONS E FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA COMO AS CÉLULAS SINTETIZAM ATP
 CADEIA DE TRANSPORTE DE ELÉTRONS E FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA OU COMO AS CÉLULAS SINTETIZAM ATP SINTETIZAM ATP ÀS CUSTAS DA OXIDAÇÃO DAS COENZIMAS NADH E FADH 2 PELO OXIGÊNIO AS COENZIMAS REDUZIDAS SÃO PRODUZIDAS
CADEIA DE TRANSPORTE DE ELÉTRONS E FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA OU COMO AS CÉLULAS SINTETIZAM ATP SINTETIZAM ATP ÀS CUSTAS DA OXIDAÇÃO DAS COENZIMAS NADH E FADH 2 PELO OXIGÊNIO AS COENZIMAS REDUZIDAS SÃO PRODUZIDAS
Biologia Molecular ÁGUA
 Biologia Molecular ÁGUA Direitos autorais reservados. INTRODUÇÃO A vida depende de reações químicas que ocorrem dentro das células reações bioquímicas do metabolismo. Constituição da matéria viva: água,
Biologia Molecular ÁGUA Direitos autorais reservados. INTRODUÇÃO A vida depende de reações químicas que ocorrem dentro das células reações bioquímicas do metabolismo. Constituição da matéria viva: água,
Bioquímica Celular. LIVRO CITOLOGIA Capítulo 02 Itens 1 a 3 págs. 19 a 30. 3ª Série Profª Priscila F Binatto Fev/2013
 Bioquímica Celular LIVRO CITOLOGIA Capítulo 02 Itens 1 a 3 págs. 19 a 30 3ª Série Profª Priscila F Binatto Fev/2013 Constituintes Bioquímicos da Célula Água e Minerais Carboidratos Lipídios Proteínas Ácidos
Bioquímica Celular LIVRO CITOLOGIA Capítulo 02 Itens 1 a 3 págs. 19 a 30 3ª Série Profª Priscila F Binatto Fev/2013 Constituintes Bioquímicos da Célula Água e Minerais Carboidratos Lipídios Proteínas Ácidos
BOLETIM TÉCNICO IHARA
 w BOLETIM TÉCNICO IHARA MAIS EFICIÊNCIA PARA OS DEFENSIVOS E MELHORES GANHOS PARA SUA LAVOURA ADJUVANTES ESPECIAIS INOVAÇÃO E QUALIDADE JAPONESAS A SERVIÇO DA AGRICULTURA BRASILEIRA Há mais de 5 anos,
w BOLETIM TÉCNICO IHARA MAIS EFICIÊNCIA PARA OS DEFENSIVOS E MELHORES GANHOS PARA SUA LAVOURA ADJUVANTES ESPECIAIS INOVAÇÃO E QUALIDADE JAPONESAS A SERVIÇO DA AGRICULTURA BRASILEIRA Há mais de 5 anos,
MAPA II POLISSACARÍDIOS PROTEÍNAS LIPÍDIOS GLICOSE AMINOÁCIDOS ÁCIDOS GRAXOS. Leu Ile Lys Phe. Gly Ala Ser Cys. Fosfoenolpiruvato (3) Piruvato (3)
 Ciclo de Krebs MAPA II POLISSACARÍDIOS PROTEÍNAS LIPÍDIOS GLICOSE AMINOÁCIDOS ÁCIDOS GRAXOS Fosfoenolpiruvato (3) Asp Gly Ala Ser Cys Leu Ile Lys Phe Glu Piruvato (3) CO 2 Acetil-CoA (2) CO 2 Oxaloacetato
Ciclo de Krebs MAPA II POLISSACARÍDIOS PROTEÍNAS LIPÍDIOS GLICOSE AMINOÁCIDOS ÁCIDOS GRAXOS Fosfoenolpiruvato (3) Asp Gly Ala Ser Cys Leu Ile Lys Phe Glu Piruvato (3) CO 2 Acetil-CoA (2) CO 2 Oxaloacetato
Organelas Transdutoras de Energia: Mitocôndria - Respiração
 Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de Lorena Departamento de Biotecnologia Organelas: Cloroplasto e Mitocôndria Obtenção de energia para a célula a partir diferentes fontes: Curso: Engenharia
Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de Lorena Departamento de Biotecnologia Organelas: Cloroplasto e Mitocôndria Obtenção de energia para a célula a partir diferentes fontes: Curso: Engenharia
Controle Químico de Pragas
 Técnicas de manejo Controle Químico Controle Biológico Semioquímicos (Feromônios/Atraentes) Manipulação Genética de Pragas Variedades Resistentes a Insetos (plantas modificadas geneticamente) Manipulação
Técnicas de manejo Controle Químico Controle Biológico Semioquímicos (Feromônios/Atraentes) Manipulação Genética de Pragas Variedades Resistentes a Insetos (plantas modificadas geneticamente) Manipulação
METABOLISMO DO NITROGÊNIO Prof. Dr. Roberto Cezar Lobo da Costa
 METABOLISMO DO NITROGÊNIO Prof. Dr. Roberto Cezar Lobo da Costa ROTEIRO DE AULA 1. Introdução, importância e funções do nitrogênio 2. Formas nitrogenadas que podem ser absorvidas 3. Redutase do nitrato
METABOLISMO DO NITROGÊNIO Prof. Dr. Roberto Cezar Lobo da Costa ROTEIRO DE AULA 1. Introdução, importância e funções do nitrogênio 2. Formas nitrogenadas que podem ser absorvidas 3. Redutase do nitrato
ORGANELAS CITOPLASMÁTICAS
 ORGANELAS CITOPLASMÁTICAS Organelas celulares Estruturas encontradas no interior do citoplasma das células que realizam diversas funções relacionadas com a sobrevivência da célula. Célula Vegetal As células
ORGANELAS CITOPLASMÁTICAS Organelas celulares Estruturas encontradas no interior do citoplasma das células que realizam diversas funções relacionadas com a sobrevivência da célula. Célula Vegetal As células
ABSORÇÃO RADICULAR, TRANSPORTE E REDISTRIBUIÇÃO DE NUTRIENTES
 ABSORÇÃO RADICULAR, TRANSPORTE E REDISTRIBUIÇÃO DE NUTRIENTES Prof. Volnei Pauletti Departamento de Solos e Engenharia Agrícola Mestrado em Ciência do Solo vpauletti@ufpr.br CONTATO NUTRIENTE - RAIZ DEFINIÇÕES
ABSORÇÃO RADICULAR, TRANSPORTE E REDISTRIBUIÇÃO DE NUTRIENTES Prof. Volnei Pauletti Departamento de Solos e Engenharia Agrícola Mestrado em Ciência do Solo vpauletti@ufpr.br CONTATO NUTRIENTE - RAIZ DEFINIÇÕES
BIOLOGIA. Moléculas, células e tecidos. Respiração celular e fermentação Parte 1. Professor: Alex Santos
 BIOLOGIA Moléculas, células e tecidos Parte 1 Professor: Alex Santos Tópicos em abordagem: Parte 1 Respiração celular I Conceitos fundamentais; II Etapas da respiração celular; Parte 2 Respiração celular
BIOLOGIA Moléculas, células e tecidos Parte 1 Professor: Alex Santos Tópicos em abordagem: Parte 1 Respiração celular I Conceitos fundamentais; II Etapas da respiração celular; Parte 2 Respiração celular
Professor Antônio Ruas
 Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental Componente curricular: BIOLOGIA GERAL Aula 4 Professor Antônio Ruas 1. Temas: Macromoléculas celulares Produção
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental Componente curricular: BIOLOGIA GERAL Aula 4 Professor Antônio Ruas 1. Temas: Macromoléculas celulares Produção
culturas Milho 19,30 4,60 1,95 12,70 65,80 Batata 94,10 28,3 17,78 50,90 54,10 Trigo 14,50 1,88 0,73 11,90 82,10
 FISIOLOGIA VEGETAL Conceito de estresse: Estresse Abiótico em Plantas É um fator externo que exerce uma influência desvantajosa sobre a planta Estresse abiótico em plantas Plantas sob estresse apresenta:
FISIOLOGIA VEGETAL Conceito de estresse: Estresse Abiótico em Plantas É um fator externo que exerce uma influência desvantajosa sobre a planta Estresse abiótico em plantas Plantas sob estresse apresenta:
ÓLEOS E GORDURAS (LIPÍDEOS) - TRIGLICERÍDEOS
 Moléculas Orgânicas constituintes dos seres vivos (Biomoléculas Orgânicas) Gorduras ou Lipídeos (Triglicerídeos) Derivadas de ácidos graxos e podem se classificar em: Gorduras Saturadas Gorduras insaturadas
Moléculas Orgânicas constituintes dos seres vivos (Biomoléculas Orgânicas) Gorduras ou Lipídeos (Triglicerídeos) Derivadas de ácidos graxos e podem se classificar em: Gorduras Saturadas Gorduras insaturadas
CICLO DAS RELAÇÕES PATÓGENO HOSPEDEIRO: FUNGOS E PROCATIOTOS
 CICLO DAS RELAÇÕES PATÓGENO HOSPEDEIRO: FUNGOS E PROCATIOTOS CARACTERÍSCAS DOS FUNGOS - Estrutura somática = hifas septadas ou não septadas - Micélio = conjunto de hifas - Parede celular = quitina e glucano
CICLO DAS RELAÇÕES PATÓGENO HOSPEDEIRO: FUNGOS E PROCATIOTOS CARACTERÍSCAS DOS FUNGOS - Estrutura somática = hifas septadas ou não septadas - Micélio = conjunto de hifas - Parede celular = quitina e glucano
1º ano. Professora Priscila Franco Binatto
 1º ano Professora Priscila Franco Binatto Onde encontramos os seres vivos? Níveis de organização da vida POPULAÇÕES conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. COMUNIDADE conjunto de populações de certa
1º ano Professora Priscila Franco Binatto Onde encontramos os seres vivos? Níveis de organização da vida POPULAÇÕES conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. COMUNIDADE conjunto de populações de certa
Dinâmica e manejo de doenças. Carlos A. Forcelini
 Dinâmica e manejo de doenças Carlos A. Forcelini Campo Experimental UPF (28º10 S, 52º20 W, 687m) 6 km Manejo de doenças e rendimento de grãos Com manejo Sem manejo 2009 58 27 2010 56 33 2011 61 45 Fatores
Dinâmica e manejo de doenças Carlos A. Forcelini Campo Experimental UPF (28º10 S, 52º20 W, 687m) 6 km Manejo de doenças e rendimento de grãos Com manejo Sem manejo 2009 58 27 2010 56 33 2011 61 45 Fatores
Anderson Guarise Cristina Haas Fernando Oliveira Leonardo M de Castro Sergio Vargas Júnior
 Anderson Guarise Cristina Haas Fernando Oliveira Leonardo M de Castro Sergio Vargas Júnior Respiração Celular Glicólise Ciclo do Ácido Cítrico (CAC) Fosforilação oxidativa (Fox) Respiração Celular Glicólise
Anderson Guarise Cristina Haas Fernando Oliveira Leonardo M de Castro Sergio Vargas Júnior Respiração Celular Glicólise Ciclo do Ácido Cítrico (CAC) Fosforilação oxidativa (Fox) Respiração Celular Glicólise
Biologia Professor Leandro Gurgel de Medeiros
 Biologia Professor Leandro Gurgel de Medeiros Fisiologia Vegetal 1. Conceito: Ramo da botânica destinado a estudar as funções vitais das plantas. Absorção; Transpiração; Condução; Fotossíntese; Fotoperíodos;
Biologia Professor Leandro Gurgel de Medeiros Fisiologia Vegetal 1. Conceito: Ramo da botânica destinado a estudar as funções vitais das plantas. Absorção; Transpiração; Condução; Fotossíntese; Fotoperíodos;
Biomoléculas. * Este esquema não está a incluir as Vitaminas que são classificadas no grupo de moléculas orgânicas. Biomoléculas
 Biomoléculas Biomoléculas Inorgânicas Orgânicas Água Sais Minerais Glícidos Lípidos Prótidos Ácidos Nucléicos * Este esquema não está a incluir as Vitaminas que são classificadas no grupo de moléculas
Biomoléculas Biomoléculas Inorgânicas Orgânicas Água Sais Minerais Glícidos Lípidos Prótidos Ácidos Nucléicos * Este esquema não está a incluir as Vitaminas que são classificadas no grupo de moléculas
Composição química da célula
 Composição química da célula Introdução Evidência da evolução Todas as formas de vida tem a mesma composição química! Substâncias inorgânicas Substâncias orgânicas Água e sais minerais Carboidratos, lipídios,
Composição química da célula Introdução Evidência da evolução Todas as formas de vida tem a mesma composição química! Substâncias inorgânicas Substâncias orgânicas Água e sais minerais Carboidratos, lipídios,
Processo de obtenção de energia das células respiração celular
 Processo de obtenção de energia das células respiração celular Macromolécula mais abundante nas células Grande variedade (tamanho e função) Pequenos peptídeos a grandes cadeias com PM alto Diversidade
Processo de obtenção de energia das células respiração celular Macromolécula mais abundante nas células Grande variedade (tamanho e função) Pequenos peptídeos a grandes cadeias com PM alto Diversidade
12/11/2015. Disciplina: Bioquímica Prof. Dr. Vagne Oliveira
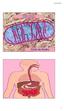 Disciplina: Bioquímica Prof. Dr. Vagne Oliveira 2 1 ATP ADP Glicose (6C) C 6 H 12 O 6 ATP ADP P ~ 6 C ~ P 3 C ~ P 3 C ~ P Pi NAD NADH P ~ 3 C ~ P ADP P ~ 3 C ATP ADP ATP NAD Pi NADH P ~ 3 C ~ P ADP ATP
Disciplina: Bioquímica Prof. Dr. Vagne Oliveira 2 1 ATP ADP Glicose (6C) C 6 H 12 O 6 ATP ADP P ~ 6 C ~ P 3 C ~ P 3 C ~ P Pi NAD NADH P ~ 3 C ~ P ADP P ~ 3 C ATP ADP ATP NAD Pi NADH P ~ 3 C ~ P ADP ATP
Fisiologia e Crescimento Bacteriano
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA Fisiologia e Crescimento Bacteriano Professora: Vânia Silva Composição macromolecular de uma célula procariótica
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA Fisiologia e Crescimento Bacteriano Professora: Vânia Silva Composição macromolecular de uma célula procariótica
Conversão de energia Mitocôndria - Respiração
 Universidade de São Paulo (USP) Escola de Engenharia de Lorena (EEL) Engenharia Ambiental Organelas: Cloroplasto e Mitocôndria Obtenção de energia para a célula a partir diferentes fontes: Conversão de
Universidade de São Paulo (USP) Escola de Engenharia de Lorena (EEL) Engenharia Ambiental Organelas: Cloroplasto e Mitocôndria Obtenção de energia para a célula a partir diferentes fontes: Conversão de
Lista de Exercícios: Estruturas celulares
 01. (PUC-RJ) As células animais diferem das células vegetais porque estas contêm várias estruturas e organelas características. Na lista abaixo, marque a organela ou estrutura comum às células animais
01. (PUC-RJ) As células animais diferem das células vegetais porque estas contêm várias estruturas e organelas características. Na lista abaixo, marque a organela ou estrutura comum às células animais
FUNGOS MICOLOGIA BÁSICA
 FUNGOS MICOLOGIA BÁSICA Durante muito tempo, os fungos foram considerados como vegetais e, somente a partir de 1969, passaram a ser classificados em um reino à parte REINO FUNGI. No reino Fungi é onde
FUNGOS MICOLOGIA BÁSICA Durante muito tempo, os fungos foram considerados como vegetais e, somente a partir de 1969, passaram a ser classificados em um reino à parte REINO FUNGI. No reino Fungi é onde
Professor Antônio Ruas
 Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental Componente curricular: BIOLOGIA GERAL Aula 4 Professor Antônio Ruas 1. Temas: Macromoléculas celulares Produção
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental Componente curricular: BIOLOGIA GERAL Aula 4 Professor Antônio Ruas 1. Temas: Macromoléculas celulares Produção
OXIDAÇÕES BIOLÓGICAS: Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa
 OXIDAÇÕES BIOLÓGICAS: Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa Metabolismo: integração entre catabolismo e anabolismo Assimilação ou processamento da mat. Orgânica Síntese de Substâncias Estágio 1
OXIDAÇÕES BIOLÓGICAS: Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa Metabolismo: integração entre catabolismo e anabolismo Assimilação ou processamento da mat. Orgânica Síntese de Substâncias Estágio 1
CADEIA DE TRANSPORTE DE ELÉTRONS E FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA COMO AS CÉLULAS SINTETIZAM ATP
 CADEIA DE TRANSPORTE DE ELÉTRONS E FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA OU COMO AS CÉLULAS SINTETIZAM ATP SINTETIZAM ATP ÀS CUSTAS DA OXIDAÇÃO DAS COENZIMAS NADH E FADH 2 PELO OXIGÊNIO AS COENZIMAS REDUZIDAS SÃO PRODUZIDAS
CADEIA DE TRANSPORTE DE ELÉTRONS E FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA OU COMO AS CÉLULAS SINTETIZAM ATP SINTETIZAM ATP ÀS CUSTAS DA OXIDAÇÃO DAS COENZIMAS NADH E FADH 2 PELO OXIGÊNIO AS COENZIMAS REDUZIDAS SÃO PRODUZIDAS
Constituintes básicos de uma célula - Biomoléculas. Biomoléculas
 Biomoléculas Todas as moléculas que fazem parte da constituição dos seres vivos são designadas biomoléculas. Formam-se a partir da união de bioelementos. Biomoléculas Os bioelementos combinam-se entre
Biomoléculas Todas as moléculas que fazem parte da constituição dos seres vivos são designadas biomoléculas. Formam-se a partir da união de bioelementos. Biomoléculas Os bioelementos combinam-se entre
QBQ 0230 Bioquímica. Carlos Hotta. Metabolismo secundário das plantas 24/11/17
 QBQ 0230 Bioquímica Carlos Hotta Metabolismo secundário das plantas 24/11/17 O que é o metabolismo primário? Vias metabólicas genéricas que modificam ou sintetizam carboidratos, proteínas, lipídeos e
QBQ 0230 Bioquímica Carlos Hotta Metabolismo secundário das plantas 24/11/17 O que é o metabolismo primário? Vias metabólicas genéricas que modificam ou sintetizam carboidratos, proteínas, lipídeos e
