Existência Enquanto Predicado de Primeira Ordem: Algumas Conseqüências e Objeções
|
|
|
- Maria Laura Minho Vasques
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 A Revista de Filosofia André Nascimento Pontes* Existência Enquanto Predicado de Primeira Ordem: Algumas Conseqüências e Objeções RESUMO O objetivo deste artigo é apresentar a abordagem de primeira ordem do predicado de existência no contexto do argumento do não-ser de Platão e da Teoria dos objetos de Meinong, bem como as críticas mais freqüentes a essas duas teorias. Com isso, pretendo mostrar que a noção de que existe é um predicado de objetos, embora intuitiva, e pode conduzir a vários problemas filosóficos. É na tentativa de revelar a verdadeira forma lógica do predicado de existência e de solucionar tais problemas que uma leitura de ordem superior do predicado de existência se legitima. Palavras-chave: Existência; Lógica; Ontologia. ABSTRACT The objective of this paper is to present the first order approach of the existence predicate in the context of Plato s nonbeing argument and the Meinong s Theory of Objects, as well as to present the most frequents criticisms to two theories. Therefore, I intend to show that the notion that existing is a predicate of the objects, which, although intuitive, can lead to the several philosophical problems. It is in the attempt of revealing the true logical form of the existence predicate and to resolve such problems that a superior order approach of the existence predicate legitimates itself. Key words: Existence; Logic; Ontology. * Mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará (UFC/Capes/Procad: PUC Rio UFSM UFC). 36 Ar g u m e n t o s, Ano 2, N
2 O Problema do Estatuto Lógico do Termo Existe A noção de existência é central para a ontologia tendo em vista que uma teoria ontológica é uma teoria acerca do que existe. Na abertura de Sobre o que há (QUINE, 1975, p. 223) Quine afirma que a questão ontológica fundamental é o que há?, ou ainda, o que existe?. Em linhas gerais, podemos apresentar as diferenças entre duas teorias ontológicas divergentes mostrando quais objetos cada teoria assume como existente. No contexto de teorias formalizadas, isso equivale a oferecer o conjunto das sentenças existenciais verdadeiras dentro de uma dada teoria ontológica ou, pelo menos, um procedimento de obtenção desse mesmo conjunto. Não obstante, isso implica a necessidade de um modelo claro de formalização de sentenças e uma interpretação do estatuto lógico do predicado existe. Em outras palavras, a resolução de questões de existência no seio das teorias formalizadas pressupõe um modelo de análise que revele o comportamento lógico de uma predicação de existência. Não por acaso, nos termos da filosofia analítica, o problema ontológico da existência passou a ser abordado fundamentalmente enquanto um problema acerca da forma lógica de enunciados com ocorrência do predicado existe. Podemos distinguir entre dois tipos básicos de predicação: (i) uma predicação é dita de primeira ordem quando o predicado é atribuído a um sujeito da sentença e expressa a instanciação de uma propriedade por parte de um objeto. Numa sentença como Sócrates é sábio, ser sábio é um predicado que expressa uma propriedade atribuída diretamente ao objeto Sócrates e, portanto, um predicado de primeira ordem. No caso, Sócrates cai sob o conceito sábio. Em geral, uma predicação de primeira ordem assume a forma básica Fa que afirma que o objeto a instancia a propriedade F sendo F, portanto, uma propriedade ou um predicado de primeira ordem. Por outro lado, (ii) uma predicação é dita de ordem superior quando o predicado é atribuído a outros predicados. Por exemplo, na sentença Políticos honestos são raros o predicado ser raro está sendo atribuído, do ponto de vista lógico, ao complexo predicativo ser político e ser honesto. O predicado ser raro expressa sempre uma propriedade de propriedades não de objetos 1 e, portanto, uma propriedade de ordem superior. Em última instância, afirmar Políticos honestos são raros é afirmar que as propriedades de primeira ordem ser político e ser honesto têm a propriedade de serem instanciadas conjuntamente em poucos objetos. Em outras palavras, a sentença afirma que poucos objetos caem a uma só vez sob os conceitos ser político e ser honesto. A questão em torno do estatuto lógico do predicado de existência é saber que tipo de predicação é a predicação de existência: é ela de primeira ordem ou de ordem superior? É fato que sentenças tais como Sócrates existe 2, Sherlock Holmes não existe e montanhas de ouro não existem possuem uma estrutura gramatical similar a de sentenças tais como Sócrates é sábio e Sherlock Holmes toca violino, a saber, são constituídas por predicações simples onde o predicado existe é dito verdadeiro ou falso diretamente do sujeito da sentença; logo, um predicado de primeira ordem. Nesse sentido, o termo existe opera como uma contraparte da propriedade de existência que, a princípio, objetos podem ou não instanciar. Essa parece ser a interpretação clássica da propriedade de existência defendida por filósofos do primeiro escalão tais como Platão, Anselmo e Descartes 3. Penso que também seja 1 A rigor, raridade não é uma propriedade significativa de objetos. Por definição, objetos são únicos. Nenhum objeto é raro. 2 O predicado existe será entendido aqui, sempre no sentido atemporal. Qualquer referência necessária a algum aspecto temporal virá explícito no texto. 3 A ideia de existe é um predicado aplicado diretamente a objetos, é o fundamento de argumentos célebres na tradição filosófica tais como o chamado argumento ontológico da existência de Deus proposto inicialmente por Santo Anselmo no Proslógio. Segundo o argumento ontológico de Anselmo, dado que pensamos em Deus enquanto o ser do qual não se pode pensar nada maior, então devemos pensá-lo necessariamente como um ser dotado de todos os predicados de perfeição; e isso inclui o predicado da existência. Para Anselmo, existência é uma propriedade de indivíduos e uma propriedade essencial de todo indivíduo perfeito. Outro exemplo clássico onde a noção de existência aparece enquanto um predicado de primeira ordem está presente no argumento apresentado por Descartes tanto na Parte IV do Discurso do Método quanto no 4 da segunda Meditação onde ele sustenta que a res cogitans constitui a única verdade clara e distinta que sobrevive ao crivo da dúvida metódica. A máxima cartesiana penso; logo existo claramente pressupõe que existência constitui uma propriedade legítima do indivíduo: eu penso; logo eu existo. Quanto a Platão, mais adiante apresentarei uma abordagem mais detalhada de sua análise do problema da existência. Ar g u m e n t o s, Ano 2, N
3 essa a interpretação intuitiva e corriqueira do uso do termo existe. Dada a sentença cadeiras existem, a intuição básica do homem cotidiano é que essa é uma afirmação acerca desses objetos que usamos para sentar e não acerca da instanciação da propriedade ser cadeira. Segundos os proponentes de uma leitura de primeira ordem de predicações de existência, sempre que afirmamos numa sentença que algo existe ou não, estamos fazendo uma afirmação sobre particulares. No entanto, como veremos a seguir, essa interpretação de primeira ordem conduziu seus proponentes a algumas conseqüências indesejadas e gerou vários impasses na formalização de questões ontológicas. Com o advento da análise lógica contemporânea ficou cada vez mais patente que estrutura gramatical e estrutura lógica nem sempre coincidem e que existem níveis de predicações. Do ponto de vista lógico, não só existem sentenças do tipo sujeitopredicado como revelava a análise clássica de orientação aristotélica, mas também relações 4 e sentenças puramente predicativas, ou seja, predicações de predicados. Com isso, estavam fundadas as bases teóricas que permitiram uma leitura de ordem superior do predicado de existência. Penso que uma filosofia feita com bomsenso deve sempre respeitar as intuições básicas que temos acerca da realidade e da linguagem. Se predicações de existência parecem intuitivamente predicações de primeira ordem, ferir essa intuição básica só parece legítimo se com isso obtivermos um ganho filosófico real. Em outras palavras, uma leitura de ordem superior do predicado de existência pode ser justificada caso ela ajude a resolver os impasses que a abordagem intuitiva de primeira ordem gerou. Meu objetivo nas próximas seções do presente artigo não será confrontar as interpretações de primeira ordem e de ordem superior do predicado existe, mas antes, mostrar algumas conseqüências indesejadas da interpretação de primeira ordem que os proponentes de uma leitura de ordem superior pretendem eliminar. Com isso, é possível mostrar, do ponto de vista filosófico, que a leitura intuitiva de primeira ordem do predicado de existência pode conduzir a impasses que justificam uma reinterpretação da forma lógica de sentenças de existência. Pretendo realizar esse objetivo em dois momentos: no primeiro momento apresento a leitura de primeira ordem do termo existe no contexto do argumento do não-ser de Platão e da Teoria dos Objetos de Meinong. No segundo momento, pretendo apresentar as complicações mais freqüentes expressas nas críticas às duas teorias em questão. Existência Enquanto um Predicado de Primeira Ordem: o Argumento do Não-ser e a Teoria dos Objetos de Meinong Como vimos anteriormente, afirmar que o termo existe expressa um predicado de primeira ordem equivale a afirmar que predicações de existência são predicações acerca de particulares. O problema surge quando queremos negar existência. Uma negação existencial é apenas uma sentença ou uma predicação de existência negada. Portanto, se uma sentença existencial afirmativa é uma predicação de primeira ordem, então o mesmo vale para uma sentença existencial negativa. Ao afirmar A montanha de ouro não existe estaríamos fazendo uso de uma sentença bem formada composta por um sujeito (a montanha de ouro) e lhe predicando algo (no caso, a não existência). Usando o aparato formal da lógica de predicados e mantendo o pressuposto clássico de que toda sentença bem formada é analisada em termos da distinção sujeito-predicado, poderíamos legitimamente formalizar a sentença acima da seguinte maneira: Ea, onde a é uma constante individual, contraparte lógica do sujeito a montanha de ouro, e E o predicado de existência. Teríamos, então, uma sentença simples onde existe é claramente um predicado de primeira ordem, ou seja, um predicado aplicado diretamente a objetos. A maioria das objeções à análise lógica clássica se concentra na tese de que ela con- 4 Em sua lista de silogismos Aristóteles deixou de fora raciocínios envolvendo sentenças na forma de relações com diferentes paridades. O exemplo mais elementar de uma sentença envolvendo relações é uma sentença como Pedro ama Maria que pode ser interpretada na forma sujeito-predicado-sujeito (arb). Nesse contexto, amar expressa uma relação binária. Para Aristóteles, tal sentença era analisada na forma tradicional sujeito-predicado (Fa) onde F representa o predicado amar Maria. 38 Ar g u m e n t o s, Ano 2, N
4 duz seu proponente ao comprometimento inevitável com a existência das entidades supostamente denotadas pelas expressões contidas nas sentenças. Esse comprometimento inevitável é o núcleo do problema do não-ser. Para uma melhor compreensão, basta lembrar a crítica de Quine ao que ele chama ironicamente de enigma platônico do não-ser ou a barba de Platão e que chamaremos de agora em diante simplesmente de argumento do não-ser. Tal argumento é um exemplo claro dos problemas ontológicos gerados por intermédio de uma análise lógica deficiente. Em linhas gerais, o argumento do não-ser pode ser apresentado da seguinte forma enigmática: o não-ser deve em algum sentido ser, caso contrário o que seria aquilo que não é? (QUINE, 1975, p.223). A intuição básica de quem defende o argumento do não-ser é que, ao fazermos uso de uma sentença como a montanha de ouro não existe, de certa forma já pressupomos algum tipo de ser à montanha de ouro. Se a montanha de ouro fosse, em todos os sentidos, um mero nada, a expressão a montanha de ouro e, conseqüentemente, toda sentença em que ela ocorre, mesmo sendo ela uma sentença existencial negativa, não teria sentido algum. Se podemos expressar um termo com sentido como a montanha de ouro é porque, de alguma forma, esse termo expressa ou refere algo. Do contrário, o termo a montanha de ouro não seria sequer inteligível. O argumento de Platão está intimamente associado à sua teoria das idéias. Obviamente, para Platão, o ser da montanha de ouro é assegurado através da crença na existência em uma entidade ideal que a corresponde, em outras palavras, uma forma pura não instanciada presente no mundo das idéias. O que a sentença a montanha de ouro não existe afirma é a inexistência física da montanha de ouro, embora a significatividade da sentença aponte para uma referência ideal do termo a montanha de ouro. O raciocínio estranho por traz do argumento do não ser é que: se uma sentença P tem sentido, então todas as expressões que compõem P devem denotar algo. Há aqui um salto não justificado do sentido para a denotação. Dessa forma, qualquer termo significativo que substitua a montanha de ouro na sentença a montanha e ouro não existe deve possuir uma referência mesmo que ideal. Com isso, a ontologia dos proponentes do argumento do nãoser comporta entidades ideais a exemplo de Pégasus, a fonte da juventude, Papai-Noel etc. A formalização apresentada anteriormente ( Ea) e introduzida propositalmente é útil tendo em vista que ela torna clara a estrutura do argumento do não-ser. 5 Baseado nessa interpretação, mesmo para negar existência à montanha de ouro, precisamos entender o termo a montanha de ouro, do ponto de vista lógico, enquanto um termo singular representado formalmente por uma constante individual que me compromete com a entidade montanha de ouro. Nas palavras do proponente do argumento do não-ser, devemos assumir que a montanha de ouro pertence ao domínio mais geral do ser para podermos negá-la existência de forma consistente e significativa. Vale lembrar que, nesse contexto, pertencer ao domínio do ser admite diferentes interpretações dependendo da posição filosófica em questão: se para tratar de entidades que não existem, mas pertencem ao domínio do ser, Platão introduziu a noção de idéia ou forma pura não instanciada, a metafísica medieval falou de meros possibilia, ao passo que Meinong usou o termo objetos subsistentes (como veremos a seguir). Usando uma linguagem matemática, podemos seguramente afirmar que o ponto básico de interseção entre todas essas posições filosóficas que, de uma forma ou de outra, estão filiadas ao argumento do não-ser, reside na tese de que o predicado existe tem como domínio apenas um minúsculo subconjunto do domínio geral, absoluto, do ser. Nos termos da lógica de predicados, podemos dizer que o domínio do ser compreende toda entidade que possa ser quantificada na formalização de sentenças da teoria em questão. No caso do argumento do não-ser, entidades que, segundo a análise lógica clássica, figurem como sujeito da sentença. O argumento do não-ser implica uma distinção entre os conceitos de haver e existir: toda sentença existencial negativa verda deira mostra que há coisas que não existem, por exemplo, a montanha de ouro. 5 Obviamente Platão, ao propor o argumento do não-ser, não tinha em mente a formalização Ea apresentada neste texto com uma finalidade meramente ilustrativa. Ar g u m e n t o s, Ano 2, N
5 O argumento do não-ser é um ponto de extrema relevância para a compreensão do problema contemporâneo da análise de sentenças de existência, pois é a base de argumentação de ontologias que, invariavelmente, estão comprometidas com entidades ficcionais, a exemplo de Pégasus, montanhas de ouro, e abstratas como, números, conjuntos, funções etc. Dentre tais ontologias a mais comumente citada é a ontologia de objetos de Alexius Meinong. A teoria dos objetos de Meinong (MEINONG, 2005) é comumente citada como a herdeira contemporânea do argumento do não-ser de Platão, embora com uma releitura de inspiração psicologista e uma metodologia de análise de sentenças muito próxima da que a filosofia analítica posteriormente adotou. Os argumentos de Meinong seguem em geral duas vertentes distintas, a saber, uma psicológica e outra lingüística. Do ponto de vista psicológico, Meinong afirma que todo estado mental possui uma direcionalidade, ou seja, a propriedade de estar orientada para algo. Em outras palavras, estados mentais possuem sempre uma intencionalidade e isso, segundo Meinong, implica o comprometimento com um objeto. A rigor, para Meinong, um desejo é sempre desejo de algo, uma espera é sempre espera por algo, uma crença é sempre uma crença em algo, e assim por diante. Tudo que for objeto de uma disposição psicológica deve possuir uma posição definida no domínio do ser. Segundo o argumento de Meinong, se Pedrinho acredita que Saci tem uma perna só, então há tal objeto afirmado pela crença de Pedrinho, mesmo que este objeto não exista. Do contrário, a crença de Pedrinho não teria uma intencionalidade e, portanto, sequer seria um ato mental legítimo. Do ponto de vista lingüístico, Meinong introduziu uma distinção fundamental para compreensão de sua teoria dos objetos, a saber, a distinção entre os conceitos de objetividade (Objekte) e objetivo (Objektiv). Dada qualquer sentença sintaticamente correta, há uma entidade que expressa a objetividade dessa sentença e um conteúdo que Meinong chama de objetivo da sentença. 6 Se afirmo Pégasus não existe, o sujeito Pégasus compõe a objetividade da sentença, em outras palavras, o objeto ao qual a sentença se refere. Por outro lado, o conteúdo afirmado na sentença, no caso, a não existência de Pégasus, constitui seu objetivo. Segundo Meinong, o que é negado na sentença Pégasus não existe é que o objeto que oferece objetividade à sentença seja efetivo, ou seja, na sentença em questão, nega a existência espaço-temporal do cavalo alado relatado nos textos mitológicos. Contudo, segundo Meinong, é necessário admitir o ser do objetivo da sentença, ou seja, a proposição ou o conteúdo que ela encerra. Para a sentença em questão isso equivale a dizer que há tal objeto que é um cavalo alado e este objeto não existe e que, portanto, Pégasus pertence ao domínio do ser. Daí segue a distinção afirmada por Meinong entre os conceitos de haver e existir. Existência pertence ao domínio restrito da metafísica 7, ao passo que, há pertence ao domínio mais amplo da teoria dos objetos de uma maneira geral. A análise realizada na sentença Pégasus não existe pode ser estendida para toda sentença existencial negativa sintaticamente bem formada implicando no comprometimento ontológico com o objeto supostamente denotado pela sentença enquanto um objeto subsistente. Segundo Meinong, o sentido de qualquer sentença depende do comprometimento ontológico com as expressões denotativas nelas presentes, mesmo que as entidades denotadas simplesmente não existam. Já, do ponto de vista ontológico, a ideia por traz do argumento de Meinong é que um objeto pode ter um conjunto de características independentemente de sua existência, ou seja, para qualquer propriedade ϕ e qualquer objeto α, α pode ter ou não a propriedade ϕ mesmo que α não exista. 6 Há aqui uma semelhança direta entre o conceito meinongiano de objetivo (objektiv) e o conceito fregeano de pensamento (proposição ou sentido da sentença). Tal semelhança não é uma mera coincidência tendo em vista que tanto Meinong quanto Frege, em algum momento de suas vidas acadêmicas, tiveram contato com autores da tradição psicologista, a exemplo de Husserl. Não obstante, as reações desses dois autores à corrente psicologista foram diametralmente opostas. Se por um lado Meinong incorporou um grau significante de elementos psicológicos na defesa de sua teoria, por outro, Frege quis a todo custo abolir qualquer nível de psicologismo na formulação de uma ciência rigorosa. 7 Entenda aqui Metafísica nos termos em que Meinong a definiu, a saber, a apreensão da totalidade do mundo em sua essência e fundamentos últimos. O que, segundo ele, equivale ao estudo de objetos efetivos. Nesse sentido, o predicado existe é aplicado invariavelmente a objetos espaço-temporais. 40 Ar g u m e n t o s, Ano 2, N
6 Nisso consiste a tese da independência do ser (Aussersein) do objeto em relação à sua existência. Tudo aquilo que pertence ao domínio do ser, mas não existe espaço-temporalmente, segundo Meinong, subsiste. Nesse sentido, subsistência é uma categoria independente da categoria de existência. As duas abordagens da teoria dos objetos de Meinong a psicológica e a lingüística - visam sustentar a mesma tese de partição do domínio do ser em existente e subsistente. Em linhas gerais, Meinong pretende sustentar que todo objeto nos é dado de alguma forma, antes mesmo de qualquer atribuição nossa quanto a sua existência. Meinong propôs também uma distinção entre o que ele chamou de propriedade nu clear e propriedade não nuclear ou extranuclear de objetos. Uma propriedade é dita nuclear se ela entra diretamente na constituição da estrutura do objeto e serve de alguma forma como critério de identificação, ao passo que uma propriedade extranuclear não acrescenta nada à estrutura do objeto que a possui e se refere apenas à posição desse mesmo objeto na ontologia meinongiana. 8 A montanha de ouro possui entre suas propriedades nucleares ser montanha e ser de ouro, por outro lado, ser subsistente ou pertencer ao domínio do ser são propriedades extranucleares da famosa montanha indicando assim o status ontológico que ela possui. Com base nessa distinção, Meinong estabeleceu o que ele chamou de princípio da indiferença em relação à existência, segundo o qual, nem a existência nem a não existência fazem parte da natureza do objeto. Vale notar que o princípio da indife rença e a tese da independência do ser possuem uma sutil diferença. O princípio da indiferença sustenta que o que foi definido como a natureza de um objeto α, que é caracterizado por um conjunto de propriedades nucleares ϕ que determinam as características básicas de α, não inclui dentro desse agrupamento de propriedades ϕ, para qualquer α, a propriedade de existência (ou não existência). Por outro lado, a tese da independência do ser afirma que, para qualquer objeto α, α ter ou não uma propriedade ω é uma questão independente ou dissociada do fato da existência ou não existência de α. Em resumo, a teoria dos objetos de Meinong pode ser sintetizada, grosso modo, em um conjunto de princípios gerais como se segue: 1) Nosso pensamento 9 não está limitado nem ao que existe nem ao que é possível; 2) Todo pensamento que é aparentemente sobre um objeto possui, de fato, a característica de estar direcionado ao objeto ao qual ele se refere e esse objeto pertence ao domínio do ser; 3) Há alguns objetos que não existem; 4) O fato de um objeto ter ou não uma propriedade independe de sua existência (Princípio da independência do Ser); 5) Se nós usamos uma descrição para apresentar um objeto que não existe, então esse objeto possui as propriedades enunciadas pelos predicados presentes na descrição. Algumas Consequências e Objeções Embora as posições filosóficas apresentadas através da teoria dos objetos de Meinong e do argumento do não-ser de Platão possuam variantes contemporâneas amplamente defendidas por filósofos de peso como Terence Parsons (1980), Edward Zalta (1983), dentre outros, ambas as teorias possuem vários elementos problemáticos e duramente atacados por seus críticos. Apresento a seguir alguns pontos polêmicos que penso contemplarem as críticas mais corriqueiras e que os proponentes de uma interpretação de ordem superior do predicado de existência julgam eliminar: (I) Ontologia de objetos intencionais - Tanto o argumento do não-ser quanto a teoria dos objetos de Meinong parecem claramente fundados em dois pressupostos básicos, a saber, (i) na leitura de primeira ordem do conceito de existência e (ii) na distinção entre os 8 Uma análise mais detalhada da distinção entre propriedade nuclear e extranuclear é apresentada em (REICHER, 2005). 9 Pensamento aqui possui uma acepção ampla que inclui todo tipo de ato mental tal como imaginar, questionar-se sobre algo (mesmo quando esse algo é impossível, a exemplo de círculos quadrados), julgar, etc. Ar g u m e n t o s, Ano 2, N
7 conceitos de haver e de existir. Se o argumento do não-ser estiver certo, seu proponente deverá assumir como conseqüência direta (iii) uma ontologia inflacionada por objetos meramente intencionais. É óbvio que nem todo filósofo está disposto a aceitar uma conseqüência tão forte que pode representar uma mudança drástica de posição filosófica. Ora, (iii) é claramente incompatível com a postura de filósofos de orientação nominalista e naturalista que tentam reduzir todo o domínio da ontologia ao domínio de objetos físicos. Quem assume (iii) se compromete com um conjunto infinito de objetos que não têm referência física, mas que, segundo o proponente do argumento do nãoser, possui uma realidade ideal. Nesse sentido, qualquer expressão denotativa que não possua referência, ao substituir a montanha de ouro na sentença a montanha de ouro não existe, tem imediatamente sua suposta referência adicionada ao pacote ontológico de quem defende (iii) via argumento do não-ser ou teoria dos objetos de Meinong. Nesse sentido, o modelo de análise clássico não é ontologicamente neutro. É impossível assumir o modelo de análise do argumento do não-ser sem se comprometer com a ontologia inflacionada defendida por Platão e Meinong. (II) Comprometimento ontológico obrigatório - Outro ponto problemático e dis tante de uma solução consensual diz respeito ao comprometimento ontológico obrigatório. Da mesma forma que Quine, penso que uma boa análise do discurso ontológico deve admitir o uso de expressões denotativas sem cair num inevitável comprometimento com as entidades supostamente denotadas, como ocorre nas ontologias que estão filiadas ao argumento do não-ser. Caso contrário, haveria um sério problema para o debate entre teorias divergentes em que estivesse em jogo a existência ou não de uma entidade x. Segundo Quine, numa tal disputa, quem defendesse a parte negativa, ou seja, a não existência de x, sempre levaria uma inevitável desvantagem. Ao afirmar x não existe o filósofo já estaria comprometido com x, seja enquanto um objeto intencional seja enquanto uma forma pura não instanciada, um possibilia ou coisa do gênero, o que tornaria inviável qualquer disputa entre teorias ontológicas divergentes. Portanto, estaria o filósofo inapelavelmente comprometido com a ontologia inflacionada anteriormente citada em (iii). (III) O comprometimento ontológico com impossibilia - Vale lembrar que todo o problema estabelecido em torno do conceito de existência surge, como vimos anteriormente na apresentação do argumento do não ser, da incapacidade de manutenção da coerência de frases existenciais negativas. Como alguns críticos tentam sustentar, a análise lógica clás sica aplicada a sentenças existenciais negativas conduziria seu proponente a uma contradição. Ao afirmar montanhas de ouro não existem, segundo o argumento do não-ser, de alguma forma já afirmamos o ser delas, do contrário, sequer entenderíamos a sentença em questão; logo, afirmamos que montanhas de ouro são e não são. Para os defensores do argumento do não-ser e de suas variantes contemporâ neas, tal contradição é aparente, pois pode ser plenamente superada com a distinção entre os conceitos de haver e existir que, em última instância, conduz à admissão de um domínio ontológico mais amplo que o domínio estritamente espaço-temporal e que incorpore objetos ideais tais como formas puras não instanciadas ou possibilia. A rigor, do ponto de vista conceitual, é a distinção entre os conceitos de haver e existir que constitui o fundamento teórico onde se sustenta as ontologias categorialmente inflacionadas de Platão e Meinong. No entanto, aqui surge um grande problema: ao tentar se livrar da pressuposta incoerência de frases existenciais negativas defendendo um universo repleto de objetos ideais, tais ontologias inflacionadas ampliam de forma radical seus domínios a ponto de admitir um problema tão grande quanto o que pretendia combater, a saber, a subsistência de entidades impossíveis ou impossibilia. O mesmo argumento utilizado anteriormente para sustentar a subsistência de montanhas de ouro e, junto, toda uma série de possíveis não realizados, pode ser igualmente usado para sustentar a subsistência de algo como um círculo quadrado. Tomemos a sentença o círculo quadrado não existe. Munidos do argumento utilizado por Meinong e pelos defensores do argumento do não-ser, alguns filósofos diriam que, se o círculo quadrado não existisse não estaríamos falando de nada ao proferirmos estas palavras e, portanto, não faria sentido se- 42 Ar g u m e n t o s, Ano 2, N
8 quer negar a existência da entidade por elas representadas. Para acrescentar mais um argumento, o círculo qua drado é uma expressão denotativa sintaticamente correta, obedecendo assim a todos os pré-requisitos da ontologia de objetos de Meinong. Logo, seria forçoso admitir a subsistência do círculo quadrado, ou seja, a subsistência de algo impossível. De fato, a tese meinongiana de independência do ser (Aussersein) implica que: [...] o ser-tal de um objeto não sofre nenhum interdito pelo não-ser (Nichtsein) deste objeto [...] e o domínio de validade desse princípio se manifesta, pelo menos em vista a isso, que decorrem desse princípio não apenas os objetos que não têm existência de fato, mas também aqueles que não podem existir porque são impossíveis. Não apenas a célebre montanha dourada é de ouro como o círculo quadrado é redondo. (MEINONG, 2005, p.100). Se, por um lado, para solucionar uma possível inconsistência na formulação de sentenças existenciais negativas, Meinong postulou a realidade de um vasto domínio de objetos subsistentes oferecendo critérios, psicológico e sintático, para o comprometimento ontológico com tais objetos, por outro, o uso irrestrito desses mesmos critérios conduziram sua teoria a um polêmico comprometimento com uma indesejável classe de entidades impossíveis. O domínio do ser categorialmente inflacionado descrito pela teoria dos objetos de Meinong comporta não só entidades físicas presentes no nosso cotidiano (mesas, cadeiras, livros etc.), como as polêmicas entidades meramente possíveis (Pégasus, a montanha de ouro, Batman, Homer Simpson) e, o que para muitos é pior ainda, entidades impossíveis (círculos quadrados). As reações dos neo-meinongianos às objeções apresentadas ao comprometimento com impossibilia, em geral, possuem duas direções contrárias: ou se tenta sustentar a legitimidade de objetos impossíveis (estratégia 1) ou se estabelece restrições aos critérios de Meinong de maneira a evitá-los (estratégia 2). Vejamos as duas estratégias: 10 É comum entre aqueles que defendem a primeira posição tentarem sustentar a legitimidade ontológica de impossibilia através da estratégia que consiste em ressaltar uma distinção entre, por um lado, objetos impossíveis descritos na forma (Fa Ga) tal que os predicados F e G sejam, de alguma forma, incompatíveis entre si e, por outro, objetos contraditórios descritos na forma (Fa Fa). A idéia básica dessa estratégia é mostrar que ao se comprometer com círculos quadrados estamos nos comprometendo com objetos do primeiro tipo, mas não do segundo. No caso, os predicados ser circular (F) e ser quadrado (G) são atribuídos a um só objeto e, embora eles sejam materialmente incompatíveis, ou seja, é impossível pelas leis da geometria que as propriedades que eles representam estejam instanciadas simultaneamente nos mesmos objetos, eles não são contraditórios. Algo completamente diferente do comprometimento com um objeto que tenha, por exemplo, as propriedades de ser circular e não ser circular simultaneamente. Essa distinção entre propriedades incompatíveis e contraditórias é ressaltada por alguns neo-meinongianos na tentativa de mostrar que somente o comprometimento ontológico com objetos contraditórios poderia conduzir a teoria a um colapso, ao passo que o comprometimento com objetos impossíveis pode ser visto de forma natural e sem prejuízo dos critérios, sintáticos e psicológicos, estabelecidos por Meinong. O ponto polêmico dessa estratégia é que o domínio de objetos determi nado pela ontologia que os meinongianos e seus simpatizantes pretendem defender é derivado e, portanto, subordinado a regras meramente convencionais como é o caso de regras sintáticas. Os proponentes dessa estratégia assumem o comprometimento com entidades polêmicas para salvar um critério permissivo ao extremo. Penso também que em uma análise mais precisa das inferências possíveis envolvendo sentenças com predicados incompatíveis atribuídos a um mesmo sujeito é sempre possível extrair algum tipo de contradição. Por exemplo, no caso do círculo quadrado, penso que uma análise mais detalhada das inferências possíveis envol vendo as sentenças onde esse objeto meinongiano 10 Essas duas estratégias são brevemente apresentadas em (BRANQUINHO, 2007, p ) e defendidas em (PARSONS, 1980). Ar g u m e n t o s, Ano 2, N
9 é expresso, é possível derivar, não uma mera incompatibilidade, mas uma clara contradição com os axiomas da geometria euclidiana. Se isto estiver correto, o preço a pagar pela admissão da subsistência de círculos quadrados seria alto demais: a própria correção da teoria. Com isso, talvez seja o caso de rever não só a legitimidade dos objetos impossíveis, mas a dos próprios critérios de Meinong. A segunda estratégia, como foi dito anteriormente, consiste basicamente em estabelecer restrições aos critérios de Meinong de maneira a evitar o comprometimento com objetos impossíveis. Em geral, tal estratégia é assumida por filósofos de orientação neo-meinongiana que, embora defendam a consistência e legitimidade de uma ontologia de possibilia, não possuem a mesma simpatia para com o comprometimento inevitável com objetos impossíveis. Grosso modo, eles defendem que um critério ontológico fundado numa sintaxe que permita uma descrição do real composta não só de possibilidades, mas também de impossibilidades não parece obedecer à noção intuitiva que temos do conceito de ser. Portanto, um objeto impossível ou contraditório, a rigor, sequer é um objeto. Com isso, eles pretendem restringir o critério sintático de Meinong defendendo que expressões denotativas que tentem descrever objetos contraditórios ou dotados de propriedades incompatíveis não possuem referência nem existente, nem subsistente. (IV) Propriedades de objetos ficcionais - Outro ponto de extrema relevância para ontologia de uma maneira geral e que carece esclarecimentos na teoria dos objetos de Meinong diz respeito à relação que as propriedades têm com os objetos, em especial os subsistentes (possibilia) e os não subsistentes (impossibilia). Como vimos anteriormente, Meinong sustenta que objetos subsistentes possuem propriedades. Isso é derivado como uma espécie de corolário do princípio da independência do ser: se um objeto pode ou não ter uma propriedade independentemente de sua existência e se, como afirma Meinong, há objetos subsistentes, então tais objetos possuem propriedades. De acordo com a teoria de Meinong, a montanha de ouro é dourada, Pégasus possui asas e Sherlock Holmes toca violino, embora nenhum desses objetos exista. Contudo, não parece algo claro na ontologia meinongiana como objetos meramente possíveis podem instanciar propriedades características de objetos físicos. Obviamente, todo objeto ficcional, ou seja, um objeto possível que, caso existisse, seria um objeto físico, é descrito através de propriedades típicas de objetos físicos. O Sherlock Holmes descrito por Conan Doyle toca violino, mora na Baker Street 221B e provavelmente possui mais de um metro de altura. Logo, de acordo com as teses de Meinong, há tal objeto meramente possível referido pelo termo Sherlock Holmes e tal objeto, dentre outras coisas, possui ou instancia a propriedade ter mais que um metro de altura. Parece pouco claro como um possibilia, enquanto uma mera possibilidade lógica, pode ter a propriedade de ter mais de um metro de altura, afinal, objetos não físicos não possuem altura da mesma forma que objetos físicos possuem. Para acrescentar mais uma objeção, é algo ainda mais polêmico sustentar acerca dos impossibilia de Meinong que eles instanciam propriedades incompatíveis. Segundo a teoria meinongiana o círculo quadrado possui as propriedades ser circular e ser qua drado. Não satisfeitos com essa conseqüência da teoria de Meinong, alguns neo-meinongianos como Zalta. (ZALTA, 1988) defendem, como uma possível saída, a distinção entre instanciar e codificar uma propriedade. 11 Segundo eles, objetos existentes instanciam propriedades, ao passo que objetos subsistentes ficcionais apenas codificam propriedades. Pela sua própria natureza não física, ficções são descritas através de compostos ou agrupamento de predicados. Todo predicado que pertença a esse agrupamento expressa uma propriedade ϕ codificada pelo objeto possível descrito através desse mesmo agrupamento. Considerações Finais Ao apresentar o tratamento de primeira ordem do conceito de existência oferecido pelo argumento do não-ser e mais tarde reforçado pela teoria dos objetos de Meinong, tentei 11 Para uma crítica à solução de Zalta dos problemas envolvendo predicação de objetos intencionais e uma análise das noções de instanciar e codificar uma propriedade (GREIMANN, 2003). 44 Ar g u m e n t o s, Ano 2, N
10 mostrar que a ideia de que existe constitui um predicado de primeira ordem, embora intuitiva, conduz seus proponentes a inúmeros problemas filosóficos, a exemplo do comprometimento ontológico com impossibilia. Tentei mostrar também que a abordagem de primeira ordem, pelo menos nas versões defendidas por Platão e Meinong, está fundada na análise lógica clássica e no pressuposto equivocado de que forma gramatical e forma lógica coincidem e são sempre expressas na distinção sujeito-predicado. Penso que o primeiro passo na direção da superação dos impasses gerados por essa abordagem pode ser dado a partir de uma revisão do modelo de análise de sentenças que ela propõe. É nesse contexto que surgem propostas alternativas de análise de sentenças de existência tais como a análise do termo existe como uma predicação de ordem superior. Referências Bibliográficas BRANQUINHO, João. O problema das predicações singulares de inexistências. In: Metafísica contemporânea. IMAGUIRE, Guido. et. al.. Petrópolis: Editora Vozes, p FREGE, Gottlob. Sobre o sentido e a referência. In:. Lógica e filosofia da linguagem. Tradução e organização de Paulo Alcoforado. São Paulo: Cultrix/EDUSP, Sobre o conceito e o objeto. In:. Lógica e filosofia da linguagem. Tradução e organização de Paulo Alcoforado. São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1978b.. Função e conceito. In:. Lógica e filosofia da linguagem. Trad. e Org. de Paulo Alcoforado. São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1978c. GREIMANN, Dirk. Is Zalta s Individuation of Intensional Entities Circular? Metaphysica (Dattelbach), Frankfurt/London, v. 4, n. 2, 2003, p QUINE, W. v. O. Sobre o que há. São Paulo: Abril Cultural, 1975, p (Col. Os Pensadores). REICHER, Maria E. Russell, Meinong, and the problem of existent non-existents. In: IMAGUIRE, G. & LINSKY, B. (Org.). On Denoting Müchen: Philosophia Verlag, 2005, p McGUINN, Colin. Logical properties: identity, existence, predication, necessity, truth. Oxford: Oxford University Press, MEINONG, Alexius. Sobre a Teoria dos Objetos. Tradução de Celso Reni Braida. In: BRAIDA, C. R. Três aberturas em ontologia: Frege, Twardowski e Meinong. Florianópolis: Rocca Brayde edições, 2005, p Disponível em: aberturas.pdf Último acesso: 13 out PARSONS, Terence. Non-existente objects. New Haven: Yale University Press, PEARS, David. Is existence a predicate? In: STRAWSON, P. F. (Org.). Philosophical Logic. Oxford: Oxford University Press, RUSSELL, Bertand. Da denotação. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p (Col. Os Pensadores). INWAGEN, Peter. Ontology, identity and moda lity: essays in metaphysics. Cambridge: Cambridge University Press, Existence, ontological commitment, and fictional entities. In: LOUX, Michael & ZIMMERMAN, Dean W. The Oxford Handbook of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2005, p ZALTA, Edward. Abstract objects: an introduction to axiomatic metaphysics. Dordrecht: Reidel, Intensional logic and the metaphysics of intentionality. Cambridge, Mass. The MIT Press, Ar g u m e n t o s, Ano 2, N
André Nascimento Pontes A FORMA LÓGICA DE SENTENÇAS DE EXISTÊNCIA
 0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ INSTITUTO DE CULTURA E ARTE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA André Nascimento Pontes A FORMA LÓGICA DE SENTENÇAS DE EXISTÊNCIA Uma avaliação da abordagem quantificacional
0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ INSTITUTO DE CULTURA E ARTE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA André Nascimento Pontes A FORMA LÓGICA DE SENTENÇAS DE EXISTÊNCIA Uma avaliação da abordagem quantificacional
Negação em Logical Forms.
 Negação em Logical Forms 125 Oswaldo Chateaubriand 1 Negação em Logical Forms Negação em Logical Forms. Oswaldo Chateaubriand Resumo Neste artigo enumero e discuto brevemente algumas teses centrais de
Negação em Logical Forms 125 Oswaldo Chateaubriand 1 Negação em Logical Forms Negação em Logical Forms. Oswaldo Chateaubriand Resumo Neste artigo enumero e discuto brevemente algumas teses centrais de
DEUS: CONCEITO NÃO-DISTRIBUTIVO DE SEGUNDA ORDEM?
 DEUS: CONCEITO NÃO-DISTRIBUTIVO DE SEGUNDA ORDEM? Edgar Marques UERJ/CNPq Abstract: In this paper I argue against Guido Imaguire s attempt of solving the christian mistery of the trinity by considering
DEUS: CONCEITO NÃO-DISTRIBUTIVO DE SEGUNDA ORDEM? Edgar Marques UERJ/CNPq Abstract: In this paper I argue against Guido Imaguire s attempt of solving the christian mistery of the trinity by considering
Pressuposição Antecedentes históricos
 A suposta natureza pressuposicional dos performativos Pressuposição Antecedentes históricos Luiz Arthur Pagani 1 1 Frege sentido sem referência (acomodação) [1, p. 137]: A sentença Ulisses profundamente
A suposta natureza pressuposicional dos performativos Pressuposição Antecedentes históricos Luiz Arthur Pagani 1 1 Frege sentido sem referência (acomodação) [1, p. 137]: A sentença Ulisses profundamente
LÓGICA I. André Pontes
 LÓGICA I André Pontes 1. Conceitos fundamentais O que é a Lógica? A LÓGICA ENQUANTO DISCIPLINA Estudo das leis de preservação da verdade. [Frege; O Pensamento] Estudo das formas válidas de argumentos.
LÓGICA I André Pontes 1. Conceitos fundamentais O que é a Lógica? A LÓGICA ENQUANTO DISCIPLINA Estudo das leis de preservação da verdade. [Frege; O Pensamento] Estudo das formas válidas de argumentos.
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura
 O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
Conclusão. positivo, respectivamente, à primeira e à terceira questões. A terceira questão, por sua vez, pressupõe uma resposta positiva à primeira.
 Conclusão Procuramos, ao longo deste trabalho, responder às seguintes perguntas sobre negação e propriedades negadas 1 : (i) É legítima a distinção entre negação predicativa e negação proposicional? (ii)
Conclusão Procuramos, ao longo deste trabalho, responder às seguintes perguntas sobre negação e propriedades negadas 1 : (i) É legítima a distinção entre negação predicativa e negação proposicional? (ii)
ÍNDICE. Lição 8 Conceitos Fundamentais da Teoria dos Conjuntos 49. Representação Simbólica dos Conceitos Fundamentais da Teoria dos
 ÍNDICE Prefácio PARTE I LÓGICA ARISTOTÉLICA Lição 1 Introdução. Lógica Aristotélica: Noções Básicas 9 Lição 2 O Quadrado da Oposição 15 Lição 3 Conversão, Obversão e Contraposição 21 Lição 4 A Teoria do
ÍNDICE Prefácio PARTE I LÓGICA ARISTOTÉLICA Lição 1 Introdução. Lógica Aristotélica: Noções Básicas 9 Lição 2 O Quadrado da Oposição 15 Lição 3 Conversão, Obversão e Contraposição 21 Lição 4 A Teoria do
Lógica Computacional
 Lógica Computacional Frases Quantificadas Quantificadores e Variáveis Fórmulas Bem Formadas: Sintaxe e Semântica Formas Aristotélicas 21 Outubro 2013 Lógica Computacional 1 Frases Quantificadas - Existem
Lógica Computacional Frases Quantificadas Quantificadores e Variáveis Fórmulas Bem Formadas: Sintaxe e Semântica Formas Aristotélicas 21 Outubro 2013 Lógica Computacional 1 Frases Quantificadas - Existem
A LÓGICA EPISTÊMICA DE HINTIKKA E A DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE CONHECIMENTO. Resumo
 A LÓGICA EPISTÊMICA DE HINTIKKA E A DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE CONHECIMENTO Autor: Stanley Kreiter Bezerra Medeiros Departamento de Filosofia UFRN Resumo Em 1962, Jaako Hintikka publicou Knowledge and Belief:
A LÓGICA EPISTÊMICA DE HINTIKKA E A DEFINIÇÃO CLÁSSICA DE CONHECIMENTO Autor: Stanley Kreiter Bezerra Medeiros Departamento de Filosofia UFRN Resumo Em 1962, Jaako Hintikka publicou Knowledge and Belief:
Completude diz-se em Vários Sentidos
 Completeness can be said in Several Meanings Edelcio Gonçalves de Souza Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) edelcio@pucsp.br Resumo: A partir de um raciocínio equivocado acerca do significado
Completeness can be said in Several Meanings Edelcio Gonçalves de Souza Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) edelcio@pucsp.br Resumo: A partir de um raciocínio equivocado acerca do significado
Lógica e Computação. Uma Perspectiva Histórica
 Lógica e Computação Uma Perspectiva Histórica Alfio Martini Facin - PUCRS A Lógica na Cultura Helênica A Lógica foi considerada na cultura clássica e medieval como um instrumento indispensável ao pensamento
Lógica e Computação Uma Perspectiva Histórica Alfio Martini Facin - PUCRS A Lógica na Cultura Helênica A Lógica foi considerada na cultura clássica e medieval como um instrumento indispensável ao pensamento
constituímos o mundo, mais especificamente, é a relação de referência, entendida como remissão das palavras às coisas que estabelece uma íntima
 1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
Construindo uma tese científica: pesquisa e argumentação
 1 1. Artigo Tema: Ensino de argumentação filosófica Construindo uma tese científica: pesquisa e argumentação Gabriel Goldmeier Conhecimento: crença verdadeira corretamente justificada A Teoria do Conhecimento
1 1. Artigo Tema: Ensino de argumentação filosófica Construindo uma tese científica: pesquisa e argumentação Gabriel Goldmeier Conhecimento: crença verdadeira corretamente justificada A Teoria do Conhecimento
Grice: querer dizer. Projecto de Grice: explicar a significação em termos de intenções.
 Grice: querer dizer Referências: Grice, Paul, Meaning, in Studies in the Way of Words, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1989, pp 213-223. Schiffer, Stephen, Meaning, Oxford, Oxford University
Grice: querer dizer Referências: Grice, Paul, Meaning, in Studies in the Way of Words, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1989, pp 213-223. Schiffer, Stephen, Meaning, Oxford, Oxford University
SENTIDOS E PROPRIEDADES 1. Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2
 Abstracta 1:1 pp. 40 51, 2004 SENTIDOS E PROPRIEDADES 1 Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2 Abstract: This article proposes an interpretation of the sense/reference distinction, especially regarding predicates.
Abstracta 1:1 pp. 40 51, 2004 SENTIDOS E PROPRIEDADES 1 Abílio Azambuja Rodrigues Filho 2 Abstract: This article proposes an interpretation of the sense/reference distinction, especially regarding predicates.
Lógica Computacional
 Lógica Computacional Lógica de Operadores Booleanos Interpretações Tautológicas, Lógicas e Analíticas Funcionalidade / Tabelas de Verdade dos Operadores Booleanos Consequências Tautológica, Lógica e Analítica
Lógica Computacional Lógica de Operadores Booleanos Interpretações Tautológicas, Lógicas e Analíticas Funcionalidade / Tabelas de Verdade dos Operadores Booleanos Consequências Tautológica, Lógica e Analítica
Inexistência e Obstinação João Branquinho, LanCog Group Universidade de Lisboa
 Inexistência e Obstinação João Branquinho, LanCog Group Universidade de Lisboa jbranquinho@campus.ul.pt Queremos neste ensaio introduzir um esboço de uma semântica simples e adequada para uma classe importante
Inexistência e Obstinação João Branquinho, LanCog Group Universidade de Lisboa jbranquinho@campus.ul.pt Queremos neste ensaio introduzir um esboço de uma semântica simples e adequada para uma classe importante
Conclusão. 1 Embora essa seja a função básica dos nomes próprios, deve-se notar que não é sua função
 Conclusão Este trabalho tinha o objetivo de demonstrar uma tese bem específica, a de que a principal função dos nomes próprios é a função operacional, isto é, a função de código 1. Gosto de pensar que
Conclusão Este trabalho tinha o objetivo de demonstrar uma tese bem específica, a de que a principal função dos nomes próprios é a função operacional, isto é, a função de código 1. Gosto de pensar que
filosofia, 2, NORMORE, C. Some Aspects of Ockham s Logic, p. 34.
 Introdução Na Idade Média, a lógica foi concebida como a ciência da razão (scientia rationalis) ou como a ciência do discurso (scientia sermocinalis). Em geral, a primeira concepção distingue-se por identificar
Introdução Na Idade Média, a lógica foi concebida como a ciência da razão (scientia rationalis) ou como a ciência do discurso (scientia sermocinalis). Em geral, a primeira concepção distingue-se por identificar
Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein
 Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein NOME DO AUTOR: Priscilla da Veiga BORGES; André da Silva PORTO. UNIDADE ACADÊMICA: Universidade Federal de
Algumas considerações sobre a primeira pessoa segundo a filosofia intermediária de Wittgenstein NOME DO AUTOR: Priscilla da Veiga BORGES; André da Silva PORTO. UNIDADE ACADÊMICA: Universidade Federal de
Sobre o que Não Há. não-designatividade e tradição matemática
 Sobre o que Não Há não-designatividade e tradição matemática Daniel Durante Pereira Alves Departamento de Filosofia UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte e-mail: durante@ufrnet.br Expressão
Sobre o que Não Há não-designatividade e tradição matemática Daniel Durante Pereira Alves Departamento de Filosofia UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte e-mail: durante@ufrnet.br Expressão
Introdu c ao ` a L ogica Matem atica Ricardo Bianconi
 Introdução à Lógica Matemática Ricardo Bianconi Capítulo 4 Dedução Informal Antes de embarcarmos em um estudo da lógica formal, ou seja, daquela para a qual introduziremos uma nova linguagem artificial
Introdução à Lógica Matemática Ricardo Bianconi Capítulo 4 Dedução Informal Antes de embarcarmos em um estudo da lógica formal, ou seja, daquela para a qual introduziremos uma nova linguagem artificial
BuscaLegis.ccj.ufsc.br
 BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
fragmentos dos diálogos categorias e obras da exortativas interpretação aristóteles introdução, tradução e notas ricardo santos tradução ( universidad
 fragmentos dos diálogos categorias e obras da exortativas interpretação aristóteles introdução, tradução e notas ricardo santos tradução ( universidade e textos introdutórios de lisboa) antónio de castro
fragmentos dos diálogos categorias e obras da exortativas interpretação aristóteles introdução, tradução e notas ricardo santos tradução ( universidade e textos introdutórios de lisboa) antónio de castro
OPERADORES MODAIS (NA INTERFACE LÓGICA E LINGUAGEM NATURAL)
 OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
OPERDORES MODIS (N INTERFCE LÓGIC E LINGUGEM NTURL) Jorge Campos & na Ibaños Resumo: É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso cotidiano da nossa linguagem. Mas, como se supõe
A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA
 MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
A REVOLUÇÃO CARTESIANA. Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV.
 A REVOLUÇÃO CARTESIANA Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV. Descartes (1596-1650) foi educado por jesuítas. Ele iniciou a filosofia moderna com um
A REVOLUÇÃO CARTESIANA Apresentação baseada principalmente em Friedrick Copleston: History of Philosophy, vol. IV. Descartes (1596-1650) foi educado por jesuítas. Ele iniciou a filosofia moderna com um
Trabalho sobre: René Descartes Apresentado dia 03/03/2015, na A;R;B;L;S : Pitágoras nº 28 Or:.Londrina PR., para Aumento de Sal:.
 ARBLS PITAGORAS Nº 28 Fundação : 21 de Abril de 1965 Rua Júlio Cesar Ribeiro, 490 CEP 86001-970 LONDRINA PR JOSE MARIO TOMAL TRABALHO PARA O PERÍODO DE INSTRUÇÃO RENE DESCARTES LONDRINA 2015 JOSE MARIO
ARBLS PITAGORAS Nº 28 Fundação : 21 de Abril de 1965 Rua Júlio Cesar Ribeiro, 490 CEP 86001-970 LONDRINA PR JOSE MARIO TOMAL TRABALHO PARA O PERÍODO DE INSTRUÇÃO RENE DESCARTES LONDRINA 2015 JOSE MARIO
É POSSÍVEL CONCILIAR O
 É POSSÍVEL CONCILIAR O DUALISMO DE PROPRIEDADES COM O MATERIALISMO? UMA ABORDAGEM SOBRE DUAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES AO PROBLEMA MENTE-CORPO Filicio Mulinari Tercio Kill Resumo: O objetivo do artigo é explicitar
É POSSÍVEL CONCILIAR O DUALISMO DE PROPRIEDADES COM O MATERIALISMO? UMA ABORDAGEM SOBRE DUAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES AO PROBLEMA MENTE-CORPO Filicio Mulinari Tercio Kill Resumo: O objetivo do artigo é explicitar
Lógica e Raciocínio. Introdução. Universidade da Madeira.
 Lógica e Raciocínio Universidade da Madeira http://dme.uma.pt/edu/ler/ Introdução 1 Lógica... é a ciência que estuda os princípios e aproximações para estabelecer a validez da inferência e demonstração:
Lógica e Raciocínio Universidade da Madeira http://dme.uma.pt/edu/ler/ Introdução 1 Lógica... é a ciência que estuda os princípios e aproximações para estabelecer a validez da inferência e demonstração:
Lecionação da Filosofia da Religião a partir da Lógica, Metafísica e Epistemologia
 Lecionação da Filosofia da Religião a partir da Lógica, Metafísica e Epistemologia Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe v180713 Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe 1/23 Plano 1 Introdução 2 Problema de
Lecionação da Filosofia da Religião a partir da Lógica, Metafísica e Epistemologia Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe v180713 Domingos Faria Colégio Pedro Arrupe 1/23 Plano 1 Introdução 2 Problema de
Um pouco de história. Ariane Piovezan Entringer. Geometria Euclidiana Plana - Introdução
 Geometria Euclidiana Plana - Um pouco de história Prof a. Introdução Daremos início ao estudo axiomático da geometria estudada no ensino fundamental e médio, a Geometria Euclidiana Plana. Faremos uso do
Geometria Euclidiana Plana - Um pouco de história Prof a. Introdução Daremos início ao estudo axiomático da geometria estudada no ensino fundamental e médio, a Geometria Euclidiana Plana. Faremos uso do
Autor: Francisco Cubal Disponibilizado apenas para Resumos.tk
 Conceito e Finalidade da Lógica Existem variados conceitos do que é a Lógica. Conceitos: A lógica é o estudo das inferências ou argumentos válidos. A lógica é o estudo do que conta como uma boa razão para
Conceito e Finalidade da Lógica Existem variados conceitos do que é a Lógica. Conceitos: A lógica é o estudo das inferências ou argumentos válidos. A lógica é o estudo do que conta como uma boa razão para
Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis
 77 Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis Renato Mendes Rocha 1 mendesrocha@gmail.com Resumo: O discurso a respeito dos Mundos Possíveis pode ser uma ferramenta bastante
77 Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis Renato Mendes Rocha 1 mendesrocha@gmail.com Resumo: O discurso a respeito dos Mundos Possíveis pode ser uma ferramenta bastante
Searle: Intencionalidade
 Searle: Intencionalidade Referências: Searle, John, The background of meaning, in Searle, J., Kiefer, F., and Bierwisch, M. (eds.), Speech Act Theory and Pragmatics, Dordrecht, Reidel, 1980, pp 221-232.
Searle: Intencionalidade Referências: Searle, John, The background of meaning, in Searle, J., Kiefer, F., and Bierwisch, M. (eds.), Speech Act Theory and Pragmatics, Dordrecht, Reidel, 1980, pp 221-232.
Davidson e a justificação da verdade
 Davidson e a justificação da verdade Recensão: André Barata www.lusosofia.net Covilhã, 2009 FICHA TÉCNICA Título: Donald Davidson Acerca da correspondência, coerência e cepticismo Autor: Manuel SANCHES
Davidson e a justificação da verdade Recensão: André Barata www.lusosofia.net Covilhã, 2009 FICHA TÉCNICA Título: Donald Davidson Acerca da correspondência, coerência e cepticismo Autor: Manuel SANCHES
Teoria do Conhecimento:
 Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
Teoria do Conhecimento: Investigando o Saber O que sou eu? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer,
A Existência é um Predicado João Branquinho, Universidade de Lisboa
 A Existência é um Predicado João Branquinho, Universidade de Lisboa Introdução Queremos reflectir sobre o conceito de existência estudando a forma lógica e a semântica de predicações de existência e inexistência
A Existência é um Predicado João Branquinho, Universidade de Lisboa Introdução Queremos reflectir sobre o conceito de existência estudando a forma lógica e a semântica de predicações de existência e inexistência
Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões
 Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões Questão nº 1 - Resposta B Justificativa: O amante do mito é de certo modo também um filósofo, uma vez que o mito se compõe de maravilhas
Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões Questão nº 1 - Resposta B Justificativa: O amante do mito é de certo modo também um filósofo, uma vez que o mito se compõe de maravilhas
O que é o conhecimento?
 Disciplina: Filosofia Ano: 11º Ano letivo: 2012/2013 O que é o conhecimento? Texto de Apoio 1. Tipos de Conhecimento No quotidiano falamos de conhecimento, de crenças que estão fortemente apoiadas por
Disciplina: Filosofia Ano: 11º Ano letivo: 2012/2013 O que é o conhecimento? Texto de Apoio 1. Tipos de Conhecimento No quotidiano falamos de conhecimento, de crenças que estão fortemente apoiadas por
Descartes filósofo e matemático francês Representante do racionalismo moderno. Profs: Ana Vigário e Ângela Leite
 Descartes filósofo e matemático francês 1596-1650 Representante do racionalismo moderno Razão como principal fonte de conhecimento verdadeiro logicamente necessário universalmente válido Inspiração: modelo
Descartes filósofo e matemático francês 1596-1650 Representante do racionalismo moderno Razão como principal fonte de conhecimento verdadeiro logicamente necessário universalmente válido Inspiração: modelo
Lógica. Abílio Rodrigues. FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho.
 Lógica Abílio Rodrigues FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho São Paulo 2011 09 Lógica 01-08.indd 3 4/29/11 2:15 PM 1. Verdade, validade e forma lógica
Lógica Abílio Rodrigues FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho São Paulo 2011 09 Lógica 01-08.indd 3 4/29/11 2:15 PM 1. Verdade, validade e forma lógica
Enunciados Quantificados Equivalentes
 Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 15 Enunciados Quantificados Equivalentes Sumário 1 Equivalência de enunciados quantificados 2 1.1 Observações................................
Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 15 Enunciados Quantificados Equivalentes Sumário 1 Equivalência de enunciados quantificados 2 1.1 Observações................................
DESCARTES E A FILOSOFIA DO. Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson
 DESCARTES E A FILOSOFIA DO COGITO Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson René Descartes (1596 1650) 1650) Ponto de partida - Constatação da crise das ciências e do saber em
DESCARTES E A FILOSOFIA DO COGITO Programa de Pós-graduação em Educação UEPG Professora Gisele Masson René Descartes (1596 1650) 1650) Ponto de partida - Constatação da crise das ciências e do saber em
Já falamos que, na Matemática, tudo se baseia em axiomas. Já estudamos os números inteiros partindo dos seus axiomas.
 Teoria dos Conjuntos Já falamos que, na Matemática, tudo se baseia em axiomas. Já estudamos os números inteiros partindo dos seus axiomas. Porém, não é nosso objetivo ver uma teoria axiomática dos conjuntos.
Teoria dos Conjuntos Já falamos que, na Matemática, tudo se baseia em axiomas. Já estudamos os números inteiros partindo dos seus axiomas. Porém, não é nosso objetivo ver uma teoria axiomática dos conjuntos.
A Teoria das descrições de Bertrand Russell
 A Teoria das descrições de Bertrand Russell CERQUEIRA, João Luiz Cosmi [1] CERQUEIRA, João Luiz Cosmi. A Teoria das Descrições de Bertrand Russell. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento.
A Teoria das descrições de Bertrand Russell CERQUEIRA, João Luiz Cosmi [1] CERQUEIRA, João Luiz Cosmi. A Teoria das Descrições de Bertrand Russell. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento.
3.4 Fundamentos de lógica paraconsistente
 86 3.4 Fundamentos de lógica paraconsistente A base desta tese é um tipo de lógica denominada lógica paraconsistente anotada, da qual serão apresentadas algumas noções gerais. Como já foi dito neste trabalho,
86 3.4 Fundamentos de lógica paraconsistente A base desta tese é um tipo de lógica denominada lógica paraconsistente anotada, da qual serão apresentadas algumas noções gerais. Como já foi dito neste trabalho,
ÁGORA FILOSÓFICA EXISTÊNCIA E PREDICAÇÃO
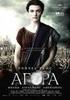 ------------------------------------------------ ---------------------------------------------- EXISTÊNCIA E PREDICAÇÃO José Marcos Gomes de Luna 1 recebido: 08/2014 aprovado: 12/2014 RESUMO Neste artigo
------------------------------------------------ ---------------------------------------------- EXISTÊNCIA E PREDICAÇÃO José Marcos Gomes de Luna 1 recebido: 08/2014 aprovado: 12/2014 RESUMO Neste artigo
A argumentação desenvolvida por Santo Anselmo no segundo e no terceiro capítulos de seu
 A argumentação desenvolvida por Santo Anselmo no segundo e no terceiro capítulos de seu Proslogion veio a ser conhecida como uma das mais famosas instâncias do tipo de prova da existência de Deus denominada
A argumentação desenvolvida por Santo Anselmo no segundo e no terceiro capítulos de seu Proslogion veio a ser conhecida como uma das mais famosas instâncias do tipo de prova da existência de Deus denominada
Expandindo o Vocabulário. Tópicos Adicionais. Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto. 12 de junho de 2019
 Material Teórico - Módulo de INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA Expandindo o Vocabulário Tópicos Adicionais Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto 12 de junho de 2019
Material Teórico - Módulo de INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA Expandindo o Vocabulário Tópicos Adicionais Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto 12 de junho de 2019
Quine e Davidson. Tradução radical, indeterminação, caridade, esquemas conceituais e os dogmas do empirismo
 Quine e Davidson Tradução radical, indeterminação, caridade, esquemas conceituais e os dogmas do empirismo Historiografia e Filosofia das Ciências e Matemática ENS003 Prof. Valter A. Bezerra PEHFCM UFABC
Quine e Davidson Tradução radical, indeterminação, caridade, esquemas conceituais e os dogmas do empirismo Historiografia e Filosofia das Ciências e Matemática ENS003 Prof. Valter A. Bezerra PEHFCM UFABC
Resumo de Filosofia. Preposição frase declarativa com um certo valor de verdade
 Resumo de Filosofia Capítulo I Argumentação e Lógica Formal Validade e Verdade O que é um argumento? Um argumento é um conjunto de proposições em que se pretende justificar ou defender uma delas, a conclusão,
Resumo de Filosofia Capítulo I Argumentação e Lógica Formal Validade e Verdade O que é um argumento? Um argumento é um conjunto de proposições em que se pretende justificar ou defender uma delas, a conclusão,
Os Teoremas da Incompletude de Gödel Uma Introdução Informal
 Os Teoremas da Incompletude de Gödel Uma Introdução Informal Daniel Durante Pereira Alves Os Teoremas de Gödel Qualquer formalização da aritmética de primeira ordem (de Peano - AP) através de qualquer
Os Teoremas da Incompletude de Gödel Uma Introdução Informal Daniel Durante Pereira Alves Os Teoremas de Gödel Qualquer formalização da aritmética de primeira ordem (de Peano - AP) através de qualquer
Afirmações Matemáticas
 Afirmações Matemáticas Na aula passada, vimos que o objetivo desta disciplina é estudar estruturas matemáticas, afirmações sobre elas e como provar essas afirmações. Já falamos das estruturas principais,
Afirmações Matemáticas Na aula passada, vimos que o objetivo desta disciplina é estudar estruturas matemáticas, afirmações sobre elas e como provar essas afirmações. Já falamos das estruturas principais,
Lógica Computacional
 Lógica Computacional Consequência Tautológica e Lógica em Frases Quantificadas Leis de de Morgan Separação de Quantificadores Consequências Analíticas e Método Axiomático 3 Novembro 2016 Lógica Computacional
Lógica Computacional Consequência Tautológica e Lógica em Frases Quantificadas Leis de de Morgan Separação de Quantificadores Consequências Analíticas e Método Axiomático 3 Novembro 2016 Lógica Computacional
Cálculo proposicional
 O estudo da lógica é a análise de métodos de raciocínio. No estudo desses métodos, a lógica esta interessada principalmente na forma e não no conteúdo dos argumentos. Lógica: conhecimento das formas gerais
O estudo da lógica é a análise de métodos de raciocínio. No estudo desses métodos, a lógica esta interessada principalmente na forma e não no conteúdo dos argumentos. Lógica: conhecimento das formas gerais
Expressões e enunciados
 Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 2 Expressões e enunciados Sumário 1 Expressões e enunciados 2 1.1 Observações................................ 2 1.2 Exercício resolvido............................
Lógica para Ciência da Computação I Lógica Matemática Texto 2 Expressões e enunciados Sumário 1 Expressões e enunciados 2 1.1 Observações................................ 2 1.2 Exercício resolvido............................
FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS
 FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO - 36 Esperava-se que o estudante estabelecesse a distinção entre verdade e validade e descrevesse suas respectivas aplicações. Item
FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO - 36 Esperava-se que o estudante estabelecesse a distinção entre verdade e validade e descrevesse suas respectivas aplicações. Item
Capítulo O objeto deste livro
 Capítulo 1 Introdução 1.1 O objeto deste livro Podemos dizer que a Geometria, como ciência abstrata, surgiu na Antiguidade a partir das intuições acerca do espaço, principalmente do estudo da Astronomia.
Capítulo 1 Introdução 1.1 O objeto deste livro Podemos dizer que a Geometria, como ciência abstrata, surgiu na Antiguidade a partir das intuições acerca do espaço, principalmente do estudo da Astronomia.
Sócrates: após destruir o saber meramente opinativo, em diálogo com seu interlocutor, dava início ã procura da definição do conceito, de modo que, o
 A busca da verdade Os filósofos pré-socráticos investigavam a natureza, sua origem de maneira racional. Para eles, o princípio é teórico, fundamento de todas as coisas. Destaca-se Heráclito e Parmênides.
A busca da verdade Os filósofos pré-socráticos investigavam a natureza, sua origem de maneira racional. Para eles, o princípio é teórico, fundamento de todas as coisas. Destaca-se Heráclito e Parmênides.
Racionalismo. René Descartes Prof. Deivid
 Racionalismo René Descartes Prof. Deivid Índice O que é o racionalismo? René Descartes Racionalismo de Descartes Nada satisfaz Descartes? Descartes e o saber tradicional Objetivo de Descartes A importância
Racionalismo René Descartes Prof. Deivid Índice O que é o racionalismo? René Descartes Racionalismo de Descartes Nada satisfaz Descartes? Descartes e o saber tradicional Objetivo de Descartes A importância
VERDADE E VALIDADE, PROPOSIÇÃO E ARGUMENTO
 ENADE 2005 e 2008 1 O que B. Russell afirma da matemática, em Misticismo e Lógica: "uma disciplina na qual não sabemos do que falamos, nem se o que dizemos é verdade", seria particularmente aplicável à
ENADE 2005 e 2008 1 O que B. Russell afirma da matemática, em Misticismo e Lógica: "uma disciplina na qual não sabemos do que falamos, nem se o que dizemos é verdade", seria particularmente aplicável à
IME, UFF 3 de junho de 2014
 Lógica IME, UFF 3 de junho de 2014 Sumário A lógica formal e os principais sistemas A lógica formal Um dos objetivos da lógica formal é a mecanização do raciocínio, isto é, a obtenção de nova informação
Lógica IME, UFF 3 de junho de 2014 Sumário A lógica formal e os principais sistemas A lógica formal Um dos objetivos da lógica formal é a mecanização do raciocínio, isto é, a obtenção de nova informação
A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS
 A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS O que é a metafísica? É a investigação das causas primeiras de todas as coisas existentes e estuda o ser enquanto ser. É a ciência que serve de fundamento para
A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS O que é a metafísica? É a investigação das causas primeiras de todas as coisas existentes e estuda o ser enquanto ser. É a ciência que serve de fundamento para
2 Interpretações tradicionais
 20 2 Interpretações tradicionais A grande maioria dos estudos consultados sustenta que Platão, no Sofista, está seriamente engajado em uma refutação definitiva de Parmênides de Eléia. Seria ocioso elencar
20 2 Interpretações tradicionais A grande maioria dos estudos consultados sustenta que Platão, no Sofista, está seriamente engajado em uma refutação definitiva de Parmênides de Eléia. Seria ocioso elencar
KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA. Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense
 KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense marcos_giusti@uol.com.br Resumo: A crítica kantiana à metafísica, diferentemente do que exprimem
KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense marcos_giusti@uol.com.br Resumo: A crítica kantiana à metafísica, diferentemente do que exprimem
INTRODUÇÃO A LÓGICA. Prof. André Aparecido da Silva Disponível em:
 INTRODUÇÃO A LÓGICA Prof. André Aparecido da Silva Disponível em: http://www.oxnar.com.br/aulas 1 CIENCIA E LÓGICA RACIOCINIO LÓGICO NOTAÇÃO POSICIONAL PRINCIPIOS DA LÓGICA CONECTIVOS LÓGICOS REGRAS DE
INTRODUÇÃO A LÓGICA Prof. André Aparecido da Silva Disponível em: http://www.oxnar.com.br/aulas 1 CIENCIA E LÓGICA RACIOCINIO LÓGICO NOTAÇÃO POSICIONAL PRINCIPIOS DA LÓGICA CONECTIVOS LÓGICOS REGRAS DE
Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen
 1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
RESENHA. LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp.
 RESENHA LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp. Pedro Merlussi 1 Eis aqui mais ou menos o que a academia brasileira parece pensar acerca da metafísica nos dias
RESENHA LOWE, E. J. A Survey of Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2002, 416 pp. Pedro Merlussi 1 Eis aqui mais ou menos o que a academia brasileira parece pensar acerca da metafísica nos dias
4 AULA. Regras de Inferência e Regras de Equivalência LIVRO. META: Introduzir algumas regras de inferência e algumas regras de equivalência.
 1 LIVRO Regras de Inferência e Regras de Equivalência 4 AULA META: Introduzir algumas regras de inferência e algumas regras de equivalência. OBJETIVOS: Ao fim da aula os alunos deverão ser capazes de:
1 LIVRO Regras de Inferência e Regras de Equivalência 4 AULA META: Introduzir algumas regras de inferência e algumas regras de equivalência. OBJETIVOS: Ao fim da aula os alunos deverão ser capazes de:
Nota sobre os Argumentos Modais. por João Branquinho
 Nota sobre os Argumentos Modais por João Branquinho Discutimos aqui diversos tipos de réplica aos chamados argumentos modais habitualmente aduzidos contra as teorias descritivistas do sentido e da referência
Nota sobre os Argumentos Modais por João Branquinho Discutimos aqui diversos tipos de réplica aos chamados argumentos modais habitualmente aduzidos contra as teorias descritivistas do sentido e da referência
Indiscernibilidade de Idênticos. Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de idênticos
 Indiscernibilidade de Idênticos Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de Consideremos agora o caso das atitudes proposicionais, das construções epistémicas e psicológicas, e perguntemo-nos se é
Indiscernibilidade de Idênticos Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de Consideremos agora o caso das atitudes proposicionais, das construções epistémicas e psicológicas, e perguntemo-nos se é
Lógica Computacional
 Lógica Computacional Consequência Tautológica e Lógica em Frases Quantificadas Leis de de Morgan Separação de Quantificadores Consequências Analíticas e Método Axiomático 24 Outubro 2017 Lógica Computacional
Lógica Computacional Consequência Tautológica e Lógica em Frases Quantificadas Leis de de Morgan Separação de Quantificadores Consequências Analíticas e Método Axiomático 24 Outubro 2017 Lógica Computacional
Silogismos Categóricos e Hipotéticos
 Silogismos Categóricos e Hipotéticos Resumo elaborado por Francisco Cubal Apenas para publicação em Resumos.tk Primeiros objectivos a alcançar: Reconhecer os quatro tipos de proposições categóricas. Enunciar
Silogismos Categóricos e Hipotéticos Resumo elaborado por Francisco Cubal Apenas para publicação em Resumos.tk Primeiros objectivos a alcançar: Reconhecer os quatro tipos de proposições categóricas. Enunciar
Teoremas de Incompletude de Gödel e os Fundamentos da Matemática
 Teoremas de Incompletude de Gödel e os Fundamentos da Matemática Rogério Augusto dos Santos Fajardo MAT554 - Panorama de Matemática 6 e 8 de agosto de 2018 Lógica e Teoria dos Conjuntos servem como: Lógica
Teoremas de Incompletude de Gödel e os Fundamentos da Matemática Rogério Augusto dos Santos Fajardo MAT554 - Panorama de Matemática 6 e 8 de agosto de 2018 Lógica e Teoria dos Conjuntos servem como: Lógica
5 AULA. Teorias Axiomáticas LIVRO. META: Apresentar teorias axiomáticas.
 1 LIVRO Teorias Axiomáticas 5 AULA META: Apresentar teorias axiomáticas. OBJETIVOS: Ao fim da aula os alunos deverão ser capazes de: Criar teorias axiomáticas; Provar a independência dos axiomas de uma
1 LIVRO Teorias Axiomáticas 5 AULA META: Apresentar teorias axiomáticas. OBJETIVOS: Ao fim da aula os alunos deverão ser capazes de: Criar teorias axiomáticas; Provar a independência dos axiomas de uma
Competências argumentativas indicadas nas AE de Filosofia (em articulação com o Perfil do Aluno)
 Competências argumentativas indicadas nas AE de Filosofia (em articulação com o Perfil do Aluno) Identificar, formular e avaliar argumentos filosóficos, aplicando instrumentos operatórios da lógica formal
Competências argumentativas indicadas nas AE de Filosofia (em articulação com o Perfil do Aluno) Identificar, formular e avaliar argumentos filosóficos, aplicando instrumentos operatórios da lógica formal
A Negação como uma Operação Formal
 143 Rogério Saucedo Corrêa 1 A Negação como uma Operação Formal A Negação como uma Operação Formal Rogério Saucedo Corrêa Resumo A distinção entre operação e operação de verdade permite esclarecer o caráter
143 Rogério Saucedo Corrêa 1 A Negação como uma Operação Formal A Negação como uma Operação Formal Rogério Saucedo Corrêa Resumo A distinção entre operação e operação de verdade permite esclarecer o caráter
No. Try not. Do... or do not. There is no try. - Master Yoda, The Empire Strikes Back (1980)
 Cálculo Infinitesimal I V01.2016 - Marco Cabral Graduação em Matemática Aplicada - UFRJ Monitor: Lucas Porto de Almeida Lista A - Introdução à matemática No. Try not. Do... or do not. There is no try.
Cálculo Infinitesimal I V01.2016 - Marco Cabral Graduação em Matemática Aplicada - UFRJ Monitor: Lucas Porto de Almeida Lista A - Introdução à matemática No. Try not. Do... or do not. There is no try.
COLÉGIO SHALOM ENSINO MEDIO 1 ANO - filosofia. Profº: TONHÃO Disciplina: FILOSOFIA Aluno (a):. No.
 COLÉGIO SHALOM ENSINO MEDIO 1 ANO - filosofia 65 Profº: TONHÃO Disciplina: FILOSOFIA Aluno (a):. No. ROTEIRO DE RECUERAÇÃO ANUAL 2016 Data: / / FILOSOFIA 1º Ano do Ensino Médio 1º. O recuperando deverá
COLÉGIO SHALOM ENSINO MEDIO 1 ANO - filosofia 65 Profº: TONHÃO Disciplina: FILOSOFIA Aluno (a):. No. ROTEIRO DE RECUERAÇÃO ANUAL 2016 Data: / / FILOSOFIA 1º Ano do Ensino Médio 1º. O recuperando deverá
CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA
 CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA O GRANDE RACIONALISMO O termo RACIONALISMO, no sentido geral, é empregado para designar a concepção de nada existe sem que haja uma razão para isso. Uma pessoa
CORRENTES DE PENSAMENTO DA FILOSOFIA MODERNA O GRANDE RACIONALISMO O termo RACIONALISMO, no sentido geral, é empregado para designar a concepção de nada existe sem que haja uma razão para isso. Uma pessoa
A Concepção da Verdade-como-Correspondência
 374 A Concepção da Verdade-como-Correspondência Renato Machado Pereira * RESUMO O artigo tem por finalidade descrever as características principais de uma teoria da verdadecomo-correspondência. Dizer apenas
374 A Concepção da Verdade-como-Correspondência Renato Machado Pereira * RESUMO O artigo tem por finalidade descrever as características principais de uma teoria da verdadecomo-correspondência. Dizer apenas
Fundamentos de Lógica Matemática
 Webconferência 6-29/03/2012 Introdução à Lógica de Predicados Prof. L. M. Levada http://www.dc.ufscar.br/ alexandre Departamento de Computação (DC) Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 2012/1 Introdução
Webconferência 6-29/03/2012 Introdução à Lógica de Predicados Prof. L. M. Levada http://www.dc.ufscar.br/ alexandre Departamento de Computação (DC) Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 2012/1 Introdução
A LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. Bruno Senoski do Prado (PIBIC), Marciano Adilio Spica (Orientador),
 A LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. Bruno Senoski do Prado (PIBIC), Marciano Adilio Spica (Orientador), e-mail: marciano.spica@gmail.com Universidade Estadual do Centro-Oeste, Setor de Ciências Humanas,
A LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. Bruno Senoski do Prado (PIBIC), Marciano Adilio Spica (Orientador), e-mail: marciano.spica@gmail.com Universidade Estadual do Centro-Oeste, Setor de Ciências Humanas,
SOBRE O OPERADOR DE CONSEQÜÊNCIA DE TARSKI
 VELASCO, Patrícia Del Nero. Sobre o operador de conseqüência de Tarski. In: MARTINS, R. A.; MARTINS, L. A. C., P.; SILVA, C. C.; FERREIRA, J. M. H. (eds.). Filosofia e história da ciência no Cone Sul:
VELASCO, Patrícia Del Nero. Sobre o operador de conseqüência de Tarski. In: MARTINS, R. A.; MARTINS, L. A. C., P.; SILVA, C. C.; FERREIRA, J. M. H. (eds.). Filosofia e história da ciência no Cone Sul:
Demonstrações Matemáticas Parte 2
 Demonstrações Matemáticas Parte 2 Nessa aula, veremos aquele que, talvez, é o mais importante método de demonstração: a prova por redução ao absurdo. Também veremos um método bastante simples para desprovar
Demonstrações Matemáticas Parte 2 Nessa aula, veremos aquele que, talvez, é o mais importante método de demonstração: a prova por redução ao absurdo. Também veremos um método bastante simples para desprovar
AULA FILOSOFIA. O realismo aristotélico
 AULA FILOSOFIA O realismo aristotélico DEFINIÇÃO O realismo aristotélico representa, na Grécia antiga, ao lado das filosofias de Sócrates e Platão, uma reação ao discurso dos sofistas e uma tentativa de
AULA FILOSOFIA O realismo aristotélico DEFINIÇÃO O realismo aristotélico representa, na Grécia antiga, ao lado das filosofias de Sócrates e Platão, uma reação ao discurso dos sofistas e uma tentativa de
TEORIA DO CONHECIMENTO O QUE É O CONHECIMENTO? COMO NÓS O ALCANÇAMOS?
 TEORIA DO CONHECIMENTO O QUE É O CONHECIMENTO? COMO NÓS O ALCANÇAMOS? Tem como objetivo investigar a origem, a natureza, o valor e os limites do conhecimento Vários filósofos se preocuparam em achar uma
TEORIA DO CONHECIMENTO O QUE É O CONHECIMENTO? COMO NÓS O ALCANÇAMOS? Tem como objetivo investigar a origem, a natureza, o valor e os limites do conhecimento Vários filósofos se preocuparam em achar uma
POSSIBILIA. EDIÇÃO DE 2014 do FCT Project PTDC/FIL-FIL/121209/2010. Editado por João Branquinho e Ricardo Santos ISBN:
 POSSIBILIA EDIÇÃO DE 2014 do COMPÊNDIO EM LINHA DE PROBLEMAS DE FILOSOFIA ANALÍTICA 2012-2015 FCT Project PTDC/FIL-FIL/121209/2010 Editado por João Branquinho e Ricardo Santos ISBN: 978-989-8553-22-5 Compêndio
POSSIBILIA EDIÇÃO DE 2014 do COMPÊNDIO EM LINHA DE PROBLEMAS DE FILOSOFIA ANALÍTICA 2012-2015 FCT Project PTDC/FIL-FIL/121209/2010 Editado por João Branquinho e Ricardo Santos ISBN: 978-989-8553-22-5 Compêndio
Pensamento e Linguagem: observações a partir de Donald Davidson. No nosso dia a dia nos comunicamos uns com os outros com sucesso na
 Pensamento e Linguagem: observações a partir de Donald Davidson Marcelo Fischborn 1 No nosso dia a dia nos comunicamos uns com os outros com sucesso na maior parte das vezes. Pergunto a alguém que horas
Pensamento e Linguagem: observações a partir de Donald Davidson Marcelo Fischborn 1 No nosso dia a dia nos comunicamos uns com os outros com sucesso na maior parte das vezes. Pergunto a alguém que horas
NHI Lógica Básica (Lógica Clássica de Primeira Ordem)
 NHI2049-13 (Lógica Clássica de Primeira Ordem) página da disciplina na web: http://professor.ufabc.edu.br/~jair.donadelli/logica O assunto O que é lógica? Disciplina que se ocupa do estudo sistemático
NHI2049-13 (Lógica Clássica de Primeira Ordem) página da disciplina na web: http://professor.ufabc.edu.br/~jair.donadelli/logica O assunto O que é lógica? Disciplina que se ocupa do estudo sistemático
CRÍTICA DE HEIDEGGER A DESCARTES
 CRÍTICA DE HEIDEGGER A DESCARTES Guilherme Devequi Quintilhano Orientador: Prof. Dr. Eder Soares Santos RESUMO Nesta comunicação será apresentada uma crítica de Martin Heidegger, filósofo contemporâneo,
CRÍTICA DE HEIDEGGER A DESCARTES Guilherme Devequi Quintilhano Orientador: Prof. Dr. Eder Soares Santos RESUMO Nesta comunicação será apresentada uma crítica de Martin Heidegger, filósofo contemporâneo,
Lógica Dedutiva e Falácias
 Lógica Dedutiva e Falácias Aula 3 Prof. André Martins Lógica A Lógica é o ramo do conhecimento humano que estuda as formas pelas quais se pode construir um argumento correto. O que seria um raciocínio
Lógica Dedutiva e Falácias Aula 3 Prof. André Martins Lógica A Lógica é o ramo do conhecimento humano que estuda as formas pelas quais se pode construir um argumento correto. O que seria um raciocínio
A EPISTEMOLOGIA E SUA NATURALIZAÇÃO 1 RESUMO
 A EPISTEMOLOGIA E SUA NATURALIZAÇÃO 1 SILVA, Kariane Marques da 1 Trabalho de Pesquisa FIPE-UFSM Curso de Bacharelado Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil E-mail:
A EPISTEMOLOGIA E SUA NATURALIZAÇÃO 1 SILVA, Kariane Marques da 1 Trabalho de Pesquisa FIPE-UFSM Curso de Bacharelado Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil E-mail:
Argumentos e Validade Petrucio Viana
 GAN00166: Lógica para Ciência da Computação Texto da Aula 7 Argumentos e Validade Petrucio Viana Departamento de Análise, IME UFF Sumário 1 Argumentos 1 1.1 Observações................................
GAN00166: Lógica para Ciência da Computação Texto da Aula 7 Argumentos e Validade Petrucio Viana Departamento de Análise, IME UFF Sumário 1 Argumentos 1 1.1 Observações................................
A Importância da Lógica para o Ensino da Matemática
 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte FANAT - Departamento de Informática Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi Curso de Sistemas de Informação A Importância da Lógica para o Ensino
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte FANAT - Departamento de Informática Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi Curso de Sistemas de Informação A Importância da Lógica para o Ensino
