PERCURSOS DE LEGITIMAÇÃO: AS FACES DA CRÍTICA EM O ALIENISTA
|
|
|
- Lídia Ribeiro Garrau
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 PERCURSOS DE LEGITIMAÇÃO: AS FACES DA CRÍTICA EM O ALIENISTA Ana Ferreira Silva 1 (PUC/SP) Resumo: Este trabalho, parte da minha dissertação de mestrado, terá por objeto a recepção crítica de O Alienista, no período circunscrito entre 1882 e Nosso estudo direciona-se para os diferentes métodos interpretativos que marcaram as vertentes da crítica literária no período proposto, a fim de sinalizar as transformações ocorridas. Essa criação artística, publicada inicialmente em 1881, no jornal A Estação, provocou reações da crítica vigente, diante das mudanças radicais operadas por Machado na forma de narrar. A partir da inconsistência de suas avaliações, esses críticos tiveram que refletir sobre os seus métodos interpretativos, uma vez que não davam conta de discorrer sobre as artimanhas narrativas do escritor fluminense. Nesse contexto, assistimos as primeiras tentativas de transformação da crítica literária brasileira, a partir do próprio Machado de Assis, que nos deixou alguns ensaios de notável lucidez, como é o caso de Notícia da atual literatura brasileira, de Ao compreender o destino reservado para a crítica literária, os apontamentos de Machado de Assis são precursores de uma nova reflexão sobre a crítica como método interpretativo que deve ter por base a obra literária e não as idiossincrasias do crítico. Palavras-chave: Machado de Assis; O Alienista; crítica literária, fortuna crítica. Introdução No contexto histórico do final do século XIX, respaldada pelos rodapés dos jornais, pelas cátedras universitárias e revistas, a crítica repudiava os poetas insultuosos que assolavam as tradições da língua e da poesia. Criava-se um hiato entre a produção literária e a prática do crítico. (LIMA, 1981, p.202) A crítica machadiana desse período, apresenta marcas de uma visão historiográfica, cultivada por críticos como Sílvio Romero e Araripe Júnior. A vertente de críticos e historiadores literários, para os quais o essencial era a ênfase na busca dos valores da tradição e da história, foi outra conseqüência do espírito positivista e naturalista, centrado na explicação genética. A este respeito, Afrânio Coutinho afirma que a crítica literária tornou-se indistinta da história literária, esta mesma uma dependência da história geral, dividida, como ela, em períodos correspondentes aos da história política. (COUTINHO, 1974, p.4) A esse historicismo, observa Coutinho, desencadeou a preocupação excessiva em se estabelecer relações entre literatura e os fatos históricos, reduzindo a tarefa do crítico em eruditismo de teor científico e historiográfico. Essa forma de positivismo, que não se confunde com o positivismo filosófico do Comte (COUTINHO, 1969, cap. XV) influenciou diversos estudiosos do fenômeno literário. Sílvio Romero, observa Antonio Candido (1988), foi o primeiro grande crítico e fundador da crítica no Brasil. Ele permanece como marco, se quisermos compreender a formação do espírito crítico brasileiro. Protagonista do movimento do Recife um dos focos do grande movimento renovador da mentalidade brasileira na segunda metade do século XIX representou o aspecto literário dum processo cultural em que se destacaram homens como Tobias Barreto, Batista
2 Caetano, Barbosa Rodrigues, Miguel de Lemos etc. A sua obra participa do esforço de revisão ideológica de que brotou o pensamento moderno nacional. A crítica praticada por Silvio Romero (1992:2001) inscreve-se entre o período que coincide com a crítica de rodapé, ou seja, uma crítica embasada em aspectos impressionistas e biográficos. Voz expressiva da crítica literária brasileira do século XIX, a crítica romeriana, fundamentada no pensamento cientificista da época é precursora da crítica sociológica, como cânone dos estudos literários, e não via com bons olhos a produção machadiana. Se por um lado, Romero não atribuiu a Machado de Assis o seu devido reconhecimento ao omitir o seu nome da antologia História da literatura brasileira (2001), por outro, a reação em linhas gerais, entusiástica a Quincas Borbas serviria de estímulo e daria munição para o crítico produzir seu ataque final a Machado, não mais por meio de artigos na imprensa, mas na forma de um livro, Machado de Assis: estudo comparativo de Literatura Brasileira (1992). Nesse estudo, Silvio Romero apresenta um Machado que não entendia as ideologias do século XIX. O crítico também chamou a atenção para o tom estrangeirado do escritor, que ao seu ver era um macaqueador de Sterne. O trecho abaixo comprova a visão negativa e preconceituosa de Romero: O estilo de Machado de Assis, sem ter grande originalidade, sem ser notado por um forte cunho pessoal, é a fotografia exata do seu espírito, de sua índole psicológica indecisa. (...) Vê-se que ele apalpa e tropeça, que sofre de uma perturbação qualquer nos órgãos da palavra. Sente-se o esforço, a luta. Ele gagueja no estilo, na palavra escrita, como fazem outros na palavra falada, disse-me uma vez não sei que desabusado num momento de expansão, sem reparar talvez que dava-me destarte uma verdadeira e admirável notação crítica. De fato, Machado de Assis repisa, repete, torce, retorce, tanto suas idéias e as palavras que as vestem, que deixa-nos a impressão dum perpétuo tartamudear. (ROMERO, 1992, p. 182) De um lado, a combinação desses dois juízos a gagueira narrativa, agravada pela imitação de traços de outros meios e raças abriu caminho para o real objetivo de Romero, deslocar Machado de Assis do centro canônico da literatura brasileira. Mas, de outro, esse fato serviu de mola propulsora para inúmeros estudos que se seguiram na linha comparatista entre a ficção machadiana com as principais fontes das quais bebera o autor de O Alienista. Desses autores, ousadas são as considerações de Augusto Meyer por apresentar idéias inovadoras como a aproximação de Machado de Assis ao homem subterrâneo de Dostoievski, em seu livro intitulado Machado de Assis (1935). Em O ruído das festas e a fecundidade dos erros: como e por que reler Silvio Romero, (2004), João César de Castro Rocha destaca, que se o crítico naufragou em sua análise,... pelo menos vislumbrou terra. Ao reler a crítica romeriana, afirma Castro Rocha, descobrimos que ele foi o crítico oitocentista que mais próximo esteve de compreender os traços singulares da escritura de Machado: a veia humorística permeada de ceticismo; as influências; o aspecto técnico de sua ficção: ponto de vista, personagens, enredo, linguagem, a inscrição do leitor no texto entre outros. Machado de Assis: crítico literário O amadurecimento pela reflexão, o qual foi o fundamento de sua obra ficcional, serviu de critério na sua produção crítica. Assim, Machado nos legou importantes textos sobre o que pensava a respeito da situação da literatura brasileira e sobre o exercício da crítica, praticado no século XIX. Sua produção envolve ensaios teóricos como O Passado, o Presente e o Futuro da Literatura 2 (1858), O Ideal do Crítico (1865), Notícia da atual Literatura Brasileira Instinto de Nacionalidade (1873), diversas resenhas críticas, como aquela para o livro O Primo Basílio, de Eça de Queirós (1878), além de inúmeras críticas de teatro.
3 Uma de suas inquietações centrava-se na questão da identidade nacional, preocupação expressa claramente no ensaio de 09 de abril, de1858, O Passado, o Presente... A propósito deste ensaio, Lúcia Miguel declarou: É realmente notável sob muitos aspectos esse trabalho de um jovem de 19 anos que encarava a literatura como um meio de fixação da nacionalidade, reclamando contra a escravização aos cânones portugueses, condenando o indianismo porque a poesia indígena, bárbara, a poesia do boré e do tupã não é poesia nacional. (1988, p.62) Quando em 1858, Machado afirmou: se uma parte do povo está ainda aferrada às antigas idéias, cumpre ao talento educá-la, chama-la à esfera das idéias novas, das reformas, dos princípios dominantes, na verdade, ele decretava a tarefa que iria executar em boa parte de sua produção ficcional: educar o gosto do leitor. Nesse ensaio, a compreensão do destino que aponta para a literatura, é o início de pensamentos e atitudes futuras. Sete anos mais tarde, Machado dedica atenção exclusiva ao papel da crítica literária brasileira. O Ideal do Critico, texto de 1865, é uma espécie de compêndio, em que o romancista inicia uma crítica diferente daquela então praticada na época, em que se privilegiavam aspectos individuais dos autores. Dessa forma, podemos compreender suas observações como pertencentes à crítica militante de natureza orientadora e imparcial. Para ele, a crítica era indispensável à formação do leitor, além de servir como orientação de escritores em geral. Era necessário, portanto, que a crítica se impusesse para o justo reconhecimento dos valores, ou do talento e da capacidade criadora de cada um. (CASTELLO, 1969, p.27) Já naquela época, refletindo sobre uma das características cruciais para se exercer o bom julgamento de uma obra, Machado comparava a responsabilidade do exercício crítico com a tarefa do legislador, no que tange ao estabelecimento de regras no campo das artes. A alusão reclama a necessidade de paradigmas críticos, diante dos falsos ou superficiais julgamentos praticados com relação à literatura brasileira. Tais julgamentos estavam infiltrados do elogio fácil, retribuído, à crítica polêmica, freqüentemente impregnados da linguagem retórica. É o próprio Machado quem diz O crítico atualmente aceito não prima pela ciência literária... longe de resumir em duas linhas, cujas frases já o tipógrafo as tem feitas, o julgamento de uma obra, cumpre-lhe meditar profundamente sobre ela, procurar-lhe o sentido íntimo, aplicar-lhe as leis poéticas, ver enfim, até que ponto a imaginação e a verdade conferenciaram para aquela produção (1979, Obra Completa OC, III, p. 798) Cabe assim, a Machado de Assis a preocupação inicial com a atividade crítica, capaz de apreciar as obras literárias com imparcialidade, livre de intolerâncias. A crítica que de fato orientasse o leitor e oferecesse ao escritor sugestões positivas, como a que escreveu sobre O Primo Basílio, de Eça de Queirós, no periódico O Cruzeiro, em 16 e 30 de abril de Na crítica em questão, o autor orienta, de certa forma, as leituras do romance queiroziano entre nós, além de nos apresentar como ele visava à criação literária, às idéias estéticas, às discussões sobre estilo, os princípios de arte poética tradicional, ou novos fundamentos de uma teoria literária. Em 24 de março de 1873, Machado torna público o ensaio Notícia da Atual Literatura - Instinto de Nacionalidade, aliás, como os outros textos mencionados anteriormente, pertencentes à considerada primeira fase do escritor, conforme a divisão proposta por muitos críticos, que se referem às produções artísticas da fase romântica e, portanto, menos complexas, e às produções de maturidade, consideradas da segunda fase. No entanto, como bem observou Maria Aparecida Junqueira, em seu Projeto Estético-Literário Machadiano (2008, p ), a respeito de Notícia..., já em
4 sua chamada primeira fase, Machado deixa entrever seu desligamento do projeto romântico nacional. No ensaio, Instinto de Nacionalidade, Machado demonstra sua preocupação sobre a literatura brasileira e propõe uma reflexão quanto às necessidades que possuíam os escritores nacionais em ressaltar continuamente a vida brasileira e suas condições como prova e atestado de independência e de originalidade. Por isso, Machado argumenta contra a exclusividade de tais critérios para o processo de criação. Uma vez retirado de cena a superioridade do conteúdo como critério de legitimidade, Machado reivindica autonomia para o plano da relação estabelecida entre ficção e realidade, simbolizadas pela forma estética. Do impressionismo ao biografismo crítico Em História da Literatura Brasileira (1916), cap. XIX, Veríssimo mescla dados pessoais do autor com elementos literários, para justificar o humor e a ironia na obra machadiana. Veríssimo observou que já na primeira fase do romancista, existia uma marca em seus textos, a ironia, que o distinguia dos demais escritores do seu tempo. Histórias da meia-noite (1870) e Contos fluminenses (1873), traziam ressaibos românticos, embora atenuados pelo congênito pessimismo e nativa ironia do autor. Ora o Romantismo não comportava nem a ironia nem o pessimismo, na forma desenganada, risonha e resignada de Machado de Assis. Mas os contos que sucederam imediatamente àqueles, Papéis Avulsos (1882), Histórias sem data (1884), Várias Histórias (1905), muitos deles anteriores a Brás Cubas, trazem já evidente o tom deste. Desde, portanto, os anos 70, renunciando ao escasso Romantismo que nele havia, criava Machado de Assis uma maneira nova, muito sua, muito particular e muito distinta e por igual estreme daquela escola e das novas modas literárias. (p ) O trecho acima, esclarecido por Perrot (2006, p ) evidencia que a configuração da ironia na ficção machadiana, foi discutida por Veríssimo, não como um procedimento estrutural do texto, mas, como uma expressão da índole do escritor. O salto por cima da sombra Em se tratando de O Alienista, após um longo período de silêncio por parte da crítica, é possível perceber mudanças qualitativas no discurso crítico, a partir da década de 30. Depois das resenhas jornalísticas, escritas em 1882, por ocasião da publicação de Papéis Avulsos; da quarta conferência intitulada Machado de Assis, por Alfredo Pujol (1934) e da dissertação Psicologia Mórbida na obra de Machado de Assis (1918), de Luiz Ribeiro do Valle; é possível perceber certo silêncio da crítica com relação a O Alienista. Após esse longo período de mudez, Augusto Meyer publica Machado de Assis (1935) e dedica um dos capítulos do seu livro à análise de O Alienista. No capítulo intitulado Na casa verde, as observações de Augusto Meyer possibilitam a abertura de caminhos para futuras reflexões sobre a metalinguagem, utilizada em O Alienista, como recurso irônico, para desconstruir o estilo determinista em voga na literatura, ao mesmo tempo em que desperta novos estudos sobre o arsenal irônico, presença marcante na obra machadiana. Convém ressaltar, que Meyer parece corroborar com Veríssimo, no que se refere às características humorísticasr na criação artística machadiana. Para ele, o humor estaria associado a uma forma de auto-ironia. (MEYER,1935, p.83) Na década de 40, a crítica literária brasileira assinala o embate de dois modelos críticos. De um lado, um modelo representado pelo "homem de letras", o bacharel, que, sob a forma de resenhas, utilizava o jornal como instrumento necessário para a divulgação de suas críticas. É o caso de Álvaro Lins, Alceu Amoroso Lima, Otto Maria Carpeaux, entre muitos outros.
5 Por outro lado, surgia o crítico universitário que, ligado à especialização acadêmica, utilizava o livro e a cátedra como propagadores de suas idéias. Um grande exemplo de crítico universitário foi Afrânio Coutinho, que desencadearia uma campanha contra os chamados críticos de rodapé. Recebe o nome de rodapé, por designar o espaço físico ocupado por essa crítica, que às vezes era alternado com as colunas do jornal. A crítica de rodapé era fundamentada numa espécie de "não-especialização". Não possuía uma linguagem especificamente teórica e oscilava entre a crônica e o noticiário. O espaço reservado à literatura, inicialmente, tinha a finalidade de divulgar autores e obras literárias. Ao crítico-cronista, que tinha o seu lugar nos pés de página ou em colunas de jornais, cabia o papel de orientar e divulgar a cultura aos leitores. Todavia, com a criação das faculdades de Filosofia de São Paulo, em 1934, e do Rio de Janeiro, em 1938, o crítico de rodapé entra em disputa, diariamente nas páginas dos jornais, com os chamados críticos-scholares. Deste modo, como afirma Flora Sussekind: (...) se abriria espaço para um outro tipo de critério de avaliação profissional, para uma substituição do jornal pela universidade como "templo da cultura literária" e da figura do crítico enciclopédico e impressionista, com a sua habilidade para a crônica, pela do professor universitário, com seu jargão próprio e uma crença inabalável no papel "modernizador" que poderia exercer no campo dos estudos literários. (1993, p.20) O final dessa mesma década assinala uma ruptura com o exercício da crítica praticada na época, da qual emergem duas vertentes. De um lado, numa espécie de eterno retorno, os defensores do impressionismo, do autodidatismo, da review 1 como exibição de estilo, aventura da personalidade. (SUSSEKIND, 1993, p.15). De outro, Afrânio Coutinho, do Rio de Janeiro e Antonio Candido, de São Paulo, especialistas e contestadores da crítica subjetiva, como prática acadêmica. Com Afrânio Coutinho inicia-se uma mudança nos critérios de avaliação dos textos ficcionais. Trata-se de um momento de transformação da crítica brasileira, sobretudo, quando Coutinho regressa dos Estados Unidos, trazendo um conjunto novo de referências teóricas. Ele compilou textos dispersos da grande tríade da crítica literária brasileira do final do século XIX e início do XX: Silvio Romero, José Veríssimo e Araripe Júnior. Em seu A literatura no Brasil (1959), Coutinho apresenta uma nova maneira de ver a literatura brasileira. E aponta os elementos para os quais o crítico deveria mirar o seu olhar ao analisar um texto de ficção. Em capítulo exclusivo sobre Machado de Assis na Literatura Brasileira, Coutinho aponta os aspectos, dignos de juízo, que deveriam guiar o método crítico e garantir a legitimidade de uma obra. Essa nova maneira de olhar rejeitava o biografismo, o impressionismo e presumia a afirmação de uma autonomia plena dos elementos estéticos. Da geração de críticos praticantes da crítica estética, apontados por Afrânio Coutinho, destacam-se: Barreto Filho e Eugênio Gomes. (apud SUSSEKIND, 1993, p.22) Antonio Candido é outro nome de destaque dentro da geração de críticos, que passaram a questionar o modelo tradicional do homem de letras. (SUSSEKIND, op.cit. p.17). Para o autor, de 1 Segundo o dicionário Houaiss, a palavra é de origem inglesa. Significa resumo e por extensão de sentido: publicação periódica, especializada em resenha e crítica de livros recém-lançados, exposições de arte, peças teatrais etc., além de conter alguns artigos literários políticos etc.
6 Literatura e Sociedade (1985), o elemento social devia ser observado como fator da própria construção artística, o que equivale dizer que o social e o estético deveriam ser considerados em relação dialética. Em outro texto, que compõe Literatura e Cultura de 1900 a 1945 (1970), o crítico paulista chamava a atenção para a importância de se diferenciar o papel do romancista e do sociólogo. Em artigo polêmico para a época, publicado no jornal Folha da Manhã, em 11 de julho de 1943, Candido considera que : a distinção entre os limites da crítica é uma questão (...) mais cultural do que específica (...). À medida que se vai enriquecendo uma cultura, as suas produções se vão diferenciando; e a atividade crítica, paralelamente, se diferencia também. (apud SUSSEKIND, p.19). É o que evidenciamos ao selecionar e destacar os apontamentos da crítica que se inscreve a partir da década de 50, como ecos e aprimoramentos das observações feitas por Antonio Candido. As décadas de 60 a 70 registram a forte presença das estéticas: new-criticism, formalismo, estilística, estruturalismo, lukacsianismo. Essas correntes de pensamento, espécies de truques retóricos, transformaram-se em métodos que eram seguidos à risca por quem os tomava. Destarte, a crítica dessa época apresentava uma característica mecanicista. Muitas análises praticadas sob essa óptica configuravam a frieza da linguagem enciclopédica e reduziam o teor de literalidade da obra. Os autores que optaram por depurar e assimilar de forma crítica os ismos dessas vertentes, deixaram uma herança riquíssima para os novos estudos que se seguiram. Nesse contexto de evolução dos métodos críticos, Luiz da Costa Lima, no ensaio Duas aproximações ao não como sim (2004), recupera no pensamento de Augusto de Campos, as teorias do concretismo e conclui que as discussões em torno das formas literárias, não poderiam ser tratadas como frivolidades. Ao pensar a literatura como forma, Lima produziu um brilhante artigo sobre O Palimpsesto de Itaguaí (LIMA, 1991). No texto, o autor faz referência à técnica do discurso rasurado, freqüentemente explorado por Machado de Assis, que segundo Lima, consiste em dizer sem deixar vestígios. Em O Alienista, esse recurso consistiria à estratégia de distanciamento do narrador, que intentaria marcar a sua impessoalidade, apenas dissimulada, diante dos fatos narrados. Outro crítico, Haroldo de Campos, incompreendido muitas vezes, pela complexidade de seu pensamento, em A arte no horizonte do provável (1977) apresenta a sua razão poética. Em diálogo explícito com Ezra Pound e Roland Barthes, entende a poesia, como uma linguagem carregada de significação, qualidade que faz convergir para elementos da metalinguagem. Campos demonstra o seu questionamento entre os limites da linguagem e da comunicabilidade e não é raro encontrar em suas análises literárias, referências teóricas a lingüistas, como Roman Jakobson. No artigo, Arte pobre, tempo de pobreza, poesia menos (1992), Haroldo observa que a contradição e a ambigüidade em Machado de Assis estão presentes, inicialmente, nos recursos lingüísticos e estilísticos adotados pelo escritor, e o estilo machadiano, feito de lacunas e reiterações, de elipse e redundância, de baixa temperatura vocabular e alta temperatura informacional estética caminharia no sentido oposto de nossa tradição literária, interessada antes numa poesia mais.(p.222) A esta, Haroldo contrapõe a poesia menos, que teria em Machado seu primeiro representante, num fio que conduziria em seguida a Oswald de Andrade e continuaria com Graciliano, Drummond e João Cabral, chegando em Augusto de Campos e na poesia concreta.
7 Esse texto de Haroldo de Campos (1992) quando vem a público em 1963, fornece uma discussão sobre os equívocos cometidos por Silvio Romero, a respeito da apresentação de Machado de Assis. Na tese de Haroldo de Campos, Romero foi o crítico oitocentista que mais próximo esteve de compreender os predicados da prosa machadiana: a fragmentação narrativa; a recusa do discurso grandiloqüente; a visão cética do mundo; a desconstrução de sistemas filosóficos; a irônica compreensão da realidade brasileira e o estilo gago que atravessa o texto ziguezagueando. Dessas proposições, explicitamente arraigadas nas teorias lingüísticas e semióticas, Haroldo de Campos comprova a sua tese, de que o procedimento menos na literatura brasileira aparece quando Sílvio Romero denuncia o estilo gago de Machado de Assis. Para Romero, a arte de Machado era pobre porque se opunha ao colorido abundante, porque lhe falta a vibração de períodos amplos e fortes, como os de um Coelho Neto, por exemplo. Para o crítico, não há em Machado uma cadência oratória, nem uma riqueza vocabular enquanto acumulação quantitativa de efeitos. No entanto, encontramos no texto machadiano uma alta temperatura informacional estética muito valorizada enquanto característica literária, e que não foi reconhecida por Sílvio Romero, talvez por sua cegueira pessoal em relação à obra e à figura do autor de O Alienista. Ao refletir sobre as escolhas conscientes de recursos estilísticos e lingüísticos, de Machado de Assis, à luz das observações apontadas por Sílvio Romero, Campos reafirma a importância de se lançar um olhar atento para o objeto literário. Referências Bibliográficas [1] CAMPOS, Haroldo de. A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspectiva, 1977 [1ª1969] [2]. Arte pobre,tempo de pobreza, poesia menos. In.Metalinguagem e outras metas: ensaios de teoria e crítica literária. São Paulo: Perspectiva, 1992 [1963] [3] CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura de 1900a São Paulo: ECA, 1970 [4]. Literatura e sociedade. São Paulo: Ed. Nacional, [ed. 1965] [5]. O método crítico de Sílvio Romero. São Paulo: EDUSP, [6] CASTELLO, José Aderaldo. Realidade e Ilusão em Machado de Assis. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969 [7] COUTINHO, Afrânio. A filosofia de Machado de Assis e outros ensaios. Rio de Janeiro: Livraria São José, [8]. "Ensaio e crônica: A literatura no Brasil. Org. Afrânio Coutinho. Vol. 6. Rio de Janeiro: Sul Americana, [9]. Caminhos do pensamento crítico. Rio de Janeiro: Americana, Prolivro, 1974 vol.i [10] JUNQUEIRA, Maria Aparecida. O Projeto Estético-literário machadiano. In: DUARTE, MARIANO, Ana Sales, Maria Rosa Duarte de Oliveira (orgs.) Recortes Machadianos. São Paulo: EDUC, [11] LIMA, Luiz Costa. Dispersa demanda: Ensaios sobre Literatura e Teoria. Rio de Janeiro: F.Alves Editora, [12]. O palimpsesto de Itaguaí. In:. Pensando nos trópicos. Rio de Janeiro: Rocco, [1976] [13] MACHADO DE ASSIS, J. M. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguillar. Vols. I, II e III, 1979
8 [14] MEYER, Augusto. Machado de Assis. Porto Alegre: Globo, 1935 [15] PEREIRA, Lúcia Miguel. Machado de Assis: estudo crítico e biográfico. 6ªed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1988 [1ª 1936]. [16] PERROT, Andrea Czarnobay. Machado de Assis e a ironia: estilo e visão de mundo. Tese de doutoramento em Literatura Brasileira apresentada em 2006 à UFRS. [17] PUJOL, Alfredo. Machado de Assis. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1934 [1ª ed. 1917] [18] ROCHA, João César de Castro. O ruído das festas e a fecundidade dos erros: como e por que reler Sílvio Romero. Rio de Janeiro: Editora Museu da República, Publicado originalmente em Revista Tempo Brasileiro nº 145, [2001] [19] ROMERO, Sílvio. História da literatura brasileira. Edição comemorativa. Tomo I. Luiz Antonio Barreto (org.). Rio de Janeiro: Imago / Aracaju: Universidade Federal de Sergipe, 2001 [1888], p [20] ROMERO, Silvio. Machado de Assis: estudo comparativo de literatura. Campinas : Ed. da UNICAMP, 1992, 1ª ed [21] SUSSEKIND. Flora. Papéis Colados. Rio de Janeiro: UFRJ, [22] VALLE, Luiz Ribeiro do. Psychologia Mórbida na obra de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Typ. Lith. Pimenta de Mello, 1918 [1917] [23] VERÍSSIMO, José. História da Literatura Brasileira: de Bento Teixeira (1601) a Machado de Assis (1908) Rio de Janeiro: F. Alves, Ana Ferreira Silva, mestranda Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) Literatura e Crítica Literária profanaferreira@terra.com.br 2 Os quatro ensaios críticos referenciados estão organizados em MACHADO de Assis. J.M.Obra Completa. Rio de Janeiro:.Nova Aguilar, Vol. III.
PERÍODO 83.1 / 87.2 PROGRAMA EMENTA:
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PERÍODO 83.1 / 87.2 EMENTA: Os gêneros literários: divisão e evolução. Caracterização segundo critérios intrínsecos e / ou extrínsecos. A teoria clássica e as teorias modernas
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PERÍODO 83.1 / 87.2 EMENTA: Os gêneros literários: divisão e evolução. Caracterização segundo critérios intrínsecos e / ou extrínsecos. A teoria clássica e as teorias modernas
DISCIPLINA: HISTÓRIA E CRÍTICA LITERÁRIA: RELAÇÕES CULTURAIS ENTRE BRASIL E PORTUGAL
 DISCIPLINA: HISTÓRIA E CRÍTICA LITERÁRIA: RELAÇÕES CULTURAIS ENTRE BRASIL E PORTUGAL NÚMERO DE CRÉDITOS: 08 créditos CARGA HORÁRIA: 120 h/a DOCENTE RESPONSÁVEL: Dr. Marcio Roberto Pereira EMENTA A proposta
DISCIPLINA: HISTÓRIA E CRÍTICA LITERÁRIA: RELAÇÕES CULTURAIS ENTRE BRASIL E PORTUGAL NÚMERO DE CRÉDITOS: 08 créditos CARGA HORÁRIA: 120 h/a DOCENTE RESPONSÁVEL: Dr. Marcio Roberto Pereira EMENTA A proposta
DISCIPLINA DE LITERATURA OBJETIVOS: 1ª Série
 DISCIPLINA DE LITERATURA OBJETIVOS: 1ª Série Possibilitar reflexões de cunho histórico-cultural por meio da literatura, entendendo o processo de formação desta no Brasil e no ocidente. Explorar variedades
DISCIPLINA DE LITERATURA OBJETIVOS: 1ª Série Possibilitar reflexões de cunho histórico-cultural por meio da literatura, entendendo o processo de formação desta no Brasil e no ocidente. Explorar variedades
GUIMARÃES, Eduardo. História da Semântica. Sujeito, Sentido e Gramática no Brasil. Campinas, Pontes, 2004, 142 p. Maurício da Silva *
 GUIMARÃES, Eduardo. História da Semântica. Sujeito, Sentido e Gramática no Brasil. Campinas, Pontes, 2004, 142 p. Maurício da Silva * Os estudos acerca da significação, no Brasil, são pode-se dizer tardios,
GUIMARÃES, Eduardo. História da Semântica. Sujeito, Sentido e Gramática no Brasil. Campinas, Pontes, 2004, 142 p. Maurício da Silva * Os estudos acerca da significação, no Brasil, são pode-se dizer tardios,
ATIVIDADE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA MODERNA PROFESSOR: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SARMENTO-PANTOJA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ABAETETUBA - CAAB FACULDADE DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM - FACL CURSO LETRAS LICENCIATURA EM LETRAS PLANO DE CURSO ATIVIDADE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ABAETETUBA - CAAB FACULDADE DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM - FACL CURSO LETRAS LICENCIATURA EM LETRAS PLANO DE CURSO ATIVIDADE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA
UNICAMP II GÊNEROS DISCURSIVOS. CRÔNICA: Trata fatos do cotidiano cujo objetivo é despertar no leitor reflexão. CONTEÚDO:
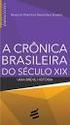 UNICAMP II GÊNEROS DISCURSIVOS CRÔNICA: Trata fatos do cotidiano cujo objetivo é despertar no leitor reflexão. CONTEÚDO: Temas cotidianos; Tom de realidade; Conteúdo subjetivo por não ser fiel à realidade.
UNICAMP II GÊNEROS DISCURSIVOS CRÔNICA: Trata fatos do cotidiano cujo objetivo é despertar no leitor reflexão. CONTEÚDO: Temas cotidianos; Tom de realidade; Conteúdo subjetivo por não ser fiel à realidade.
SUPLEMENTO DE ATIVIDADES
 SUPLEMENTO DE ATIVIDADES 1 NOME: N O : ESCOLA: SÉRIE: Um dos mais importantes escritores portugueses, Eça de Queirós foi um arguto analista da sociedade e das relações humanas. Crítico implacável, satirista
SUPLEMENTO DE ATIVIDADES 1 NOME: N O : ESCOLA: SÉRIE: Um dos mais importantes escritores portugueses, Eça de Queirós foi um arguto analista da sociedade e das relações humanas. Crítico implacável, satirista
Aula MACHADO DE ASSIS E O REALISMO BRASILEIRO. META Apresentar e discutir o lugar da obra de Machado de Assis na literatura brasileira realista.
 MACHADO DE ASSIS E O REALISMO BRASILEIRO META Apresentar e discutir o lugar da obra de Machado de Assis na literatura brasileira realista. OBJETIVOS social; realista; - Releitura das aulas 1, 2 e 3. (Fonte:
MACHADO DE ASSIS E O REALISMO BRASILEIRO META Apresentar e discutir o lugar da obra de Machado de Assis na literatura brasileira realista. OBJETIVOS social; realista; - Releitura das aulas 1, 2 e 3. (Fonte:
Literatura Brasileira Código HL ª: 10h30-12h30
 Código HL 012 Nome da disciplina VI Turma A 3ª: 07h30-09h30 6ª: 10h30-12h30 Pedro Dolabela Programa resumido Falaremos do romance no Brasil entre 1964 e 1980 sob uma série de perspectivas simultâneas:
Código HL 012 Nome da disciplina VI Turma A 3ª: 07h30-09h30 6ª: 10h30-12h30 Pedro Dolabela Programa resumido Falaremos do romance no Brasil entre 1964 e 1980 sob uma série de perspectivas simultâneas:
SUPLEMENTO DE ATIVIDADES
 SUPLEMENTO DE ATIVIDADES 1 NOME: N O : ESCOLA: SÉRIE: Considerado um dos mais importantes romances brasileiros, Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, se inscreveu de forma
SUPLEMENTO DE ATIVIDADES 1 NOME: N O : ESCOLA: SÉRIE: Considerado um dos mais importantes romances brasileiros, Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, se inscreveu de forma
TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIA SÉCULO XX
 TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIA SÉCULO XX Abordagens extrínsecas Literatura e Biografia Tese: a biografia do autor explica e ilumina a obra. Objeções: 1) O conhecimento biográfico pode ter valor exegético,
TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIA SÉCULO XX Abordagens extrínsecas Literatura e Biografia Tese: a biografia do autor explica e ilumina a obra. Objeções: 1) O conhecimento biográfico pode ter valor exegético,
RESOLUÇÃO Nº 63/2002
 RESOLUÇÃO Nº 63/2002 Estabelece a relação de obras literárias do Processo Seletivo da UFES para ingresso nos cursos de graduação nos anos letivos de 2004, 2005 e 2006. O DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
RESOLUÇÃO Nº 63/2002 Estabelece a relação de obras literárias do Processo Seletivo da UFES para ingresso nos cursos de graduação nos anos letivos de 2004, 2005 e 2006. O DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
Shakespeare. o gênio original
 Shakespeare o gênio original Coleção ESTÉTICAS direção: Roberto Machado Kallias ou Sobre a Beleza Friedrich Schiller Ensaio sobre o Trágico Peter Szondi Nietzsche e a Polêmica sobre O Nascimento da Tragédia
Shakespeare o gênio original Coleção ESTÉTICAS direção: Roberto Machado Kallias ou Sobre a Beleza Friedrich Schiller Ensaio sobre o Trágico Peter Szondi Nietzsche e a Polêmica sobre O Nascimento da Tragédia
Winnie Wouters Fernandes Monteiro (Graduanda UEL/Londrina-PR) Profa. Dra. Sonia Aparecida Vido Pascolati (Orientadora UEL/Londrina-PR)
 II Colóquio da Pós-Graduação em Letras UNESP Campus de Assis ISSN: 2178-3683 www.assis.unesp.br/coloquioletras coloquiletras@yahoo.com.br CRÍTICOS-CRIADORES: ANÁLISES SOB O TEATRO E A CRÍTICA DE OSWALD
II Colóquio da Pós-Graduação em Letras UNESP Campus de Assis ISSN: 2178-3683 www.assis.unesp.br/coloquioletras coloquiletras@yahoo.com.br CRÍTICOS-CRIADORES: ANÁLISES SOB O TEATRO E A CRÍTICA DE OSWALD
HORÁRIO DO CURSO DE LETRAS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO ANO LETIVO DE º ANO/1º SEMESTRE
 HORÁRIO DO CURSO DE LETRAS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO ANO LETIVO DE 2014 1º ANO/1º SEMESTRE 2 aulas) Observação: Leitura e Produção de Textos I * * (LNG1050) Habilidades Básicas Integradas do Inglês: Produção
HORÁRIO DO CURSO DE LETRAS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO ANO LETIVO DE 2014 1º ANO/1º SEMESTRE 2 aulas) Observação: Leitura e Produção de Textos I * * (LNG1050) Habilidades Básicas Integradas do Inglês: Produção
2. 1 A poesia trovadoresca - Leitura de cantigas de amor e de amigo semântico, sintático, lexical e sonoro;
 EIXO TEMÁTICO: 1 TEXTO LITERÁRIO E NÃO LITERÁRIO 1) Analisar o texto em todas as suas dimensões: semântica, sintática, lexical e sonora. 1. Diferenciar o texto literário do não-literário. 2. Diferenciar
EIXO TEMÁTICO: 1 TEXTO LITERÁRIO E NÃO LITERÁRIO 1) Analisar o texto em todas as suas dimensões: semântica, sintática, lexical e sonora. 1. Diferenciar o texto literário do não-literário. 2. Diferenciar
FACULDADE SUMARÉ PLANO DE ENSINO
 FACULDADE SUMARÉ PLANO DE ENSINO Curso:Licenciatura em Letras Língua Portuguesa Semestre Letivo / Turno: 6º Semestre Disciplina: Literaturas Étnicas em Língua Professores: José Wildzeiss Neto / Ana Lúcia
FACULDADE SUMARÉ PLANO DE ENSINO Curso:Licenciatura em Letras Língua Portuguesa Semestre Letivo / Turno: 6º Semestre Disciplina: Literaturas Étnicas em Língua Professores: José Wildzeiss Neto / Ana Lúcia
Bárbara da Silva. Literatura. Aula 15 - Realismo
 Bárbara da Silva Literatura Aula 15 - Realismo O Realismo é marcado por uma transição política, social e econômica no Brasil, que ainda era colônia, passando de Segundo Reinado. Neste momento o tráfico
Bárbara da Silva Literatura Aula 15 - Realismo O Realismo é marcado por uma transição política, social e econômica no Brasil, que ainda era colônia, passando de Segundo Reinado. Neste momento o tráfico
PRINCIPAIS OBRAS DE LEODEGÁRIO A. DE AZEVEDO FILHO
 PRINCIPAIS OBRAS DE LEODEGÁRIO A. DE AZEVEDO FILHO 1. Alguns Problemas do Idioma. Rio de Janeiro: Gráfica Carioca, 1953. 2. Didática Especial de Português. Rio de Janeiro: Editora Conquista, 1958. 3. A
PRINCIPAIS OBRAS DE LEODEGÁRIO A. DE AZEVEDO FILHO 1. Alguns Problemas do Idioma. Rio de Janeiro: Gráfica Carioca, 1953. 2. Didática Especial de Português. Rio de Janeiro: Editora Conquista, 1958. 3. A
09 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA)
 09 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA) PALESTRAS PALESTRA PALESTRANTE O artesanato em Mato Grosso do Sul Gilberto Luiz Alves 10h30 Leitura e Literatura: Estratégia de Compreensão Renata Junqueira 16h PAVILHÃO DO
09 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA) PALESTRAS PALESTRA PALESTRANTE O artesanato em Mato Grosso do Sul Gilberto Luiz Alves 10h30 Leitura e Literatura: Estratégia de Compreensão Renata Junqueira 16h PAVILHÃO DO
Português 11º ano PLANIFICAÇÃO ANUAL Ano letivo 2016/2017
 OBJETIVOS GERAIS 1. Compreender textos orais de complexidade crescente e de diferentes géneros, apreciando a sua intenção e a sua eficácia comunicativas. 2. Utilizar uma expressão oral correta, fluente
OBJETIVOS GERAIS 1. Compreender textos orais de complexidade crescente e de diferentes géneros, apreciando a sua intenção e a sua eficácia comunicativas. 2. Utilizar uma expressão oral correta, fluente
Gestão cultural.
 Universidade de São Paulo Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI Museu de Arte Contemporânea - MAC Artigos e Materiais de Revistas Científicas - MAC 2009 Gestão cultural http://www.producao.usp.br/handle/bdpi/51141
Universidade de São Paulo Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI Museu de Arte Contemporânea - MAC Artigos e Materiais de Revistas Científicas - MAC 2009 Gestão cultural http://www.producao.usp.br/handle/bdpi/51141
LITERATURA POTIGUAR NA SALA DE AULA
 1 LITERATURA POTIGUAR NA SALA DE AULA Autor MARCEL LÚCIO MATIAS RIBEIRO 2 GOVERNO DO BRASIL Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Ministro da Educação FERNANDO HADADD Secretário de Educação
1 LITERATURA POTIGUAR NA SALA DE AULA Autor MARCEL LÚCIO MATIAS RIBEIRO 2 GOVERNO DO BRASIL Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Ministro da Educação FERNANDO HADADD Secretário de Educação
PLANO DE DISCIPLINA DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR NOME: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA II CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO
 PLANO DE DISCIPLINA DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR NOME: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA II CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO SÉRIE: 2º ANO CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 120 H/A
PLANO DE DISCIPLINA DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR NOME: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA II CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO SÉRIE: 2º ANO CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 120 H/A
EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE LETRAS-IRATI (Currículo iniciado em 2009) LETRAS-PORTUGUÊS
 EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE LETRAS-IRATI (Currículo iniciado em 2009) LETRAS-PORTUGUÊS DIDÁTICA 0545/I C/H 68 A didática e o ensino de línguas. O planejamento e a avaliação escolar no processo
EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE LETRAS-IRATI (Currículo iniciado em 2009) LETRAS-PORTUGUÊS DIDÁTICA 0545/I C/H 68 A didática e o ensino de línguas. O planejamento e a avaliação escolar no processo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS FACULDADE DE LETRAS
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS FACULDADE DE LETRAS NOME DA DISCIPLINA: LITERATURA PORTUGUESA 2 PROFESSOR RESPONSÁVEL: Rogério Santana CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64h CARGA HORÁRIA SEMANAL:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS FACULDADE DE LETRAS NOME DA DISCIPLINA: LITERATURA PORTUGUESA 2 PROFESSOR RESPONSÁVEL: Rogério Santana CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64h CARGA HORÁRIA SEMANAL:
BRANDÃO, Luís Alberto. Teorias do espaço literário. São Paulo: Perspectiva, 2013.
 BRANDÃO, Luís Alberto. Teorias do espaço literário. São Paulo: Perspectiva, 2013. Fabrício César de Aguiar *1 O livro Teorias do espaço literário, de Luís Alberto Brandão, apresenta uma imensa contribuição
BRANDÃO, Luís Alberto. Teorias do espaço literário. São Paulo: Perspectiva, 2013. Fabrício César de Aguiar *1 O livro Teorias do espaço literário, de Luís Alberto Brandão, apresenta uma imensa contribuição
Educação, articulação e complexidade por Edgar Morin. Elza Antonia Spagnol Vanin*
 Educação, articulação e complexidade por Edgar Morin Elza Antonia Spagnol Vanin* Cadernos do CEOM - Ano 17, n. 20 - Imagens e Linguagens O francês Edgar Morin é um dos maiores pensadores multidisciplinares
Educação, articulação e complexidade por Edgar Morin Elza Antonia Spagnol Vanin* Cadernos do CEOM - Ano 17, n. 20 - Imagens e Linguagens O francês Edgar Morin é um dos maiores pensadores multidisciplinares
Estudo dos gêneros literários
 Estudo dos gêneros literários Os gêneros literários são um conjunto de obras que apresentam características semelhantes tanto em termos de forma como conteúdo. Existem três categorias básicas de gênero:
Estudo dos gêneros literários Os gêneros literários são um conjunto de obras que apresentam características semelhantes tanto em termos de forma como conteúdo. Existem três categorias básicas de gênero:
O DIÁLOGO ENTRE LITERATURA E FILOSOFIA NA FICÇÃO BRASILEIRA DO SÉCULO XX
 PROJETO DE PESQUISA O DIÁLOGO ENTRE LITERATURA E FILOSOFIA NA FICÇÃO BRASILEIRA DO SÉCULO XX Profª. Ms. Patrícia Chanely da Silva Ricarte Coordenadora Prof. Paulo Alberto da Silva Sales Colaborador Acadêmica:
PROJETO DE PESQUISA O DIÁLOGO ENTRE LITERATURA E FILOSOFIA NA FICÇÃO BRASILEIRA DO SÉCULO XX Profª. Ms. Patrícia Chanely da Silva Ricarte Coordenadora Prof. Paulo Alberto da Silva Sales Colaborador Acadêmica:
PROJETO DE PESQUISA PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA
 PROJETO DE PESQUISA PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA O Gênero Resenha Literária nas Crônicas de Olavo Bilac publicadas na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro Beatriz Cristine Honrado (NºUSP: 9305799) Orientador:
PROJETO DE PESQUISA PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA O Gênero Resenha Literária nas Crônicas de Olavo Bilac publicadas na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro Beatriz Cristine Honrado (NºUSP: 9305799) Orientador:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: a Literatura no Enem. Literatura Brasileira 3ª série EM Prof.: Flávia Guerra
 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: a Literatura no Enem Literatura Brasileira 3ª série EM Prof.: Flávia Guerra Competência de área 4 Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: a Literatura no Enem Literatura Brasileira 3ª série EM Prof.: Flávia Guerra Competência de área 4 Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação
Material de divulgação da Editora Moderna
 Material de divulgação da Editora Moderna Professor, nós, da Editora Moderna, temos como propósito uma educação de qualidade, que respeita as particularidades de todo o país. Desta maneira, o apoio ao
Material de divulgação da Editora Moderna Professor, nós, da Editora Moderna, temos como propósito uma educação de qualidade, que respeita as particularidades de todo o país. Desta maneira, o apoio ao
7 Referências Bibliográficas
 7 Referências Bibliográficas ABDALA JR., Benjamin. A escrita neo-realista: análise sócio-estilística dos romances de Carlos de Oliveira e Graciliano Ramos. São Paulo: Ática, 1981.. Os cravos de abril In.
7 Referências Bibliográficas ABDALA JR., Benjamin. A escrita neo-realista: análise sócio-estilística dos romances de Carlos de Oliveira e Graciliano Ramos. São Paulo: Ática, 1981.. Os cravos de abril In.
O ROMANTISMO. O Romantismo é um movimento surgido na Europa e, a partir dela, no Brasil, no fim do
 ROMANTISMO O ROMANTISMO O Romantismo é um movimento surgido na Europa e, a partir dela, no Brasil, no fim do século XVIII. Perdura até meados do século XIX. Opunhase ao classicismo, ao racionalismo e Iluminismo.
ROMANTISMO O ROMANTISMO O Romantismo é um movimento surgido na Europa e, a partir dela, no Brasil, no fim do século XVIII. Perdura até meados do século XIX. Opunhase ao classicismo, ao racionalismo e Iluminismo.
A coleção Português Linguagens e os gêneros discursivos nas propostas de produção textual
 A coleção Português Linguagens e os gêneros discursivos nas propostas de produção textual Marly de Fátima Monitor de Oliveira Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp Araraquara e-mail:
A coleção Português Linguagens e os gêneros discursivos nas propostas de produção textual Marly de Fátima Monitor de Oliveira Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp Araraquara e-mail:
Portuguesa. divulgação. Língua. Comparativos curriculares. Material de
 Comparativos curriculares SM Língua Portuguesa Material de divulgação de Edições SM A coleção Ser Protagonista Língua Portuguesa e o currículo do Estado de Santa Catarina Apresentação Professor, Devido
Comparativos curriculares SM Língua Portuguesa Material de divulgação de Edições SM A coleção Ser Protagonista Língua Portuguesa e o currículo do Estado de Santa Catarina Apresentação Professor, Devido
LITERATURA POTIGUAR NA SALA DE AULA
 1 LITERATURA POTIGUAR NA SALA DE AULA Autor MARCEL LÚCIO MATIAS RIBEIRO 2 GOVERNO DO BRASIL Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Ministro da Educação FERNANDO HADADD Secretário de Educação
1 LITERATURA POTIGUAR NA SALA DE AULA Autor MARCEL LÚCIO MATIAS RIBEIRO 2 GOVERNO DO BRASIL Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Ministro da Educação FERNANDO HADADD Secretário de Educação
CURSO ANO LETIVO PERIODO/ANO Departamento de Letras º CÓDIGO DISCIPLINA CARGA HORÁRIA
 CURSO ANO LETIVO PERIODO/ANO Departamento de Letras 2017 4º CÓDIGO DISCIPLINA CARGA HORÁRIA Literatura Brasileira III 04h/a xxx xxx 60 h/a xxx xxx EMENTA Visão das estéticas modernas do pré-modernismo
CURSO ANO LETIVO PERIODO/ANO Departamento de Letras 2017 4º CÓDIGO DISCIPLINA CARGA HORÁRIA Literatura Brasileira III 04h/a xxx xxx 60 h/a xxx xxx EMENTA Visão das estéticas modernas do pré-modernismo
TEORIA DA LITERATURA 1ª. VISÃO
 TEORIA DA LITERATURA 1ª. VISÃO Pode-se teorizar sobre a literatura? A academia de Atenas - Rafael É com Platão (séculos V-IV a.c.) e Aristóteles (século IV a.c.) que a análise da literatura assume contornos
TEORIA DA LITERATURA 1ª. VISÃO Pode-se teorizar sobre a literatura? A academia de Atenas - Rafael É com Platão (séculos V-IV a.c.) e Aristóteles (século IV a.c.) que a análise da literatura assume contornos
A construção do tempo nacional na historiografia brasileira do século XIX Estágio docente da doutoranda Nathália Sanglard
 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA A construção do tempo nacional na historiografia brasileira do século XIX Estágio docente da doutoranda Nathália Sanglard Ementa:
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA A construção do tempo nacional na historiografia brasileira do século XIX Estágio docente da doutoranda Nathália Sanglard Ementa:
Primeira Geração ( )
 LITERATURA Primeira Geração (1922-1930) Caracteriza-se por ser uma tentativa de definir e marcar posições. Período rico em manifestos e revistas de vida efêmera. Um mês depois da SAM, a política vive dois
LITERATURA Primeira Geração (1922-1930) Caracteriza-se por ser uma tentativa de definir e marcar posições. Período rico em manifestos e revistas de vida efêmera. Um mês depois da SAM, a política vive dois
Matéria: literatura Assunto: pintura - tarsila do amaral Prof. IBIRÁ
 Matéria: literatura Assunto: pintura - tarsila do amaral Prof. IBIRÁ Literatura TARSILA DO AMARAL Introdução Tarsila do Amaral foi uma das mais importantes pintoras brasileiras do movimento modernista.
Matéria: literatura Assunto: pintura - tarsila do amaral Prof. IBIRÁ Literatura TARSILA DO AMARAL Introdução Tarsila do Amaral foi uma das mais importantes pintoras brasileiras do movimento modernista.
PROPOSTA CURSO DE LETRAS HORÁRIO 2017
 CURSO DE LETRAS 1 ANO - 1º SEMESTRE - PERÍODO DIURNO E NOTURNO Estudos Literários I LTE5028 Variação e Mudança Linguísticas LNG5027 Língua Alemã I *LEM5108 Introdução à Língua Italiana: noções gerais *LEM5152
CURSO DE LETRAS 1 ANO - 1º SEMESTRE - PERÍODO DIURNO E NOTURNO Estudos Literários I LTE5028 Variação e Mudança Linguísticas LNG5027 Língua Alemã I *LEM5108 Introdução à Língua Italiana: noções gerais *LEM5152
CRÔNICA O Primeiro Dia de Foca 1. Janaína Evelyn Miléo CALDERARO 2 Luana Geyselle Flores de MOURA 3 Macri COLOMBO 4 Faculdade Boas Novas, Manaus, AM
 CRÔNICA O Primeiro Dia de Foca 1 Janaína Evelyn Miléo CALDERARO 2 Luana Geyselle Flores de MOURA 3 Macri COLOMBO 4 Faculdade Boas Novas, Manaus, AM RESUMO Tendo em vista que a crônica trata-se de uma narrativa
CRÔNICA O Primeiro Dia de Foca 1 Janaína Evelyn Miléo CALDERARO 2 Luana Geyselle Flores de MOURA 3 Macri COLOMBO 4 Faculdade Boas Novas, Manaus, AM RESUMO Tendo em vista que a crônica trata-se de uma narrativa
CONTEÚDOS PARA AS PROVAS FINAIS - 2º ANO EM
 CONTEÚDOS PARA AS PROVAS FINAIS - 2º ANO EM - 2016 PORTUGUÊS FÍSICA Interpretação textual/ Análise de produção textual Diferença entre análise morfológica, sintática e semântica Verbos definição, exemplos,
CONTEÚDOS PARA AS PROVAS FINAIS - 2º ANO EM - 2016 PORTUGUÊS FÍSICA Interpretação textual/ Análise de produção textual Diferença entre análise morfológica, sintática e semântica Verbos definição, exemplos,
Priscila Rosa Martins*
 Resenha UM PASSEIO CARIOCA Priscila Rosa Martins* Afinal, mais importante do que o suicídio, mais importante do que a morte, é a vida, que nem sequer pede licença para prosseguir. (Luiz Carlos Simon)
Resenha UM PASSEIO CARIOCA Priscila Rosa Martins* Afinal, mais importante do que o suicídio, mais importante do que a morte, é a vida, que nem sequer pede licença para prosseguir. (Luiz Carlos Simon)
História e História da Educação O debate teórico-metodológico atual*
 História e História da Educação O debate teórico-metodológico atual* Nadia Gaiofatto** Como o próprio título bem define, o livro em questão reúne importantes contribuições para a reflexão sobre a relação
História e História da Educação O debate teórico-metodológico atual* Nadia Gaiofatto** Como o próprio título bem define, o livro em questão reúne importantes contribuições para a reflexão sobre a relação
Matriz de referência de LÍNGUA PORTUGUESA - SAERJINHO 5 ANO ENSINO FUNDAMENTAL
 7 5 ANO ENSINO FUNDAMENTAL H0 Ler frases. Períodos compostos. H03 Inferir uma informação em um H04 Identificar o tema Trabalhar o tema baseando-se na complexidade do texto, partindo de um texto de curta
7 5 ANO ENSINO FUNDAMENTAL H0 Ler frases. Períodos compostos. H03 Inferir uma informação em um H04 Identificar o tema Trabalhar o tema baseando-se na complexidade do texto, partindo de um texto de curta
latim persona máscara
 A PERSONAGEM latim persona máscara É um simulacro; personagem X pessoa; Verdade X verossimilhança; ela precisa ser verossímil. PERSONAGEM SÓ APARECE NO TEXTO LITERÁRIO???? Figura humana representada em
A PERSONAGEM latim persona máscara É um simulacro; personagem X pessoa; Verdade X verossimilhança; ela precisa ser verossímil. PERSONAGEM SÓ APARECE NO TEXTO LITERÁRIO???? Figura humana representada em
1º ano LINGUAGEM E INTERAÇÃO
 A escrita com instrumento de interação social Opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem verbal Unidade 4 - capítulo 12, 13 e 14 Palavras: emprego e valor semânticodiscursivo;
A escrita com instrumento de interação social Opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem verbal Unidade 4 - capítulo 12, 13 e 14 Palavras: emprego e valor semânticodiscursivo;
FACULDADE SUMARÉ PLANO DE ENSINO. Professores: 2º SEMESTRE / 2014
 FACULDADE SUMARÉ PLANO DE ENSINO Curso: Licenciatura em Letras Língua ESpanhola Componente Curricular: Teoria da Literatura II Carga Horária: 50h Semestre/ Módulo: 2º semestre Professores: Período: 2º
FACULDADE SUMARÉ PLANO DE ENSINO Curso: Licenciatura em Letras Língua ESpanhola Componente Curricular: Teoria da Literatura II Carga Horária: 50h Semestre/ Módulo: 2º semestre Professores: Período: 2º
6. Referências Bibliográficas
 84 6. Referências Bibliográficas ALMEIDA, P. M. de. Carta para Carlos Drummond de Andrade. São Paulo, 10 de nov. de 1977. 5 f. Arquivo-Museu de Literatura Brasileira. Fundação Casa de Rui Barbosa. ANDRADE,
84 6. Referências Bibliográficas ALMEIDA, P. M. de. Carta para Carlos Drummond de Andrade. São Paulo, 10 de nov. de 1977. 5 f. Arquivo-Museu de Literatura Brasileira. Fundação Casa de Rui Barbosa. ANDRADE,
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM LITERATURA BRASILEIRA
 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM LITERATURA BRASILEIRA Proposta do Curso: oferecer um panorama suficientemente amplo e detalhado da trajetória histórica da literatura brasileira, desde os tempos coloniais até
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM LITERATURA BRASILEIRA Proposta do Curso: oferecer um panorama suficientemente amplo e detalhado da trajetória histórica da literatura brasileira, desde os tempos coloniais até
Programação da 2ª Etapa 8º Ano do Ensino Fundamental Débora e Rafaella
 Programação da 2ª Etapa 8º Ano do Ensino Fundamental Débora e Rafaella Língua Portuguesa QUAL DEVE SER NOSSO ANSEIO TODO DIA? PLANEJAR SEMPRE O MELHOR, MAS SEM NUNCA CANSAR DE PLANEJÁ- LO. Sto. Agostinho
Programação da 2ª Etapa 8º Ano do Ensino Fundamental Débora e Rafaella Língua Portuguesa QUAL DEVE SER NOSSO ANSEIO TODO DIA? PLANEJAR SEMPRE O MELHOR, MAS SEM NUNCA CANSAR DE PLANEJÁ- LO. Sto. Agostinho
Agenealogia dos Estudos Culturais é objeto de dissenso
 Cinqüentenário de um discurso cultural fundador WILLIAMS, R. Culture and society 1780-1950. [Londres, Longman, 1958]. Cultura e sociedade. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1969. Agenealogia dos Estudos
Cinqüentenário de um discurso cultural fundador WILLIAMS, R. Culture and society 1780-1950. [Londres, Longman, 1958]. Cultura e sociedade. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1969. Agenealogia dos Estudos
UNIDADE ACADÊMICA: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ABAETETUBA SUBUNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM PROFESSOR(A): AUGUSTO SARMENTO-PANTOJA
 UNIDADE ACADÊMICA: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ABAETETUBA SUBUNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM PROFESSOR(A): AUGUSTO SARMENTO-PANTOJA PLANO DE ATIVIDADE ACADÊMICA CÓDIGO DISCIPLINA LTAB004
UNIDADE ACADÊMICA: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ABAETETUBA SUBUNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM PROFESSOR(A): AUGUSTO SARMENTO-PANTOJA PLANO DE ATIVIDADE ACADÊMICA CÓDIGO DISCIPLINA LTAB004
Geral Perceber os avanços da literatura brasileira pós 1945, compreendendo-a a partir de sua inserção na contemporaneidade.
 PLANO DE ENSINO DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR Nome do COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA V Curso: LICENCIATURA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA Período: 7 Semestre: 2016.2 Carga
PLANO DE ENSINO DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR Nome do COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA V Curso: LICENCIATURA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA Período: 7 Semestre: 2016.2 Carga
RESENHA CRÍTICA. OBRA RESENHADA: POLANYI, Karl. A subsistência do homem e ensaios correlatos. Rio de Janeiro: Contraponto, p. 23 cm.
 RESENHA CRÍTICA OBRA RESENHADA: POLANYI, Karl. A subsistência do homem e ensaios correlatos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 384 p. 23 cm. CREDENCIAIS DA AUTORA: Leandra Pereira da Silva é Graduanda
RESENHA CRÍTICA OBRA RESENHADA: POLANYI, Karl. A subsistência do homem e ensaios correlatos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 384 p. 23 cm. CREDENCIAIS DA AUTORA: Leandra Pereira da Silva é Graduanda
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS DISCIPLINAS DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERECIDAS NO 2º SEMESTRE DE 2017 Programa: 8156 ESTUDOS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS DISCIPLINAS DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERECIDAS NO 2º SEMESTRE DE 2017 Programa: 8156 ESTUDOS
Artigo 2 - O Curso de Letras habilitará o aluno em Português e uma Língua Estrangeira e suas respectivas literaturas.
 Resolução Unesp-41, de 12-7-2007 Publicada no D.O.E. de 13/07/2007 - Seção I pag 53 (Alterada pela Resolução UNESP 20 de 31-3-2009 Publicada no D.O.E. de 01/04/2009, Seção I, página 42 e Resolução UNESP
Resolução Unesp-41, de 12-7-2007 Publicada no D.O.E. de 13/07/2007 - Seção I pag 53 (Alterada pela Resolução UNESP 20 de 31-3-2009 Publicada no D.O.E. de 01/04/2009, Seção I, página 42 e Resolução UNESP
A pedagogia nos séculos XVIII e XIX. Prof. Ms. Joel Sossai Coleti
 A pedagogia nos séculos XVIII e XIX Prof. Ms. Joel Sossai Coleti Johann Heinrich Pestalozzi A experiência de Pestalozzi Johann Heinrich Pestalozzi (1746 1827) atraiu a atenção do mundo como mestre, diretor
A pedagogia nos séculos XVIII e XIX Prof. Ms. Joel Sossai Coleti Johann Heinrich Pestalozzi A experiência de Pestalozzi Johann Heinrich Pestalozzi (1746 1827) atraiu a atenção do mundo como mestre, diretor
LITERATURA E DROGAS : UM PROJETO EDUCACIONAL
 LITERATURA E DROGAS: um projeto educacional (1995;1999) Véra Motta 1 LITERATURA E DROGAS : UM PROJETO EDUCACIONAL Véra Motta INTRODUÇÃO O ensino da Literatura, no nível médio, tem sido submetido a estranhas
LITERATURA E DROGAS: um projeto educacional (1995;1999) Véra Motta 1 LITERATURA E DROGAS : UM PROJETO EDUCACIONAL Véra Motta INTRODUÇÃO O ensino da Literatura, no nível médio, tem sido submetido a estranhas
1. Qual a importância das descrições e dos registros feitos nessa parte do livro para o entendimento da obra?
 C7S 9ºANO 2016 1. Qual a importância das descrições e dos registros feitos nessa parte do livro para o entendimento da obra? 2. Em suas descrições, Euclides da Cunha faz referência a um jogo de opostos,
C7S 9ºANO 2016 1. Qual a importância das descrições e dos registros feitos nessa parte do livro para o entendimento da obra? 2. Em suas descrições, Euclides da Cunha faz referência a um jogo de opostos,
O mundo de cavaleiros destemidos, de virgens ingênuas e frágeis, e o ideal de uma vida primitiva, distante da civilização, tudo isso terminara.
 O mundo de cavaleiros destemidos, de virgens ingênuas e frágeis, e o ideal de uma vida primitiva, distante da civilização, tudo isso terminara. A segunda metade do século XIX presencia profundas modificações
O mundo de cavaleiros destemidos, de virgens ingênuas e frágeis, e o ideal de uma vida primitiva, distante da civilização, tudo isso terminara. A segunda metade do século XIX presencia profundas modificações
PLANO DE CURSO. Deverá compreender de forma crítica, as transformações artísticas de um modo geral, especialmente da literatura, na contemporaneidade.
 PLANO DE CURSO 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: Curso: Letras Disciplina: Literatura Portuguesa III Professor: Maria do Socorro Pereira de Almeida E-mail: socorroliteratura@hotmail.com Código: Carga Horária:
PLANO DE CURSO 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: Curso: Letras Disciplina: Literatura Portuguesa III Professor: Maria do Socorro Pereira de Almeida E-mail: socorroliteratura@hotmail.com Código: Carga Horária:
MACHADO DE ASSIS - O CRÍTICO LITERÁRIO
 MACHADO DE ASSIS - O CRÍTICO LITERÁRIO Pedro Paulo Montenegro Machado de Assis escreveu ininterruptamente dos 15 aos 69 anos de idade. Os primeiros textos datam da década de 1850 e são poemas sem valor
MACHADO DE ASSIS - O CRÍTICO LITERÁRIO Pedro Paulo Montenegro Machado de Assis escreveu ininterruptamente dos 15 aos 69 anos de idade. Os primeiros textos datam da década de 1850 e são poemas sem valor
Gêneros Textuais. E aí, beleza!? Vamos juntos dar uma olhada em algumas dicas importantes de gêneros textuais?
 Gêneros Textuais E aí, beleza!? Vamos juntos dar uma olhada em algumas dicas importantes de gêneros textuais? Para começar, vamos observar as imagens abaixo, reproduções de uma receita, uma manchete de
Gêneros Textuais E aí, beleza!? Vamos juntos dar uma olhada em algumas dicas importantes de gêneros textuais? Para começar, vamos observar as imagens abaixo, reproduções de uma receita, uma manchete de
Emigrantes. Ferreira de Castro Ilustrações de Júlio Pomar Portugália Editora 1966
 Emigrantes Ferreira de Castro Ilustrações de Júlio Pomar Portugália Editora 1966 O tesouro deste mês é uma edição especial da obra Emigrantes, de José Maria Ferreira de Castro nascido em 1898 em Oliveira
Emigrantes Ferreira de Castro Ilustrações de Júlio Pomar Portugália Editora 1966 O tesouro deste mês é uma edição especial da obra Emigrantes, de José Maria Ferreira de Castro nascido em 1898 em Oliveira
SISTEMA ANGLO DE ENSINO. Tipo D4-08/2010 G A B A R I T O
 Prova Anglo P-01 Tipo D4-08/2010 G A B A R I T O 01. D 07. A 13. D 19. C 02. B 08. B 14. A 20. D 03. C 09. C 15. B 21. A 04. A 10. A 16. D 22. C 05. C 11. D 17. B 00 06. B 12. B 18. D DESCRITORES, RESOLUÇÕES
Prova Anglo P-01 Tipo D4-08/2010 G A B A R I T O 01. D 07. A 13. D 19. C 02. B 08. B 14. A 20. D 03. C 09. C 15. B 21. A 04. A 10. A 16. D 22. C 05. C 11. D 17. B 00 06. B 12. B 18. D DESCRITORES, RESOLUÇÕES
Período Gênero textual Expectativa
 DISCIPLINA: Produção de texto ANO DE REFERÊNCIA: 2016 PROFESSORAS RESPONSÁVEIS: 6ºano Período Gênero textual Expectativa P35 Compreender o papel do conflito gerador no desencadeamento dos episódios narrados.
DISCIPLINA: Produção de texto ANO DE REFERÊNCIA: 2016 PROFESSORAS RESPONSÁVEIS: 6ºano Período Gênero textual Expectativa P35 Compreender o papel do conflito gerador no desencadeamento dos episódios narrados.
TÍTULO: 100% PERIFERIA - O SUJEITO PERIFÉRICO: UM OBJETO DE ESTUDO DA PSICOLOGIA SOCIAL?
 TÍTULO: 100% PERIFERIA - O SUJEITO PERIFÉRICO: UM OBJETO DE ESTUDO DA PSICOLOGIA SOCIAL? CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: PSICOLOGIA INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
TÍTULO: 100% PERIFERIA - O SUJEITO PERIFÉRICO: UM OBJETO DE ESTUDO DA PSICOLOGIA SOCIAL? CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: PSICOLOGIA INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
Géneros textuais e tipos textuais Armando Jorge Lopes
 Géneros textuais e tipos textuais [texto de apoio para o curso de doutoramento em ciências da linguagem aplicadas ao ensino de línguas/universidade Pedagógica, Maputo, Outubro de 2015] Armando Jorge Lopes
Géneros textuais e tipos textuais [texto de apoio para o curso de doutoramento em ciências da linguagem aplicadas ao ensino de línguas/universidade Pedagógica, Maputo, Outubro de 2015] Armando Jorge Lopes
OLÉGIO E CURSO MASTER
 CORUJA CORPORATIONS PRESENTS OLÉGIO E CURSO MASTER ROMANTISMO EM PORTUGAL PROFESSOR RENATO TERTULIANO INÍCIO - 1825 - Publicação do poema narrativo Camões, de autoria de Almeida Garrett, que tem como conteúdo
CORUJA CORPORATIONS PRESENTS OLÉGIO E CURSO MASTER ROMANTISMO EM PORTUGAL PROFESSOR RENATO TERTULIANO INÍCIO - 1825 - Publicação do poema narrativo Camões, de autoria de Almeida Garrett, que tem como conteúdo
9 Referências bibliográficas
 9 Referências bibliográficas ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia Completa, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002.. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1982.. Carta a Alphonsus de Guimaraens, em 03
9 Referências bibliográficas ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia Completa, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002.. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1982.. Carta a Alphonsus de Guimaraens, em 03
INVESTIGAÇÃO EM PSICANÁLISE NA UNIVERSIDADE
 INVESTIGAÇÃO EM PSICANÁLISE NA UNIVERSIDADE Gilberto Safra 1 Instituto de Psicologia USP E ste evento surge no momento em que o Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade
INVESTIGAÇÃO EM PSICANÁLISE NA UNIVERSIDADE Gilberto Safra 1 Instituto de Psicologia USP E ste evento surge no momento em que o Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade
GENEROS TEXTUAIS E O LIVRO DIDÁTICO: DESAFIOS DO TRABALHO
 GENEROS TEXTUAIS E O LIVRO DIDÁTICO: DESAFIOS DO TRABALHO Fernanda Félix da Costa Batista 1 INTRODUÇÃO O trabalho com gêneros textuais é um grande desafio que a escola tenta vencer, para isso os livros
GENEROS TEXTUAIS E O LIVRO DIDÁTICO: DESAFIOS DO TRABALHO Fernanda Félix da Costa Batista 1 INTRODUÇÃO O trabalho com gêneros textuais é um grande desafio que a escola tenta vencer, para isso os livros
FACULDADE SUMARÉ PLANO D ENSINO
 FACULDADE SUMARÉ PLANO D ENSINO Cursos: Licenciatura em Letras Língua Portuguesa Disciplina: Literatura Brasileira III Carga Horária: 50h Semestre Letivo / Turno: 5º semestre Professora: Jucimeire Ramos
FACULDADE SUMARÉ PLANO D ENSINO Cursos: Licenciatura em Letras Língua Portuguesa Disciplina: Literatura Brasileira III Carga Horária: 50h Semestre Letivo / Turno: 5º semestre Professora: Jucimeire Ramos
Uso de Metáforas em Poesia e Canção
 Uso de Metáforas em Poesia e Canção Ângela Gonçalves Trevisol Tamara dos Santos A partir de observações em sala de aula para a disciplina de Seminário para o ensino de literatura brasileira percebemos
Uso de Metáforas em Poesia e Canção Ângela Gonçalves Trevisol Tamara dos Santos A partir de observações em sala de aula para a disciplina de Seminário para o ensino de literatura brasileira percebemos
Linguagem em (Dis)curso LemD, v. 9, n. 1, p , jan./abr. 2009
 Linguagem em (Dis)curso LemD, v. 9, n. 1, p. 187-191, jan./abr. 2009 RESENHA DE INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA LINGUAGEM: DISCURSO E TEXTUALIDADE [ORLANDI, E.P.; LAGAZZI- RODRIGUES, S. (ORGS.) CAMPINAS, SP:
Linguagem em (Dis)curso LemD, v. 9, n. 1, p. 187-191, jan./abr. 2009 RESENHA DE INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA LINGUAGEM: DISCURSO E TEXTUALIDADE [ORLANDI, E.P.; LAGAZZI- RODRIGUES, S. (ORGS.) CAMPINAS, SP:
O livro na sociedade, a sociedade no livro: pensando sociologicamente a literatura
 O livro na sociedade, a sociedade no livro: pensando sociologicamente a literatura Laura Garbini Both Mestre em Antropologia Social UFPR Profa. da UNIBRASIL laura.both@unibrasil.com.br No nosso dia-a-dia
O livro na sociedade, a sociedade no livro: pensando sociologicamente a literatura Laura Garbini Both Mestre em Antropologia Social UFPR Profa. da UNIBRASIL laura.both@unibrasil.com.br No nosso dia-a-dia
Introdução de Sociologia
 Introdução de Sociologia Prof. Petterson A. Vieira www.profpetterson.com Petterson A. Vieira O que é Sociologia? A Sociologia é um ramo da ciência que estuda o comportamento humano em função do meio e
Introdução de Sociologia Prof. Petterson A. Vieira www.profpetterson.com Petterson A. Vieira O que é Sociologia? A Sociologia é um ramo da ciência que estuda o comportamento humano em função do meio e
MACHADO DE ASSIS: O LEITOR, O CRÍTICO E O ESPECTADOR DE TEATRO
 RESENHA CRÍTICA ISSN: 1517-7238 Vol. ol. 11 nº 20 1º Sem em.. 2010 p. 243-248 MACHADO DE ASSIS: O LEITOR, O CRÍTICO E O ESPECTADOR DE TEATRO TELES, Adriana da Costa 1 1 Doutora em Teoria da Literatura
RESENHA CRÍTICA ISSN: 1517-7238 Vol. ol. 11 nº 20 1º Sem em.. 2010 p. 243-248 MACHADO DE ASSIS: O LEITOR, O CRÍTICO E O ESPECTADOR DE TEATRO TELES, Adriana da Costa 1 1 Doutora em Teoria da Literatura
Bárbara da Silva. Literatura. Pré-modernismo
 Bárbara da Silva Literatura Pré-modernismo O pré-modernismo não é propriamente uma escola literária, mas um período em que alguns autores decidiram produzir uma literatura que refletia as questões políticas
Bárbara da Silva Literatura Pré-modernismo O pré-modernismo não é propriamente uma escola literária, mas um período em que alguns autores decidiram produzir uma literatura que refletia as questões políticas
SESSÃO 5 LITERATURA E IDENTIDADE
 SESSÃO 5 LITERATURA E IDENTIDADE ESQUECER, RECORDAR: A LITERATUA E A FORMAÇÃO IDENTITÁRIA NACIONAL Davi Santana de Lara 1 A presente comunicação se propõe fazer uma reflexão sobre o papel da memória no
SESSÃO 5 LITERATURA E IDENTIDADE ESQUECER, RECORDAR: A LITERATUA E A FORMAÇÃO IDENTITÁRIA NACIONAL Davi Santana de Lara 1 A presente comunicação se propõe fazer uma reflexão sobre o papel da memória no
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO FACULDADE DE LETRAS DIRETORIA ADJUNTA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS
 DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS SETOR DE GREGO 011 1º SEMESTRE DISCIPLINA: GREGO A LEC 305 Marinete de Santana Ribeira 4ª 13:30-15:10 H-105 A prosa Ática: aspectos morfossintáticos e estilísticos. Textos
DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS SETOR DE GREGO 011 1º SEMESTRE DISCIPLINA: GREGO A LEC 305 Marinete de Santana Ribeira 4ª 13:30-15:10 H-105 A prosa Ática: aspectos morfossintáticos e estilísticos. Textos
Gêneros Literários OBRAS LITERÁRIAS: QUANTO À FORMA = VERSO & PROSA QUANTO AO CONTEÚDO = GÊNEROS LITERÁRIOS
 GÊNEROS LITERÁRIOS Gêneros Literários OBRAS LITERÁRIAS: QUANTO À FORMA = VERSO & PROSA QUANTO AO CONTEÚDO = GÊNEROS LITERÁRIOS Gêneros Literários GÊNERO ÉPICO (NARRATIVO) = Quando é contada uma história.
GÊNEROS LITERÁRIOS Gêneros Literários OBRAS LITERÁRIAS: QUANTO À FORMA = VERSO & PROSA QUANTO AO CONTEÚDO = GÊNEROS LITERÁRIOS Gêneros Literários GÊNERO ÉPICO (NARRATIVO) = Quando é contada uma história.
Ensino Médio - Unidade Parque Atheneu Professor (a): Aluno (a): Série: 3ª Data: / / 2015. LISTA DE LITERATURA
 Ensino Médio - Unidade Parque Atheneu Professor (a): Aluno (a): Série: 3ª Data: / / 2015. LISTA DE LITERATURA Orientações: - A lista deverá ser respondida na própria folha impressa ou em folha de papel
Ensino Médio - Unidade Parque Atheneu Professor (a): Aluno (a): Série: 3ª Data: / / 2015. LISTA DE LITERATURA Orientações: - A lista deverá ser respondida na própria folha impressa ou em folha de papel
Débora Cota. Mestre em Literatura. Anuário de Literatura 8, 2000, p
 A relação entre o literário e o social nas últimas histórias literárias brasileiras' : 13reve análise com 13ase nos estudos sobre os poetas Castro Alves e Gregório de Mattos Débora Cota Mestre em Literatura
A relação entre o literário e o social nas últimas histórias literárias brasileiras' : 13reve análise com 13ase nos estudos sobre os poetas Castro Alves e Gregório de Mattos Débora Cota Mestre em Literatura
A BUSCA DA IDENTIDADE ARTÍSTICO-CULTURAL BRASILEIRA E OS IDEAIS MODERNISTAS DE 1922: REPERCUSSÃO DISCENTE EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE ESPERANÇA PB
 A BUSCA DA IDENTIDADE ARTÍSTICO-CULTURAL BRASILEIRA E OS IDEAIS MODERNISTAS DE 1922: REPERCUSSÃO DISCENTE EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE ESPERANÇA PB DINIZ, Leonardo Araújo EEEFMMonsenhor José da Silva Coutinho
A BUSCA DA IDENTIDADE ARTÍSTICO-CULTURAL BRASILEIRA E OS IDEAIS MODERNISTAS DE 1922: REPERCUSSÃO DISCENTE EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE ESPERANÇA PB DINIZ, Leonardo Araújo EEEFMMonsenhor José da Silva Coutinho
Mas por que à simples relação de fatos, à meia expressão de emoções por meio da escrita chamamos arte como à pintura, à escultura, à música?
 O que é Literatura? Segundo o crítico e historiador literário José Veríssimo, várias são as acepções do termo literatura: conjunto da produção intelectual humana escrita; conjunto de obras especialmente
O que é Literatura? Segundo o crítico e historiador literário José Veríssimo, várias são as acepções do termo literatura: conjunto da produção intelectual humana escrita; conjunto de obras especialmente
Suely Aparecida da Silva
 Estética da criação verbal SOBRAL, Adail. Estética da criação verbal. In: BRAIT, Beth. Bakhtin, dialogismo e polifonia. São Paulo: contexto, 2009. p. 167-187. Suely Aparecida da Silva Graduada em Normal
Estética da criação verbal SOBRAL, Adail. Estética da criação verbal. In: BRAIT, Beth. Bakhtin, dialogismo e polifonia. São Paulo: contexto, 2009. p. 167-187. Suely Aparecida da Silva Graduada em Normal
Resenha do livro Viver e escrever - Cadernos e escritas ordinárias de um professor catarinense (século XX)
 e - I S S N 1 9 8 4-7 2 3 8 Resenha do livro Viver e escrever - Cadernos e escritas ordinárias de um professor catarinense (século XX) CUNHA, Maria Teresa Santos; SOUZA, Flávia de Freitas. Viver e escrever.
e - I S S N 1 9 8 4-7 2 3 8 Resenha do livro Viver e escrever - Cadernos e escritas ordinárias de um professor catarinense (século XX) CUNHA, Maria Teresa Santos; SOUZA, Flávia de Freitas. Viver e escrever.
REVISÃO E AVALIAÇÃO DA UNIDADE III
 AULA 23.1 REVISÃO E AVALIAÇÃO DA UNIDADE III Realismo: a sociedade no centro da obra literária O avanço do conhecimento científico sobre a natureza e as relações sociais a partir da segunda metade do século
AULA 23.1 REVISÃO E AVALIAÇÃO DA UNIDADE III Realismo: a sociedade no centro da obra literária O avanço do conhecimento científico sobre a natureza e as relações sociais a partir da segunda metade do século
Guilherme Sarmiento da Silva. Dinâmica das almas. Fantasmagoria romântica no Brasil ( ) Tese de Doutorado
 Guilherme Sarmiento da Silva Dinâmica das almas Fantasmagoria romântica no Brasil (1830-1850) Tese de Doutorado Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Letras da PUC-Rio como quesito parcial
Guilherme Sarmiento da Silva Dinâmica das almas Fantasmagoria romântica no Brasil (1830-1850) Tese de Doutorado Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Letras da PUC-Rio como quesito parcial
TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA
 TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA Pedro Paulo Montenegro Doutor em Letra.r. Profe.rsor Emérito da Unit1ersidade Federal do Ceará. A1embro da Academia Cearen.re de Letras. En.raí.rta e Crítico Literário. A
TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA Pedro Paulo Montenegro Doutor em Letra.r. Profe.rsor Emérito da Unit1ersidade Federal do Ceará. A1embro da Academia Cearen.re de Letras. En.raí.rta e Crítico Literário. A
Education and Cinema. Valeska Fortes de Oliveira * Fernanda Cielo **
 Educação e Cinema Education and Cinema Valeska Fortes de Oliveira * Fernanda Cielo ** Rosália Duarte é professora do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, da PUC do Rio de
Educação e Cinema Education and Cinema Valeska Fortes de Oliveira * Fernanda Cielo ** Rosália Duarte é professora do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, da PUC do Rio de
O curso não tem qualquer pretensão de completude, apenas pretende pensar alguns tópicos sobre o pensamento conceitual no Brasil, sobre o Brasil.
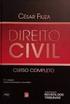 Universidade de Brasília Departamento de Filosofia Curso de Filosofia Disciplina: História da Filosofia no (optativa grupo 3, currículo antigo/optativa para o currículo novo) Professora: Priscila Rufinoni...ou
Universidade de Brasília Departamento de Filosofia Curso de Filosofia Disciplina: História da Filosofia no (optativa grupo 3, currículo antigo/optativa para o currículo novo) Professora: Priscila Rufinoni...ou
