A VEGETAÇÃO COMO COMBUSTÍVEL
|
|
|
- Oswaldo Barreiro Paiva
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 A VEGETAÇÃO COMO COMBUSTÍVEL
2 O fogo é um herbívoro eficaz em muitas comunidades vegetais. O fogo consome combustível, incluindo folhas, ramos e folhada inflamáveis, um alimento mais genérico que o dos herbívoros bióticos. Assim como as propriedades químicas e morfológicas das folhas e ramos as tornam mais ou menos susceptíveis à herbivoria, também algumas plantas são mais susceptíveis ao fogo do que outras. As adaptações das plantas para redução da herbivoria animal (ex. folhas duras, fibrosas e de vida longa), promovem a herbivoria pelo fogo. As folhas mais palatáveis e fracamente protegidas de ambientes altamente produtivos reduzem a probabilidade de consumo pelo fogo.
3 O que torna as plantas inflamáveis? Uma das características mais importantes é a retenção de biomassa morta, com teores baixos de humidade (5-15%). A combustão da fitomassa morta seca o material vivo, facilitando a sua queima. As partes vivas das plantas têm % de humidade e ardem tanto melhor quanto mais secas estiverem. Por isso, folhas bem defendidas contra a herbivoria, com elevados teores de fibra e peso específico foliar elevado ardem mais facilmente, devido ao seu baixo teor de humidade.
4 A susceptibilidade ao fogo também é muito influenciada pela forma, tamanho e disposição das partes das plantas. Folhas e caules finos absorvem calor com muita facilidade e, quando mortos, também secam facilmente, devido à sua elevada área superficial relativamente ao volume (ex. agulhas de pinheiro, ervas, urzes, tojos). Estratos vegetais em que a biomassa se encontra bem arejada, não demasiado compactada, como folhada de pinheiros de agulha longa, prados e matagais, também são bastante susceptíveis ao fogo. Outro factor importante é o conteúdo energético, ou calor de combustão, do material. Mas como varia pouco entre espécies deve ser menos importante do que a quantidade, dimensões, estrutura e humidade.
5 Os combustíveis vegetais podem descrever-se pelo seu tipo e estado. O tipo descreve o próprio combustível. O estado depende das variações das condições ambientais e relaciona-se com a hunidade. As propriedades extrínsecas dos combustíveis variam em função do volume de vegetação que se considere. As que mais afectam o comportamento do fogo são: Quantidade, ou carga Tamanho e forma Compactação e densidade aparente Disposição
6 A quantidade, ou carga de combustível é o peso seco em estufa existente numa dada área (kg.m -2 ou t.ha -1 ). A carga de combustível varia muito entre diversas formações vegetais: um prado pode ter 1-2 t.ha -1, enquanto que uma área coberta de sobrantes de exploração florestal poderá ter t.ha -1.
7 O tamanho e a forma dos combustíveis condicionam a facilidade com que eles entram em ignição e sustentam a combustão. O tamanho de uma partícula de combustível é descrito pela sua relação superfície / volume, σ (cm 2.cm -3 ou m 2.m -3 ). Para combustíveis cilindricos e alongados (ex. ramos e agulhas) vem: 2π. r. h 2 4 σ = π 2. r. h r d Para folhas largas: σ = 2A 2 At. t r raio d diâmetro h - altura A área unilateral t espessura da folha
8 Exemplos de valores de σ (cm 2.cm -3 ) Cistus salvifolius (folhas): 45 Cistus salvifolius (ramos): 22 Quercus coccifera (folhas): 41 Quercus coccifera (ramos): 8.5 Arbutus unedo (folhas): 66 Arbutus unedo (ramos): 6.0 Pinus pinaster (agulhas) 46 σ é uma medida adequada do tamanho das partículas de combustível, devido à sua relação com as taxas de variação de temperatura e humidade do combustível, tempo para ignição e velocidade de propagação do fogo.
9 A compactação mede o espaçamento entre partículas de combustível. A proximidade e disposição das partículas afecta a ignição e a combustão. A velocidade de propagação tende a ser menor quando o combustível está muito compactado. Leitos de combustível pouco compactados reagem mais rapidamente a variações da humidade e são mais arejados, i.e. têm mais O 2 para a combustão. A densidade aparente, ρ b, (kg.m -3 ) é uma medida da porosidade de um complexo de combustível. O coeficiente de compactação, β (adimensional), é função da profundidade do leito, carga de combustível e dimensão das partículas. A compactação também afecta a transferência de energia por radiação. β = ρb ρ p ρ p densidade das partículas (ex kg.m -3 )
10 Valores de ρ b (kg.m -3) : Rosmarinus officinalis 2,2 Pterospartium tridentatum 3,5 Quercus coccifera 1,4 Cistus ladanifer 1,2 Arbutus unedo 1,5 Ulex sp. 4,2 (Ulex densus >>) Erica sp. 1,8 Pinus pinaster (folhada) 20,4 Valores de β Se assumirmos ρ p Q. coccifera = 600 kg.m -3 : β ρ 1.4kg. m 600kg. m 3 b = = 3 ρ p = 0,0023
11 A disposição das partículas de combustível influencia muito o comportamento do fogo e inclui a orientação (vertical ou horizontal) e a relação espacial entre partículas. As árvores, arbustos e ervas têm orientação vertical. A folhada e os sobrantes de exploração têm orientação horizontal. vertical horizontal
12 A disposição das partículas também se refere ao quociente entre fitomassa viva e morta, à distribuição da carga total de combustível por classes de dimensão e ao grau de continuidade espacial (vertical e horizontal) do combustível. Alta e baixa continuidade vertical do combustível em florestas.
13 Os componentes de um complexo de combustível descrevem-se de acordo com estratos horizontais, com base nas diferenças de comportamento potencial do fogo exibidas por cada estrato.
14 Combustível de solo: inclui as camadas de húmus e fermentação do solo orgânico. O topo desta camada é onde a folhada começa a decompor-se e a base é no solo mineral. É material bastante compactado, que tipicamente arde lentamente, sem chama. Combustível de superfície: é o estrato através do qual mais frequentemente se propaga o fogo. Inclui árvores em pé até 2m, arbustos, ervas, folhada e material lenhoso caído. Combustível aéreo ou de copas: inclui as árvores e arbustos com altura acima de 2m. Mesmo quando não ardem, as copas influenciam o comportamento do fogo, p.ex. afectando a velocidade do vento à superfície.
15 O estado do combustível é determinado pelo seu conteúdo em humidade, que é bastante dinâmico. A quantidade de combustível disponível num dado fogo é determinada pelo teor de humidade, TH. O TH dos combustíveis afecta: Pré-aquecimento e ignição dos combustíveis Velocidade de propagação da frente de chamas Taxa de libertação de energia pela combustão Produção de fumo na combustão com e sem chama Consumo de combustível Mortalidade das plantas O TH é a massa de água contida em cada unidade de massa do combustível seco em estufa e exprime-se em %.
16 Quando um material é exposto ao ar, a dada temperatura e humidade, ele perde ou ganha água até que se estabeleça um equilíbrio. A humidade de equilíbrio, H eq é o valor para que H tende se o combustível estiver exposto a temperatura e humidade constante durante muito tempo. Varia muito com a HR ar. Se o material está, à partida mais húmido que o ar, irá secar até à humidade de equilíbrio. Chama-se água livre à diferença entre o teor total de humidade do combustível e o teor de H eq. A água correspondente ao teor de H eq para o ar saturado (HR ar =100%) chama-se água ligada.
17 No caso de materiais complexos, como a madeira, esta situação designa-se por ponto de saturação da fibra. Toda a água em excesso desta é chamada água não ligada. O ponto de saturação da fibra para a madeira é de 30%, i.e. sempre que a madeira tenha <30% de TH, toda ela será água ligada. Numa amostra com TH=35%, 5% é água não ligada e o resto é água ligada. Se HR ar =60% H eq =11%. Neste caso, a água livre = 24%, da qual 6% é ligada e 18% é não ligada. Humidade de equilíbrio da madeira em função da humidade relativa do ar a 20 ºC.
18 O TH dos combustíveis mortos varia constantemente. O humedecimento pode ser por água líquida ou vapor de água. A secagem faz-se por evaporação para o ambiente. TH depende das condições meteorológicas: Chuva Vento Temperatura Humidade relativa do ar Os combustíveis verticais absorvem água enquanto a sua superfície está molhada. Por isso, TH depende mais da duração da precipitação do que da quantidade. Nos combustíveis horizontais, TH depende da quantidade de precipitação, porque o solo retém água que depois cede ao combustível, mesmo depois de parar de chover.
19 Os combustíveis mortos podem ser classificados em função do tempo que levam a ajustar-se a variações da HR ar. Chama-se tempo de resposta (TR, horas) ao tempo que um combustível morto leva a alcançar 63% (1-1/e) da diferença entre a sua humidade inicial e a humidade de equilíbrio, a 27 ºC e com HR ar = 20%. Tempo de resposta TR é uma característica do combustível que depende, sobretudo, do seu diâmetro. Combustíveis muito finos têm TR de poucas horas, enquanto que combustíveis muito grosseiros podem ter TR superior a um mês.
20 Estabelecem-se as seguintes equivalências entre TR e o diâmetro de combustíveis ou a profundidade do leito de folhada: TR(h) (cm) Profundidade (cm) combustíveis 1 <0.6 superficial folhada, caruma, raminhos < 1,5 ramos, caules, cascas ,5 10 ramos e caules secos 1000 >7.5 > 10 troncos e ramos secos
21 Período TR 1 (A-B) 28% - 5.5% = 22.5% 22.5% x 63% = 14.2%. 28% % = 13.8% A humidade inicial de um combustível morto (ex. ramo de urze) é 28%. Este ramo de urze existe num ambiente onde o teor de equilíbrio da humidade é 5.5%. A diferença é de 22.5%. Após um período de tempo de resposta (independentemente da dimensão do combustível) a diferença de 22.5% é multiplicada pela constante 63% e vem igual a 14.2%. O teor de humidade alcançado pelo ramo é de 28% % = 13.8%. Período TR 2 (B-C) 13.8% - 5.5% = 8.3% 8.3% x 63% = 5.2% 13.8% - 5.2% = 8.6% Para determinar o teor de humidade após dois períodos: 13.8% menos o teor de equilíbrio da humidade de 5.5% = 8.3%. Multiplicando 8.3 pela constante 63% = 5.2%. Subtraindo 5.2% dos 13.8% iniciais dá um teor de humidade do combustível de 8.6%. Período TR 3 (C-D) 8.6% - 5.5% = 3.1% 3.1% x 63% = 1.9% 8.6% - 1.9% = 6.7% Para determinar o teor de humidade do ramo de urze após três períodos, a mesma sequência de cálculos resulta num teor de humidade de 6.7%. 28% Tempo de resposta 13.8% 8.6% 6.7% 5.5%
22
23 A humidade dos combustíveis vivos também influencia o comportamento do fogo. A vegetação viva pode contribuir energia para a combustão, ou pode servir como sorvedouro de energia, retardando a propagação e atenuando a intensidade do fogo. TH dos combustíveis vivos varia sazonalmente, com os processos fisiológicos que controlam a fenologia das plantas. O TH da folhagem viva é máximo no período da emergência e cai rapidamente durante o crescimento e desenvolvimento foliar.
24 Fenologia do TH dos combustíveis vivos Estado de desenvolvimento da vegetação Folhagem tenra, plantas anuais no princípio do ciclo de crescimento. Folhagem em maturação, mas ainda em desenvolvimento, com turgescência plena. Folhagem madura, novo crescimento completo e comparável à folhagem perene antiga. Começo do repouso vegetativo e da mudança de côr. Algumas folhas podem já ter caído. Completamente seca. Teor de água (%) < 30, considerado como combustivel morto
25 Valores médios mensais ( ) do TH de 8 combustíveis na Lousã.
26
27 Todas as folhas das caducifólias são do ano corrente, mantendo relativamente alto TH durante toda a época de crescimento. Nas perenifólias, as folhas podem durar vários anos e as mais velhas terão baixo TH durante a época de crescimento. A folhagem de anos anteriores ao corrente, mais seca, pode constituir 80% da biomassa foliar nalgumas perenifólias. As herbáceas anuais são, de todos os combustíveis, a vegetação mais sensível às variações sazonais e de mais curto prazo. As herbáceas perenes têm sistemas radicais mais fortes e profundos, pelo que são menos sensíveis às variações de humidade e têm um período mais longo de secagem estival.
28 Há vários métodos para determinar o TH dos combustíveis vegetais vivos e mortos: Método directo Amostragem no campo e secagem em estufa (combustíveis mortos e vivos). Métodos indirectos Estimativa a partir de dados meteorológicos (combustíveis mortos e vivos). Estimativa a partir da reflectância espectral (combustíveis vivos). O objectivo dos métodos indirectos é, uma vez calibrados, dispensar as medições destrutivas, caras e trabalhosas.
29 4 varas para medição do teor de humidade do combustível de 10h de tempo de resposta. Tem 1.27 cm e pesam 100g quando secas. Construiram-se e resolveram-se numéricamente equações para descrever a transferência de calor e humidade à superficie e no interior de uma vara de 10hTR.
30 Desenvolveu-se um modelo de predição do TH de varas de combustível morto de 10hTR, com base em observações da temperatura do ar, humidade relativa, insolação e precipitação.
31 Chamaespartium tridentatum Ulex europaeus Acacia dealbata Eucalyptus globulus (folhas jovens) No Verão, a resposta lenta do TH de combustíveis vivos às condições meteorológicas, nomeadamente à precipitação, é bem descrito pelo código de seca (DC). Dados da Lousã,
32 Relação entre o TH do combustível fino vivo e índices de reflectância espectral, que podem ser medidos no terreno, à escala da planta individual, ou por satélite, à escala da paisagem.
33 As propriedades intrínsecas e extrínsecas dos combustíveis determinam a possibilidade de que eles entrem em ignição, o comportamento do fogo e o calor libertado. Do conjunto destas características emergem duas novas propriedades: Inflamabilidade Combustibilidade A inflamabilidade define-se como a facilidade com que um dado material entra em combustão, quando posto em contacto com uma fonte de ignição. A combustibilidade é a facilidade que um combustível tem de continuar a arder, uma vez iniciada a combustão.
34 O grau de inflamabilidade dos combustíveis vegetais costuma quantificar-se numa escala ordinal, com 3 a 5 níveis, em função do: Tempo de inflamação % de amostras inflamadas O tempo de inflamação é o tempo que decorre desde que se coloca a amostra no aparelho de medição, até que ocorra a inflamação. A % de amostras inflamadas calcula-se contando o nº de amostras que se inflamam em menos de 1 minuto, de um total de 50 testadas. Os ensaios sujeitam 50 amostras, com 1 ± 0,1g a um foco calorífico de 500 W de potência (7 W.cm -2 ), colocando-as directamente sobre a superfície radiante. A frequência de inflamação é praticamente nula quando TH > %.
35 Instrumentação para determinação experimental da inflamabilidade.
36 INFLAMABILIDADE (INIA, Espanha) INFLAMABILIDADE (INRA, França) Espécies muito inflamáveis Espécies muito inflamáveis no todo o ano Verão Muito forte Bastante forte Calluna vulgaris Anthyllis cytisoides Erica scoparia Quercus pubescens Erica arborea Brachypodium ramosum Erica arborea Pinus pinaster Erica australis Cistus ladanifer Calluna vulgaris Buxus sempervirens Erica herbacea Lavandula stoechas Quercus suber Juniperus phoenicea Erica scoparia Pinus pinaster (caruma) Quercus ilex Cupressus sempervirens Eucalyptus globulus (folhada) Quercus suber Pinus halepensis Phillyrea angustifolia Rosmarinus officinalis Thymus sp. Pinus halepensis (caruma) Rubus idaeus Ulex sp. Quercus ilex Stipa tenacissima Thymus vulgaris Ulex parviflorus Ulex europaeus
37 INFLAMABILIDADE (INIA, Espanha) INFLAMABILIDADE (INRA, França) Espécies moderadamente ou pouco inflamáveis Arbutus unedo Atriplex halimus Buxus sempervirens Cistus albidus Cistus laurifolius Cistus salvifolius Halimium sp. Juniperus oxycedrus Olea europaea Pinus sylvestris (caruma) Pistacia lentiscus Moderada Cistus monspelliensis Cytisus triflora Quercus coccifera Cupressus arizonica Juniperus oxycedrus Rosmarinus officinalis Viburnum tinus Baixa Cedrus sp. Arbutus unedo
38
39 Os combustíveis descrevem-se através das suas propriedades termofísicas e termoquímicas, segundo uma hierarquia de níveis de organização: Mosaico Complexo Estrato ou leito Célula Partícula
40 Partícula: unidade elementar, o menor objecto constituinte, e.g. folha, agulha, raminho seco caído. Descrevem-se sobretudo pelas propriedades intrínsecas PCI, teor de minerais, densidade, razão superfície/volume. Célula: menor volume de partículas representativo do tipo de combustível. Estrato ou leito: agregações de células, descritas em termos de propriedades extrínsecas carga, razão vivo/morto, profundidade, compactação, densidade aparente, teor de humidade, distribuição da carga por classes de dimensão. Complexo: conjunto de estratos, típicamente solo orgânico, estrato superficial e estrato aéreo. A continuidade vertical emerge como descritor importante. Mosaico: caracteriza a heterogeneidade espacial dos combustíveis à escala da paisagem. Fundamental para estudar o comportamento dos grandes incêndios. A continuidade horizontal emerge como descritor importante.
41 A tipificação da combustibilidade em função do tipo e estado da vegetação faz-se recorrendo a modelos de combustível. Um modelo de combustível é uma descrição estilizada, simplificada, de um combustível, para uso num modelo matemático de comportamento do fogo; é um conjunto de números que descreve o combustível para o modelo de comportamento do fogo. O conjunto de modelos de combustível mais utilizados para prever o comportamento do fogo foi desenvolvido na década de 1970, no então Northern Forest Fire Laboratory (NFFL) do USDA Forest Service. Comporta um total de 13 modelos, divididos por 4 grandes grupos: vegetação herbácea matos folhada resíduos de exploração
42 A classificação dos combustíveis inclui três tarefas distintas Caracterização: identificação dos parâmetros físicos e químicos fundamentais para descrever as partículas, leitos e complexos de combustível. Inventariação: medição ou amostragem destes parâmetros, no terreno. Avaliação: estimativa da probabilidade de ignição e do comportamento potencial do fogo no combustível inventariado. Pode ser mais quantitativa, recorrendo a modelos matemáticos e a cenários meteorológicos, ou ser mais qualitativa e subjectiva, baseada na opinião de especialistas.
43 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DOS MODELOS DE COMBUSTÍVEL Grupo Vegetação herbácea Matos Modelo # Descrição Erva fina, seca e baixa, que cobre completamente o solo. Podem aparecer algumas plantas lenhosas dispersas ocupando menos de um terço da superficie. Quantidade de combustível (peso seco): 1-2 t/ha. Erva fina, seca e baixa, que cobre completamente o solo. As plantas lenhosas dispersas cobrem de um a dois terços da superfície, mas a propagação do fogo faz-se pela erva. Quantidade de combustível (peso seco): 5-10 t/ha. Erva grosseira, densa, seca e alta (mais de um metro). É o modelo típico das savanas e das zonas pantanosas com clima temperado-quente. Os campos de cereais são representativos deste modelo. Pode haver algumas plantas lenhosas dispersas. Quantidade de combustível (peso seco): 4-6 t/ha. Matagal ou plantação jovem muito densa, de mais de 2 m. de altura; com ramos morto no seu interior. Propagação do fogo pelas copas das plantas. Quantidad de combustível (peso seco): t/ha. Matagal denso e verde, de menos de 1 m. de altura. Propagação do fogo pela folhada e erva. Quantidade de combusível (peso seco): 5-8 t/ha. Parecido com o modelo 5, mas com espécies mais inflamáveis ou com restos de corte e com plantas maiores.propagação do fogo con ventos moderados a fortes. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha. Matagal de espécies muito inflamáveis; de 0,5 a 2 m. de altura, situado como sub-bosque em matas de coníferas. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha.
44 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DOS MODELOS DE COMBUSTÍVEL Grupo Folhada sob arvoredo Sobrantes de exploração Modelo # Descrição Floresta densa, sem mato no sub-bosque. Propagação do fogo pela folhada muito compacta. As matas densas de Pinus sylvestris ou de Fagus são exemplos representativos. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha. Parecido com o modelo 8, mas com folhada menos compacta, formada por agulhas longas e rígidas ou por folhas grandes. São exemplos as matas de Pinus pinaster, de Castanea ou de Quercus pyrenaica. Quantidade de combustível (peso seco): 7-9 t/ha. Floresta com grande quantidade de lenha e árvores caídas, em consequência de vendavais, pragas intensas, etc. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha. Floresta aberta ou fortemente desbastada. Restos de poda ou desbaste, podendo estar dispersos, intercalados com rebentação de plantas herbáceas. Quantidade de combustible (peso seco): t/ha. Predomínio dos resíduos relativamente ao arvoredo. Restos de poda ou desbaste cobrindo todo o solo. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha. Grandes acumulações de sobrantes de grande dimensão e pesados, cobrindo todo o solo. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha.
45 A erva e o mato têm orientação predominantemente vertical, i.e. quando a carga aumenta o volume aumenta. A folhada e os resíduos têm orientação predominantemente horizontal, i.e. quando a carga aumenta, aumenta a compactação do leito de combustível. A predominância dos combustíveis finos diminui da erva para a folhada. Nos resíduos de exploração a maior proporção de biomassa é de material grosseiro, de cm.
46 DESCRIÇÃO QUANTITATIVA DOS MODELOS DE COMBUSTÍVEL
47 MODELO 1 Erva fina, seca e baixa, que cobre completamente o solo. Podem aparecer algumas plantas lenhosas dispersas ocupando menos de um terço da superficie. Quantidade de combustível (peso seco): 1-2 t/ha.
48 MODELO 2 Erva fina, seca e baixa, que cobre completamente o solo. As plantas lenhosas dispersas cobrem de um a dois terços da superfície, mas a propagação do fogo faz-se pela erva. Quantidade de combustível (peso seco): 5-10 t/ha.
49 MODELO 3 Erva grosseira, densa, seca e alta (mais de 1m). É o modelo típico das savanas e das zonas pantanosas com clima temperado-quente. Os campos de cereais são representativos deste modelo. Pode haver algumas plantas lenhosas dispersas. Quantidade de combustível (peso seco): 4-6 t/ha.
50 MODELO 4 Matagal ou plantação jovem muito densa, de mais de 2m de altura, com ramos mortos no seu interior. Propagação do fogo pelas copas das plantas. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha.
51 MODELO 5 Matagal denso e verde, de menos de 1 m de altura. Propagação do fogo pela folhada e erva. Quantidade de combusível (peso seco): 5-8 t/ha.
52 MODELO 6 Parecido com o modelo 5, mas com espécies mais inflamáveis ou com restos de corte e com plantas maiores. Propagação do fogo com ventos moderados a fortes. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha.
53 MODELO 7 Matagal de espécies muito inflamáveis; de 0,5 a 2m de altura, situado como subbosque em matas de coníferas. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha.
54 MODELO 8 Floresta densa, sem mato no sub-bosque. Propagação do fogo pela folhada muito compacta. As matas densas de Pinus sylvestris ou de Fagus sylvatica são exemplos representativos. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha.
55 MODELO 9 Parecido com o modelo 8, mas com folhada menos compacta, formada por agulhas longas e rígidas ou por folhas grandes. São exemplos as matas de Pinus pinaster, de Castanea sativa ou de Quercus pyrenaica. Quantidade de combustível (peso seco): 7-9 t/ha.
56 MODELO 10 Floresta com grande quantidade de lenha e árvores caídas, em consequência de vendavais, pragas intensas, etc. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha.
57 MODELO 11 Floresta aberta ou fortemente desbastada. Restos de poda ou desbaste, podendo estar dispersos, intercalados com rebentação de plantas herbáceas. Quantidade de combustivel (peso seco): t/ha.
58 MODELO 12 Predomínio dos resíduos relativamente ao arvoredo. Restos de poda ou desbaste cobrindo todo o solo. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha.
59 MODELO 13 Grandes acumulações de sobrantes de grande dimensão e pesados, cobrindo todo o solo. Quantidade de combustível (peso seco): t/ha.
60 Correspondência entre modelos de combustível e tipos de coberto vegetal comuns em Portugal: Modelo 1: Modelo 2: Modelo 3: Modelo 4: Modelos 5 e 6: Zonas de pastoreio queimadas frequentemente. Montado. Searas, alguns sapais (Carex sp.). Áreas agrícolas abandonadas há muito tempo. Regeneração pós-fogo de pinhal, misturada com mato. Etapas na progressão desde o incêndio até ao modelo 4.
61 Correspondência entre modelos de combustível e tipos de coberto vegetal comuns em Portugal: Modelo 7: Modelo 8: Modelo 9: Modelo 10: Modelos 11 e 12: Matas pouco densas, sub-bosque com regeneração natural das espécies arbóreas, misturada com mato. Floresta densa de Pinus sylvestris e Fagus sylvatica. Floresta densa de Pinus pinaster e Quercus pyrenaica. Pouco frequente. Material lenhoso derrubado por vendavais ou fortes nevões, misturado com subbosque. São os modelos de sobrantes mais comuns. O modelo 13 ocorre raramente.
62 Erro!
63 Estimativa não-destrutiva da biomassa arbustiva: correlação com somatório do basal correlação com o volume da copa Para a correlação com o somatório do basal, conta-se o nº de caules em cada classe de diâmetro. Aplica-se facilmente a arbustos altos. É muito trabalhoso em arbustos pequenos com muitos caules. É bastante exacto, porque há forte correlação entre a área basal da planta e a sua biomassa. 2.5 cm 0,6 cm 7,5 cm Instrumento para determinação expedita da classe de diâmetro dos caules arbustivos.
64 O método do volume da copa baseia-se na correlação entre biomassa, área da copa e volume da copa. Este método requer medições de diâmetros da copa e da altura das plantas. É bastante rápido e adequado para arbustos de pequenas e médias dimensões. d h Há programas de cálculo do volume para formas mais complexas, como o neilóide elíptico ou o parabolóide.
65 O material lenhoso caído inclui troncos e ramos mortos, de árvores e arbustos. As suas cargas variam muito com a produtividade do local e a história do povoamento. Para estimar a carga deste combustível usa-se a técnica dos planos de intersecção, não-destrutiva e que tem a mesma base teórica que a dos transectos lineares. A técnica requer a contagem das intersecções de pedaços de lenho com um plano vertical e a sua alocação a uma classe de dimensão. A partir desta área de intersecção estima-se um volume e calcula-se a biomassa, considerando a gravidade específica do lenho.
66 Técnica do plano de intersecção e regras de inclusão / exclusão de objectos a amostrar.
67 A classificação de combustíveis tem servido, sobretudo, para calcular a velocidade de propagação, comprimento da chama e resistência ao contrôle de fogos em combustíveis de superfície, visando o planeamento quantitiativo da supressão. Para isto, os 13 modelos estilizados são adequados e suficientes. Mas não aborda a previsão de comportamentos extremos, nem modela efeitos relacionados com o tempo de residência da chama, ou com o calor total libertado pelo fogo. O novo sistema de classificação das características do combustível (FCCS) estratifica os leitos de combustível em 6 estratos horizontais, que representam ambientes de combustão distintos. Cada estrato é desagregado em um ou mais tipos de combustível, com características de combustão semelhantes, chamados categorias de leito de combustível.
68
69
70 Há um total de 16 categorias de leito, cada uma descrita por variáveis fisionómicas e de gradiente. As variáveis fisionómicas representam atributos morfológicos, qímicos e fisiológicos. P.ex. a categoria erva tem variáveis fisionómicas como a espessura da folha (usada para inferir σ) e o hábito de crescimento (e.g. estolonífero vs rizomatoso, que serve para inferir a disposição do combustível).
71 As variáveis de gradiente caracterizam a abundância relativa do combustível. A categoria erva inclui variáveis de gradiente como a % de coberto, altura, % de biomassa viva. Com esta informação sobre características do combustível (var. fisionómicas) e abundância (var. de gradiente), o FCCS calcula a carga total de combustível, σ, ρ b e outros parâmetros de input para modelos de comportamento do fogo. O FCCS fornece um conjunto de valores quantitativos, contínuos de características do combustível, e de comportamento potencial do fogo, a partir de inputs do utilizador e de uma classificação estilizada de características do combustível. O FCCS incorpora na classificação de combustíveis aspectos das classificações taxonómicas e ecológicas da vegetação.
72 Os descritores do comportamento potencial do fogo incluídos no FCCS baseia-se em três indices: de comportamento potencial do fogo (velocidade de propagação). de potencial para fogo de copas. de combustível disponível potencial (calor libertado / efeitos do fogo).
73 A inventariação de combustíveis a larga escala espacial é cara e trabalhosa, pelo que se tem explorado o uso da detecção remota para cartografar tipos de combustível e seus atributos quantitativos. A cartografia do tipo de combustível é uma modalidade de cartografia da ocupação do solo e pode abranger áreas muito extensas.
74 A cartografia de parâmetros quantitativos dos combustíveis com recurso à DR é mais difícil, mas há resultados experimentais interessantes com LiDaR. O LiDaR é uma espécie de Radar, mas que funciona com raios laser, em vez de ondas de rádio.
75
76
77
78
Desenvolvimento experimental de modelos de comportamento do fogo para apoio à gestão florestal
 Workshop Novas Tecnologias em Gestão Florestal Sustentável - A gestão do risco de incêndio e a gestão da cadeia de valor, 25-26 Out. 2010, Instituto Superior de Agronomia Desenvolvimento experimental de
Workshop Novas Tecnologias em Gestão Florestal Sustentável - A gestão do risco de incêndio e a gestão da cadeia de valor, 25-26 Out. 2010, Instituto Superior de Agronomia Desenvolvimento experimental de
Tipologia das relações entre fogo e floresta: conceitos e definições utilizados nas fichas
 Tipologia das relações entre fogo e floresta: conceitos e definições utilizados nas fichas RISCO de INCÊNDIO Cargas de combustível Classificação da combustibilidade Distribuição da combustibilidade ECOLOGIA
Tipologia das relações entre fogo e floresta: conceitos e definições utilizados nas fichas RISCO de INCÊNDIO Cargas de combustível Classificação da combustibilidade Distribuição da combustibilidade ECOLOGIA
Caracterização e análise do coberto vegetal lenhoso e o seu contributo para a produção de cinzas resultantes de incêndios florestais
 = POCI / AGR / 59180 / 2004 = Caracterização e análise do coberto vegetal lenhoso e o seu contributo para a produção de cinzas resultantes de incêndios florestais Luís Quinta-Nova Paulo Fernandez Conferências
= POCI / AGR / 59180 / 2004 = Caracterização e análise do coberto vegetal lenhoso e o seu contributo para a produção de cinzas resultantes de incêndios florestais Luís Quinta-Nova Paulo Fernandez Conferências
CAPITULO II ANÁLISE DO RISCO, DA VULNERABILIDADE AOS INCÊNDIOS E DA ZONAGEM DO TERRITÓRIO
 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Fafe CAPITULO II ANÁLISE DO RISCO, DA VULNERABILIDADE AOS INCÊNDIOS E DA ZONAGEM DO TERRITÓRIO De acordo com a Portaria n.º 1060/2004 de 21 Agosto,
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Fafe CAPITULO II ANÁLISE DO RISCO, DA VULNERABILIDADE AOS INCÊNDIOS E DA ZONAGEM DO TERRITÓRIO De acordo com a Portaria n.º 1060/2004 de 21 Agosto,
Fichas-tipo das relações entre o fogo e a floresta Portuguesa. Projeto FFP/IFAP Nº Recuperação de Áreas Ardidas
 Fichas-tipo das relações entre o fogo e a floresta Portuguesa Projeto FFP/IFAP Nº2004 09 002629 7 Recuperação de Áreas Ardidas Paulo Fernandes e Cláudia Guedes Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura
Fichas-tipo das relações entre o fogo e a floresta Portuguesa Projeto FFP/IFAP Nº2004 09 002629 7 Recuperação de Áreas Ardidas Paulo Fernandes e Cláudia Guedes Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura
Ecologia do Fogo 4/7/08 O FOGO. O fogo é
 Ecologia do Fogo O fogo é -!desenvolvimento simultâneo de calor e luz produzido pela combustão de certos corpos -!o calor e a energia libertados durante uma reacção química, em particular uma reacção de
Ecologia do Fogo O fogo é -!desenvolvimento simultâneo de calor e luz produzido pela combustão de certos corpos -!o calor e a energia libertados durante uma reacção química, em particular uma reacção de
Informação não dendrométrica
 Informação não dendrométrica Sumário Caracterização geral da parcela de inventário Caracterização da diversidade vegetal da parcela de inventário Codificação de árvores Caracterização de madeira morta
Informação não dendrométrica Sumário Caracterização geral da parcela de inventário Caracterização da diversidade vegetal da parcela de inventário Codificação de árvores Caracterização de madeira morta
Sistemas silvopastoris em Portugal: Situação Actual e Perspectivas futuras
 Sistemas silvopastoris em Portugal: Situação Actual e Perspectivas futuras Marina Meca Ferreira de Castro ESAB História Introducción à l agroforestrie (92/93) Master Pastoralisme Projecto ALWAYS (93-96)
Sistemas silvopastoris em Portugal: Situação Actual e Perspectivas futuras Marina Meca Ferreira de Castro ESAB História Introducción à l agroforestrie (92/93) Master Pastoralisme Projecto ALWAYS (93-96)
Formação Vegetal PROFESSORA NOELINDA NASCIMENTO
 Formação Vegetal PROFESSORA NOELINDA NASCIMENTO É uma comunidade de plantas e animais, com formas de vidas e condições ambientais semelhantes, cada bioma é representado por um tipo de vegetação. Um bioma
Formação Vegetal PROFESSORA NOELINDA NASCIMENTO É uma comunidade de plantas e animais, com formas de vidas e condições ambientais semelhantes, cada bioma é representado por um tipo de vegetação. Um bioma
GEOGRAFIA PROFºEMERSON
 GEOGRAFIA PROFºEMERSON BIOMAS TERRESTRES FLORESTA TROPICAL Abriga mais da metade das espécies de plantas e animais do planeta Este é o bioma de maior produtividade biológica da Terra, resultado da alta
GEOGRAFIA PROFºEMERSON BIOMAS TERRESTRES FLORESTA TROPICAL Abriga mais da metade das espécies de plantas e animais do planeta Este é o bioma de maior produtividade biológica da Terra, resultado da alta
LCF 5865 Silvicultura Urbana Prof.Dr. Demóstenes Ferreira da Silva Filho Aluna: Yukie Kabashima
 Effect of visitors pressure on soil and vegetation in several different micro-environments in urban parks in Tel Aviv Pariente Sarah, Helena M. Zhevelev ScienceDirect Landscape and Urban Planning LCF 5865
Effect of visitors pressure on soil and vegetation in several different micro-environments in urban parks in Tel Aviv Pariente Sarah, Helena M. Zhevelev ScienceDirect Landscape and Urban Planning LCF 5865
FLORESTA UNIDA. Floresta Unida:
 Floresta Unida: Endereço : Rua João Luso, n.º2, 1.º andar 3200 246 Lousã E Mail Geral : florestaunida.pt@florestaunida.com E Mail Departamento Florestal : dep.florestal.pt@florestaunida.com Telefone Fixo
Floresta Unida: Endereço : Rua João Luso, n.º2, 1.º andar 3200 246 Lousã E Mail Geral : florestaunida.pt@florestaunida.com E Mail Departamento Florestal : dep.florestal.pt@florestaunida.com Telefone Fixo
Curso de Graduação em Engenharia Ambiental. Disciplina: BI62A - Biologia 2. Profa. Patrícia C. Lobo Faria
 Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Disciplina: BI62A - Biologia 2 Profa. Patrícia C. Lobo Faria http://pessoal.utfpr.edu.br/patricialobo Biomas Conjunto de comunidades terrestres com uma extensão
Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Disciplina: BI62A - Biologia 2 Profa. Patrícia C. Lobo Faria http://pessoal.utfpr.edu.br/patricialobo Biomas Conjunto de comunidades terrestres com uma extensão
Estrutura e funcionamento das raízes em sobreiro: o uso da água Conceição Santos Silva - UNAC
 Estrutura e funcionamento das raízes em sobreiro: o uso da água Conceição Santos Silva - UNAC Workshop Gestão de Sobcoberto em Montado: Opções, Impactos e Rentabilidade? UNAC, Coruche, 10 Abril 2018 Estrutura
Estrutura e funcionamento das raízes em sobreiro: o uso da água Conceição Santos Silva - UNAC Workshop Gestão de Sobcoberto em Montado: Opções, Impactos e Rentabilidade? UNAC, Coruche, 10 Abril 2018 Estrutura
Cláudio Santos - Biologia
 Bosque do Carvalhal Aljubarrota Cadoiço Carvalhal Aljubarrota/Alcobaça Instituto Educativo do juncal Juncal Porto de Mós - Leiria 12.ºano 25 alunos Cláudio Santos - Biologia Bosque do Carvalhal Aljubarrota
Bosque do Carvalhal Aljubarrota Cadoiço Carvalhal Aljubarrota/Alcobaça Instituto Educativo do juncal Juncal Porto de Mós - Leiria 12.ºano 25 alunos Cláudio Santos - Biologia Bosque do Carvalhal Aljubarrota
RELAÇÕES MASSA/ VOLUME
 RELAÇÕES MASSA/ VOLUME Atributos físicos e químicos do solo -Aula 7- Prof. Alexandre Paiva da Silva DENSIDADE DO SOLO 1 Introdução Porque uma amostra de solo de mata ou de um horizonte superior é mais
RELAÇÕES MASSA/ VOLUME Atributos físicos e químicos do solo -Aula 7- Prof. Alexandre Paiva da Silva DENSIDADE DO SOLO 1 Introdução Porque uma amostra de solo de mata ou de um horizonte superior é mais
Entre as características físicas da madeira, cujo conhecimento é importante para sua utilização como material de construção, destacam-se:
 Disciplina Estruturas de Madeira Notas de aula Prof. Andréa Roberta 2. PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA Conhecer as propriedades físicas da madeira é de grande importância porque estas propriedades podem
Disciplina Estruturas de Madeira Notas de aula Prof. Andréa Roberta 2. PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA Conhecer as propriedades físicas da madeira é de grande importância porque estas propriedades podem
 Avaliação da quantidade de biomassa em povoamentos florestais de Cryptomeria japonica e Pittosporum undulatum nos Açores PONTE, N.; LOURENÇO, P.; PACHECO, J.; SILVA, L.; MEDEIROS, V. & ARANHA, J. INVENTÁRIO
Avaliação da quantidade de biomassa em povoamentos florestais de Cryptomeria japonica e Pittosporum undulatum nos Açores PONTE, N.; LOURENÇO, P.; PACHECO, J.; SILVA, L.; MEDEIROS, V. & ARANHA, J. INVENTÁRIO
Estudo 4 - Oportunidades de Negócios em Segmentos Produtivos Nacionais
 Centro de Gestão e Estudos Estratégicos Ciência, Tecnologia e Inovação Prospecção Tecnológica Mudança do Clima Estudo 4 - Oportunidades de Negócios em Segmentos Produtivos Nacionais Giselda Durigan Instituto
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos Ciência, Tecnologia e Inovação Prospecção Tecnológica Mudança do Clima Estudo 4 - Oportunidades de Negócios em Segmentos Produtivos Nacionais Giselda Durigan Instituto
Disciplina: BI63 B ECOSSISTEMAS. Tema da aula - Distúrbios: Sucessão Ecológica: principais conceitos e aplicações.
 Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Disciplina: BI63 B ECOSSISTEMAS Tema da aula - Distúrbios: Sucessão Ecológica: principais conceitos e aplicações. http://www.usp.br/agen/bols/2000/rede517.htm
Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Disciplina: BI63 B ECOSSISTEMAS Tema da aula - Distúrbios: Sucessão Ecológica: principais conceitos e aplicações. http://www.usp.br/agen/bols/2000/rede517.htm
Ação de estabilização de emergência pós incêndio Medidas a curto prazo
 Ação de estabilização de emergência pós incêndio Medidas a curto prazo Mata Nacional de Leiria - Ribeiro de Moel - Novembro.2017 1 1. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO AÇÕES A IMPLEMENTAR - DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
Ação de estabilização de emergência pós incêndio Medidas a curto prazo Mata Nacional de Leiria - Ribeiro de Moel - Novembro.2017 1 1. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO AÇÕES A IMPLEMENTAR - DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
GUIA DE FOGO CONTROLADO EM EUCALIPTAL
 GUIA DE FOGO CONTROLADO EM EUCALIPTAL Ficha técnica Título: Guia de fogo controlado em eucaliptal,,3 Autores: Anita Pinto, Paulo Fernandes e Carlos Loureiro Centro de Investigação e Tecnologias Agro-ambientais
GUIA DE FOGO CONTROLADO EM EUCALIPTAL Ficha técnica Título: Guia de fogo controlado em eucaliptal,,3 Autores: Anita Pinto, Paulo Fernandes e Carlos Loureiro Centro de Investigação e Tecnologias Agro-ambientais
5. Evaporação e Transpiração
 Transpiração 5.1. Definição Na fase terrestre do ciclo hidrológico, a evaporação e a transpiração são os processos físicos responsáveis pelas perdas de água da superfície para a atmosfera. Aos processos
Transpiração 5.1. Definição Na fase terrestre do ciclo hidrológico, a evaporação e a transpiração são os processos físicos responsáveis pelas perdas de água da superfície para a atmosfera. Aos processos
Modelação do crescimento e da produção de pinha no pinheiro manso Ponto de situação e perspetivas
 Modelação do crescimento e da produção de pinha no pinheiro manso Ponto de situação e perspetivas Margarida Tomé Instituto Superior de Agronomia Centro de Estudos Florestais Projetos AGRO 451: Optimização
Modelação do crescimento e da produção de pinha no pinheiro manso Ponto de situação e perspetivas Margarida Tomé Instituto Superior de Agronomia Centro de Estudos Florestais Projetos AGRO 451: Optimização
Clima(s) CLIMAS - SOLOS E AGRICULTURA TROPICAL. Mestrado em Direito à Alimentação e Desenvolvimento Rural UC: Agricultura Tropical.
 CLIMAS - SOLOS E AGRICULTURA TROPICAL Mestrado em Direito à Alimentação e Desenvolvimento Rural UC: Agricultura Tropical Óscar Crispim Machado (omachado@esac.pt) ESAC, abril de 2012 Clima(s) Aula 5 Zonas
CLIMAS - SOLOS E AGRICULTURA TROPICAL Mestrado em Direito à Alimentação e Desenvolvimento Rural UC: Agricultura Tropical Óscar Crispim Machado (omachado@esac.pt) ESAC, abril de 2012 Clima(s) Aula 5 Zonas
A Reconversão da Faixa de Protecção das Linhas de Transporte de Energia da RNT
 A Reconversão da Faixa de Protecção das Linhas de Transporte de Energia da RNT Servidão Administrativa A servidão administrativa é um encargo imposto por disposição de lei sobre um determinado prédio em
A Reconversão da Faixa de Protecção das Linhas de Transporte de Energia da RNT Servidão Administrativa A servidão administrativa é um encargo imposto por disposição de lei sobre um determinado prédio em
Atributos físicos e químicos do solo -Aula 7- Prof. Josinaldo Lopes Araujo Rocha
 RELAÇÕES MASSA/ VOLUME Atributos físicos e químicos do solo -Aula 7- Prof. Josinaldo Lopes Araujo Rocha DENSIDADE DO SOLO Introdução Porque uma amostra de solo de mata ou de um horizonte superior é mais
RELAÇÕES MASSA/ VOLUME Atributos físicos e químicos do solo -Aula 7- Prof. Josinaldo Lopes Araujo Rocha DENSIDADE DO SOLO Introdução Porque uma amostra de solo de mata ou de um horizonte superior é mais
Operações Florestais. Operações Florestais
 Operações Florestais Exploração Florestal Processo de produção constituído por um conjunto de operações através das quais o material lenhoso, principal ou secundário, chegado o momento da colheita, é retirado
Operações Florestais Exploração Florestal Processo de produção constituído por um conjunto de operações através das quais o material lenhoso, principal ou secundário, chegado o momento da colheita, é retirado
Avaliação de variáveis do povoamento com base em parcelas
 Avaliação de variáveis do povoamento com base em parcelas Inventário Florestal Licenciatura em Engª Florestal e dos Recursos Naturais 4º semestre 2015-2016 Área basal média e diâmetro quadrático médio
Avaliação de variáveis do povoamento com base em parcelas Inventário Florestal Licenciatura em Engª Florestal e dos Recursos Naturais 4º semestre 2015-2016 Área basal média e diâmetro quadrático médio
HIDROLOGIA ENGENHARIA AMBIENTAL. Aula 06
 HIDROLOGIA ENGENHARIA AMBIENTAL Aula 06 EVAPORAÇÃO E TRANSPIRAÇÃO 2 Definição Evaporação: é o processo natural pelo qual a água, de uma superfície livre (líquida) ou de uma superfície úmida, passa para
HIDROLOGIA ENGENHARIA AMBIENTAL Aula 06 EVAPORAÇÃO E TRANSPIRAÇÃO 2 Definição Evaporação: é o processo natural pelo qual a água, de uma superfície livre (líquida) ou de uma superfície úmida, passa para
Disciplina: BI63 B ECOSSISTEMAS
 Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Disciplina: BI63 B ECOSSISTEMAS Profa. Patrícia C. Lobo Faria http://paginapessoal.utfpr.edu.br/patricialobo Conteúdo da aula: Obtenção de dados sobre populações
Curso de Graduação em Engenharia Ambiental Disciplina: BI63 B ECOSSISTEMAS Profa. Patrícia C. Lobo Faria http://paginapessoal.utfpr.edu.br/patricialobo Conteúdo da aula: Obtenção de dados sobre populações
HIDROLOGIA AULA 06 e semestre - Engenharia Civil INFILTRAÇÃO. Profª. Priscila Pini
 HIDROLOGIA AULA 06 e 07 5 semestre - Engenharia Civil INFILTRAÇÃO Profª. Priscila Pini prof.priscila@feitep.edu.br INTERCEPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA Retenção de água da chuva antes que ela atinja o solo.
HIDROLOGIA AULA 06 e 07 5 semestre - Engenharia Civil INFILTRAÇÃO Profª. Priscila Pini prof.priscila@feitep.edu.br INTERCEPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA Retenção de água da chuva antes que ela atinja o solo.
UMIDADE E TEMPERATURA DO SOLO
 UMIDADE E TEMPERATURA DO SOLO Atributos físicos e químicos do solo -Aula 9- Prof. Josinaldo Lopes Araujo Rocha UMIDADE DO SOLO Importância da água manutenção de organismos vivos demanda atmosférica: sistema
UMIDADE E TEMPERATURA DO SOLO Atributos físicos e químicos do solo -Aula 9- Prof. Josinaldo Lopes Araujo Rocha UMIDADE DO SOLO Importância da água manutenção de organismos vivos demanda atmosférica: sistema
Prof. Dr. Umberto Klock Curso de Engenharia Industrial Madeireira 22/04/ AT 073 INTRODUÇÃO A ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA
 Prof. Dr. Umberto Klock Curso de Engenharia Industrial Madeireira 22/04/2014 1 AT 073 INTRODUÇÃO A ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA 22/04/2014 2 Conhecer as propriedades da madeira: Propriedades físicas.
Prof. Dr. Umberto Klock Curso de Engenharia Industrial Madeireira 22/04/2014 1 AT 073 INTRODUÇÃO A ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA 22/04/2014 2 Conhecer as propriedades da madeira: Propriedades físicas.
 Terminologia Vegetal Aciculifoliadas folhas em forma de agulha; Latifoliadas folhas largas e grandes; Perenes nunca perdem as folhas por completo; Caducas (decíduas) perdem as folhas antes de secas ou
Terminologia Vegetal Aciculifoliadas folhas em forma de agulha; Latifoliadas folhas largas e grandes; Perenes nunca perdem as folhas por completo; Caducas (decíduas) perdem as folhas antes de secas ou
Água no Solo. V. Infiltração e água no solo Susana Prada. Representação esquemática das diferentes fases de um solo
 V. Infiltração e água no solo Susana Prada Água no Solo ROCHA MÃE SOLO TEMPO Meteorização Química Física + Actividade orgânica Os Solos actuam na fase terrestre do ciclo hidrológico como reservatórios
V. Infiltração e água no solo Susana Prada Água no Solo ROCHA MÃE SOLO TEMPO Meteorização Química Física + Actividade orgânica Os Solos actuam na fase terrestre do ciclo hidrológico como reservatórios
Olival é carbono verde?
 Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas Grupo de Ecossistemas e Paisagens Mediterrânicas Olival é carbono verde? Margarida Vaz O Sequestro de CARBONO A problemática do Carbono na atmosfera
Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas Grupo de Ecossistemas e Paisagens Mediterrânicas Olival é carbono verde? Margarida Vaz O Sequestro de CARBONO A problemática do Carbono na atmosfera
Relações hídricas das plantas T6
 Fisiologia Vegetal Relações hídricas das plantas T6 Tradeoff entre vulnerabilidade à cavitação e condutividade MARIA CONCEIÇÃO BRITO CALDEIRA (mcaldeira@isa.utl.pt) Centro de Estudos Florestais http://www.isa.utl.pt/cef/forecogen
Fisiologia Vegetal Relações hídricas das plantas T6 Tradeoff entre vulnerabilidade à cavitação e condutividade MARIA CONCEIÇÃO BRITO CALDEIRA (mcaldeira@isa.utl.pt) Centro de Estudos Florestais http://www.isa.utl.pt/cef/forecogen
GUIA DE FOGO CONTROLADO EM MATOS
 GUIA DE FOGO CONTROLADO EM MATOS GRUPO DE FOGOS DEPARTAMENTO FLORESTAL UTAD - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO VILA REAL 1. INTRODUÇÃO O objectivo principal do conjunto de regras de aplicação
GUIA DE FOGO CONTROLADO EM MATOS GRUPO DE FOGOS DEPARTAMENTO FLORESTAL UTAD - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO VILA REAL 1. INTRODUÇÃO O objectivo principal do conjunto de regras de aplicação
Medição e avaliação de variáveis da árvore
 Medição e avaliação de variáveis da árvore Inventário Florestal Licenciatura em Engª Florestal e dos Recursos Naturais 4º semestre 2015-2016 PRÉ-REQUISITOS INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FLORESTAIS (10 h) Variável
Medição e avaliação de variáveis da árvore Inventário Florestal Licenciatura em Engª Florestal e dos Recursos Naturais 4º semestre 2015-2016 PRÉ-REQUISITOS INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FLORESTAIS (10 h) Variável
AGRICULTURA I Téc. Agroecologia
 AGRICULTURA I Téc. Agroecologia CULTURA DO MILHO IFSC CÂMPUS LAGES FENOLOGIA DO MILHO Etapas de desenvolvimento: 1.Germinação e emergência: Semeadura até o efetivo aparecimento da plântula, Duração pode
AGRICULTURA I Téc. Agroecologia CULTURA DO MILHO IFSC CÂMPUS LAGES FENOLOGIA DO MILHO Etapas de desenvolvimento: 1.Germinação e emergência: Semeadura até o efetivo aparecimento da plântula, Duração pode
INVENTÁRIO FLORESTAL ÍNDICE DE SÍTIO
 INVENTÁRIO FLORESTAL ÍNDICE DE SÍTIO IMPORTÂNCIA DESAFIO DA Silvicultura: UTILIZAÇÃO SUSTENTADA (CONTÍNUA) DOS RECURSOS FLORESTAIS, COM O MÍNIMO DANO AMBIENTAL POSSÍVEL, OTIMIZANDO O USO DOS RECURSOS AMBIENTAIS
INVENTÁRIO FLORESTAL ÍNDICE DE SÍTIO IMPORTÂNCIA DESAFIO DA Silvicultura: UTILIZAÇÃO SUSTENTADA (CONTÍNUA) DOS RECURSOS FLORESTAIS, COM O MÍNIMO DANO AMBIENTAL POSSÍVEL, OTIMIZANDO O USO DOS RECURSOS AMBIENTAIS
Prof. Pedro Brancalion
 Prof. Pedro Brancalion Conceitos 1. Exame (diagnóstico ambiental) 2.Prescrição de um tratamento (métodos de restauração ecológica) 3.Acompanhamento (monitoramento) Demandas de monitoramento Cumprimento
Prof. Pedro Brancalion Conceitos 1. Exame (diagnóstico ambiental) 2.Prescrição de um tratamento (métodos de restauração ecológica) 3.Acompanhamento (monitoramento) Demandas de monitoramento Cumprimento
BIOMA CERRADO Resolução SMA 64/2009. Ilustração: José Felipe Ribeiro
 BIOMA CERRADO Resolução SMA 64/2009 Ilustração: José Felipe Ribeiro CONCEITOS RESOLUÇÃO SMA 64/09 Artigo 2º Estágios sucessionais de regeneração do cerrado: Níveis de complexidade da vegetação do cerrado,
BIOMA CERRADO Resolução SMA 64/2009 Ilustração: José Felipe Ribeiro CONCEITOS RESOLUÇÃO SMA 64/09 Artigo 2º Estágios sucessionais de regeneração do cerrado: Níveis de complexidade da vegetação do cerrado,
Reabilitação de pedreiras e biodiversidade Casos de estudo, estratégias e desafios
 Reabilitação de pedreiras e biodiversidade Casos de estudo, estratégias e desafios Alexandra Silva, Centro Técnico Corporativo 13 Setembro 2018 I Seminário "Boas Práticas Ambientais em Minas e Pedreiras"
Reabilitação de pedreiras e biodiversidade Casos de estudo, estratégias e desafios Alexandra Silva, Centro Técnico Corporativo 13 Setembro 2018 I Seminário "Boas Práticas Ambientais em Minas e Pedreiras"
MODELAÇÃO NUMÉRICA DA INTERACÇÃO TÉRMICA SOLO-ESTRUTURA: ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO TERMOACTIVAS
 MODELAÇÃO NUMÉRICA DA INTERACÇÃO TÉRMICA SOLO-ESTRUTURA: ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO TERMOACTIVAS Ana Vieira; João R. Maranha Departamento de Geotecnia, LNEC A gestão dos recursos energéticos é um tema central
MODELAÇÃO NUMÉRICA DA INTERACÇÃO TÉRMICA SOLO-ESTRUTURA: ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO TERMOACTIVAS Ana Vieira; João R. Maranha Departamento de Geotecnia, LNEC A gestão dos recursos energéticos é um tema central
Hidrologia. 3 - Coleta de Dados de Interesse para a Hidrologia 3.1. Introdução 3.2. Sistemas clássicos Estações meteorológicas
 Hidrologia 1 - Introdução 1.1. Generalidades 1.2. Ciclo hidrológico 1.3. Métodos de estudos 1.4. Exemplos de aplicações da hidrologia à engenharia 2 - Fundamentos Geofísicos da Hidrologia 2.1. A atmosfera
Hidrologia 1 - Introdução 1.1. Generalidades 1.2. Ciclo hidrológico 1.3. Métodos de estudos 1.4. Exemplos de aplicações da hidrologia à engenharia 2 - Fundamentos Geofísicos da Hidrologia 2.1. A atmosfera
Geologia e conservação de solos. Luiz José Cruz Bezerra
 Geologia e conservação de solos Luiz José Cruz Bezerra SOLO É a parte natural e integrada à paisagem que dá suporte às plantas que nele se desenvolvem. Parte mais superficial e fina da crosta terrestre.
Geologia e conservação de solos Luiz José Cruz Bezerra SOLO É a parte natural e integrada à paisagem que dá suporte às plantas que nele se desenvolvem. Parte mais superficial e fina da crosta terrestre.
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. CC54Z - Hidrologia. Infiltração e água no solo. Prof. Fernando Andrade Curitiba, 2014
 Universidade Tecnológica Federal do Paraná CC54Z - Hidrologia Infiltração e água no solo Prof. Fernando Andrade Curitiba, 2014 Objetivos da aula Definir as grandezas características e a importância da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná CC54Z - Hidrologia Infiltração e água no solo Prof. Fernando Andrade Curitiba, 2014 Objetivos da aula Definir as grandezas características e a importância da
INFILTRAÇÃO* E ARMAZENAMENTO NO SOLO. Prof. José Carlos Mendonça
 INFILTRAÇÃO* E ARMAZENAMENTO NO SOLO Prof. José Carlos Mendonça ÁGUA NO SOLO As propriedades do solo, estão associadas ao funcionamento hidrológico do solo. Causa a destruição da estrutura do solo Excesso
INFILTRAÇÃO* E ARMAZENAMENTO NO SOLO Prof. José Carlos Mendonça ÁGUA NO SOLO As propriedades do solo, estão associadas ao funcionamento hidrológico do solo. Causa a destruição da estrutura do solo Excesso
Ecologia O mundo físico Clima Clima regional
 O mundo físico Clima Clima regional Efeito da topografia O mundo físico Clima Clima regional Clima da cidade comparado com o do campo elemento partículas de condensação mistura de gases cobertura de nuvens
O mundo físico Clima Clima regional Efeito da topografia O mundo físico Clima Clima regional Clima da cidade comparado com o do campo elemento partículas de condensação mistura de gases cobertura de nuvens
Inve t ntári á io Fl Flor t es l Definição, Tipos e Aplicação no Manejo Florestal
 Inventário Florestal l Definição, Tipos e Aplicação no Manejo Florestal Inventário de um Sistema Natural (Floresta) Floresta Definição: Formação arbórea (inclui florestas naturais e plantadas) com indivíduos
Inventário Florestal l Definição, Tipos e Aplicação no Manejo Florestal Inventário de um Sistema Natural (Floresta) Floresta Definição: Formação arbórea (inclui florestas naturais e plantadas) com indivíduos
Amendoeira nas regiões de clima mediterrânico
 Estratégias de rega deficitária em amendoeira António Castro Ribeiro antrib@ipb.pt Departamento de Produção e Tecnologia e Vegetal Amendoeira nas regiões de clima mediterrânico Exposta a condições desfavoráveis
Estratégias de rega deficitária em amendoeira António Castro Ribeiro antrib@ipb.pt Departamento de Produção e Tecnologia e Vegetal Amendoeira nas regiões de clima mediterrânico Exposta a condições desfavoráveis
Caracterização de Trocas de Calor Latente e suas Consequências na Evolução da Camada Limite Atmosférica no Cerrado do Distrito Federal
 Caracterização de Trocas de Calor Latente e suas Consequências na Evolução da Camada Limite Atmosférica no Cerrado do Distrito Federal Luis Aramis dos Reis Pinheiro Dissertação de Mestrado Universidade
Caracterização de Trocas de Calor Latente e suas Consequências na Evolução da Camada Limite Atmosférica no Cerrado do Distrito Federal Luis Aramis dos Reis Pinheiro Dissertação de Mestrado Universidade
Recuperação Paisagística & Biodiversidade Caso de Estudo SECIL-Outão. ALEXANDRA SILVA Ambiente & Biodiversidade Centro Técnico Corporativo
 Recuperação Paisagística & Biodiversidade Caso de Estudo SECIL-Outão ALEXANDRA SILVA Ambiente & Biodiversidade Centro Técnico Corporativo XIII JORNADAS TÉCNICAS DA ANIET 9 de Novembro de 2016 Fábrica SECIL-Outão
Recuperação Paisagística & Biodiversidade Caso de Estudo SECIL-Outão ALEXANDRA SILVA Ambiente & Biodiversidade Centro Técnico Corporativo XIII JORNADAS TÉCNICAS DA ANIET 9 de Novembro de 2016 Fábrica SECIL-Outão
WORKSHOP - Monitorizar a Saúde da Floresta Seminário Nacional Eco-Escolas Guimarães
 Steven Kuzma io WORKSHOP - Monitorizar a Saúde da Floresta Seminário Nacional Eco-Escolas Guimarães Jorge Fernandes jorge.fernandes@lpn.pt O que é a Saúde da Floresta? Definir pode ser confuso porque é
Steven Kuzma io WORKSHOP - Monitorizar a Saúde da Floresta Seminário Nacional Eco-Escolas Guimarães Jorge Fernandes jorge.fernandes@lpn.pt O que é a Saúde da Floresta? Definir pode ser confuso porque é
LUGAR DA LAGE - CAIXAS
 1 PLANO DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LUGAR DA LAGE - CAIXAS 2 1 - INTRODUÇÃO Com o presente estudo pretende-se concretizar um plano de exploração agrícola para o Lugar da Lage que servirá de orientação para
1 PLANO DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LUGAR DA LAGE - CAIXAS 2 1 - INTRODUÇÃO Com o presente estudo pretende-se concretizar um plano de exploração agrícola para o Lugar da Lage que servirá de orientação para
Portaria CBRN 01/2015
 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS Portaria CBRN 01/2015 Estabelece o Protocolo de Monitoramento de Projetos de Restauração Ecológica O Coordenador de Biodiversidade
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS Portaria CBRN 01/2015 Estabelece o Protocolo de Monitoramento de Projetos de Restauração Ecológica O Coordenador de Biodiversidade
Água de adesão = faixa de umidade que vai de 0% a aproximadamente 30%.
 Secagem da madeira Água de adesão = faixa de umidade que vai de 0% a aproximadamente 30%. Movimenta-se por difusão, através das paredes das células, necessitando de energia (calor) para ser retirada da
Secagem da madeira Água de adesão = faixa de umidade que vai de 0% a aproximadamente 30%. Movimenta-se por difusão, através das paredes das células, necessitando de energia (calor) para ser retirada da
Compactação. Compactação
 Compactação Compactação Objectivo tornar o betão mais compacto possível provocando a saída do ar e facilitando o arranjo interno das partículas. O contacto com os moldes e armaduras deve ser perfeito.
Compactação Compactação Objectivo tornar o betão mais compacto possível provocando a saída do ar e facilitando o arranjo interno das partículas. O contacto com os moldes e armaduras deve ser perfeito.
Problemas ambientais globais. Gestão da Floresta Desertificação. 1º Ano Eng.ª Ambiente /2017. Tipos de florestas e sua importância
 Problemas ambientais globais Gestão da Floresta 1º Ano Eng.ª Ambiente - 2016/2017 1 Tipos de florestas e sua importância virgens resultantes ( old-growth forests ) da reflorestação ( second-growth forests
Problemas ambientais globais Gestão da Floresta 1º Ano Eng.ª Ambiente - 2016/2017 1 Tipos de florestas e sua importância virgens resultantes ( old-growth forests ) da reflorestação ( second-growth forests
Determinação dos raios de visibilidade
 ESTUDO DA VISIBILIDADE EM POSTOS DE VIGIA E DA SUA INFLUÊNCIA NA VIGILÂNCIA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS INTRODUÇÃO - Objectivos do Estudo 1 Carta Nacional de Visibilidades 1 Carta Nacional de Prioridades de
ESTUDO DA VISIBILIDADE EM POSTOS DE VIGIA E DA SUA INFLUÊNCIA NA VIGILÂNCIA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS INTRODUÇÃO - Objectivos do Estudo 1 Carta Nacional de Visibilidades 1 Carta Nacional de Prioridades de
Quantificação da serapilheira acumulada em um povoamento de Eucalyptus saligna Smith em São Gabriel - RS
 http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.12-505-1 Quantificação da serapilheira acumulada em um povoamento de Eucalyptus saligna Smith em São Gabriel - RS Renata R. de Carvalho 1, Mauro V. Schumacher
http://dx.doi.org/10.12702/viii.simposfloresta.2014.12-505-1 Quantificação da serapilheira acumulada em um povoamento de Eucalyptus saligna Smith em São Gabriel - RS Renata R. de Carvalho 1, Mauro V. Schumacher
FAGOSILVA. Lísia Lopes. Lísia Lopes, Rosa Pinho e Paula Maia. Herbário do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Figura 2 Carvalhal
 FAGOSILVA A floresta dos carvalhos FOTOGRAFIA Lísia Lopes TEXTOS Lísia Lopes, Rosa Pinho e Paula Maia Herbário do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro Figura 2 Carvalhal Figura 1 Quercus
FAGOSILVA A floresta dos carvalhos FOTOGRAFIA Lísia Lopes TEXTOS Lísia Lopes, Rosa Pinho e Paula Maia Herbário do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro Figura 2 Carvalhal Figura 1 Quercus
Compactação. Para se conseguir este objectivo torna-se indispensável diminuir o atrito interno das partículas.
 Compactação Objectivo tornar o betão mais compacto possível provocando a saída do ar e facilitando o arranjo interno das partículas. O contacto com os moldes e armaduras deve ser perfeito. Para se conseguir
Compactação Objectivo tornar o betão mais compacto possível provocando a saída do ar e facilitando o arranjo interno das partículas. O contacto com os moldes e armaduras deve ser perfeito. Para se conseguir
Recuperação da Paisagem Mestrado 1º ano 2º semestre
 Recuperação da Paisagem Mestrado 1º ano 2º semestre Thomas Panagopoulos Prof. Auxiliar Tecnicas de engenharia natural (biotecnical stabilization) Objectivos tecnicos - Preparação do substrato Falta de
Recuperação da Paisagem Mestrado 1º ano 2º semestre Thomas Panagopoulos Prof. Auxiliar Tecnicas de engenharia natural (biotecnical stabilization) Objectivos tecnicos - Preparação do substrato Falta de
COMPORTAMENTO DO FOGO
 COMPORTAMENTO DO FOGO Triângulo do comportamento do fogo meteorologia topografia combustível Comportamento do fogo: o modo como os combustíveis entram em ignição, a chama se desenvolve e o fogo se propaga,
COMPORTAMENTO DO FOGO Triângulo do comportamento do fogo meteorologia topografia combustível Comportamento do fogo: o modo como os combustíveis entram em ignição, a chama se desenvolve e o fogo se propaga,
21/06/2010. De acordo com a idade, os povoamentos florestais podem ser: equiânios ou inequiânios.
 Povoamentos florestais Povoamento florestal é uma parte da floresta que se distingue do resto da floresta por causa da sua estrutura e composição particular de espécies arbóreas, e o tamanho mínimo situa-se
Povoamentos florestais Povoamento florestal é uma parte da floresta que se distingue do resto da floresta por causa da sua estrutura e composição particular de espécies arbóreas, e o tamanho mínimo situa-se
Satélites Artificiais da Terra
 Satélites Artificiais da Terra Os valores numéricos correspondem aos níveis radiométricos registados pelo sensor em cada uma das bandas espectrais. Satélites Artificiais da Terra As imagens de satélite
Satélites Artificiais da Terra Os valores numéricos correspondem aos níveis radiométricos registados pelo sensor em cada uma das bandas espectrais. Satélites Artificiais da Terra As imagens de satélite
Bloco B: ESPAÇOS VERDES E SUSTENTABILIDADE. 1.3 Uso eficiente da água nos espaços verdes
 Bloco B: ESPAÇOS VERDES E SUSTENTABILIDADE 1.1 A água no solo; 1.2 Monitorização da água no solo; 1.3 Uso eficiente da água nos espaços verdes Maria Isabel Valín Sanjiao Ponte de Lima 19 Maio- 2010 isabelvalin@esa.ipvc.pt
Bloco B: ESPAÇOS VERDES E SUSTENTABILIDADE 1.1 A água no solo; 1.2 Monitorização da água no solo; 1.3 Uso eficiente da água nos espaços verdes Maria Isabel Valín Sanjiao Ponte de Lima 19 Maio- 2010 isabelvalin@esa.ipvc.pt
Climatologia e meteorologia
 Climatologia e meteorologia 1. Introdução A climatologia é a ciência que se ocupa do estudo dos climas. Os estudos climatológicos referem-se, de uma maneira geral, a territórios mais ou menos vastos e
Climatologia e meteorologia 1. Introdução A climatologia é a ciência que se ocupa do estudo dos climas. Os estudos climatológicos referem-se, de uma maneira geral, a territórios mais ou menos vastos e
ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM DAS OLGAS
 ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM DAS OLGAS 1. INTRODUÇÃO...2 2. CARACTERIZAÇÃO DOS HABITATS NATURAIS PRESENTES NAS MANCHAS DE EMPRÉSTIMO...3 3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS E
ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM DAS OLGAS 1. INTRODUÇÃO...2 2. CARACTERIZAÇÃO DOS HABITATS NATURAIS PRESENTES NAS MANCHAS DE EMPRÉSTIMO...3 3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS E
SEMINÁRIO mais e melhor pinhal
 SEMINÁRIO mais e melhor pinhal Painel 2 - Incentivo ao investimento: aumentar a rentabilidade do pinhal Instalação e Condução a Custos Mínimos Cantanhede, 14/12/2012 Rui Rosmaninho I. ENQUADRAMENTO GERAL
SEMINÁRIO mais e melhor pinhal Painel 2 - Incentivo ao investimento: aumentar a rentabilidade do pinhal Instalação e Condução a Custos Mínimos Cantanhede, 14/12/2012 Rui Rosmaninho I. ENQUADRAMENTO GERAL
AGRICULTURA I Téc. Agronegócios
 AGRICULTURA I Téc. Agronegócios CULTURA DO MILHO IFSC CÂMPUS LAGES FENOLOGIA DO MILHO INTRODUÇÃO: Ciclo vegetativo variado Evidencia cultivares desde extremamente precoces, cuja polinização pode ocorrer
AGRICULTURA I Téc. Agronegócios CULTURA DO MILHO IFSC CÂMPUS LAGES FENOLOGIA DO MILHO INTRODUÇÃO: Ciclo vegetativo variado Evidencia cultivares desde extremamente precoces, cuja polinização pode ocorrer
A NATUREZA DO BRASIL: CLIMA E VEGETAÇÃO
 A NATUREZA DO BRASIL: CLIMA E VEGETAÇÃO A NATUREZA DO BRASIL (...) Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, impávido colosso (...) Hino Nacional Brasileiro A NATUREZA DO BRASIL: O CLIMA Os climas
A NATUREZA DO BRASIL: CLIMA E VEGETAÇÃO A NATUREZA DO BRASIL (...) Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, impávido colosso (...) Hino Nacional Brasileiro A NATUREZA DO BRASIL: O CLIMA Os climas
Floresta Amazônica É uma floresta tropical fechada, formada em boa parte por árvores de grande porte, situando-se próximas uma das outras (floresta fe
 Biomas do Brasil Floresta Amazônica É uma floresta tropical fechada, formada em boa parte por árvores de grande porte, situando-se próximas uma das outras (floresta fechada). O solo desta floresta não
Biomas do Brasil Floresta Amazônica É uma floresta tropical fechada, formada em boa parte por árvores de grande porte, situando-se próximas uma das outras (floresta fechada). O solo desta floresta não
É uma floresta de árvores originárias do próprio território. Neste caso, a floresta autóctone portuguesa é toda a floresta formada por árvores
 É uma floresta de árvores originárias do próprio território. Neste caso, a floresta autóctone portuguesa é toda a floresta formada por árvores originárias do nosso país, como é o caso do carvalho, do medronheiro,
É uma floresta de árvores originárias do próprio território. Neste caso, a floresta autóctone portuguesa é toda a floresta formada por árvores originárias do nosso país, como é o caso do carvalho, do medronheiro,
Quercus pyrenaica Willd. 1 Exemplares no Parque
 Quercus pyrenaica Willd. 1 Exemplares no Parque Família Fagaceae Nome Comum carvalho-negral, carvalho-da-beira, carvalho-pardo-da-beira, carvalho-pardo-do-minho, pardodas-beiras Origem Europa e África:
Quercus pyrenaica Willd. 1 Exemplares no Parque Família Fagaceae Nome Comum carvalho-negral, carvalho-da-beira, carvalho-pardo-da-beira, carvalho-pardo-do-minho, pardodas-beiras Origem Europa e África:
Redes de defesa da floresta contra incêndios FGC Aplicação do Regime Jurídico das Ações de Arborização e Rearborização
 Redes de defesa da floresta contra incêndios FGC Aplicação do Regime Jurídico das Ações de Arborização e Rearborização PENELA 05 setembro de 2015 Redes de defesa da floresta contra incêndios Legislação
Redes de defesa da floresta contra incêndios FGC Aplicação do Regime Jurídico das Ações de Arborização e Rearborização PENELA 05 setembro de 2015 Redes de defesa da floresta contra incêndios Legislação
Gestão eficaz de biomassa florestal. Nuno Rocha Pedro ESA IPCB
 Gestão eficaz de biomassa florestal Nuno Rocha Pedro ESA IPCB Equipa Profª Cristina Alegria Prof. Paulo Fernandez Prof. José Massano Eng. Filipe Afonso Fileiras florestais Fileira da madeira Fileira da
Gestão eficaz de biomassa florestal Nuno Rocha Pedro ESA IPCB Equipa Profª Cristina Alegria Prof. Paulo Fernandez Prof. José Massano Eng. Filipe Afonso Fileiras florestais Fileira da madeira Fileira da
Mecânica dos solos AULA 4
 Mecânica dos solos AULA 4 Prof. Nathália Duarte Índices físicos dos solos OBJETIVOS Definir os principais índices físicos do solo; Calcular os índices a partir de expressões matemáticas; Descrever os procedimentos
Mecânica dos solos AULA 4 Prof. Nathália Duarte Índices físicos dos solos OBJETIVOS Definir os principais índices físicos do solo; Calcular os índices a partir de expressões matemáticas; Descrever os procedimentos
Condições edáficas do Nordeste para empreendimentos florestais. Prof. Paulo Rogério Soares de Oliveira UFRN
 Condições edáficas do Nordeste para empreendimentos florestais Prof. Paulo Rogério Soares de Oliveira UFRN Dezembro de 2011 Introdução Edafologia é a ciência que trata da influência dos solos em seres
Condições edáficas do Nordeste para empreendimentos florestais Prof. Paulo Rogério Soares de Oliveira UFRN Dezembro de 2011 Introdução Edafologia é a ciência que trata da influência dos solos em seres
INFRA ESTRUTURA URBANA VEGETAÇÃO URBANA
 INFRA ESTRUTURA URBANA VEGETAÇÃO URBANA vegetação importância Projeto do espaço livre >> Projeto dos vazios >> Vegetação vegetação importância vegetação funções Aspectos Paisagísticos Dramaticidade dada
INFRA ESTRUTURA URBANA VEGETAÇÃO URBANA vegetação importância Projeto do espaço livre >> Projeto dos vazios >> Vegetação vegetação importância vegetação funções Aspectos Paisagísticos Dramaticidade dada
Pode o modelo 3PG ser utilizado para simular o impacto da desfolha? Primeiros testes. Margarida Tomé, João Rua, Susana Barreiro, Manuela Branco
 Pode o modelo 3PG ser utilizado para simular o impacto da desfolha? Primeiros testes Margarida Tomé, João Rua, Susana Barreiro, Manuela Branco Tópicos O modelo 3PG (breve descrição) Como o modelo 3PG simula
Pode o modelo 3PG ser utilizado para simular o impacto da desfolha? Primeiros testes Margarida Tomé, João Rua, Susana Barreiro, Manuela Branco Tópicos O modelo 3PG (breve descrição) Como o modelo 3PG simula
6.º INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL
 6.º INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL I F N 6 Áreas dos usos do solo e das espécies florestais de Portugal continental 1995 2005 2010 v1.0 fevereiro 2013 Evolução das áreas de uso/ocupação do solo de Portugal
6.º INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL I F N 6 Áreas dos usos do solo e das espécies florestais de Portugal continental 1995 2005 2010 v1.0 fevereiro 2013 Evolução das áreas de uso/ocupação do solo de Portugal
Produção de plantas para arborização urbana. Hoje O EMPREGO DE SUBSTRATO NA PRODUÇÃO DE PLANTAS O EMPREGO DE SUBSTRATO
 X CBAU - 5 a 8 de novembro de 2006 Maringá / PR Oficina: O EMPREGO DE SUBSTRATO NA PRODUÇÃO DE PLANTAS O EMPREGO DE SUBSTRATO NA PRODUÇÃO DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA Atelene N. Kämpf http://chasqueweb.ufrgs.br/~atelene.kampf
X CBAU - 5 a 8 de novembro de 2006 Maringá / PR Oficina: O EMPREGO DE SUBSTRATO NA PRODUÇÃO DE PLANTAS O EMPREGO DE SUBSTRATO NA PRODUÇÃO DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA Atelene N. Kämpf http://chasqueweb.ufrgs.br/~atelene.kampf
AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 N.º 137 19 de julho de 2019 Pág. 70 AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL Portaria n.º 226/2019 de 19 de julho Sumário: Altera (terceira alteração) a Portaria n.º 394/2015, de 3 de novembro, alterada
N.º 137 19 de julho de 2019 Pág. 70 AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL Portaria n.º 226/2019 de 19 de julho Sumário: Altera (terceira alteração) a Portaria n.º 394/2015, de 3 de novembro, alterada
Senhor Presidente Senhoras e Senhores Deputados Senhora e Senhores Membros do Governo
 Silvicultura é a ciência que se ocupa do cuidado, aproveitamento e manutenção racional das florestas, em função do interesse ecológico, científico, económico e social de que elas são objecto. O objectivo
Silvicultura é a ciência que se ocupa do cuidado, aproveitamento e manutenção racional das florestas, em função do interesse ecológico, científico, económico e social de que elas são objecto. O objectivo
Avaliação da quantidade de resíduos florestais em operações de exploração de povoamentos comerciais
 Avaliação da quantidade de resíduos florestais em operações de exploração de povoamentos comerciais Estagiário: Nuno Filipe Ferreira Bicudo da Ponte Entidade: Direcção Regional dos Recursos Florestais
Avaliação da quantidade de resíduos florestais em operações de exploração de povoamentos comerciais Estagiário: Nuno Filipe Ferreira Bicudo da Ponte Entidade: Direcção Regional dos Recursos Florestais
Terminologia Vegetal
 Efeitos da latitude e da altitude sobre os biomas. Terminologia Vegetal Aciculifoliadas folhas em forma de ; Coriáceas folhas, e normalmente ; Decíduas antes de secas ou invernos rigorosos; Latifoliadas
Efeitos da latitude e da altitude sobre os biomas. Terminologia Vegetal Aciculifoliadas folhas em forma de ; Coriáceas folhas, e normalmente ; Decíduas antes de secas ou invernos rigorosos; Latifoliadas
Sérgio Miguel Gomes Lopes MODELOS DE PREVISÃO DO TEOR DE HUMIDADE DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAIS
 Sérgio Miguel Gomes Lopes MODELOS DE PREVISÃO DO TEOR DE HUMIDADE DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAIS Tese de Doutoramento na área científica de Engenharia Mecânica, especialidade de Riscos Naturais e Tecnológicos,
Sérgio Miguel Gomes Lopes MODELOS DE PREVISÃO DO TEOR DE HUMIDADE DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAIS Tese de Doutoramento na área científica de Engenharia Mecânica, especialidade de Riscos Naturais e Tecnológicos,
Monitoramento Nutricional e Recomendação de Adubação
 NU REE Programa em Nutrição e Solos Florestais DPS - SIF - UFV - Viçosa - MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS Monitoramento Nutricional e Recomendação de Adubação Contribuição
NU REE Programa em Nutrição e Solos Florestais DPS - SIF - UFV - Viçosa - MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS Monitoramento Nutricional e Recomendação de Adubação Contribuição
Ficha do Aluno UM BOSQUE PERTO DE SI. Vamos construir o mapa dos Ecossistemas Florestais Portugueses. Nome do Bosque / Local Bosque da Cortiçada
 UM BOSQUE PERTO DE SI Vamos construir o mapa dos Ecossistemas Florestais Portugueses Ficha do Aluno Nome do Bosque / Local Bosque da Cortiçada Distrito Castelo Branco Concelho Proença-a-Nova Freguesia
UM BOSQUE PERTO DE SI Vamos construir o mapa dos Ecossistemas Florestais Portugueses Ficha do Aluno Nome do Bosque / Local Bosque da Cortiçada Distrito Castelo Branco Concelho Proença-a-Nova Freguesia
Avaliação de variáveis do povoamento com base em parcelas
 Avaliação de variáveis do povoamento com base em parcelas Inventário Florestal Licenciatura em Engª Florestal e dos Recursos Naturais 4º semestre 2015-2016 Avaliação de variáveis ao nível do povoamento
Avaliação de variáveis do povoamento com base em parcelas Inventário Florestal Licenciatura em Engª Florestal e dos Recursos Naturais 4º semestre 2015-2016 Avaliação de variáveis ao nível do povoamento
Paulo Carvalho Ana Carvalho Lisete Osório. 30 de Maio de V Encontro Nacional, I Congresso Internacional de Riscos
 Paulo Carvalho Ana Carvalho Lisete Osório O caso da Serra da Boa Viagem 30 de Maio de 2009 V Encontro Nacional, I Congresso Internacional de Riscos 1. Apresentação 2. Metodologia 3. Resultados 4. Discussão
Paulo Carvalho Ana Carvalho Lisete Osório O caso da Serra da Boa Viagem 30 de Maio de 2009 V Encontro Nacional, I Congresso Internacional de Riscos 1. Apresentação 2. Metodologia 3. Resultados 4. Discussão
A xestión do recurso micolóxico. Un valor engadido para os proprietarios
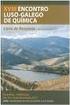 A xestión do recurso micolóxico. Un valor engadido para os proprietarios Fungos simbiontes Podem viver em parceria com algas (formando os líquenes) ou associados a raízes de plantas (formando as micorrizas).
A xestión do recurso micolóxico. Un valor engadido para os proprietarios Fungos simbiontes Podem viver em parceria com algas (formando os líquenes) ou associados a raízes de plantas (formando as micorrizas).
COLÉGIO BATISTA ÁGAPE CLIMA E VEGETAÇÃO 3 BIMESTRE PROFA. GABRIELA COUTO
 COLÉGIO BATISTA ÁGAPE CLIMA E VEGETAÇÃO 3 BIMESTRE PROFA. GABRIELA COUTO DIFERANÇA ENTRE CLIMA E TEMPO: - CLIMA: HÁ OBSERVAÇÃO E REGISTRO DE ATIVIDADE ATMOSFÉRICA DURANTE UM LONGO PERÍODO. AS CARACTERÍSTICAS
COLÉGIO BATISTA ÁGAPE CLIMA E VEGETAÇÃO 3 BIMESTRE PROFA. GABRIELA COUTO DIFERANÇA ENTRE CLIMA E TEMPO: - CLIMA: HÁ OBSERVAÇÃO E REGISTRO DE ATIVIDADE ATMOSFÉRICA DURANTE UM LONGO PERÍODO. AS CARACTERÍSTICAS
Biomassa Florestal Logística de Recolha e Valorização
 Biomassa Florestal Logística de Recolha e Valorização Manuel Cavalleri Bacharel em Engª. Florestal CIUL, 1 de Março de 2011 Floresta Portuguesa Composição Matas de Pinho, Eucaliptais, Montados de Sobro
Biomassa Florestal Logística de Recolha e Valorização Manuel Cavalleri Bacharel em Engª. Florestal CIUL, 1 de Março de 2011 Floresta Portuguesa Composição Matas de Pinho, Eucaliptais, Montados de Sobro
Prova teórica. Terça-feira, 23 de Julho de 2002
 Prova teórica Terça-feira, 23 de Julho de 22 Por favor, ler estas instruções antes de iniciar a prova: 1. O tempo disponível para a prova teórica é de 5 horas. 2. Utilizar apenas o material de escrita
Prova teórica Terça-feira, 23 de Julho de 22 Por favor, ler estas instruções antes de iniciar a prova: 1. O tempo disponível para a prova teórica é de 5 horas. 2. Utilizar apenas o material de escrita
Pós-Graduação e Mestrado em Viticultura Departamento de Agronomia. Monitorização da cultura da vinha UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
 Monitorização da cultura da vinha A - O meio ambiente: 1 - a temperatura; 2 - a humidade; 3 - o vento Monitorização da cultura da vinha B - A parcela: 1 - cartografia 2 - características fisícas e químicas
Monitorização da cultura da vinha A - O meio ambiente: 1 - a temperatura; 2 - a humidade; 3 - o vento Monitorização da cultura da vinha B - A parcela: 1 - cartografia 2 - características fisícas e químicas
