VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS ASSOCIADAS COM O DESEMPENHO EM PROVAS DE LONGA DURAÇÃO: das tradicionais as contemporâneas.
|
|
|
- Fernanda Vasques Belo
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 VOLUME 11 NÚMERO 1 JUNHO/ JULHO 2015 VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS ASSOCIADAS COM O DESEMPENHO EM PROVAS DE LONGA DURAÇÃO: das tradicionais as contemporâneas. Salomão Bueno 1 Nilo M Okuno 2 Adriano E Lima-Silva 3 Rômulo Bertuzzi 4 Resumo: Tradicionalmente variáveis como o consumo máximo de oxigênio, os limiares ventilatórios e a economia de corrida têm sido utilizados para determinar o desempenho aeróbio. No entanto, têm se sugerido que variáveis máximas como a velocidade pico determinada em esteira e submáxima como a cinética on do consumo de oxigênio também seriam importantes. Diante disso, o objetivo dessa revisão é apresentar evidencias da relação entre as variáveis fisiológicas associadas com o desempenho aeróbio para modalidades de longa duração. Sendo assim foram selecionados na base de dados PubMed, estudos desde 1923 até os mais recentes. Dessa forma, com base nos estudos analisados compreende-se que para modalidades de longa duração, devem ser utilizadaso variáveis máximas e submáximas quando o objetivo é predizer o desempenho. Palavras chave: consumo máximo de oxigênio, limiares ventilatórios, economia de corrida, cinética on do consumo de oxigênio, velocidade pico em esteira PHYSIOLOGICAL VARIABLES ASSOCIATED WITH ENDURANCE PERFORMANCE: traditional to cotemporary Abstract: Tradictionaly maximal oxygen uptake, ventilator threshold and running economy have been used to quatify the endurance performance. More recently, the velocyti peak in treadmill and on cinetic for oxygen uptake have been hightlight. Thus, the aim of this review is to present the main physiological variables associated with endurance performance in sports of the long time. Therefore a search was perfomed at Pubmed database being chosen articles since 1923 until the current. According to the studies presented in this review, have been acknowledged that in use of the maximal and submaximal variables correlated were very important for determine the endurance performance. Key words: maximal oxygen uptake, ventilatory threshold, running economy, oxygen uptake on kinetic, peak treadmill velocity. 1 Escola de Educação Física e Esportes USP, Brasil. 2 Prof. Dr. Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 3 Prof. Dr. Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, Brasil. 4 Prof.Dr. Departamento de Esportes da EEFE-USP, Brasil.
2 37 INTRODUÇÃO Em atividades com duração superior a 60 segundos, a ressíntese das moléculas de ATP utilizadas para a contração muscular é realizada, sobretudo, por processos bioquímicos que dependem da presença de oxigênio (O2) (Gastin et al., 2001). Assim, os estudos em ciência do esporte vêm investigando a aptidão em modalidades dependentes do metabolismo aeróbio desde o início do século passado (Margaria et al., 1933). Por esse motivo, diversas variáveis fisiológicas associadas ao desempenho também têm sido estudadas (Basset & Howley 2000; Bertuzzi et al., 2013; Meyer et al., 2005; Noakes et al., 1999; Saunders et al., 2004). Entre essas variáveis destacam-se o consumo máximo de oxigênio (V O2máx) (Roberts et al., 1932), os limiares ventilatórios (Wasserman & McLlory, 1964) e limiares de lactato (Denadai 1995), e a economia de corrida (EC) (Conley & Krahenbuhl, 1980). Por sua vez, entre as mais contemporâneas estão a velocidade pico atingida em teste progressivo máximo (Vpico) (Noakes et al., 1999) (figura 1) e a cinética on do consumo de oxigênio (V O2) (Rossiter et al., 2002). De maneira conjunta, as variáveis apresentadas acima vêm sendo comumente associadas com o desempenho aeróbio (Basset e Howley, 2000). Além disso, o entendimento da importância de cada uma dessas variáveis tem contribuído de forma significativa no processo de prescrição, seleção e controle do treinamento (Denadai 1995). Sendo assim, o objetivo desse trabalho é apresentar uma revisão sobre os principais variáveis máximas e submáximas associadas com o desempenho aeróbio em modalidades de longa duração. Para tanto, foi realizada uma busca sistemática no banco de dados PubMed, utilizando as seguintes palavras isoladamente e combinadas: running performance, endurance performance, maximal oxygen uptake, ventilatory threshold, running enconomy, peak velocity e oxygen uptake kinetics. CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO ( O2máx) Entre as principais variáveis fisiológicas, a mais tradicional é o consumo máximo de oxigênio (V O2máx). O V O2máx é um índice representativo da quantidade de oxigênio por unidade de tempo que o organismo consegue extrair do ambiente, transportar pelo sistema circulatório para que seja então utilizado pelas células para o processo de ressíntese de ATP por via metabolismo aeróbio (Basset & Howley, 2000). Sendo assim, altos valores do V O2máx são importantes na realização de atividades físicas em que a demanda de oxigênio imposta pelo músculo esquelético é alta, como por exemplo, durante uma corrida de 5 km (Bosquet et al., 2002).
3 38 Figura 1. Gráfico de consumo de oxigênio e da concentração de lactato sanguíneo durante a realização de teste progressivo. Essa importante variável tem sido amplamente estudada nas pesquisas desde o início do século passado (Robinson et al., 1938; Rabadan et al., 2011; Sjödin & Svendenhag 1985). As primeiras evidências foram apresentadas por Hill e Lupton (1923), que demostraram que o consumo de oxigênio (V O2) para uma atividade possuía uma relação linear com a intensidade do esforço. Verificaram também que nas intensidades próximas ao máximo, o V O2 perdia sua característica de aumento linear com a intensidade e se estabilizava mesmo com o aumento da intensidade (Hill & Lupton 1923). A partir dessa análise, surgiram os primeiros indícios sobre V O2máx (Hill & Lupton 1923). Robinson et al. (1938) foram os primeiros a associar os altos valores do V O2máx com o resultado em modalidades esportivas, como provas de longa duração, constatando que os atletas com melhor desempenho apresentavam os maiores valores do V O2máx. De forma similar Saltin e Astrand (1967), associaram o V O2máx com os melhores resultados em modalidades predominantemente aeróbias, evidenciando que os atletas de alto nível apresentavam altos valores do V O2máx como, por exemplo, os corredores de distâncias maiores que 3000 metros, com valores de V O2máx de 75 ml.kg -1.min -1. A partir desses resultados, chegou-se a conclusão de que existiria uma relação importante entre os altos valores de V O2máx com os melhores
4 39 resultados em provas predominantemente aeróbias. Anos depois das primeiras evidências, uma série de estudos demonstrou que o O2máx poderia não ser sensível o suficiente para discriminar diferenças na aptidão em grupos homogêneos (Grant et al., 1997; Noakes et al., 1990; Rabadán et al., 2011; Sjödin & Svendenhag, 1985). Por exemplo, Sjödin e Svendenhag (1985), demonstraram que utilizar somente o O2máx não seria capaz o suficiente de predizer o desempenho em corridas, pois indivíduos com valores similares de O2máx apresentavam diferentes resultados em provas. Posteriormente, Noakes et al. (1990) evidenciaram valores mais significativos de correlação entre a velocidade pico em esteira e resultado em prova (r = 0,91) do que comparado os valores de correlação entre o O2máx (r = 0,86). Similarmente, Grant et al. (1997) também constataram correlações de r = 0,93 para a velocidade do PCR e os tempos de corrida de longa duração, ao passo que o O2máx apresentou valores de r = 0,70. Em um estudo mais recente, Rabadán et al. (2011) propuseram um modelo para predição do desempenho em corridas predominantemente aeróbias. Para tanto foram recrutados atletas de provas de longa distância (distâncias de 5000 à metros, n = 32) e atletas de provas de média distância (distâncias compreendidas entre 800 e 1500 metros, n = 40) e todos atletas realizaram um teste progressivo até a exaustão vonluntária máxima. Identificou-se uma importante associação entre o O2máx e o sucesso nessas modalidades. No entanto, observou que utilizar somente o O2máx poderia subestimar os resultados e dessa forma, propondo um modelo capaz de prever 84,7% do resultado seria necessário acrescentar outras variáveis como a velocidade em que se atinge o ponto de compensação respitatória (PCR) e o O2 na intensidade do PCR. Dessa forma, a partir dos estudos apresentados é possível compreender que o O2máx é um clássico preditor da aptidão aeróbia (Basset & Howley 2000). Contudo, por mais que essa variável seja capaz de representar o máximo de energia proveniente do metabolismo aeróbio, as evidências têm demonstrado que utilizá-la sozinha pode não ser sensível o suficiente para discriminar diferenças nos tempos de provas em grupos homogêneos (Noakes et al., 1990). Por esse motivo, têm se proposto a utilização de outras variáveis máximas e também de variáveis representantes de fatores submáximos.
5 40 LIMIARES METABÓLICOS Entre as variáveis submáximas, os limares metabólicos são os tradicionalmente utilizados (Denadai, 1995; Meyer et al., 2005). Durante a realização de atividades de longa duração, a capacidade do organismo em manter um possível equilíbrio metabólico dinâmico tem se apresentado como um fator importante para a continuidade do exercício (Hollosy & Coyle, 1984). Diante disso, diferentes respostas fisiológicas do organismo para a intensidade do esforço ocorrem, como por exemplo a modificação na dinâmica dos gases espirados bem como as diferentes concentrações de lactato sanguíneo (Meyer et al. 2005) as quais têm sido consideradas importantes variáveis representativas do equilíbrio metabólico em eventos esportivos de longa duração (Basset & Howley 2000). Ao realizar o exercício físico com aumento progressivo da intensidade, o organismo inicia uma série de processos metabólicos e fisiológicos para manter a continuidade da tarefa (Meyer et al., 2005). Através desses processos é possível determinar os pontos de transição entre os domínios de intensidade do esforço, esses que podem ser classificados como os limiares metabólicos (Denadai 1995). Dentre as formas utilizadas para identificar os limiares, as duas mais utilizadas são através da concentração de lactato sanguíneo (Heck et al. 1985) e por meio dos gases expirados (Wasserman & McLlory, 1964). A determinação por meio da concentração sanguínea de lactato pode ser considerada a análise mais clássica, na qual as primeiras evidências do acúmulo desse metabólito no organismo foram demonstrados por Fletcher e Hopkins (1907). Esse acúmulo apresenta dois momentos associados a intensidade do exercício (Farrel et al. 1979), o primeior momento o qual representa primeiro limiar, ocorre quando há um primeiro aumento da concentração de lactato durante o exercício acima dos valores basais (Wasserman et al. 1975), o segundo momento ocorre com o aumento da intensidade do exercício, há um ponto no qual a produção de lactato ultrapassa a capacidade de remoção, sendo que há o início do acúmulo de lactato no sangue (Farrel et al. 1979), sendo em alguns casos determinado a partir do valor fixo de 4 mmol (Heck et al. 1985). Por sua vez, a dinâmica das trocas gasosas também apresenta um diferente comportamento em resposta a intensidade do exercício (Wasserman & McLlory, 1964). Essa diferente dinâmica dos gases expirados foi inicialmente apresentada por Wasserman e McLlory (1964). Segundo os autores, ao iniciar o esforço de baixa intensidade há um pequeno aumento na produção de lactato, em relação aos níveis de repouso, paralelamente há também um aumento na ventilação e no O2 de forma proporcional com o aumento da intensidade do esforço. Em um determinado momento, com o prosseguir do aumento da intensidade, há um
6 41 ponto em que ocorre o acúmulo de lactato na corrente sanguínea, por sua vez a ventilação e a produção de CO2 começam a aumentar além do O2. Progredindo com o aumento da velocidade, há um segundo ponto, no qual a concentração de lactato aumenta mais rapidamente e a ventilação aumenta mais que a produção de CO2. Analisando esses fenômenos fisiológicos, constatou-se dois momentos em que as trocas gasosas apresentavam diferente comportamento, durante o exercício incremental, um momento no qual há o início do acúmulo de lactato sanguíneo em relação aos níveis de repouso, ocorrendo também um aumento da ventilação de forma proporcional ao aumento do O2 e um segundo momento no qual a concentração de lacatato sanguínea aumenta rapidamente e a ventilação aumenta desproporcionalmente a produção de CO2, sendo classificados como os limiares ventilatórios, ou mais precisamente LV e o PCR (Ribeiro, 1995) (figura 2). Figura 2. Gráfico da determinação do LV e PCR. Essa relação entre o acúmulo de metabólitos, repostas ventilatórias e intensidade do exercício é capaz de representar diferentes processos (Ribeiro, 1995). A intensidade na qual ocorre o LV está associada a um processo de tamponamento eficiente do lactato (Wasserman et al., 1965), apresentando uma maior oxidação de gordura (González-Haro, 2011), um maior recrutamento de fibras musculares do tipo I (Gollink et al., 1973) e uma maior predominância do metabolismo aeróbio como fornecedor de energia (Gastin et al., 2001). Por sua vez, a
7 42 intensidade posterior ao PCR representa uma ineficiência no tamponamento do lactato metabólico (Wasserman et al., 1965), bem como um aumento na oxidação de carboidratos (González-Haro et al., 2011), aumento no recrutamento de fibras do tipo II (Gollink et al., 1973) e o início de um aumento da contribuição anaeróbia, mesmo não sendo predominante, para o fornecimento de energia (Gastin et al., 2001). Em outras palavras, acredita-se que as intensidades em que ocorrem as diferentes dinâmicas do acúmulo de lactato sanguíneo estão correlacionado com o LV e PCR (Denadai 1995), e que estão associados com fenômenos fisiológicos importantes para o fornecimento de energia durante o esforço (Meyer et al., 2005). Além das pesquisas condicionadas à explicação do fenômeno fisiológico que precede a determinação do limiares metabólicos (Meyer et al., 2005; Wasserman et al., 1967), os estudos têm demonstrado que os limiares são sensíveis as modificações provenientes do treinamento (SJODIN & SVEDENHAG, 1982; DOUBOUCHAUD et al. 2000). Por exemplo, Sjodin et al. (1982) em um estudo que realizou treinamento aeróbio por 14 semanas com intensidade próxima a intensidade do PCR, identificaram modificações metabólicas importantes no sentido de melhora da via oxidativa, como diminuição significativa na concentração da enzima fosfofrutoquinase, uma diminuição na razão de fosfofrutoquinase e citrato sintase, aumento na densidade mitocondrial e a concentração de enzimas oxidativas, aumento na quantidade de enzimas da β-oxidação. Além disso, observou-se também que a intensidade na qual se atingia o PCR aumentou em relação às velocidades pré-treinamento. Doubouchaud et al. (2000) em estudo similar, observaram após nove semanas de treinamento, um aumento de 22% na intensidade na qual se atingia o segundo limiar de lactato, aumento de 75% na quantidade da enzima citrato sintase e também um aumento de 90% na expressão do transportador de monocarboxilato (MCT1), responsável pela captação do lactato pelas células musculares. Em linhas gerais, é sugerido que os limiares ventilatórios estão positivamente correlacionados com o sucesso em modalidades predominantemente aeróbias (Meyer et al., 2004). Mais precisamente, essa relação acontece quando se associa o PCR como uma forma de monitoramento das respostas do organismo ao estímulo de treinamento (Denadai, 1995; Sjodin et al., 1982). ECONOMIA DE CORRIDA (EC) Dentre as variáveis determinantes da aptidão aeróbia, a economia de corrida (EC) também tem recebido destaque das pesquisas (Foster et al., 2009; Saunders et al., 2004). Esse preditor tem sido definido como o custo de energia para uma determinada intensidade submáxima (Foster & Lucia, 2007) ou como o V O2 para uma determinada velocidade (Coyle et
8 43 al., 1980). Muitas vezes é possível observar indivíduos com o mesmo V O2máx, mas com economia de corrida diferente (Daniels & Daniels, 1992). Historicamente, as primeiras evidências sobre a importância da EC para a aptidão aeróbia foram apresentadas por Hill e Lupton (1923). Esses autores sugeriram que a capacidade do indivíduo em conseguir conservar as reservas de energia durante a corrida poderia ser um fator importante para a continuidade da tarefa. Alguns anos mais tarde, Astrand e Saltin (1967) identificaram que durante a realização da mesma tarefa, atletas com diferentes níveis de condicionamento físico apresentavam diferentes valores no V O2. Esses primeiros estudos apresentaram, ainda que de forma rudimentar, a relação entre uma menor utilização de oxigênio ou menor custo energético e o sucesso em modalidades predominantemente aeróbias (Astrand & Saltin, 1967; Hill e Lupton 1923). Buscando uma melhor compreensão dessa relação, mais pesquisas foram realizadas para compreender a importância da EC para a corrida, como por exemplo, o estudo de Conley e Krahenbuhl (1980), no qual identificaram correlações positivas entre desempenho nos 10 km com a EC mensurada a 14 km/h (r = 0,83; p < 0,01), 16 km/h (r = 0,82; p < 0,01) e 17 km/h (r = 0,79; p < 0,01). Além disso, constataram que a EC foi responsável por 65% da variância dos tempos de corrida nos 10 km desses atletas. Com isso, concluiu-se que a EC seria uma importante variável fisiológica associada ao desempenho, destacando assim a importância da EC para modalidades aeróbias de longa duração. Além das pesquisas que justificaram a importância da EC para a aptidão aeróbia (Conley & Krahenbuhl, 1980; Costill et al., 1975), também foram desenvolvidos estudos com objetivo de identificar os fatores que influenciariam a EC (Saunders et al., 2004). Um exemplo disso é o estudo de Bosco et al. (1987) no qual observaram associação entre a EC e o componente elástico do músculo esquelético. O componente elástico seria dependente da rigidez e da magnitude do estiramento da unidade músculo-tendão (Saunders et al., 2004) e também capaz de acumular energia elástica e transferi-la sem apresentar gastos metabólicos. Com isso, durante a fase excêntrica da passada, a energia elástica é armazenada nos músculos, tendões e ligamentos, ao passo que na fase concêntrica essa energia acumulada é mecanicamente transferida. Dessa forma, essa transferência de energia contribui para o deslocamento do corpo sem aumento do gasto energético, melhorando a EC (Saunders et al., 2004). Uma forma de treinar os componentes neuromusculares envolvidos com a EC é o treinamento em que envolve componentes de potência, como sprint e o treinamento pliométrico. Paavolainen et al. (1999) verificaram que este tipo de treinamento ocasionou uma melhora no desempenho de 5 km devido a diminuição no tempo de contato durante a corrida,
9 44 com consequente aumento da EC. Outro fator importante que se tem apresentado é a relação entre o metabolismo muscular e uma melhor EC (Holloszy et al., 1984). Supõe-se que as adaptações mitocondriais do músculo esquelético, podem contribuir para uma respiração celular mais eficiente, através da atividade de enzimas importantes: succinato desidrogenase, NADH desidrogenase, NADH citocromo c- redutase e citocromo oxidase (Holloszy et al., 1984). Em linhas gerais, as modificações metabólicas que contribuem para diferenças nos valores da EC estão associadas com uma maior atividade de enzimas importantes do metabolismo oxidativo e também com uma menor utilização das reservas de glicogênio (Foster & Lucia, 2007). Com isso, a partir das evidências apresentadas, é possível compreender a importância da EC para corridas de longa duração (Helgerud et al., 2010). A grande maioria das evidências apontam a importância da EC atrelada a fatores associados à rigidez do músculo esquelético (Bosco et al., 1987; Saunders et al., 2004) e poucas evidências demostram a influencia de fatores metabólicos (Foster & Lucia, 2007). Essa pequena quantidade de evidências associando metabolismo energético e EC podem limitar em grande parte os resultados, haja vista que por ser representativa em alguns casos (Saunders et al., 2004), fatores associados ao metabolismo podem ser interessantes de serem investigados. Com isso, apesar de já existirem muitos trabalhos já produzidos associando a EC com o desempenho em corrida de longa duração, ainda há lacunas a serem preenchidas. CINÉTICA ON DO CONSUMO DE OXIGÊNIO Dentre as variáveis consideradas mais contemporâneas, uma que se destaca é a análise do comportamento temporal do V O2 durante e após o exercício, sendo classificada como análise da cinética on e off do V O2 (Jones & Poole, 2005). Teoricamente, tanto o comportamento do V O2 durante a cinética on como na off representariam os mecanismo reguladores do metabolismo celular (Rossiter et al., 2002). Mais especificadamente, a cinética on tem recebido destaque como um importante fator associado à aptidão aeróbia (Wells et al. 2012), pois indivíduos que apresentam uma cinética on mais rápida são capazes de ter uma ativação acelerada do metabolismo aeróbio para o fornecimento de energia (Idström et al., 1985), bem como podem apresentar uma maior tolerância ao esforço (Wells et al., 2012). As primeiras pesquisas relacionadas à cinética do V O2 foram realizadas em meados da década de 1970, onde ocorreu o avanço na tecnologia em espirometria, possibilitando a análise
10 45 das trocas gasosas respiração a respiração (Jones & Pole 2005). Entre esses primeiros estudos, destaca-se o trabalho desenvolvido por Whipp e Wasserman (1972) no qual demonstraram que existiam três fases da cinética do V O2 durante o esforço. Essa análise temporal do V O2 durante o exercício apresenta três fases distintas classificadas como: a) fase 1 cardiodinâmica: nesta fase o aumento do V O2 ocorre devido o aumento do fluxo sanguíneo nos pulmões, não apresentando uma relação com o aumento do débito cardíaco e nem com a utilização de O2 pela musculatura em atividade (Whipp & Casaburi, 1982); b) fase 2: essa fase representa a utilização de oxigênio pela musculatura esquelética em atividade, representando também a degradação da fosforilcreatina durante o exercício (Bertuzzi & Rumenig-Souza, 2009); c) fase três: representa o possível estado estável do V O2 e normalmente costuma ser atingido após o terceiro minuto de atividade (Gaesser & Poole, 1996). A análise do comportamento da cinética do V O2 pode variar de acordo com a intensidade do exercício (Bertuzzi & Rumenig-Souza, 2008). Por esse motivo, a intensidade do esforço vem sendo dividida em quatro domínios (Ozyner et al., 2001), a saber: I) domínio moderado: intensidade sub limiar ventilatório; II) domínio pesado: intensidades de esforço entre o limiar ventilatório e o ponto de compensação respiratório, mais precisamente determinado pelo PCR; III) domínio muito pesado: intensidades entre o PCR e a intensidade na qual se atingiu o V O2máx e IV) domínio severo: intensidade supra a intensidade na qual se atingiu o V O2máx. Dessa forma, entendendo que existem diferentes momentos para a análise temporal do V O2 e que existem diferentes intensidades do esforço para analisar V O2, tem se proposto diferentes modelos matemáticos para a análise da cinética on do V O2 (Bertuzzi & Rumeing- Souza, 2008). Quando o objetivo é analisar o exercício em intensidade de domínio moderado e severo a modelagem matemática considerada mais apropriada é a monoexponencial (equação 1). No entanto, quando o objetivo é analisar o esforço realizado em intensidade do domínio pesado e muito pesado, a modelagem matemática proposta sugerida é a biexponencial (equação 2) (Özyner et al., 2001). Essa modelagem biexponencial é utilizada para essas duas intensidades do esforço, pois apresenta um rigor matemático mais robusto, visto que nessas duas intensidades do esforço há a presença do componente lento do V O2, mas especificamente durante a fase três (Bertuzzi et al., 2013). Vale salientar que essas modelagem mono e biexponencial são realizadas excluindo a fase cardiodinâmica, devido a essa fase não refletir o V O2 da musculatura esquelética.
11 46 O2(t) = O2rep + A1 [1-e -(t-δ 1 )/τ 1] (Equação 1) O2(t) = O2rep + A1 [1-e -(t-δ 1 )/ τ 1] + A2 [1-e -(t-δ 2 )/ τ 2] (Equação 2) O2(t)= consumo de oxigênio no momento t; O2rep = consumo de oxigênio de repouso; A = amplitude da exponencial; t = tempo em s; δ = tempo de atraso em s; τ = constante de tempo da exponencial em s; os números subscritos 1 e 2 são referentes aos componentes cinéticos do primeiro e segundo processo exponencial, respectivamente. Sendo assim, com a análise matemática da cinética on do V O2 torna-se possível quantificar a constante de tempo (τ), a amplitude da exponencial (A) e também o tempo de atraso (δ). Em uma explicação mais detalhada, pode-se compreender a τ com representativa do tempo necessário para se atingir 63% do valor estável do V O2, a A demonstra a magnitude do V O2 do início ao fim da exponencial e por sua vez o δ se refere ao tempo que se leva para determinada exponencial ter início (Bertuzzi & Rumenig-Souza 2008) (figura 3). Entre essas três variáveis, a τ tem recebido destaque em relação ao desempenho aeróbio, pois indivíduos mais treinados são capazes de apresentar menores valores na τ quando comparados a fisicamente ativos e a indivíduos com patologias cardíacas (Jones & Poole 2005). Além disso, quando são comparados atletas de velocidade em relação a atletas de resistência, é verificado uma menor τ para atletas de resistência (Berger et al., 2006). Esse efeito seria proveniente de uma maior fosforilação oxidativa e também um maior débito cardíaco no início do exercício que esses indivíduos apresentam.
12 47 Figura 3. Gráfico da consumo de oxigênio e representação dos componentes da cinética on. Essa importância da cinética on tem sido evidenciada também em estudos longitudinais como, por exemplo, Hagberg e Coyle (1984) que identificaram, após nove semanas de treinamento aeróbio, uma diminuição na constante de tempo para mesma carga submáxima de esforço de indivíduos fisicamente ativos. Por sua vez, Phillipis et al. (1995), após quatro semanas de treinamento aeróbio, identificaram melhora (diminuição) nos valores da cinética on, τ, mas não identificaram modificações nos valores do V O2máx e nos limiares ventilatórios. De forma similar, Kilding et al. (2006) identificaram que para corredores de provas de média e longa duração os valores da τ da cinética on apresentaram correlações significativas com o volume de treinamento dos corredores, r = - 0,63, p = 0,009 para corredores de média duração e r = - 0,68, p = 0,004 para corredores de longa duração. De forma conjunta, os estudos apresentados acima demonstram a cinética on, mais especificamente a τ, como uma variável sensível ao estímulo de treinamento, evidenciando assim sua importância para o desempenho aeróbio. Dessa forma, conseguimos observar uma relação importante entre a cinética on do V O2 e o desempenho em corridas de longa duração (Kilding et al. 2006). Evidencias ainda apresentam que a essa variável seria mais sensível ao estimulo de treinamento do que as mais tradicionalmente utilizadas, como por exemplo no estudo realizado por Phillipis et al. (1995), no qual ao comparar o valores da concentreção de lactato sanguíneo, do V O 2máx, velocidade
13 48 pico e da cinética on do consumo de oxigênio, após 30 dias de treinamento, evidenciou que as modificações significativas nos valores da cinética on foram evidenciasdas após quatro dias de treinamento, ao passo que as moficiações nos demais variáveis correream somente após esse periodo (Phillipis et al., 1995). No entanto, devido a complexidade de coleta e análise, as variáveis da cinética on não têm sido bem difundida no ambiente prático de treinamento, por esse motivo há uma necessidade de modelos mais simplificados para que ocorra uma maior aplicabilidade dessa variável. VELOCIDADE PICO EM ESTEIRA Outra variável que tem se destacado nos últimos 20 anos é a velocidade pico atingida durante um teste incremental realizado em esteira (Vpico) (Noakes et al., 1990). A Vpico é um representativo também dos fatores anaeróbios e neuromusculares que influenciam a corrida de longa duração (Paavolainen et al., 2000), como por exemplo, a maior capacidade de ressintetizar ATP via glicólise anaeróbia, maior ativação neural, maior força e elasticidade muscular (Bosco et al., 1994). Os primeiros indícios da importância da Vpico para o desempenho em provas de longa duração foram apresentados por Noakes et al. (1990), que observaram correlações significativas entre a Vpico e o tempo de prova para maratona (r = - 0,88) e ultramaratona (r = -0,94). Esse resultado foi possível, devido à influência do que eles consideraram como muscle power factors, que abrangeria aspectos como: atividade dos transportadores intracelulares de cálcio e da miosina ATPase e também o nível de atividade do ciclo das pontes cruzadas (Noakes et al. 1990). A partir desses achados fica evidenciado que fatores neuromusculares seriam importantes para o desempenho e que uma variável determinada em teste máximo com a Vpico contribuiria para descriminar a diferenças no desempenho. A partir desse estudo, mais pesquisas procuraram corroborar esses achados. Por exemplo, Houmard et al. (1991) identificaram correlações de r = - 0,79, entre o tempo de prova de 8 km e a Vpico. De forma semelhante, Scott et al. (1994) constataram valores de correlação de r = - 0,97 entre a Vpico e o tempo de corrida em provas de 5 km. Schabort et al. (1999) também identificaram elevados valores de correlação entre r = -0,84 para a Vpico em esteira e o tempo de corrida e r = - 0,85 entre a Vpico e o tempo total da prova. Assim, de maneira conjunta, os estudos apresentados destacam a importância da Vpico para provas de corrida de médias e longas distâncias. Além das pesquisas com objetivo de evidenciar a importância da Vpico para o desempenho em corrida (Houmard et al., 1991; Noakes et al., 1990; Schabort et al., 1999; Scott
14 49 et al., 1994) os estudos em ciência do esporte procuraram identificar diferentes fatores que influenciariam na melhora da Vpico (Billat et al., 2003; Mikkola et al., 2011; Talpaine et al., 2010). Por exemplo, Billat et al. (2003), aplicaram dois modelos diferentes de treinamento aeróbio, um intervalado de alta intensidade e outro contínuo de longa duração. Após a intervenção identificou-se que grupo submetido ao treinamento intervalado de alta intensidade obteve maiores valores da Vpico do que comparado com o grupo que realizou o treinamento contínuo (p < 0,01), bem como apresentaram valores mais elevados de correlação de r = -0,86 entre o desempenho em prova de 10 km e a Vpico. Por sua vez Mikkola et al. (2011) e Talpaine et al. (2010),evidenciaram melhoras nos valores da Vpico para um grupo de corredores experientes e amadores, respectivamente, que realizaram treinamento de força e treinamento de potência (p < 0,05). De maneira semelhante foi verificado no estudo de Sedano et al. (2013) em que corredores realizaram treinamento de força e verificaram além do aumento na Vpico, EC, um aumento no desempenho de 3 km, mas sem alteração no V O2máx. Em suma, esses estudos apresentam que melhoras nos fatores neuromusculares resultantes de um período de treinamento de força e/ou potência podem influenciar significativamente nos valores da Vpico, contribuindo paralelamente para o desempenho em corrida. Além disso, esses resultados reforçam que uma única variável muitas vezes pode não refletir o desempenho em atividades predominantes do metabolismo aeróbio. CONCLUSÃO A partir das evidências apresentadas nessa revisão, podemos compreender que os estudos mais tradicionais utilizaram como padrão para se determinar o desempenho para modalidades de longa duração o V O2máx, os limiares ventilatórios e da economia de corrida.. No entanto, pesquisas mais contemporâneas têm adicionado, a análise da cinética on do V O2 e também a Vpico, essa ultima variável como sendo uma das precursoras da importante relação entre fatores neuromusculares e o resultado em corrida de longa duração. Dessa forma, quando o objetivo é determinar o desempenho aeróbio para modalidades de longa duração os estudos têm apresentado que devem ser utilizadas na medida do possível essas variáveis de forma conjunta, para assim conseguir ter uma melhor compreensão do processo do desempenho aeróbio. REFERÊNCIAS BASSETT, D.R. JR, HOWLEY. Limiting factors for maximum oxygen uptake and
15 50 determinants of endurance performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32 (1), 70-8, BERTUZZI, R.C., RUMENIG-SOUZA, E. Resposta cinética do consumo de oxigênio: relação entre metabolismo aeróbio e atp-cp. Arquivos em Movimento, 5(1), , BERTUZZI, R.C., NASCIMENTO, E.M., URSO, R.P., DAMASCENO, M., LIMA-SILVA, A.E. Energy system contributions during incremental exercise test. Journal of Sports Science and Medicine, 12(3), , BILLAT, V., LEPRETRE, P.M., HEUGAS, A.M., LAURENCE, M.H., SALIM., D., KORALSZTEIN. Training and bioenergetic characteristics in elite male and female Kenyan runners. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35(2), , BOSCO, C., MONTANARI, G., RIBACCHI, R., GIOVENALI, P., LATTERI, F., IACHELLI, G., FAINA, M., COLLI, R., DAL MONTE, A., LA ROSA, M. Relationship between the efficiency of muscular work during jumping and the energetics of running. European Journal Applied Physiology and Occupational Physiology, 56(2), , CONLEY, D.L., KRAHENBUHL, G.S. Running economy and distance running performance of highly trained athletes. Medicine and Science in Sports and Exercise, 12(5), , COSTILL, D.L. Muscle fiber composition and enzyme activities of elite distance runners. Medicine and Science Sports, 8(2), , COYLE, E.F. Integration of the physiological factors determining endurance performance ability. Exercise and Sport Science Review, 23, 25-63, DANIELS, J., DANIELLS, N. Running economy of elite male and elite female runners. Medicine and Science in Sports and Exercise, 24(4), , DENADAI, B.S. Limiar anaeríbio: considerações fisiológicas e metodológicas. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, 1(2), 74-88, 1995, DUBOUCHAUD, H., BUTTERFIELD, G.E., WOLFEL, E.E., BERGMAN, B.C., BROOKS, G.A. Endurance training, expression, and physiology of LDH, MCT1, and MCT4 in human skeletal muscle. American Journal of Physiology and Endocrinological Metabolism, 278(4), E , FARRELL, P.A., WILMORE, J.H., COYLE, E. F., BILLING, J. E., COSTILL, D. L. Plasms lactate accumulation and distance running performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 11(4), , FLETCHER, W. M., HOPKINS, F.G. Lactic acid in amphibian muscle. Journal Physiology, 35, , FOSTER, C., LUCIA, A. Running economy: the forgotten factor in elite performance. Sports Medicine, 37(4-5), 316-9, 2007.
16 51 GAESSER, A.G., POOLE, D.C. The slow component of oxygen uptake kinetics in humans. Exercise and Sport Science Review, 24, 35-71, GASTIN, P.B. Energy system interaction and relative contribution during maximal exercise. Sports Medicine, 31(10), , GOLLNICK, P.D., ARMSTRONG, R.B., SALTIN, B., SAUBERT, C.W 4 TH., SEMBROWICH, W.L., SHEPHERD, R.E. Effect of training on enzyme activity and fiber composition of human skeletal muscle. Journal of Applied Physiology, 34(1), , GONZALEZ-HARO, C. (2011). Maximal fat oxidation rate and cross-over point with respect to lactate thresholds do not have good agreement. International Journal of Sports Medicine, 32 (5), , GRANT, S., CRAIG, I., WILSON, J., AITCHISON, T. The relationship between 3 km running performance and selected physiological variables. Journal of Sports Science, 15(4), , HAGBERG, J.M., COYLE, E.F. Physiologic comparison of competitive racewalking and running. International Journal of Sports Medicine, 5(2), 74-77, HECK, H; MALDER, A., HESS, G., MUCKE, S., MULLER, R., HOLLMAN, W. Justificaton of the 4-mmol/l lactate threshold. International Journal of Sports Medicine, 6(3), , HELGERUD, J., STØREN, O., HOFF, J. Are there differences in running economy at different velocities for well-trained distance runners? European Applied Physiology, 108(6), , HILL, A.V., LONG, C.H.N., LUPTON, H. Muscular exercise, lactic acid and the supply and utilisation of oxygen: parts VII VIII. Quarterly Journal. of Medicine, 16, , HOLLOSZY, J.O., COYLE, E.F. Adaptations of skeletal muscle to endurance exercise and their metabolic consequences. Journal of Applied Physiology, 56(4), 831-8, HOUMARD, J.A., CRAIB, M.W., O'BRIEN, K.F., SMITH, L.L., ISRAEL, R.G., WHEELER, W.S. Peak running velocity, submaximal energy expenditure, VO2max, and 8 km distance running performance. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 31(3), , IDSTRÖM, J.P., SUBRAMANIAN, V.H., CHANCE, B., SCHERSTEN, T., BYLUND- FELLENIUS, A.C. Oxygen dependence of energy metabolism in contracting and recovering rat skeletal muscle. American Journal of Physiology, 248(1 Pt 2), H40-H48, JONES, A. M., POOLE, D. C. Introduction to oxygen uptake kinetics and historical development of the discipline. In: Oxygen uptake kinetics in sport, exercise and medicine. Abingdon: Routlege, KILDING, A.E., WINTER, E.M., FYSH, M. A comparison of pulmonary oxygen uptake kinetics in middle- and long-distance runners. International Journal of Sports Medicine, 27(5), , 2006.
17 52 MARGARIA, R., EDWARDS, H.T., DILL, D.B. The possible mechanisms of contracting and paying the oxygen debt and the role of lactic acid in muscular contraction. American. Journal of Physiology, Bethesda, 106, , MEYER, T., LUCIA, A., EARNEST, C.P., KINDERMANN, W. (2005). A conceptual framework for performance diagnosis and training prescription from submaximal gas exchange parameters--theory and application. International Journal of Sports Medicine, 1, p.s38-48, MIKKOLA, J., VESTERINEN, V., TAIPALE, R., CAPOSTAGNO, B., HÄKKINEN, K., NUMMELA, A. Effect of resistance training regimens on treadmill running and neuromuscular performance in recreational endurance runners. Journal of Sports Science, 29(13), , NOAKES, T.D., MYBURCH, K.H., SCHALL, R. Peak treadmill running velocity during the VO2 max test predicts running performance. Journal of Sports Science, 8(1), 35-45, OZYENER, F., ROSSITER, H.B., WARD, S.A., WHIPP, B.J. Influence of exercise intensity on the on- and off-transient kinetics of pulmonary oxygen uptake in humans. Journal of Physiology, 15, , PAAVOLAINEN, L.M., NUMMELA, A.T., RUSKO, H.K. Neuromuscular characteristics and muscle power as determinants of 5-km running performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 31(1), , PHILLIPS, S.M., GREEN, H.J., MACDONALD, M.J., HUGHSON, R.L. Progressive effect of endurance training on VO2 kinetics at the onset of submaximal exercise. Journal of Applied Physiology, 79(6), , RABADÁN, M., DÍAZ, V., CALDERÓN, F.J., BENITO, P.J., PEINADO, A.B., MAFFULLI, N. Physiological determinants of speciality of elite middle- and long-distance runners. Journal of Sports Science, 29(9), , RIBEIRO, J. (1995). Limiares metabólicos e ventilatórios durante o exercício. Aspectos fisiológicos e metabólicos. Physiological and methodological aspects. Arquivos brasileiros de Cardiologia, 64(2), , ROBINSON, S., EDWARDS, H.T., DILL, D.B. New records in human power. Science, 85, , ROSSITER, H.B., WARD, S.A., KOWALCHUK, J.M., HOWE, F.A., GRIFFITHS, J.R., WHIPP, B.J. Dynamic asymmetry of phosphocreatine concentration and O(2) uptake between the on- and off-transients of moderate- and high-intensity exercise in humans. The Journal of Physiology, 15(541.3), , SALTIN, B., ASTRAND, P.O. Maximal oxygen uptake in athletes. Journal of Applied Physiology, 23(33), , SAUNDERS, P.U., PYNE, D.B., TELFORD, R.D., HAWLEY, J.A. Factors affecting running economy in trained distance runners. Sports Medicine, 34(7), , 2004.
18 53 SCHABORT, E.J., KILLIAN, S.C., ST CLAIR GIBSON, A., HAWLEY, J.A., NOAKES, T.D. Prediction of triathlon race time from laboratory testing in national triathletes. Medicine and Science in Sport sand Exercise. 32(4), 844-9, SCOTT, B.K., HOUMARD, J.A. Peak running velocity is highly related to distance running performance. International Journal of Sports Medicine, 15(8), , SEDANO, S., MARÍN, P.J., CUADRADO, G., REDONDO, J.C. Concurrent training in elite male runners: the influence of strength versus muscular endurance training on performance outcomes. Journal of Strength and Conditional Research, 27(9), , SJÖDIN, B., SVENDENHAG, J. Applied physiology of marathon running. Sports Medicine, 2(2), 83-99, WASSERMAN, K., MCLORY, M.B. Detecting the threshold of anaerobic metabolism. American Journal of Cardiology, 44, , WELLS, C.M., EDWARDS, A.M., WINTER, E.M., FYSH, M.L., DRUST, B. Sport-specific fitness testing differentiates professional from amateur soccer players where VO2max and VO2 kinetics do not. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 52(3), , WHIPP, B.J., WASSERMAN, K. Oxygen uptake kinetics for various intensities of constantload work. Journal of Applied Physiology, Bethesda, 33(3), , Contato dos autores: Submetido em 08/08/2014 Aprovado em 19/ 05/2015
Objetivo da aula. Trabalho celular 01/09/2016 GASTO ENERGÉTICO. Energia e Trabalho Biológico
 Escola de Educação Física e Esporte Universidade de São Paulo Bioquímica da Atividade Motora Calorimetria Medida do Gasto Energético No Exercício Físico Objetivo da aula Medida do gasto energético no exercício
Escola de Educação Física e Esporte Universidade de São Paulo Bioquímica da Atividade Motora Calorimetria Medida do Gasto Energético No Exercício Físico Objetivo da aula Medida do gasto energético no exercício
Adaptações Metabólicas do Treinamento. Capítulo 6 Wilmore & Costill Fisiologia do Exercício e do Esporte
 Adaptações Metabólicas do Treinamento Capítulo 6 Wilmore & Costill Fisiologia do Exercício e do Esporte Adaptações ao Treinamento Aeróbio Adaptações centrais e periféricas Realização do exercício submáximo
Adaptações Metabólicas do Treinamento Capítulo 6 Wilmore & Costill Fisiologia do Exercício e do Esporte Adaptações ao Treinamento Aeróbio Adaptações centrais e periféricas Realização do exercício submáximo
Limiar Anaeróbio. Prof. Sergio Gregorio da Silva, PhD. Wasserman & McIlroy Am. M. Cardiol, 14: , 1964
 Limiar Anaeróbio Prof. Sergio Gregorio da Silva, PhD Wasserman & McIlroy Am. M. Cardiol, 14:844-852, 1964 Introdução do termo Limiar de Metabolismo Anaeróbio Definido como a taxa de trabalho ou VO2 a partir
Limiar Anaeróbio Prof. Sergio Gregorio da Silva, PhD Wasserman & McIlroy Am. M. Cardiol, 14:844-852, 1964 Introdução do termo Limiar de Metabolismo Anaeróbio Definido como a taxa de trabalho ou VO2 a partir
28/10/2016.
 alexandre.personal@hotmail.com www.professoralexandrerocha.com.br 1 O exercício é um grade desafio para as vias energéticas! Exercício intenso: 15 a 25X o gasto energético em repouso Os músculos aumentam
alexandre.personal@hotmail.com www.professoralexandrerocha.com.br 1 O exercício é um grade desafio para as vias energéticas! Exercício intenso: 15 a 25X o gasto energético em repouso Os músculos aumentam
Bioenergética. Trabalho Biológico. Bioenergetica. Definição. Nutrição no Esporte. 1
 Bioenergética Trabalho Biológico Contração muscular * Digestão e Absorção Função glandular Manter gradientes de concentração Síntese de novos compostos Profa. Raquel Simões M. Netto 4 Exercício para saúde
Bioenergética Trabalho Biológico Contração muscular * Digestão e Absorção Função glandular Manter gradientes de concentração Síntese de novos compostos Profa. Raquel Simões M. Netto 4 Exercício para saúde
Faculdade de Motricidade Humana Unidade Orgânica de Ciências do Desporto TREINO DA RESISTÊNCIA
 Faculdade de Motricidade Humana Unidade Orgânica de Ciências do Desporto TREINO DA RESISTÊNCIA A capacidade do organismo de resistir à fadiga numa actividade motora prolongada. Entende-se por fadiga a
Faculdade de Motricidade Humana Unidade Orgânica de Ciências do Desporto TREINO DA RESISTÊNCIA A capacidade do organismo de resistir à fadiga numa actividade motora prolongada. Entende-se por fadiga a
vs. intensidade de testes progressivos até a exaustão (EC INCLINA
 O objetivo do presente estudo foi verificar a possibilidade de se estimar a economia de corrida (EC) a partir do coeficiente angular gerado pela relação O 2 vs. intensidade de testes progressivos até a
O objetivo do presente estudo foi verificar a possibilidade de se estimar a economia de corrida (EC) a partir do coeficiente angular gerado pela relação O 2 vs. intensidade de testes progressivos até a
É possível determinar a economia de corrida. através do teste progressivo até a exaustão? Resumo. Introdução
 É possível determinar a economia de corrida através do teste progressivo até a exaustão? É possível determinar a economia de corrida CDD. 20.ed. 796.03 Rômulo Cássio de Moraes BERTUZZI * Salomão BUENO
É possível determinar a economia de corrida através do teste progressivo até a exaustão? É possível determinar a economia de corrida CDD. 20.ed. 796.03 Rômulo Cássio de Moraes BERTUZZI * Salomão BUENO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
 1 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE Associação do polimorfismo da ECA e variáveis fisiológicas determinantes da aptidão aeróbia SALOMÃO BUENO DE CAMARGO SILVA São Paulo 2015
1 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE Associação do polimorfismo da ECA e variáveis fisiológicas determinantes da aptidão aeróbia SALOMÃO BUENO DE CAMARGO SILVA São Paulo 2015
Auditório das Piscinas do Jamor 20 e 21 de Outubro. Fisiologia da Corrida
 Auditório das Piscinas do Jamor 20 e 21 de Outubro Fisiologia da Corrida Fisiologia da Corrida Objetivo: abordar a fisiologia básica e partir para a forma como o corpo se adapta ao esforço da corrida.
Auditório das Piscinas do Jamor 20 e 21 de Outubro Fisiologia da Corrida Fisiologia da Corrida Objetivo: abordar a fisiologia básica e partir para a forma como o corpo se adapta ao esforço da corrida.
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO. Profa. Ainá Innocencio da Silva Gomes
 Profa. Ainá Innocencio da Silva Gomes CONCEITOS BÁSICOS ESPORTISTA - Praticante de qualquer atividade física com o intuito da melhoria da saúde ou de lazer, sem se preocupar com alto rendimento. ATLETA
Profa. Ainá Innocencio da Silva Gomes CONCEITOS BÁSICOS ESPORTISTA - Praticante de qualquer atividade física com o intuito da melhoria da saúde ou de lazer, sem se preocupar com alto rendimento. ATLETA
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DE CORREDORES MEIO-FUNDISTAS DE DIFERENTES NÍVEIS COMPETITIVOS
 DOI: 10.4025/reveducfis.v22i1.9428 CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DE CORREDORES MEIO-FUNDISTAS DE DIFERENTES NÍVEIS COMPETITIVOS PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS OF DIFFERENT COMPETITIVE
DOI: 10.4025/reveducfis.v22i1.9428 CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DE CORREDORES MEIO-FUNDISTAS DE DIFERENTES NÍVEIS COMPETITIVOS PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS OF DIFFERENT COMPETITIVE
Alterações Metabólicas do Treinamento
 Alterações Metabólicas do Treinamento Prof..Demétrius Cavalcanti Brandão Especialista em Base Nutricional da Atividade Física-Veiga de Almeida Pós graduado em Atividade Física para Academias-UPE Mestre
Alterações Metabólicas do Treinamento Prof..Demétrius Cavalcanti Brandão Especialista em Base Nutricional da Atividade Física-Veiga de Almeida Pós graduado em Atividade Física para Academias-UPE Mestre
Metabolismo do exercício e Mensuração do trabalho, potência e gasto energético. Profa. Kalyne de Menezes Bezerra Cavalcanti
 Metabolismo do exercício e Mensuração do trabalho, potência e gasto energético Profa. Kalyne de Menezes Bezerra Cavalcanti Natal/RN Fevereiro de 2011 Metabolismo do exercício Durante o exercício físico
Metabolismo do exercício e Mensuração do trabalho, potência e gasto energético Profa. Kalyne de Menezes Bezerra Cavalcanti Natal/RN Fevereiro de 2011 Metabolismo do exercício Durante o exercício físico
Exercícios Aquáticos. Princípios NATAÇÃO. Teste máximo de corrida realizado na água PROGRAMAÇÃO
 Exercícios Aquáticos NATAÇÃO Natação Esportes aquáticos Hidroginástica Deep water Acqua jogger Hidrobike Hidroginástica Deep Water Teste máximo de corrida realizado na água PROGRAMAÇÃO Princípios do treinamento
Exercícios Aquáticos NATAÇÃO Natação Esportes aquáticos Hidroginástica Deep water Acqua jogger Hidrobike Hidroginástica Deep Water Teste máximo de corrida realizado na água PROGRAMAÇÃO Princípios do treinamento
Ergonomia Fisiologia do Trabalho. Fisiologia do Trabalho. Coração. Módulo: Fisiologia do trabalho. Sistema circulatório > 03 componentes
 Bioenergética Ergonomia 2007 Módulo: Fisiologia do trabalho Aspectos cardiovasculares Medidas do custo energético do trabalho pelo consumo de O2 Correlação VO2 x FC Estimativa da carga de trabalho com
Bioenergética Ergonomia 2007 Módulo: Fisiologia do trabalho Aspectos cardiovasculares Medidas do custo energético do trabalho pelo consumo de O2 Correlação VO2 x FC Estimativa da carga de trabalho com
A partir do consumo de nutrientes, os mecanismos de transferência de energia (ATP), tem início e estes auxiliam os processos celulares.
 A partir do consumo de nutrientes, os mecanismos de transferência de energia (ATP), tem início e estes auxiliam os processos celulares. A energia que precisamos para realização de processos celulares,
A partir do consumo de nutrientes, os mecanismos de transferência de energia (ATP), tem início e estes auxiliam os processos celulares. A energia que precisamos para realização de processos celulares,
Fisiologia do Esforço
 Fisiologia do Esforço Curso Desporto e BemEstar 3º Semestre 008/09 Capítulo II Bases da Bioenergética Escola Superior de Educação Instituto Politécnico de Leiria 7 Out 08 ATP-CP e energia O sistema ATP-CP
Fisiologia do Esforço Curso Desporto e BemEstar 3º Semestre 008/09 Capítulo II Bases da Bioenergética Escola Superior de Educação Instituto Politécnico de Leiria 7 Out 08 ATP-CP e energia O sistema ATP-CP
- Definir os termos trabalho, potência, energia e eficiência mecânica, dar uma breve explicação sobre o método utilizado para calcular o trabalho
 PLANO DE CURSO CURSO: Curso de Fisioterapia DEPARTAMENTO: RECURSOS TERAPÊUTICOS E FÍSICO FUNCIONAIS CRÉDITOS: 4 (2 2) DISCIPLINA: FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO PROFESSOR: RODRIGO DELLA MEA PLENTZ EMENTA: Esta
PLANO DE CURSO CURSO: Curso de Fisioterapia DEPARTAMENTO: RECURSOS TERAPÊUTICOS E FÍSICO FUNCIONAIS CRÉDITOS: 4 (2 2) DISCIPLINA: FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO PROFESSOR: RODRIGO DELLA MEA PLENTZ EMENTA: Esta
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra Ano Lectivo 2010/2011. Unidade Curricular de BIOQUÍMICA II Mestrado Integrado em MEDICINA 1º Ano
 Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra Ano Lectivo 2010/2011 Unidade Curricular de BIOQUÍMICA II Mestrado Integrado em MEDICINA 1º Ano ENSINO PRÁTICO E TEORICO-PRÁTICO 7ª AULA TEÓRICO-PRÁTICA
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra Ano Lectivo 2010/2011 Unidade Curricular de BIOQUÍMICA II Mestrado Integrado em MEDICINA 1º Ano ENSINO PRÁTICO E TEORICO-PRÁTICO 7ª AULA TEÓRICO-PRÁTICA
BIOENERGÉTICA PRODUÇÃO ATP
 FISIOLOGIA BIOENERGÉTICA PRODUÇÃO ATP Vias Bioquímicas e produção de ATP O ATP pode ser obtido por 3 vias:!! Anaeróbia aláctica, através da fosfocreatina. Anaeróbia láctica, através dos glúcidos (HC).!
FISIOLOGIA BIOENERGÉTICA PRODUÇÃO ATP Vias Bioquímicas e produção de ATP O ATP pode ser obtido por 3 vias:!! Anaeróbia aláctica, através da fosfocreatina. Anaeróbia láctica, através dos glúcidos (HC).!
VI Congresso Internacional de Corrida- 2015
 VI Congresso Internacional de Corrida- 2015 Treino de resistência e níveis de performance Gonçalo Vilhena de Mendonça 2015 Estrutura geral 1. Treino de resistência cardiorrespiratória (CR) na corrida.
VI Congresso Internacional de Corrida- 2015 Treino de resistência e níveis de performance Gonçalo Vilhena de Mendonça 2015 Estrutura geral 1. Treino de resistência cardiorrespiratória (CR) na corrida.
Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício ISSN versão eletrônica
 INFLUÊNCIA DO TIPO DE TREINAMENTO NO DESEMPENHO DE ATLETAS CORREDORES ATRAVÉS DA ECONOMIA DE CORRIDA 147 Cleyton Salvego Santos 1 Antonio Coppi Navarro,2 RESUMO A influência de determinadas variáveis fisiológicas
INFLUÊNCIA DO TIPO DE TREINAMENTO NO DESEMPENHO DE ATLETAS CORREDORES ATRAVÉS DA ECONOMIA DE CORRIDA 147 Cleyton Salvego Santos 1 Antonio Coppi Navarro,2 RESUMO A influência de determinadas variáveis fisiológicas
Avaliação do VO²máx. Teste de Esforço Cardiorrespiratório. Avaliação da Função Cardíaca; Avaliação do Consumo Máximo de O²;
 Teste de Esforço Cardiorrespiratório Avaliação da Função Cardíaca; Avaliação do Consumo Máximo de O²; Avaliação Cardiorrespiratória 1 Teste de Esforço Cardiorrespiratório Avaliação do Consumo Máximo de
Teste de Esforço Cardiorrespiratório Avaliação da Função Cardíaca; Avaliação do Consumo Máximo de O²; Avaliação Cardiorrespiratória 1 Teste de Esforço Cardiorrespiratório Avaliação do Consumo Máximo de
Princípios Científicos do TREINAMENTO DESPORTIVO AULA 5
 Princípios Científicos do TREINAMENTO DESPORTIVO AULA 5 Princípios do Treinamento: São os aspectos cuja observância irá diferenciar o trabalho feito à base de ensaios e erros, do científico. (DANTAS, 2003)
Princípios Científicos do TREINAMENTO DESPORTIVO AULA 5 Princípios do Treinamento: São os aspectos cuja observância irá diferenciar o trabalho feito à base de ensaios e erros, do científico. (DANTAS, 2003)
28/07/2014. Efeitos Fisiológicos do Treinamento de Força. Fatores Neurais. Mecanismos Fisiológicos que causam aumento da força
 Efeitos Fisiológicos do Treinamento de Força Força muscular se refere à força máxima que um músculo ou um grupo muscular pode gerar. É Comumente expressa como uma repetição máxima ou 1~RM Resistência muscular
Efeitos Fisiológicos do Treinamento de Força Força muscular se refere à força máxima que um músculo ou um grupo muscular pode gerar. É Comumente expressa como uma repetição máxima ou 1~RM Resistência muscular
Bioquímica Aplicada ao Exercício Físico e Princípios do Treinamento
 Universidade de São Paulo Escola de Educação Física e Esporte Bioquímica Aplicada ao Exercício Físico e Princípios do Treinamento André Casanova Silveira João Lucas Penteado Gomes Ago/2016 Referência Bibliografia
Universidade de São Paulo Escola de Educação Física e Esporte Bioquímica Aplicada ao Exercício Físico e Princípios do Treinamento André Casanova Silveira João Lucas Penteado Gomes Ago/2016 Referência Bibliografia
A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO DE FORÇA PARA A MELHORIA DO VO2 MÁXIMO DOS CORREDORES DE RUA
 A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO DE FORÇA PARA A MELHORIA DO VO2 MÁXIMO DOS CORREDORES DE RUA CEAFI- GOIÂNIA-GOIÁS-BRASIL vitor_alvesmarques@hotmail.com RESUMO VITOR ALVES MARQUES Este trabalho teve como objetivo
A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO DE FORÇA PARA A MELHORIA DO VO2 MÁXIMO DOS CORREDORES DE RUA CEAFI- GOIÂNIA-GOIÁS-BRASIL vitor_alvesmarques@hotmail.com RESUMO VITOR ALVES MARQUES Este trabalho teve como objetivo
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS EFEITO DO MODO DE EXERCÍCIO SOBRE A CINÉTICA DO CONSUMO DE OXIGÊNIO DURANTE O EXERCÍCIO SEVERO EM CRIANÇAS Fabiana Andrade Machado Rio Claro SP 2007
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS EFEITO DO MODO DE EXERCÍCIO SOBRE A CINÉTICA DO CONSUMO DE OXIGÊNIO DURANTE O EXERCÍCIO SEVERO EM CRIANÇAS Fabiana Andrade Machado Rio Claro SP 2007
NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO NO ESPORTE
 NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO NO ESPORTE Prof. Dr. Thiago Onofre Freire Nutricionista (UFBA) Especialista em Nutrição Esportiva (ASBRAN) Mestre em Biologia Funcional e Molecular (UNICAMP) Doutor em Medicina
NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO NO ESPORTE Prof. Dr. Thiago Onofre Freire Nutricionista (UFBA) Especialista em Nutrição Esportiva (ASBRAN) Mestre em Biologia Funcional e Molecular (UNICAMP) Doutor em Medicina
ESTRATÉGIAS PARA SE TORNAR MAIS EFICIENTE NA CORRIDA
 ESTRATÉGIAS PARA SE TORNAR MAIS EFICIENTE NA CORRIDA 2015 ESTRATÉGIAS PARA SE TORNAR MAIS EFICIENTE NA CORRIDA 2015 Todos os Direitos Reservados Felipe Rabelo Preparador físico de atletas www.feliperabelo.com
ESTRATÉGIAS PARA SE TORNAR MAIS EFICIENTE NA CORRIDA 2015 ESTRATÉGIAS PARA SE TORNAR MAIS EFICIENTE NA CORRIDA 2015 Todos os Direitos Reservados Felipe Rabelo Preparador físico de atletas www.feliperabelo.com
Miologia. Tema C PROCESSOS ENERGÉTICOS NO MÚSCULO ESQUELÉTICO
 PROCESSOS ENERGÉTICOS NO MÚSCULO ESQUELÉTICO 1 Necessidades energéticas da fibra muscular 2 Papel do ATP 3 Processos de ressíntese do ATP 3.1 Aeróbico 3.2 Anaeróbico alático e lático 4 Interação dos diferentes
PROCESSOS ENERGÉTICOS NO MÚSCULO ESQUELÉTICO 1 Necessidades energéticas da fibra muscular 2 Papel do ATP 3 Processos de ressíntese do ATP 3.1 Aeróbico 3.2 Anaeróbico alático e lático 4 Interação dos diferentes
Índices fisiológicos e neuromusculares relacionados à performance nas provas de 800 m e 1500 m rasos
 Motriz, Rio Claro, v.17 n.2, p.338-348, abr./jun. 2011 doi: http://dx.doi.org/10.5016/1980-6574.2011v17n2p338 Artigo Original Índices fisiológicos e neuromusculares relacionados à performance nas provas
Motriz, Rio Claro, v.17 n.2, p.338-348, abr./jun. 2011 doi: http://dx.doi.org/10.5016/1980-6574.2011v17n2p338 Artigo Original Índices fisiológicos e neuromusculares relacionados à performance nas provas
Otimização da prescrição e controlo do treino desportivo na natação com recurso a análise de trocas gasosas
 Otimização da prescrição e controlo do treino desportivo na natação com recurso a análise de trocas gasosas Autores Mário Espada 1, 2 Francisco Alves 1 mario.espada@ese.ips.pt Resumo Doze nadadores participaram
Otimização da prescrição e controlo do treino desportivo na natação com recurso a análise de trocas gasosas Autores Mário Espada 1, 2 Francisco Alves 1 mario.espada@ese.ips.pt Resumo Doze nadadores participaram
Bases Moleculares da Obesidade e Diabetes
 Bases Moleculares da Obesidade e Diabetes Metabolismo Muscular Prof. Carlos Castilho de Barros http://wp.ufpel.edu.br/obesidadediabetes/ Atividade muscular Principais fontes de energia: 1- Carboidratos
Bases Moleculares da Obesidade e Diabetes Metabolismo Muscular Prof. Carlos Castilho de Barros http://wp.ufpel.edu.br/obesidadediabetes/ Atividade muscular Principais fontes de energia: 1- Carboidratos
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
 GLICÓLISE Dra. Flávia Cristina Goulart CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA Campus de Marília flaviagoulart@marilia.unesp.br Glicose e glicólise Via Ebden-Meyerhof ou Glicólise A glicólise,
GLICÓLISE Dra. Flávia Cristina Goulart CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA Campus de Marília flaviagoulart@marilia.unesp.br Glicose e glicólise Via Ebden-Meyerhof ou Glicólise A glicólise,
JHONATAN LUIZ SOAVE ÍNDICES FISIOLÓGIOS ASSOCIADOS AO DESEMPENHO DE METROS EM CORREDORES RECREACIONAIS DE DIFERENTES NÍVEIS COMPETITIVOS
 JHONATAN LUIZ SOAVE ÍNDICES FISIOLÓGIOS ASSOCIADOS AO DESEMPENHO DE 10.000 METROS EM CORREDORES RECREACIONAIS DE DIFERENTES NÍVEIS COMPETITIVOS Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção
JHONATAN LUIZ SOAVE ÍNDICES FISIOLÓGIOS ASSOCIADOS AO DESEMPENHO DE 10.000 METROS EM CORREDORES RECREACIONAIS DE DIFERENTES NÍVEIS COMPETITIVOS Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção
E TEMPO DE EXAUSTÃO DURANTE A CORRIDA REALIZADA NA VELOCIDADE ASSOCIADA AO VO 2 MAX: APLICAÇÕES PARA O TREINAMENTO AERÓBIO DE ALTA INTENSIDADE *
 RESPOSTA DO E TEMPO DE EXAUSTÃO DURANTE A CORRIDA REALIZADA NA VELOCIDADE ASSOCIADA AO MAX: APLICAÇÕES PARA O TREINAMENTO AERÓBIO DE ALTA INTENSIDADE * Dndo. FABRIZIO CAPUTO Doutorando em Ciências da Motricidade
RESPOSTA DO E TEMPO DE EXAUSTÃO DURANTE A CORRIDA REALIZADA NA VELOCIDADE ASSOCIADA AO MAX: APLICAÇÕES PARA O TREINAMENTO AERÓBIO DE ALTA INTENSIDADE * Dndo. FABRIZIO CAPUTO Doutorando em Ciências da Motricidade
BIOENERGÉTICA. O que é Bioenergética? ENERGIA. Trabalho Biológico
 O que é Bioenergética? BIOENERGÉTICA Ramo da biologia próximo da bioquímica que estuda as transformações de energia pelos seres vivos. (dicionário Houaiss) Prof. Mauro Batista Parte da fisiologia que estuda
O que é Bioenergética? BIOENERGÉTICA Ramo da biologia próximo da bioquímica que estuda as transformações de energia pelos seres vivos. (dicionário Houaiss) Prof. Mauro Batista Parte da fisiologia que estuda
CURSO PREPARADOR FÍSICO CURSO METODÓLOGO DO TREINO CURSO TREINADOR GUARDA- REDES MÓDULO I: FISIOLOGIA
 CURSO PREPARADOR FÍSICO CURSO METODÓLOGO DO TREINO CURSO TREINADOR GUARDA- REDES MÓDULO I: FISIOLOGIA Formador: Alberto Carvalho Alto Rendimento 961923009 / 228331303 www.altorendimento.net info@altorendimento.net
CURSO PREPARADOR FÍSICO CURSO METODÓLOGO DO TREINO CURSO TREINADOR GUARDA- REDES MÓDULO I: FISIOLOGIA Formador: Alberto Carvalho Alto Rendimento 961923009 / 228331303 www.altorendimento.net info@altorendimento.net
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS EFEITOS DE DIFERENTES TIPOS DE TREINAMENTO SOBRE A INTENSIDADE E O TEMPO DE EXAUSTÃO A 100% DO VO 2 max LUIZ GUILHERME ANTONACCI GUGLIELMO Rio Claro
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS EFEITOS DE DIFERENTES TIPOS DE TREINAMENTO SOBRE A INTENSIDADE E O TEMPO DE EXAUSTÃO A 100% DO VO 2 max LUIZ GUILHERME ANTONACCI GUGLIELMO Rio Claro
O TREINO DE UM(a) JOVEM MEIO- FUNDISTA
 O TREINO DE UM(a) JOVEM MEIO- FUNDISTA LEIRIA, 21/11/2009 plano da apresentação 1. Jovens meio-fundistas? 2. Que capacidades devem ser desenvolvidas por um jovem meiofundista? 3. Como desenvolver essas
O TREINO DE UM(a) JOVEM MEIO- FUNDISTA LEIRIA, 21/11/2009 plano da apresentação 1. Jovens meio-fundistas? 2. Que capacidades devem ser desenvolvidas por um jovem meiofundista? 3. Como desenvolver essas
Ergoespirometria. Avaliação em Atividades Aquáticas
 Avaliação em Atividades Aquáticas Ergoespirometria Vo2 máximo (potência aeróbia) Limiar de lactato Equações de regressão Velocidade crítica F. Cardíaca PSE (Escala de Borg) % de esforço (melhor tempo de
Avaliação em Atividades Aquáticas Ergoespirometria Vo2 máximo (potência aeróbia) Limiar de lactato Equações de regressão Velocidade crítica F. Cardíaca PSE (Escala de Borg) % de esforço (melhor tempo de
R e s u l t a d o s 39
 R e s u l t a d o s 39 Legenda: [deoxi-hb+mb]: variação da concentração relativa de deoxi-hemoglobina + mioglobina; TD: time delay tempo de atraso da reposta; τ: tau constante de tempo; MRT: mean response
R e s u l t a d o s 39 Legenda: [deoxi-hb+mb]: variação da concentração relativa de deoxi-hemoglobina + mioglobina; TD: time delay tempo de atraso da reposta; τ: tau constante de tempo; MRT: mean response
Testes Metabólicos. Avaliação do componente Cardiorrespiratório
 Testes Metabólicos Avaliação do componente Cardiorrespiratório É a habilidade do organismo humano em suprir aerobicamente o trabalho muscular associado à capacidade dos tecidos em utilizar o oxigênio na
Testes Metabólicos Avaliação do componente Cardiorrespiratório É a habilidade do organismo humano em suprir aerobicamente o trabalho muscular associado à capacidade dos tecidos em utilizar o oxigênio na
ESTRUTURA FREQUÊNCIA CARDÍACA 09/06/2013. O número de batimentos cardíacos por unidade de tempo, geralmente expresso em batimentos por minuto (bpm).
 Revisar alguns conceitos da fisiologia cardiovascular; Revisar alguns conceitos da fisiologia do exercício do sistema cardiovascular; Estudar as adaptações do treinamento aeróbico e de força no sistema
Revisar alguns conceitos da fisiologia cardiovascular; Revisar alguns conceitos da fisiologia do exercício do sistema cardiovascular; Estudar as adaptações do treinamento aeróbico e de força no sistema
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE DESPORTOS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA FRANCIMARA BUDAL ARINS
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE DESPORTOS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA FRANCIMARA BUDAL ARINS ÍNDICES FISIOLÓGICOS E NEUROMUSCULARES RELACIONADOS À PERFORMANCE NAS PROVAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE DESPORTOS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA FRANCIMARA BUDAL ARINS ÍNDICES FISIOLÓGICOS E NEUROMUSCULARES RELACIONADOS À PERFORMANCE NAS PROVAS
NUT A80 - NUTRIÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA
 NUT A80 - NUTRIÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA Prof. Dr. Thiago Onofre Freire Nutricionista (UFBA) Especialista em Nutrição Esportiva (ASBRAN) Mestre em Biologia Funcional e Molecular (UNICAMP) Doutor em Medicina
NUT A80 - NUTRIÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA Prof. Dr. Thiago Onofre Freire Nutricionista (UFBA) Especialista em Nutrição Esportiva (ASBRAN) Mestre em Biologia Funcional e Molecular (UNICAMP) Doutor em Medicina
TEORIA DO TREINAMENTO DE NATAÇÃO
 Fontes energéticas ATP ATP - CP Carboidratos Glicose (Glicólise) Glicogênio Gordura TG (Lipólise) AGL Proteínas (Proteólise) AA SISTEMA ALÁTICO ATP: ± 3 CP: ± 10 Sistema ATP CP: ± 15 (primeiros 25 metros)
Fontes energéticas ATP ATP - CP Carboidratos Glicose (Glicólise) Glicogênio Gordura TG (Lipólise) AGL Proteínas (Proteólise) AA SISTEMA ALÁTICO ATP: ± 3 CP: ± 10 Sistema ATP CP: ± 15 (primeiros 25 metros)
ASPECTOS METABÓLICOS DO EXERCÍCIO INTERMITENTE METABOLIC ASPECTS OF THE INTERMITTENT EXERCISE
 ARTIGOS DE REVISÃO SAÚDE ASPECTOS METABÓLICOS DO EXERCÍCIO INTERMITENTE METABOLIC ASPECTS OF THE INTERMITTENT EXERCISE Paulo Henrique Marchetti 1 e Fernando de Campos Mello 1 1 Universidade de São Paulo.
ARTIGOS DE REVISÃO SAÚDE ASPECTOS METABÓLICOS DO EXERCÍCIO INTERMITENTE METABOLIC ASPECTS OF THE INTERMITTENT EXERCISE Paulo Henrique Marchetti 1 e Fernando de Campos Mello 1 1 Universidade de São Paulo.
EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA SOBRE O DESEMPENHO DE RESISTÊNCIA
 Texto de apoio ao curso de Especialização Atividade Física Adaptada e Saúde Prof. Dr. Luzimar Teixeira Artigo de Revisão EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA SOBRE O DESEMPENHO DE RESISTÊNCIA Prof. Esp. Rommel
Texto de apoio ao curso de Especialização Atividade Física Adaptada e Saúde Prof. Dr. Luzimar Teixeira Artigo de Revisão EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA SOBRE O DESEMPENHO DE RESISTÊNCIA Prof. Esp. Rommel
Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Motricidade Humana. Cinética do Consumo de Oxigénio em corredores de meio-fundo
 Universidade Técnica de Lisboa Faculdade de Motricidade Humana Cinética do Consumo de Oxigénio em corredores de meio-fundo Dissertação elaborada com vista à obtenção do Grau de Mestre em Treino Desportivo
Universidade Técnica de Lisboa Faculdade de Motricidade Humana Cinética do Consumo de Oxigénio em corredores de meio-fundo Dissertação elaborada com vista à obtenção do Grau de Mestre em Treino Desportivo
TALYTHA GABILAN CARACTERÍSTICAS DE TREINAMENTO E DESEMPENHO DE LONGA DISTÂNCIA EM CORREDORES
 1 TALYTHA GABILAN CARACTERÍSTICAS DE TREINAMENTO E DESEMPENHO DE LONGA DISTÂNCIA EM CORREDORES Monografia apresentada como requisito parcial para a conclusão do Curso de Especialização em Fisiologia do
1 TALYTHA GABILAN CARACTERÍSTICAS DE TREINAMENTO E DESEMPENHO DE LONGA DISTÂNCIA EM CORREDORES Monografia apresentada como requisito parcial para a conclusão do Curso de Especialização em Fisiologia do
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA Curso de Educação Física Disciplina: Fisiologia do Exercício. Ms. Sandro de Souza
 UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA Curso de Educação Física Disciplina: Fisiologia do Exercício Ms. Sandro de Souza Discutir alguns aspectos associados à medida do VO2máx. Conhecer os mecanismos envolvidos
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA Curso de Educação Física Disciplina: Fisiologia do Exercício Ms. Sandro de Souza Discutir alguns aspectos associados à medida do VO2máx. Conhecer os mecanismos envolvidos
Consumo Máximo de Oxigênio
 Consumo Máximo de Oxigênio Prof. Sergio Gregorio da Silva, PhD BE066 Consumo Máximo de Oxigênio VO2max BE066 Sistema Portátil K4b 2 BE066 VO2max Definição: É a razão máxima de O2 que uma pessoa pode absorver,
Consumo Máximo de Oxigênio Prof. Sergio Gregorio da Silva, PhD BE066 Consumo Máximo de Oxigênio VO2max BE066 Sistema Portátil K4b 2 BE066 VO2max Definição: É a razão máxima de O2 que uma pessoa pode absorver,
19 Congresso de Iniciação Científica COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS CARDIOPULMONARES DE MULHERES SUBMETIDAS A EXERCÍCIO DE RESISTÊNCIA DE FORÇA E AERÓBIO
 19 Congresso de Iniciação Científica COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS CARDIOPULMONARES DE MULHERES SUBMETIDAS A EXERCÍCIO DE RESISTÊNCIA DE FORÇA E AERÓBIO Autor(es) TIAGO VIEIRA ARBEX Orientador(es) MARCELO DE
19 Congresso de Iniciação Científica COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS CARDIOPULMONARES DE MULHERES SUBMETIDAS A EXERCÍCIO DE RESISTÊNCIA DE FORÇA E AERÓBIO Autor(es) TIAGO VIEIRA ARBEX Orientador(es) MARCELO DE
TIPOS DE ENERGIAS E FORMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA NO CORPO As fontes energéticas são encontradas nas células musculares e em algumas partes do co
 BIOENERGÉTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO Bioenergética é a ciência que estuda os sistemas energéticos nos organismos vivos. TIPOS DE ENERGIAS E FORMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA NO CORPO Os sistemas metabólicos
BIOENERGÉTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO Bioenergética é a ciência que estuda os sistemas energéticos nos organismos vivos. TIPOS DE ENERGIAS E FORMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA NO CORPO Os sistemas metabólicos
BE066 - Fisiologia do Exercício. Consumo Máximo de Oxigênio
 BE066 - Fisiologia do Exercício Consumo Máximo de Oxigênio Sergio Gregorio da Silva, PhD Objetivos Conceituar Consumo Máximo de Oxigênio Descrever os Fatores que influenciam o VO2max Meios para determinação
BE066 - Fisiologia do Exercício Consumo Máximo de Oxigênio Sergio Gregorio da Silva, PhD Objetivos Conceituar Consumo Máximo de Oxigênio Descrever os Fatores que influenciam o VO2max Meios para determinação
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FACIS CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA MARCELO URBANO
 UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FACIS CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA MARCELO URBANO ANÁLISE DA POTÊNCIA ANAERÓBIA EM ATLETAS DA MODALIDADE BICICROSS SUBMETIDOS
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FACIS CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA MARCELO URBANO ANÁLISE DA POTÊNCIA ANAERÓBIA EM ATLETAS DA MODALIDADE BICICROSS SUBMETIDOS
Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício ISSN versão eletrônica
 217 A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO AERÓBIO COM INTENSIDADES DE 90% E 110% DA VELOCIDADE DE CORRIDA CORRESPONDENTE A 4,0mM DE LACTATO SANGUÍNEO SOBRE O VO 2 máx E O LIMIAR DE LACTATO EM JOVENS DE 18 E 19 ANOS
217 A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO AERÓBIO COM INTENSIDADES DE 90% E 110% DA VELOCIDADE DE CORRIDA CORRESPONDENTE A 4,0mM DE LACTATO SANGUÍNEO SOBRE O VO 2 máx E O LIMIAR DE LACTATO EM JOVENS DE 18 E 19 ANOS
Treinamento Intervalado - TI Recomendações para prescrição do treinamento O 2
 Tipos de Estímulo Treinamento Intervalado - TI Recomendações para prescrição do treinamento O 2 Tony Meireles dos Santos Doutor em Ed. Física Certificado Health & Fitness Instructor ACSM Pro Health & Performance
Tipos de Estímulo Treinamento Intervalado - TI Recomendações para prescrição do treinamento O 2 Tony Meireles dos Santos Doutor em Ed. Física Certificado Health & Fitness Instructor ACSM Pro Health & Performance
não está associado à capacidade anaeróbia em indivíduos fisicamente ativos
 O platô do max não está associado O platô de max não está associado à capacidade anaeróbia à capacidade anaeróbia em indivíduos fisicamente ativos CDD. 20.ed. 796.031 796.07 http://dx.doi.org/10.1590/1807-55092016000400857
O platô do max não está associado O platô de max não está associado à capacidade anaeróbia à capacidade anaeróbia em indivíduos fisicamente ativos CDD. 20.ed. 796.031 796.07 http://dx.doi.org/10.1590/1807-55092016000400857
AVALIAÇÃO DO CAVALO ATLETA EM TESTES A CAMPO
 AVALIAÇÃO DO CAVALO ATLETA EM TESTES A CAMPO Professor Guilherme de Camargo Ferraz guilherme.de.ferraz@terra.com.br INTRODUÇÃO Mercado Nacional de Eqüinos: Inter-relações Complexo Agronegócio Cavalo Esporte
AVALIAÇÃO DO CAVALO ATLETA EM TESTES A CAMPO Professor Guilherme de Camargo Ferraz guilherme.de.ferraz@terra.com.br INTRODUÇÃO Mercado Nacional de Eqüinos: Inter-relações Complexo Agronegócio Cavalo Esporte
Curso: Integração Metabólica
 Curso: Integração Metabólica Aula 8: Metabolismo muscular Prof. Carlos Castilho de Barros FORNECIMENTO DE AGL PARA O MÚSCULO Lipoproteínas TA músculo LLP AGL FABP AGL-alb LLP - lipase lipoprotéica FABP-
Curso: Integração Metabólica Aula 8: Metabolismo muscular Prof. Carlos Castilho de Barros FORNECIMENTO DE AGL PARA O MÚSCULO Lipoproteínas TA músculo LLP AGL FABP AGL-alb LLP - lipase lipoprotéica FABP-
Predição da performance de corredores de endurance por meio de testes de laboratório e pista
 RBCDH DOI: http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2014v16n4p465 artigo original Predição da performance de corredores de endurance por meio de testes de laboratório e pista Performance prediction of endurance
RBCDH DOI: http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2014v16n4p465 artigo original Predição da performance de corredores de endurance por meio de testes de laboratório e pista Performance prediction of endurance
Benedito Sérgio DENADAI* Ivan da Cruz PIÇARRO* Adriana Kowalesky RUSSO* RESUMO
 CDD. 18.ed.612.044 49 CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO E LIMIAR ANAERÓBIO DETERMINADOS EM TESTES DE ESFORÇO MÁXIMO, NA ESTEIRA ROLANTE, BICICLETA ERGOMÉTRICA E ERGÔMETRO DE BRAÇO, EM TRIATLETAS BRASILEIROS Benedito
CDD. 18.ed.612.044 49 CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO E LIMIAR ANAERÓBIO DETERMINADOS EM TESTES DE ESFORÇO MÁXIMO, NA ESTEIRA ROLANTE, BICICLETA ERGOMÉTRICA E ERGÔMETRO DE BRAÇO, EM TRIATLETAS BRASILEIROS Benedito
DP de Estudos Disciplinares Treinamento Personalizado e Musculação
 Aluno: RA: DP de Estudos Disciplinares Treinamento Personalizado e Musculação Assinale uma adaptação morfológica responsável pela hipertrofia muscular? a Divisão celular b Aumento do número de sarcômeros
Aluno: RA: DP de Estudos Disciplinares Treinamento Personalizado e Musculação Assinale uma adaptação morfológica responsável pela hipertrofia muscular? a Divisão celular b Aumento do número de sarcômeros
Validade da velocidade crítica para a determinação dos efeitos do treinamento no limiar anaeróbio em corredores de endurance
 Validade da velocidade crítica para a determinação dos efeitos do treinamento no limiar anaeróbio em corredores de endurance BS Denadai 1, MJ Ortiz 1, S Stella 2, MT Mello 2 1 Laboratório de Avaliação
Validade da velocidade crítica para a determinação dos efeitos do treinamento no limiar anaeróbio em corredores de endurance BS Denadai 1, MJ Ortiz 1, S Stella 2, MT Mello 2 1 Laboratório de Avaliação
CARACTERÍSTICAS DA BRAÇADA EM DIFERENTES DISTÂNCIAS NO ESTILO CRAWL E CORRELAÇÕES COM A PERFORMANCE *
 CARACTERÍSTICAS DA BRAÇADA EM DIFERENTES DISTÂNCIAS NO ESTILO CRAWL E CORRELAÇÕES COM A PERFORMANCE * RESUMO Frabrizio Caputo 1, Ricardo Dantas de Lucas 1, Camila Coelho Greco 2, Benedito Sérgio Denadai
CARACTERÍSTICAS DA BRAÇADA EM DIFERENTES DISTÂNCIAS NO ESTILO CRAWL E CORRELAÇÕES COM A PERFORMANCE * RESUMO Frabrizio Caputo 1, Ricardo Dantas de Lucas 1, Camila Coelho Greco 2, Benedito Sérgio Denadai
BIOENERGÉTICA. O que é Bioenergética? ENERGIA. Ramo da biologia próximo da bioquímica que
 O que é Bioenergética? BIOENERGÉTICA Ramo da biologia próximo da bioquímica que estuda as transformações de energia pelos seres vivos. (dicionário Houaiss) Prof. Renato Barroso renato.barroso@terra.com.br
O que é Bioenergética? BIOENERGÉTICA Ramo da biologia próximo da bioquímica que estuda as transformações de energia pelos seres vivos. (dicionário Houaiss) Prof. Renato Barroso renato.barroso@terra.com.br
UNIFOA Centro Universitário de Volta Redonda Coordenação de Pós Graduação e Pesquisa. A Influência do Treinamento de Força em Parâmetros Aeróbicos
 UNIFOA Centro Universitário de Volta Redonda Coordenação de Pós Graduação e Pesquisa A Influência do Treinamento de Força em Parâmetros Aeróbicos JORGE LUIZ DUARTE DE OLIVEIRA Juiz de Fora 2007 JORGE LUIZ
UNIFOA Centro Universitário de Volta Redonda Coordenação de Pós Graduação e Pesquisa A Influência do Treinamento de Força em Parâmetros Aeróbicos JORGE LUIZ DUARTE DE OLIVEIRA Juiz de Fora 2007 JORGE LUIZ
BE066 - Fisiologia do Exercício BE066 Fisiologia do Exercício. Bioenergética. Sergio Gregorio da Silva, PhD
 BE066 Fisiologia do Exercício Bioenergética Sergio Gregorio da Silva, PhD Objetivos Definir Energia Descrever os 3 Sistemas Energéticos Descrever as diferenças em Produção de Energia Bioenergética Estuda
BE066 Fisiologia do Exercício Bioenergética Sergio Gregorio da Silva, PhD Objetivos Definir Energia Descrever os 3 Sistemas Energéticos Descrever as diferenças em Produção de Energia Bioenergética Estuda
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA PROGRAMA DE DISCIPLINA CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA DISCIPLINA: FISIOLOGIA DO ESFORÇO
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA PROGRAMA DE DISCIPLINA CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA CÓDIGO: EDFFIE DISCIPLINA: FISIOLOGIA DO ESFORÇO PRÉ - REQUISITO: FISIOLOGIA GERAL CARGA HORÁRIA: 80 CRÉDITOS: 04
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA PROGRAMA DE DISCIPLINA CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA CÓDIGO: EDFFIE DISCIPLINA: FISIOLOGIA DO ESFORÇO PRÉ - REQUISITO: FISIOLOGIA GERAL CARGA HORÁRIA: 80 CRÉDITOS: 04
08/08/2016.
 alexandre.personal@hotmail.com www.professoralexandrerocha.com.br 1 A Fisiologia do Exercício é a área de conhecimento derivada da Fisiologia, é caracterizada pelo estudo dos efeitos agudos e crônicos
alexandre.personal@hotmail.com www.professoralexandrerocha.com.br 1 A Fisiologia do Exercício é a área de conhecimento derivada da Fisiologia, é caracterizada pelo estudo dos efeitos agudos e crônicos
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTROLE DO TREINAMENTO AERÓBIO
 ARTIGO FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTROLE DO TREINAMENTO AERÓBIO Prof. Paulo Roberto S. Amorim* INTRODUÇÃO Os princípios do suprimento energético e a interação entre os três sistemas
ARTIGO FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTROLE DO TREINAMENTO AERÓBIO Prof. Paulo Roberto S. Amorim* INTRODUÇÃO Os princípios do suprimento energético e a interação entre os três sistemas
Brazilian Journal of Biomotricity ISSN: Universidade Iguaçu Brasil
 Brazilian Journal of Biomotricity ISSN: 1981-6324 marcomachado@brjb.com.br Universidade Iguaçu Brasil Dias Nunes, João Elias; de Oliveira, João Carlos; Silva Marques de Azevedo, Paulo Henrique Efeitos
Brazilian Journal of Biomotricity ISSN: 1981-6324 marcomachado@brjb.com.br Universidade Iguaçu Brasil Dias Nunes, João Elias; de Oliveira, João Carlos; Silva Marques de Azevedo, Paulo Henrique Efeitos
Interferência. Mecanismos???? Efeito de Interferência 30/07/2015. Definição Treinamento concorrente. Na força máxima (1RM) Na TDF.
 Definição Treinamento concorrente Realização de exercícios que desenvolvam a força muscular e a resistência aeróbia dentro da mesma unidade de treino X Interferência Efeito de Interferência Na força máxima
Definição Treinamento concorrente Realização de exercícios que desenvolvam a força muscular e a resistência aeróbia dentro da mesma unidade de treino X Interferência Efeito de Interferência Na força máxima
Fisologia do esforço e metabolismo energético
 Fisologia do esforço e metabolismo energético 1 Fisiologia Comparativa (animais) Tem como objetivo o entendimento de como funcionam os animais durante a atividade física e das caraterísticas que permitem
Fisologia do esforço e metabolismo energético 1 Fisiologia Comparativa (animais) Tem como objetivo o entendimento de como funcionam os animais durante a atividade física e das caraterísticas que permitem
Fisiologia Comparativa (animais) Fisologia do esforço e metabolismo energético. Fisiologia Aplicada (Humanos) Potência. Duração
 are needed to see this picture. Fisologia do esforço e metabolismo energético Fisiologia Comparativa (animais) Tem como objetivo o entendimento de como funcionam os animais durante a atividade física e
are needed to see this picture. Fisologia do esforço e metabolismo energético Fisiologia Comparativa (animais) Tem como objetivo o entendimento de como funcionam os animais durante a atividade física e
GUILHERME WEISS FRECCIA EFEITOS DA CONDIÇÃO PRÉ-ISQUÊMICA SOBRE A CINÉTICA DO CONSUMO DE OXIGÊNIO EM DIFERENTES INTENSIDADES DE EXERCÍCIO.
 GUILHERME WEISS FRECCIA EFEITOS DA CONDIÇÃO PRÉ-ISQUÊMICA SOBRE A CINÉTICA DO CONSUMO DE OXIGÊNIO EM DIFERENTES INTENSIDADES DE EXERCÍCIO. FLORIANÓPOLIS SC 2011 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GUILHERME WEISS FRECCIA EFEITOS DA CONDIÇÃO PRÉ-ISQUÊMICA SOBRE A CINÉTICA DO CONSUMO DE OXIGÊNIO EM DIFERENTES INTENSIDADES DE EXERCÍCIO. FLORIANÓPOLIS SC 2011 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO E % DA V máx ESTIMADA PELO CUSTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA PREDIZEM LIMIAR GLICÊMICO EM CORREDORES RECREACIONAIS
 PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO E % DA V máx ESTIMADA PELO CUSTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA PREDIZEM LIMIAR GLICÊMICO EM CORREDORES RECREACIONAIS Eduardo Silva* Marcelo Magalhães Sales * Ricardo Yukio Asano*
PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO E % DA V máx ESTIMADA PELO CUSTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA PREDIZEM LIMIAR GLICÊMICO EM CORREDORES RECREACIONAIS Eduardo Silva* Marcelo Magalhães Sales * Ricardo Yukio Asano*
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA NÚCLEO DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Plano de Curso
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA NÚCLEO DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA Plano de Curso Disciplina: Fisiologia do Esforço Físico Docente Responsável pela Disciplina: Dr. Ramón Núñez Cárdenas
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA NÚCLEO DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA Plano de Curso Disciplina: Fisiologia do Esforço Físico Docente Responsável pela Disciplina: Dr. Ramón Núñez Cárdenas
FORMULÁRIO PARA CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS
 FORMULÁRIO PARA CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS 1. Identificação do Curso: 1.1 Curso: Mestrado em Fisioterapia e Funcionalidade 1.2 Código: 22001018175M7 2. Modalidades: 3. Turno(s) 4. Departamento Mestrado ( X
FORMULÁRIO PARA CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS 1. Identificação do Curso: 1.1 Curso: Mestrado em Fisioterapia e Funcionalidade 1.2 Código: 22001018175M7 2. Modalidades: 3. Turno(s) 4. Departamento Mestrado ( X
Participação genética sobre o desempenho atlético
 1 Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício Participação genética sobre o desempenho atlético Rodrigo Luiz Vancini Claudio Andre Barbosa de Lira 1. Introdução O desempenho esportivo requer a combinação
1 Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício Participação genética sobre o desempenho atlético Rodrigo Luiz Vancini Claudio Andre Barbosa de Lira 1. Introdução O desempenho esportivo requer a combinação
em crianças durante exercício pesado de corrida: análise com base em diferentes modelos matemáticos * Componente lento de VO 2 ARTIGO ORIGINAL
 ARTIGO ORIGINAL Componente lento do em crianças durante exercício pesado de corrida: análise com base em diferentes modelos matemáticos * Fabiana Andrade Machado, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Camila
ARTIGO ORIGINAL Componente lento do em crianças durante exercício pesado de corrida: análise com base em diferentes modelos matemáticos * Fabiana Andrade Machado, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Camila
Divisão de Actividade Física e Rendimento Desportivo Ficha Informativa
 Divisão de Actividade Física e Rendimento Desportivo Ficha Informativa Instituto do Desporto de Portugal, I.P. Piscinas do Jamor Av. Pierre Coubertin 1495-751 Cruz Quebrada Tel.: 21 415 64 00 Fax.: 21
Divisão de Actividade Física e Rendimento Desportivo Ficha Informativa Instituto do Desporto de Portugal, I.P. Piscinas do Jamor Av. Pierre Coubertin 1495-751 Cruz Quebrada Tel.: 21 415 64 00 Fax.: 21
III Ciclo de Atualização do Cavalo Atleta. Marcos Jun Watanabe
 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ Escola de Equitação do Exército - EsEqEx III Ciclo de Atualização do Cavalo Atleta Marcos Jun Watanabe Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia Universidade
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ Escola de Equitação do Exército - EsEqEx III Ciclo de Atualização do Cavalo Atleta Marcos Jun Watanabe Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia Universidade
Testes de Consumo máximo de Oxigênio (Vo 2 máx) Fisiologia Do Esforço Prof.Dra. Bruna Oneda 2016
 Testes de Consumo máximo de Oxigênio (Vo 2 máx) Fisiologia Do Esforço Prof.Dra. Bruna Oneda 2016 Tamponamento Substâncias que se dissociam em solução e liberam H + são denominadas ácidos Compostos que
Testes de Consumo máximo de Oxigênio (Vo 2 máx) Fisiologia Do Esforço Prof.Dra. Bruna Oneda 2016 Tamponamento Substâncias que se dissociam em solução e liberam H + são denominadas ácidos Compostos que
TREINAMENTO Processo repetitivo e sistemático composto de exercícios progressivos que visam o aperfeiçoamento da performance.
 TREINAMENTO Processo repetitivo e sistemático composto de exercícios progressivos que visam o aperfeiçoamento da performance. TREINAMENTO FÍSICO Repetição sistemática de exercícios que produz fenômenos
TREINAMENTO Processo repetitivo e sistemático composto de exercícios progressivos que visam o aperfeiçoamento da performance. TREINAMENTO FÍSICO Repetição sistemática de exercícios que produz fenômenos
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO
 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 1 Ventilação e metabolismo energético Equivalente ventilatório de oxigênio: Relação entre volume de ar ventilado (VaV) e a quantidade de oxigênio consumida pelos tecidos (VO2) indica
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 1 Ventilação e metabolismo energético Equivalente ventilatório de oxigênio: Relação entre volume de ar ventilado (VaV) e a quantidade de oxigênio consumida pelos tecidos (VO2) indica
DESEMPENHO DE JOGADORES DE ELITE DE FUTSAL E HANDEBOL NO INTERMITTENT FITNESS TEST
 DESEMPENHO DE JOGADORES DE ELITE DE FUTSAL E HANDEBOL NO 30-15 INTERMITTENT FITNESS TEST PERFORMANCE OF ELITE INDOOR SOCCER AND HANDBALL PLAYERS IN 30-15 INTERMITTENT FITNESS TEST Henrique Bortolotti 1,2,3,4,
DESEMPENHO DE JOGADORES DE ELITE DE FUTSAL E HANDEBOL NO 30-15 INTERMITTENT FITNESS TEST PERFORMANCE OF ELITE INDOOR SOCCER AND HANDBALL PLAYERS IN 30-15 INTERMITTENT FITNESS TEST Henrique Bortolotti 1,2,3,4,
TREINAMENTO DE FORÇA E ECONOMIA DE CORRIDA
 TREINAMENTO DE FORÇA E ECONOMIA DE CORRIDA Demétrius Vidal Azevedo Filho Aluno do curso de Educação Física Universidade de Ribeirão Preto UNAERP, Campus Guarujá Demetrius27.edfisica@hotmail.com Saulo dos
TREINAMENTO DE FORÇA E ECONOMIA DE CORRIDA Demétrius Vidal Azevedo Filho Aluno do curso de Educação Física Universidade de Ribeirão Preto UNAERP, Campus Guarujá Demetrius27.edfisica@hotmail.com Saulo dos
ANÁLISE DO CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO EM ATLETAS PARTICIPANTES DE CORRIDA DE RUA DE 10 KM
 ANÁLISE DO CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO EM ATLETAS PARTICIPANTES DE CORRIDA DE RUA DE 10 KM Marcelo Cabrini* Cássio Mascarenhas Robert Pires** Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar o consumo máximo
ANÁLISE DO CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO EM ATLETAS PARTICIPANTES DE CORRIDA DE RUA DE 10 KM Marcelo Cabrini* Cássio Mascarenhas Robert Pires** Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar o consumo máximo
Metabolismo muscular. Sarcômero: a unidade funcional do músculo Músculo cardíaco de rato. Músculo esquelético de camundongo
 Metabolismo muscular Sarcômero: a unidade funcional do músculo Músculo cardíaco de rato Músculo esquelético de camundongo Tipos de fibras musculares: Músculo liso: este tipo contrai em resposta a impulsos
Metabolismo muscular Sarcômero: a unidade funcional do músculo Músculo cardíaco de rato Músculo esquelético de camundongo Tipos de fibras musculares: Músculo liso: este tipo contrai em resposta a impulsos
COMPARAÇÃO ENTRE A VELOCIDADE DE LIMIAR ANAERÓBIO E A VELOCIDADE CRÍTICA EM NADADORES COM IDADE DE 10 A 15 ANOS RESUMO
 128 CDD. 20.ed. 612.044 COMPARAÇÃO ENTRE A VELOCIDADE DE LIMIAR ANAERÓBIO E A VELOCIDADE CRÍTICA EM NADADORES COM IDADE DE 10 A 15 ANOS Benedito Sérgio DENADAI * Camila Coelho GRECO* Marta R. DONEGA **
128 CDD. 20.ed. 612.044 COMPARAÇÃO ENTRE A VELOCIDADE DE LIMIAR ANAERÓBIO E A VELOCIDADE CRÍTICA EM NADADORES COM IDADE DE 10 A 15 ANOS Benedito Sérgio DENADAI * Camila Coelho GRECO* Marta R. DONEGA **
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE DESPORTOS CDS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA GEORGE VIEIRA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE DESPORTOS CDS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA GEORGE VIEIRA PREDIÇÃO DA PERFORMANCE AERÓBIA POR MEIO DE TESTES DE CAMPO E DE LABORATÓRIO EM
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE DESPORTOS CDS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA GEORGE VIEIRA PREDIÇÃO DA PERFORMANCE AERÓBIA POR MEIO DE TESTES DE CAMPO E DE LABORATÓRIO EM
RESISTÊNCIA MÉTODOS DE TREINO
 RESISTÊNCIA MÉTODOS DE TREINO CONTÍNUOS POR INTERVALOS UNIFORME VARIADO PAUSA INCOMPLETA PAUSA COMPLETA INTERVALADO REPETIÇÕES RESISTÊNCIA MÉTODOS DE TREINO CONTÍNUOS POR INTERVALOS UNIFORME VARIADO PAUSA
RESISTÊNCIA MÉTODOS DE TREINO CONTÍNUOS POR INTERVALOS UNIFORME VARIADO PAUSA INCOMPLETA PAUSA COMPLETA INTERVALADO REPETIÇÕES RESISTÊNCIA MÉTODOS DE TREINO CONTÍNUOS POR INTERVALOS UNIFORME VARIADO PAUSA
DP FISIOLOGIA APLICADA À ATIVIDADE MOTORA
 DP FISIOLOGIA APLICADA À ATIVIDADE MOTORA Questões (NP1) Questões de apoio 1- A glicose é um substrato energético que apresenta algumas características e que são de grande importância para a produção de
DP FISIOLOGIA APLICADA À ATIVIDADE MOTORA Questões (NP1) Questões de apoio 1- A glicose é um substrato energético que apresenta algumas características e que são de grande importância para a produção de
NUT-A80 -NUTRIÇÃO ESPORTIVA
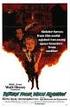 NUT-A80 -NUTRIÇÃO ESPORTIVA Ementa Nutrição na atividade física: A atividade física na promoção da saúde e na prevenção e recuperação da doença. Bases da fisiologia do exercício e do metabolismo energético
NUT-A80 -NUTRIÇÃO ESPORTIVA Ementa Nutrição na atividade física: A atividade física na promoção da saúde e na prevenção e recuperação da doença. Bases da fisiologia do exercício e do metabolismo energético
