DA DESTERRITORIALIZAÇÃO À MULTITERRITORIALIDADE
|
|
|
- Giovana Chaves Abreu
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo DA DESTERRITORIALIZAÇÃO À MULTITERRITORIALIDADE Rogério Haesbaert 1 Pretendemos com este trabalho dar continuidade à nossa crítica ao discurso da desterritorialização (especialmente em O Mito da Desterritorialização, Haesbaert, 2004) através do aprofundamento do debate sobre a noção anteriormente proposta de multiterritorialidade (Haesbaert, 1997, 2001a, 2002a, 2004). Multiterritorialidade aparece como uma resposta a esse processo identificado por muitos como desterritorialização : mais do que a perda ou o desaparecimento dos territórios, propomos discutir a complexidade dos processos de (re)territorialização em que estamos envolvidos, construindo territórios muito mais múltiplos ou, de forma mais adequada, tornando muito mais complexa nossa multiterritorialidade. Assim, a desterritorialização seria uma espécie de mito (Haesbaert, 1994, 2001b, 2004), incapaz de reconhecer o caráter imanente da (multi)territorialização na vida dos indivíduos e dos grupos sociais. Assim, afirmamos que, mais do que a desterritorialização desenraizadora, manifesta-se um processo de reterritorialização espacialmente descontínuo e extremamente complexo. (Haesbaert, 1994:214) Estes processos de (multi)territorialização precisam ser compreendidos especialmente pelo potencial de perspectivas políticas inovadoras que eles implicam. 1. Território(s) Para falar em multiterritorialidade precisamos, em primeiro lugar, esclarecer o que entendemos por território e por territorialidade. Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica, pois etimologicamente aparece tão próximo de terraterritorium quanto de terreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com dominação (jurídico-política) da terra e com a inspiração do terror, do medo especialmente para aqueles que, com esta dominação, ficam alijados da terra, ou no territorium são impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, por extensão, podemos dizer que, para aqueles que têm o privilégio de usufrui-lo, o território inspira a identificação (positiva) e a efetiva apropriação. Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional poder político. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação. Lefebvre distingue apropriação de dominação ( possessão, propriedade ), o primeiro sendo um processo 1 Universidade Federal Fluminense rogergeo@uol.com.br 6774
2 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo muito mais simbólico, carregado das marcas do vivido, do valor de uso, o segundo mais concreto, funcional e vinculado ao valor de troca. Segundo o autor: O uso reaparece em acentuado conflito com a troca no espaço, pois ele implica apropriação e não propriedade. Ora, a própria apropriação implica tempo e tempos, um ritmo ou ritmos, símbolos e uma prática. Tanto mais o espaço é funcionalizado, tanto mais ele é dominado pelos agentes que o manipulam tornando-o unifuncional, menos ele se presta à apropriação. Por quê? Porque ele se coloca fora do tempo vivido, aquele dos usuários, tempo diverso e complexo. (Lefebvre, 1986: , grifo do autor) Como decorrência deste raciocínio, é interessante observar que, enquanto espaçotempo vivido, o território é sempre múltiplo, diverso e complexo, ao contrário do território unifuncional proposto pela lógica capitalista hegemônica. Podemos então afirmar que o território, imerso em relações de dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço, desdobra-se ao longo de um continuum que vai da dominação político-econômica mais concreta e funcional à apropriação mais subjetiva e/ou cultural-simbólica (Haesbaert, 2004:95-96). Segundo Lefebvre, dominação e apropriação deveriam caminhar juntas, ou melhor, esta última deveria prevalecer sobre a primeira, mas a dinâmica de acumulação capitalista fez com que a primeira sobrepujasse quase completamente a segunda, sufocando as possibilidades de uma efetiva reapropriação dos espaços, dominados pelo aparato estatal-empresarial e/ou completamente transformados em mercadoria. Embora Lefebvre se refira sempre a espaço, e não a território, é fácil perceber que não se trata de um espaço no sentido genérico, muito menos de um espaço natural. Tratase, isto sim, de um espaço-processo, um espaço socialmente construído, um pouco como na distinção entre espaço e território feita por autores como Raffestin (1993[1980]). De certa maneira podemos afirmar que o espaço trabalhado por Lefebvre é um espaço feito território através dos processos por ele denominados de apropriação (que começa pela apropriação da própria natureza) e dominação (mais característica da sociedade moderna, capitalista). A diferença é que, se o espaço social aparece de maneira difusa por toda a sociedade e pode, assim, ser trabalhado de forma genérica, o território e os processos de des-territorialização devem ser distinguidos através dos sujeitos que efetivamente exercem poder, que de fato controlam esse(s) espaço(s) e, conseqüentemente, os processos sociais que o(s) compõe(m). Assim, o ponto crucial a ser enfatizado é aquele que se refere às relações sociais enquanto relações de poder e como todas elas são, de algum modo, 6775
3 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo relações de poder, este se configura através de uma noção suficientemente ampla que compreende desde o anti-poder da violência 2 até as formas mais sutis do poder simbólico. Enquanto continuum dentro de um processo de dominação e/ou apropriação, o território e a territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de suas manifestações que é também e, sobretudo, multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos múltiplos agentes/ sujeitos envolvidos. Assim, devemos primeiramente distinguir os territórios de acordo com os sujeitos que os constróem, sejam eles indivíduos, grupos sociais, o Estado, empresas, instituições como a Igreja etc. As razões do controle social pelo espaço variam conforme a sociedade ou cultura, o grupo e, muitas vezes, com o próprio indivíduo. Controla-se uma área geográfica, ou seja, o território, visando atingir/afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relacionamentos (Sack, 1986:6). A territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois está intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar. Sack afirma também: A territorialidade, como um componente do poder, não é apenas um meio para criar e manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e manter grande parte do contexto geográfico através do qual nós experimentamos o mundo e o dotamos de significado. (1986:219) Portanto, todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço tanto para realizar funções quanto para produzir significados. O território é funcional a começar pelo território como recurso, seja como proteção ou abrigo ( lar para o nosso repouso), seja como fonte de recursos naturais matérias-primas que variam em importância de acordo com o(s) modelo(s) de sociedade(s) vigente(s) (como é o caso do petróleo no atual modelo energético capitalista). Para Raffestin, um recurso não é uma coisa, a matéria em si, ele é uma relação cuja conquista faz emergir propriedades necessárias à satisfação de necessidades. (1993:8) Como meio para atingir um fim (p. 225), não é uma relação estável, pois surge e desaparece na história das técnicas e da conseqüente produção de necessidades humanas. Milton Santos prefere distinguir o território como recurso, prerrogativa dos atores hegemônicos, e o território como abrigo, dos atores hegemonizados (Santos et al., 2000:12). Embora reconheçamos a enorme relevância desta distinção, podemos divergir em 2. Souza (1995), comentando Hannah Arendt, afirma que, enquanto o poder demanda legitimidade e é inerente à existência de qualquer comunidade política, a dominação pela violência aparece à medida que o poder está sendo perdido. (p. 80) 6776
4 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo relação aos termos, já que, na verdade, são duas formas distintas de produção do território enquanto recurso: os dominantes privilegiando seu caráter funcional e mercantil, os dominados valorizando-o mais enquanto garantia de sua sobrevivência cotidiana. Para os hegemonizados o território adquire muitas vezes tamanha força que combina com intensidades iguais funcionalidade ( recurso ) e identidade ( símbolo ). Assim, para eles, literalmente, retomando Bonnemaison e Cambrèzy (1996), perder seu território é desaparecer. O território, neste caso, não diz respeito apenas à função ou ao ter, mas ao ser. É interessante como estas dimensões aparecem geminadas, sem nenhuma lógica a priori para indicar a preponderância de uma sobre a outra: muitas vezes, por exemplo, é entre aqueles que estão mais destituídos de seus recursos materiais que aparecem formas as mais radicais de apego às identidades territoriais. Assim, poderíamos falar em dois grandes tipos ideais ou referências extremas frente aos quais podemos investigar o território, um mais funcional, outro mais simbólico. Enquanto tipos ideais eles nunca se manifestam em estado puro, ou seja, todo território funcional tem sempre alguma carga simbólica, por menos expressiva que ela seja, e todo território simbólico tem sempre algum caráter funcional, por mais reduzido que ele seja. Num esquema genérico dos extremos deste já aludido continuum entre funcionalidade e simbolismo, podemos caracterizá-los da seguinte forma: Território funcional Processos de Dominação Território simbólico Processos de Apropriação (Lefebvre) Territórios da desigualdade Território sem territorialidade (empiricamente impossível) Princípio da exclusividade Territórios da diferença Territorialidade sem território (ex.: Terra Prometida dos judeus) Princípio da multiplicidade (no seu extremo: unifuncionalidade) (no seu extremo: múltiplas identidades) Território como recurso, valor de troca (controle físico, produção, lucro) Território como símbolo, valor simbólico ( abrigo, lar, segurança afetiva) Mais importante, contudo, do que esta caracterização genérica e aparentemente dicotômica, é fundamental perceber a historicidade do território, sua variação conforme o contexto histórico e geográfico. Os objetivos dos processos de territorialização, ou seja, de 6777
5 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo dominação e de apropriação do espaço, variam muito ao longo do tempo e dos espaços. Assim, as sociedades tradicionais conjugavam a construção material ( funcional ) do território como abrigo e base de recursos com uma profunda identificação que recheava o espaço de referentes simbólicos fundamentais à manutenção de sua cultura. Já na sociedade disciplinar moderna (até por volta do século XIX) vigorava a funcionalidade de um enclausuramento disciplinar individualizante através do espaço não dissociada, é claro, da construção da identidade (individual, mais do que de grupo). Mais recentemente, nas sociedades de controle ou pós-modernas vigora o controle da mobilidade, dos fluxos (redes) e, conseqüentemente, das conexões o território passa então, gradativamente, de um território mais zonal ou de controle de áreas para um território-rede ou de controle de redes. Aí, o movimento ou a mobilidade passa a ser um elemento fundamental na construção do território. Podemos, simplificadamente, falar em quatro grandes fins ou objetivos da territorialização, acumulados e distintamente valorizados ao longo do tempo: - abrigo físico, fonte de recursos materiais ou meio de produção; - identificação ou simbolização de grupos através de referentes espaciais (a começar pela própria fronteira). - disciplinarização ou controle através do espaço (fortalecimento da idéia de indivíduo através de espaços também individualizados); - construção e controle de conexões e redes (fluxos, principalmente fluxos de pessoas, mercadorias e informações). É importante que ressaltemos agora, então, dentro dessa multiplicidade territorial em que estamos mergulhados, quais os traços fundamentais que distinguem a atual fase desterritorializadora, mais flexível, do capitalismo ou da modernidade para alguns pósmodernidade, para outros modernidade radicalizada (Giddens, 1990) ou líquida (Bauman, 2001). Entendemos que uma marca fundamental é, ao lado da existência de múltiplos tipos de território, a vivência cada vez mais intensa daquilo que denominamos multiterritorialidade. 2. Múltiplos territórios Inicialmente é necessário distinguir aquilo que denominamos múltiplos territórios e multiterritorialidade a multiplicidade de territórios como uma condição sine qua non, necessária mas não suficiente, para a manifestação da multiterritorialidade. Rompendo com a dicotomia entre fixidez e mobilidade, território e rede, propusemos uma primeira distinção, 6778
6 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo muito importante na constituição dos múltiplos territórios do capitalismo, entre territórioszona, mais tradicionais, e territórios-rede, mais envolvidos pela fluidez e a mobilidade. Poderíamos mesmo, generalizando ao extremo, afirmar que o capitalismo se funda, geograficamente, sob estes dois grandes paradigmas territoriais um mais voltado para a lógica estatal, controladora de fluxos pelo controle de áreas, quase sempre contínuas e de fronteiras claramente delimitadas; outro mais relacionado à lógica empresarial, também controladora de fluxos, porém prioritariamente pela sua canalização através de determinados dutos e nódulos de conexão (as redes). Arrighi (1996), de forma geograficamente questionável, distinguiu dois modos opostos de governo ou de lógica do poder em relação à dinâmica entre capital (ou espaço econômico) e a organização relativamente estável do espaço político, duas estratégias geopolíticas (e geoeconômicas) que ele denomina de capitalismo e territorialismo : Os governantes territorialistas identificam o poder com a extensão e a densidade populacional de seus domínios, concebendo a riqueza/o capital como um meio ou um subproduto da busca de expansão territorial. Os governantes capitalistas, ao contrário, identificam o poder com a extensão de seu controle sobre os recursos escassos e consideram as aquisições territoriais um meio e um subproduto da acumulação de capital. (p. 33) O autor destaca, contudo, que são duas lógicas não-excludentes, pois historicamente funcionariam em conjunto, relacionadas entre si num dado contexto espaçotemporal. (p. 34) Desde o exemplo dado por Arrighi como protótipo do Estado capitalista, a Veneza do final da Idade Média e outras cidades-estado do norte italiano, percebe-se com clareza a constituição de territórios-rede onde o controle era exercido ao mesmo tempo sobre o que o autor denomina de enclaves anômalos (as cidades-estados), loci principais das poderosas oligarquias mercantis, quanto sobre suas redes de atuação, que envolviam tanto o domínio direto ou indireto (pelo comércio) sobre outras áreas (territórios-zona), seja dominando as rotas marítimas que permitiam a sua interconexão. Bourdin (2001), comentando Balligand e Maquart, afirma: (...) sempre houve territórios descontínuos, os dos comerciantes e seus balcões, os das peregrinações e de suas igrejas de romaria, territórios-rede de que o Império de Veneza oferece uma perfeita ilustração. Hoje, este tipo de território domina, dando um outro significado aos recortes tradicionais, sobretudo políticos. (p. 167) Assim, dentro da diversidade territorial do nosso tempo devemos levar em conta, em primeiro lugar, esta distinção crescente entre uma lógica territorial zonal e uma lógica 6779
7 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo territorial reticular 3. Elas se interpenetram, se mesclam, de tal modo que a efetiva hegemonia dos territórios-zona estatais que marcaram a grande colcha de retalhos política, pretensamente uniterritorial (no sentido de só admitir a forma estatal de controle políticoterritorial) do mundo moderno, vê-se obrigada, hoje, a conviver com novos circuitos de poder que desenham complexas territorialidades, em geral na forma de territórios-rede, como é o caso da territorialidade do narcotráfico globalizado. Dentro dessa complexa relação entre redes e áreas ou zonas como os dois elementos fundamentais constituintes do território (para Raffestin, duas das três invariantes territoriais a terceira seriam os pólos ou nós, que no nosso ponto de vista são, juntamente com os dutos, constituintes indissociáveis das redes), devemos destacar a enorme variedade de tipos e níveis de controle territorial. Se o território é moldado sempre dentro de relações de poder, em sentido lato, ele envolve sempre, também, no dizer de Robert Sack, o controle de uma área. Este controle, contudo, dependendo do tipo (mais funcional ou mais simbólico, por exemplo) e dos sujeitos que o promovem (a grande empresa, o Estado, os grupos locais, etc.), adquire níveis de intensidade os mais diversos. Assim, com base em propostas anteriores (Haesbaert, 2002b e 2004), propomos identificar múltiplos territórios através das seguintes modalidades: a) Territorializações mais fechadas, quase uniterritoriais no sentido de imporem a correspondência entre poder político e identidade cultural, ligadas ao fenômeno do territorialismo, como nos territórios defendidos por grupos étnicos que se pretendem culturalmente homogêneos, não admitindo a pluralidade territorial de poderes e identidades. b) Territorializações político-funcionais mais tradicionais, como a do Estadonação que, mesmo admitindo certa pluralidade cultural (sob a bandeira de uma mesma nação enquanto comunidade imaginada, nos termos de Anderson, 1989), não admite a pluralidade de poderes. c) Territorializações mais flexíveis, que admitem a sobreposição territorial, seja sucessiva (como nos territórios periódicos ou espaços multifuncionais na área central das grandes cidades) ou concomitantemente (como na sobreposição encaixada de territorialidades político-administrativas). d) Territorializações efetivamente múltiplas uma multiterritorialidade em sentido estrito, construídas por grupos ou indivíduos que constróem seus 3. Para uma discussão mais aprofundada desta temática, bem como da noção de território-rede, ver o item 7.1 (Territórios, redes e territórios-rede) em nosso livro O mito da desterritorialização (Haesbaert, 2004, pp ). 6780
8 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo territórios na conexão flexível de territórios multifuncionais e multiidentitários. Precisamos então, a partir daí, distinguir entre múltiplos territórios e multiterritorialidade. O antropólogo colombiano Zambrano (2001), numa perspectiva semelhante, traz contribuições muito interessantes. Ele distingue entre territórios plurais e pluralidade de territórios 4. Com base na complicada realidade sócio-política e cultural da Colômbia, Zambrano reconhece a multiplicidade de territórios através dos próprios movimentos sociais e das lutas travadas por diferentes grupos e instituições. Assim, afirma ele: No âmbito político o pertencimento gera o sentido de domínio sobre um lugar, sentido que estimula o aparecimento de formas de autoridade e tributação sobre o espaço, configurando a real perspectiva territorial: percepções de atores diversos, geralmente alheios aos contornos territoriais locais (Estado, guerrilhas, ONGs etc.) que inserem suas visões, confrontando-se com as dos residentes (organização social, formas de parentesco, uso do espaço etc.) que devem lutar pela hegemonia de um modo particular de exercer legitimamente o domínio ou estabelecê-lo com as pautas de dominação intervenientes que lhes são alheias. A propriedade da terra como fundamento do território é deslocada pela noção de soberania que é ação de domínio sobre o espaço de pertencimento, real ou imaginado. Sem as amarras da propriedade, o territorial surge com mais nitidez enquanto espaço de relações políticas entre as distintas representações que legitimam as ações de domínio sobre ele; por isto é que em cada território se encontram diversos sentidos de domínio, históricos e complexos na maioria das vezes produzidos para além das fronteiras locais diminuindo o caráter aberto, submetido a formas jurisdicionais. A jurisdição tem fronteiras difusas que não são físicas, isto é, são desterritorializadas, política e socialmente falando, razão pela qual o sentido de domínio se translada com os atores que deixam suas marcas nas localidades. Aparecem assim as jurisdições guerrilheiras, paramilitares, municipais, indígenas, afro-colombianas, ecológicas, judiciais, eclesiásticas etc., num mesmo lugar, configurando nele uma arena própria para a luta territorial. (p. 17, tradução nossa) Ainda que questionemos este caráter desterritorializado das jurisdições (cujo termo pode muitas vezes ser substituído por territorialidades ), é evidente, na análise do autor, a multiplicidade de territórios e territorialidades que podem conviver num mesmo espaço, 4. O autor parte da definição de território como o espaço terrestre, real ou imaginado, que um povo (etnia ou nação) ocupa ou utiliza de alguma maneira, sobre o qual gera sentido de pertencimento, que confronta com o de outros, e organiza de acordo com os padrões de diferenciação produtiva (riqueza econômica), social (origem de parentesco) e sexo/gênero (divisão sexual dos espaços) e [sobre o qual] exerce jurisdição. (Zambrano, 2001:29) 6781
9 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo alimentando ou não as lutas pelo território. É o próprio Zambrano quem afirma, mais adiante, que o espaço pode ser concebido como um cenário de pugna entre territorialidades, isto é, entre jurisdições, reais e imaginadas, que incidem sobre os territórios estruturados e habitados. Sugere então que os territórios plurais são uma multiplicidade de espaços diversos, culturais, sociais e políticos, com conteúdos jurisdicionais em tensão, que produzem formas particulares de identidade territorial. (p. 18) Distingue-se assim entre pluralidade de territórios e territórios plurais, que, longe de uma armadilha semântica, permite enfocar duas qualificações distintas: A pluralidade de territórios indica sua multiplicidade: a superfície terrestre como suporte está sujeita a um processo permanente de organização/diferenciação, processo central para a reprodução sistêmica. (...) Os territórios plurais, além de conceberem a multiplicidade descrita anteriormente, concebem todo espaço terrestre ocupado por distintas representações sobre ele, que tendem a legitimar a jurisdição sobre os habitantes que nele residem, configurando a série de relações sociais entre as diferentes percepções de domínio. (...) Os territórios plurais permitem perceber, em cada unidade do múltiplo, a pluralidade de percepções territoriais estruturadas [a cotidianeidade dos habitantes], estruturando [processo de construção] e estruturantes [ex.: judiciais, eclesiásticas e algumas guerrilheiras, formadas pela progressiva ação dos movimentos sociais]. (p ) Contendo a pluralidade de territórios, os territórios plurais se manifestariam pelo menos de duas formas (p. 31): - multiplicidade de territórios: território plural como reunião de vários territórios; - pluralidade de jurisdições (ou, na nossa interpretação, de territorialidades): território plural por abranger diferentes jurisdições (incorporando-as parcialmente ou por sobreposição). A pluralidade de territórios, característica que pode se confundir com a noção aqui proposta de múltiplos territórios, pode estar compreendida de duas formas nos territórios plurais (noção mais próxima de nossa concepção de multiterritorialidade) uma, vista a partir do território plural como conjunto justaposto de diversos territórios compreendidos no seu interior, outra, a partir do território plural como conjunto superposto de vários territórios (ou territorialidades) cuja abrangência pode ir bem além dos seus limites. É como se fossem duas perspectivas distintas: na primeira, o olhar vai mais dos limites do território plural para o seu interior, na segunda o olhar prioriza as relações deste território com aqueles que se encontram para além ou acima dele. Tanto num caso como no outro o convívio de múltiplas territorialidades implica sempre disputas. Como afirma 6782
10 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo Zambrano, o território se conquista, sendo assim luta social convertida em espaço. (2001:31) Aqui é importante fazer uma breve distinção entre território em sentido estrito e territorialidade. Alguns autores, numa visão mais estreita, reduzem a territorialidade à dimensão simbólico-cultural do território, especialmente no que tange aos processos de identificação territorial. Na maioria das vezes, porém, os autores não fazem esta distinção, a territorialidade sendo concebida como aquilo que faz de qualquer território um território (Souza, 1995:99), ou seja, as propriedades gerais necessárias à construção territorial que variam, é claro, de acordo com o conceito de território ao qual estejamos nos referindo. A territorialidade, no nosso ponto de vista, é algo abstrato, como diz Souza, mas não no sentido radical que a reduz ao caráter de abstração analítica. Ela é uma abstração também no sentido ontológico de que, enquanto imagem ou símbolo de um território, existe e pode inserir-se eficazmente como uma estratégia político-cultural, mesmo que o território ao qual se refira não esteja concretamente manifestado como no conhecido exemplo da Terra Prometida dos Judeus. Ou seja, o poder no seu sentido simbólico também precisa ser devidamente considerado em nossas concepções de território. É justamente por fazer uma separação demasiado rígida entre território como dominação (material) e território como apropriação (simbólica) que muitos ignoram e a complexidade e a riqueza da multiterritorialidade em que estamos mergulhados. 3. Multiterritorialidade Para entendermos a multiterritorialidade contemporânea é preciso remontar às suas origens. Na verdade, especialmente levando em conta as concepções de território e de territórios múltiplos anteriormente discutidas, podemos afirmar que sempre vivemos uma multiterritorialidade: (...) a existência do que estamos denominando multiterritorialidade, pelo menos no sentido de experimentar vários territórios ao mesmo tempo e de, a partir daí, formular uma territorialização efetivamente múltipla, não é exatamente uma novidade, pelo simples fato de que, se o processo de territorialização parte do nível individual ou de pequenos grupos, toda relação social implica uma interação territorial, um entrecruzamento de diferentes territórios. Em certo sentido, teríamos vivido sempre uma multiterritorialidade. (Haesbaert, 2004:344) Um dos primeiros cientistas sociais a falar de multi-pertencimento territorial e multiterritorialidade é o sociólogo francês Yves Barel. Ele parte de uma noção demasiado ampla de território, definido como o não-social dentro do qual o social puro deve imergir para adquirir existência (Barel, 1986:131), para afirmar que: 6783
11 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo (...) o homem, por ser uma animal político e um animal social, é também um animal territorializador. Diferentemente, talvez, de outras espécies animais, seu trabalho de territorialização apresenta, contudo, uma particularidade marcante: a relação entre o indivíduo ou o grupo humano e o território não é uma relação biunívoca. Isto significa que nada impede este indivíduo ou este grupo de produzir e de habitar mais de um território. (...) é raro que apenas um território seja suficiente para assumir corretamente todas as dimensões de uma vida individual ou de um grupo. O indivíduo, por exemplo, vive ao mesmo tempo ao seu nível, ao nível de sua família, de um grupo, de uma nação. Existe portanto multipertencimento territorial. (p. 135) Trata-se, contudo, daquilo que denominamos multiterritorialidade em sentido lato, mais tradicional, resultante da sobreposição de territórios, hierarquicamente articulados, encaixados. Os exemplos citados por Barel, um pouco como na espacialidade diferencial de Yves Lacoste, comentada logo a seguir, deixam claro que se trata de uma multiterritorialidade pelo encaixe de territórios em diferentes dimensões ou escalas. Assim, Barel dá como exemplo de multiterritorialidade contemporânea a política de emprego exemplo coerente com sua ampla concepção de território. A luta pelo desemprego não pode mais ficar subordinada às iniciativas de caráter estatal-nacional, pois se trata de um fenômeno internacional ou mesmo global. As políticas nacionais, assim, se tornam políticas locais, freqüentemente ineficazes por causa de seu localismo. (p ) Seria então a multiterritorialidade uma questão de escala ou, nos termos de Lacoste, uma questão de espacialidade diferencial? Neste sentido, é interessante que reflitamos um pouco sobre as relações entre multiterritorialidade e espacialidade diferencial. Lacoste (1988) ressalta a diferença entre a espacialidade aldeã ou rural e a espacialidade urbana. Mesmo sem usar o termo, ele já antecipa a compressão tempoespaço (Harvey, 1992), profundamente diferenciada entre os grupos sociais (Massey, 1993), ao afirmar que nos dias de hoje, (...) tudo aquilo que está longe sobre a carta é bem perto por determinado meio de circulação. (...) Hoje, nós nos defrontamos com espaços completamente diferentes, caso sejamos pedestres ou automobilistas (ou, com mais razão ainda, se somarmos o avião). Assim, na nossa vida cotidiana, referimo-nos, mais ou menos confusamente, a representações do espaço de tamanhos extremamente nãosemelhantes (...) ou, antes, a pedaços de representação espacial superpostos, em que as configurações são muito diferentes umas das outras. Essa multi-escalaridade das práticas socioespaciais implica a vivência de múltiplos papéis que se inscrevem cada um em migalhas de espaço, descontínuo, multiescalar: 6784
12 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo Vivemos, a partir do momento atual, numa espacialidade diferencial feita de uma multiplicidade de representações espaciais, de dimensões muito diversas, que correspondem a toda uma série de práticas e de idéias, mais ou menos dissociadas (...).(Lacoste, 1988:49) O autor reconhece então as diferentes representações do espaço referidas à nossa mobilidade mais restrita, cotidiana (a nível de bairro, cidade, deslocamentos de fim de semana); as configurações espaciais não-coincidentes das redes das quais dependemos (redes administrativas, de comercialização, de influência urbana, financeiras); e as representações espaciais de mais ampla escala, veiculadas pela mídia e pelo turismo, e que freqüentemente abarcam o globo no seu conjunto. Assim: O desenvolvimento desse processo de espacialidade diferencial se traduz por essa proliferação de representações espaciais, pela multiplicação das preocupações concernentes ao espaço (nem que seja por causa da multiplicação dos deslocamentos). Mas esse espaço do qual todo mundo fala, ao qual nos referimos todo tempo, é cada vez mais difícil de apreender globalmente para se perceber suas relações com uma política global. (Lacoste, 1988:50) A dificuldade em apreender globalmente nossa experiência espacial contemporânea, destacada por Lacoste, tem a ver com a descontinuidade dos espaços e dos territórios, organizados muito mais em rede do que em termos de áreas. Provém daí um sério dilema político, a ser retomado no item final deste artigo: como organizar movimentos políticos de resistência através de um espaço tão fragmentado e, em tese, multi-escalar e... desarticulado? Se para Lacoste as práticas sociais se tornaram mais ou menos confusamente multiescalares (p ), muitos de nós, contudo, encarregamo-nos de desfazer a confusão deste novelo e, retomando seus fios, tecemos nossa própria rede, ou melhor, nosso(s) próprio(s) território(s)-rede(s) que implicam, sem dúvida, assim, a vivência de uma multiterritorialidade, pois, como já salientamos, todo território-rede resulta da conjugação, em outra escala, de territórios-zona, descontínuos. Além disso, mais do que de superposição espacial, como enfatiza o autor, trata-se hoje, principalmente com o novo aparato tecnológico-informacional à nossa disposição, de uma multiterritorialidade não apenas por deslocamento físico como também por conectividade virtual, a capacidade de interagirmos à distância, influenciando e, de alguma forma, integrando outros territórios. Distinguimos então pelo menos duas grandes perspectivas de tratamento da multiterritorialidade: 6785
13 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo (...) aquela que diz respeito a uma multiterritorialidade moderna, zonal ou de territórios de redes, embrionária, e a que se refere à multiterritorialidade pós-moderna, reticular ou de territórios-rede propriamente ditos, ou seja, a multiterritorialidade em sentido estrito. (Haesbaert, 2004:348) Multiterritorialidade inclui assim uma mudança não apenas quantitativa pela maior diversidade de territórios que se colocam ao nosso dispor (ou pelo menos das classes mais privilegiadas) mas também qualitativa, na medida em que temos hoje a possibilidade de combinar de uma forma inédita a intervenção e, de certa forma, a vivência, concomitante, de uma enorme gama de diferentes territórios. A chamada condição pós-moderna inclui assim uma multiterritorialidade: (...) resultante do domínio de um novo tipo de território, o território-rede em sentido estrito (...). Aqui, a perspectiva euclidiana de um espaço-superfície contínuo praticamente sucumbe à descontinuidade, à fragmentação e à simultaneidade de territórios que não podemos mais distinguir claramente onde começam e onde terminam ou, ainda, onde irão eclodir, pois formações rizomáticas também são possíveis. (...) (Haesbaert, 2004 :348) Esta flexibilidade territorial do mundo pós-moderno, embora não seja uma marca universalmente difundida (longe disso), permite que alguns grupos, em geral os mais privilegiados, usufruam de uma multiplicidade inédita de territórios, seja no sentido da sua sobreposição num mesmo local, seja da sua conexão em rede por vários pontos do mundo. Aqui podemos lembrar a multiterritorialidade mais funcional da organização terrorista Al Qaeda, analisada em trabalho anterior (Haesbaert, 2002a), e a multiterritorialidade funcional e simbólica da elite ou da burguesia globalizada. Ao contrário da extraterritorialidade dos globetrotters ou turistas globalizados de Bauman (1999), destacamos a multiterritorialidade da nova elite planetária. Partindo do pressuposto de que todo poder social é um poder sobre o espaço, os sociólogos Pinçon e Pinçon-Charlot (2000) afirmam que a burguesia contemporânea se reproduz ao mesmo tempo pela proximidade residencial (em bairros e/ou condomínios seguros e plenos de amenidades) que poderíamos denominar de território-zona no seu sentido mais tradicional e pela multiterritorialidade, ou seja, pelo usufruto de múltiplos territórios, reveladores de uma dupla inserção social, tanto no sentido de uma profunda memória familiar quanto de uma intensa vida mundana. Esta multiterritorialidade também seria visível através do caráter de classe internacional, tanto no sentido da internacionalização da vida profissional ou de negócios quanto de lazer, via turismo internacional. O sociólogo Ulrich Beck (1999) chega mesmo a forjar o termo topoligamia para se referir a este fenômeno de casamento com diversos lugares, para ele muito difundido, mas 6786
14 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo que aqui restringimos como uma característica dos grupos mais privilegiados. Citando o caso de uma senhora que divide sua vida entre uma casa na Alemanha e outra no Quênia, ele constata que ela tem uma vida topoligâmica, está afeiçoada a coisas que parecem excludentes, África e Tutzing. Topoligamia transnacional, estar casado com lugares que pertencem a mundos distintos: esta é a porta de entrada da globalidade da vida de cada um (...). (p. 135) Num sentido mais amplo do que o nosso para multiterritorialidade, ele trabalha com processos de pluri ou multilocalização, a alternância e a escolha dos lugares como padrinhos da globalização. (p. 137) É importante acrescentar a esta mobilidade física extremamente facilitada de que usufrui a classe hegemônica contemporânea, a sua mobilidade virtual. Como diz Bauman, a maioria das pessoas está em movimento mesmo se fisicamente parada (1999:85). Para estes, o espaço enquanto distância parece importar muito pouco. Por outro lado, a acessibilidade geográfica ampliada de que dispõe a elite planetária não impede que ela tenha não só de se proteger em termos de espaço residencial como também de manter as conexões, físicas e/ou informacionais, entre os múltiplos territórios que, combinados, conformam a sua multiterritorialidade. Tal como afirmamos em trabalho anterior (Haesbaert, 2004), dentro dessas novas articulações espaciais em rede surgem territórios-rede flexíveis onde o que importa é ter acesso, ou aos meios que possibilitem a maior mobilidade física dentro da(s) rede(s), ou aos pontos de conexão que permitam jogar com as múltiplas modalidades de território existentes, criando a partir daí uma nova (multi)territorialidade. Trata-se assim de vivenciar essas múltiplas modalidades, de forma concomitante (no caso da mobilidade virtual, por exemplo) ou sucessiva (no caso da mobilidade física), num mesmo conjunto que, no caso dos indivíduos ou de alguns grupos, pode favorecer mais uma vez, agora não mais na forma de territórios-zona contínuos, um novo tipo de experiência espacial integrada. Esta nova experiência, que é a experiência da multiterritorialidade em sentido estrito (ou pós-moderna ), inclui: - uma dimensão tecnológico-informacional de crescente complexidade, em torno daquilo que podemos denominar uma reterritorialização via ciberespaço (e não uma desterritorialização, como defende Lévy, 1996, 1999), e que resulta na extrema valorização da densidade informacional de alguns pontos altamente estratégicos do espaço; - como decorrência desta nova base tecnológico-informacional, uma compressão espaço-tempo de múltiplos alcances ou geometrias de poder (Massey, 1993), com o fenômeno do alcance planetário instantâneo (dito em tempo real ), com contatos globais de alto grau de instabilidade e imprevisibilidade; 6787
15 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo - uma dimensão cultural-simbólica cada vez mais importante dos processos de territorialização, com a identificação territorial ocorrendo muitas vezes no/com o próprio movimento e, no seu extremo, referida à própria escala planetária como um todo (a Terrapátria de Morin e Kern, 1995). Nesse contexto: A principal novidade é que hoje temos uma diversidade ou um conjunto de opções muito maior de territórios/territorialidades com os/as quais podemos jogar, uma velocidade (ou facilidade, via Internet, por exemplo) muito maior (e mais múltipla) de acesso e trânsito por essas territorialidades elas próprias muito mais instáveis e móveis e, dependendo de nossa condição social, também muito mais opções para desfazer e refazer constantemente essa multiterritorialidade. (p. 344) O mais importante a destacar na nossa experiência multiterritorial pós-moderna é o fato de que não se trata simplesmente, como já ressaltamos, da imbricação ou da justaposição de múltiplos territórios que, mesmo recombinados, mantêm sua individualidade numa espécie de todo como produto ou somatório de suas partes. A efetiva multiterritorialidade seria uma experiência profundamente inovadora a partir da compressão espaço-temporal que permite (...) pela comunicação instantânea, contatar e mesmo agir [como no caso de grandes empresários que praticamente dirigem suas fazendas ou firmas à distância, via Internet e outras modalidades informacionais] sobre territórios completamente distintos do nosso, sem a necessidade de mobilidade física. Trata-se de uma multiterritorialidade envolvida nos diferentes graus daquilo que poderíamos denominar como sendo a conectividade e/ou vulnerabilidade informacional (ou virtual) dos territórios. (Haesbaert, 2004:345) A realização da multiterritorialidade contemporânea, fica evidente, envolve como condições básicas a presença de uma grande multiplicidade de territórios e sua articulação na forma de territórios-rede. Estes, como já vimos, são por definição, sempre, territórios múltiplos, na medida em que podem conjugar territórios-zona (manifestados numa escala espacialmente mais restrita) através de redes de conexão (numa escala mais ampla). A partir daí se desenham também diferenciações dentro da própria dinâmica de multiterritorialização. Embora nos propondo desdobrá-los em um trabalho futuro, é necessário distinguir, por exemplo: - os agentes que promovem a multiterritorialização e as profundas distinções em termos de objetivos, estratégias e escalas, sejam eles indivíduos, grupos, instituições, o Estado ou as empresas. 6788
16 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo - o caráter mais simbólico ou mais funcional da multiterritorialidade tal como no território, ela aparece ora com uma maior carga simbólica (como no caso das grandes diásporas de imigrantes), ora mais funcional (como no caso das redes do megaterrorismo global); no primeiro caso é importante analisar também as múltiplas identidades territoriais nela envolvidas. - os níveis de compressão espaço-tempo (e, conseqüentemente, de tele-ação ) nela incorporados, ou seja, as múltiplas geometrias de poder da compressão espaço-tempo, bem como o caráter potencial ou efetivo de sua execução. - o caráter contínuo ou descontínuo da multiterritorialidade, até que ponto ela ocorre pela superposição, num mesmo espaço, de múltiplos territórios, ou até que ponto ela corresponde à conexão de múltiplos territórios, em rede (distinguindo então, tal como na distinção entre territórios-zona e territórios-rede, uma multiterritorialidade em sentido lato ou zonal e uma multiterritorialidade em sentido estrito ou reticular ). - a combinação de tempos espaciais incorporada à multiterritorialidade podendo existir assim, de certa forma, uma multiterritorialidade também no sentido das múltiplas territorialidades acumuladas desigualmente ao longo do tempo (Santos, 1978) (Não) concluindo: implicações políticas do conceito Numa breve (in)conclusão, que também pretendemos desdobrar em trabalho futuro, podemos afirmar que o mais importante neste debate diz respeito às implicações políticas do conceito de multiterritorialidade, suas repercussões em termos de intervenção na realidade concreta ou como estratégia de poder. Como já afirmamos, é necessário distinguir, por exemplo, entre a multiterritorialidade potencial (a possibilidade dela ser construída ou acionada) e a multiterritorialidade efetiva, realizada: As implicações políticas desta distinção são importantes, pois sabemos que a disponibilidade do recurso multiterritorial ou a possibilidade de ativar ou de vivenciar concomitantemente múltiplos territórios é estrategicamente muito relevante na atualidade e, em geral, encontra-se acessível apenas a uma minoria. Assim, enquanto uma elite globalizada tem a opção de escolher entre os territórios que melhor lhe aprouver, vivenciando efetivamente uma multiterritorialidade, outros, na base da pirâmide social, não têm sequer a opção do primeiro território, o território como abrigo, fundamento mínimo de sua reprodução física cotidiana. (Haesbaert, 2004:360) 5. Milton Santos sugeriu a noção de tempo espacial para dar conta do problema das superposições tanto no tempo quanto no espaço, já que cada variável hoje presente na caracterização de um espaço aparece com uma data de instalação diferente, pelo simples fato de que não foi difundida ao mesmo tempo. Assim, cada lugar seria o resultado de ações multilaterais que se realizam em tempos desiguais sobre cada um e em todos os pontos da superfície terrestre. (Santos, 1978:211) 6789
17 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo Pensar, como inúmeros autores nas Ciências Sociais, que estamos imersos em processos de desterritorialização 6, é demasiado simples e, de certa forma, politicamente imobilizante, pois imagina-se que, num mundo globalmente móvel, sem estabilidade, marcado pela imprevisibilidade e fluidez das redes e pela virtualidade do ciberespaço, estamos quase todos à mercê dos poucos que efetivamente controlam estes fluxos, redes e imagens ou, numa posição extrema, nem mesmo eles podem mais exercer algum tipo de controle. Se o discurso da desterritorialização serve, antes de mais nada, àqueles que pregam a destruição de todo tipo de barreira espacial, ele claramente legitima a fluidez global dos circuitos do capital, especialmente do capital financeiro, num mundo em que o ideal a ser alcançado seria o desaparecimento do Estado, delegando todo poder às forças do mercado (a este respeito, ver por exemplo as teses de Ohmae [1990, 1996] sobre o fim das fronteiras e o fim do Estado-nação ). Falar não simplesmente em desterritorialização mas em multiterritorialidade e territórios-rede, moldados no e pelo movimento, implica reconhecer a importância estratégica do espaço e do território na dinâmica transformadora da sociedade. Inspiramonos aqui no sentido global de lugar proposto por Doreen Massey (2000[1991]). Criticando as visões mais reacionárias que vêem o lugar apenas como um espaço estável, de fronteiras bem delimitadas e identidades fixas, um pouco como nos territórios-zona aqui comentados, a autora propõe uma visão progressista de lugar, não fechado e defensivo, voltado para fora e adaptado a nossa era de compressão de tempo-espaço. Numa visão mais tradicional, o lugar, como o território e o próprio espaço, era associado à homogeneidade, ao imobilismo e à reação, frente à multiplicidade, ao movimento e ao progresso ligados ao tempo. Uma consciência global do lugar, defendida por Massey, embora não possa ser vista como boa ou má em si mesma, é a evidência de que hoje não temos mais espaços fechados e identidades homogêneas e autênticas. Nossas vidas estão impregnadas com influências provenientes de inúmeros outros espaços e escalas. A própria singularidade dos lugares (e dos territórios) advém sobretudo de uma específica combinação de influências diversas, que podem ser provenientes das mais diversas partes do mundo. O território, como espaço dominado e/ou apropriado, manifesta hoje um sentido multi-escalar e multidimensional que só pode ser devidamente apreendido dentro de uma concepção de multiplicidade, de uma multiterritorialidade. E toda ação que se pretenda transformadora, hoje, necessita, obrigatoriamente, encarar esta questão: ou se trabalha com 6. Para um balanço crítico destes discursos ver nosso livro, já aqui citado, O Mito da Desterritorialização (Haesbaert, 2004). 6790
18 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo a multiplicidade de nossos territórios, ou não se alcançará nenhuma mudança efetivamente inovadora. Os movimentos anti-globalização e anti-neoliberalismo que o digam, zapatistas à frente. Pensar multiterritorialmente é a única perspectiva para construir uma outra sociedade, ao mesmo tempo mais universalmente igualitária e mais multiculturalmente reconhecedora das diferenças humanas REFERÊNCIAS ANDERSON, B Nação e Consciência Nacional. São Paulo: Ática. ARRIGHI, G. 1996(1994). O longo século XX. Rio de Janeiro: Contraponto; São Paulo: EdUNESP. BAREL, Y Le social et ses territoires. In: Auriac, F. e Brunet, R. (orgs.) Espaces, Jeux et Enjeux. Paris: Fayard e Fondation Diderot. BAUMAN, Z Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2001(2000). Modernidade Liquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. GIDDENS, A As Conseqüências da Modernidade. São Paulo: EdUNESP. HAESBAERT, R O mito da desterritorialização e as regiões-rede. Anais do V Congresso Brasileiro de Geografia. Curitiba: AGB, pp Des-territorialização e Identidade: a rede gaúcha no Nordeste. Niterói: EdUFF. 2001a. Da desterritorialização à multiterritorialidade. Anais do IX Encontro Nacional da ANPUR. Vol. 3. Rio de Janeiro: ANPUR. 2001b. Le mythe de la déterritorialisation. Géographies et Cultures n. 40. Paris: L Harmattan. 2002a. A multiterritorialidade do mundo e o exemplo da Al Qaeda. Terra Livre n. 7. São Paulo: Associação dos Geógrafos Brasileiros. 2002b. Fim dos territórios ou novas territorialidades? In: Lopes, L. e Bastos, L. (org.) Identidades: recortes multi e interdisciplinares. Campinas: Mercado de Letras O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à multi- territorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. HARVEY, D A Condição Pós-Moderna. São Paulo: Loyola. LACOSTE, Y (1976). A Geografia isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas: Papirus. LEFEBVRE, H. 1986(1974). La Production de l Espace. Paris : Anthropos. LÉVY, P O que é virtual. São Paulo : Ed (1997). Cibercultura. São Paulo : Ed. 34. MASSEY, D (1991) Um sentido global do lugar. In : Arantes, O. (org.) O 6791
19 Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina 20 a 26 de março de 2005 Universidade de São Paulo espaço da diferença. Campinas : Papirus Power-geometries and a progressive sense of place. In : Bird, J. et al. (eds.) Mapping the Futures : Local Cultures, Global Changes. Londres e Nova York : Routledge. MORIN, E. e KERN, A Terra Pátria. Porto Alegre : Sulina. OHMAE, K The borderless world : power and strategy in the interlinked economy. Londres : Collins O fim do Estado Nação : a ascensão das economias regionais. Rio de Janeiro : Campus. PINÇON, M. e PINÇON-CHARLOT, M Sociologie de la Bourgeoisie. Paris : La Découverte La dernière classe sociale : sur la piste des nantis. Le Monde Diplomatique set. 2001, pp RAFFESTIN, C (1980) Por uma Geografia do Poder. São Paulo : Ática. SACK, R Human Territoriality : its theory and history. Cambridge : Cambridge University Press. SANTOS, M Por uma Geografia Nova. São Paulo : Hucitec. SANTOS, M. et al O papel ativo da Geografia : um manifesto. Florianópolis : XII Encontro Nacional de Geógrafos. SOUZA, M O território : sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In : Castro, I. et al. (orgs.) Geografia : Conceitos e Temas. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil. ZAMBRANO, C Territorios plurales, cambio sociopolítico y gobernabilidad cultural. Boletim Goiano de Geografia 21(1): jan.-jul. 6792
20 N o t a
21 NOTA ORDENAMENTO TERRITORIAL Rogério Haesbaert - UFF rogergeo@uol.com.br (...) nada é simples, a ordem se esconde na desordem, o aleatório está constantemente a refazer-se, o imprevisível deve ser compreensível. Trata-se agora de produzir uma descrição diferente do mundo, onde a idéia do movimento e de suas flutuações prevalece sobre o das estruturas, das organizações, das permanências. (Balandier, 1997, p. 9-10) Conceituar Ordenamento Territorial não é tarefa fácil. Entender o Ordenamento Territorial implica, antes de tudo, ter clareza sobre os dois conceitos a partir dos quais esta concepção é construída, quais sejam, ordem e território. Justamente estes são dois conceitos muito questionados nos últimos tempos, seja pelo discurso da difusão da imprevisibilidade e da desordem, seja pelo discurso do domínio da fluidez e da desterritorializacão. Para enfrentar essa problemática da destruição da ordem e do debilitamento ou mesmo, no limite, do desaparecimento dos territórios, é preciso que nos reportemos às transformações recentes na des-ordem mundial e no conjunto de reflexões teóricas que têm marcado a assim chamada condição pós-moderna. Nesse sentido, partimos de dois importantes pressupostos: A ordem vem sempre acompanhada de seu par indissociável, a desordem, que não deve simplesmente, a priori, ser combatida, pois ela pode estar sendo a manifestação de uma nova ordem, de um novo ordenamento vide algumas formas alternativas de organização do espaço que brotam das populações mais pobres e excluídas; o momento da desordem geralmente coincide com aquilo que caracterizamos como crise ou, como queria Gramsci, o momento em que o velho está morrendo e o novo ainda não conseguiu nascer. O território, enquanto relação de apropriação e/ou domínio da sociedade sobre o seu espaço, não está relacionado apenas à fixidez e à estabilidade (como uma área de fronteiras bem definidas), mas incorpora como um de seus constituintes fundamentais o movimento, as diferentes formas
22 B G G 118 Ordenamento territorial Rogério Haesbaert de mobilidade, ou seja, não é apenas um território-zona, mas também um território-rede. A título de muito breve introdução numa temática de grande complexidade e que não permite simplificações, poderíamos apontar como processos fundamentais a construir o espaço-tempo nas últimas três ou quatro décadas: a flexibilização da economia, com a implantação do chamado capitalismo pós-fordista ou de acumulação flexível; a hegemonia do capital financeiro sobre o capital produtivo; a crise do Estado do bem-estar social e, conseqüentemente, dos grandes projetos de planejamento regional-nacional integrado, e a instituição ainda em processo de Estados de controle ou de segurança ; a difusão das tecnologias da informação, gerando uma violenta e desigual compressão do tempo-espaço na rica expressão de Harvey (1989), e, a nível cultural, a propagação do chamado multiculturalismo e/ou hibridismo cultural, onde seria cada vez mais difícil encontrar identidades claramente definidas. Cunhou-se até mesmo a concepção capitalismo desorganizado (Offe, 1985) para caracterizar nossa época e, principalmente ao nível cultural e filosófico, o termo pós-modernidade ou pós-modernismo para intitular este tempo de espaços mais fragmentados, economia mais flexível e deslocalizada, Estados fragilizados e identidades mais instáveis e fluídas. Na ausência do domínio de uma metanarrativa ou de uma grande teoria capaz de responder às principais questões da pós-modernidade, como faziam correntes como o neopositivismo e o marxismo pelo menos até os anos 1960, muitos optaram por visões extremamente fragmentadas de interpretação do mundo. Passaram a ser valorizados mais os micro do que os macropoderes, mais a micro do que a macro-economia, mais a subjetividade do que a objetividade, mais os localismos do que as visões global-totalizantes. O ordenamento territorial e o planejamento e/ou as políticas que o acompanham seguiram rumos semelhantes, assimilando abordagens mais micro ou setoriais, não integradoras, de tratamento do espaço geográfico. Antes de tecermos algumas considerações atinentes de forma mais direta ao ordenamento territorial é importante, contudo, ter um entendimento mínimo do que ocorreu com nossas concepções de espaço que dizem respeito, diretamente, às concepções correlatas de território e ordem, inicialmente destacadas.
23 n. 1, (26): , 2006 Nota 119 B G G Uma característica central da chamada pós-modernidade não foi, como dizem muitos, a destruição de nossas referências e laços territoriais, a desterritorialização, mas sim a instauração de uma nova experiência de espaço e de tempo, marcada especialmente por aquilo que Harvey (1989) denominou compressão tempo-espaço, ou seja, a possibilidade, hoje, de partilharmos uma contração ou condensação de um tempo-espaço que pode ser ao mesmo tempo global e local, mundial e regional. Isto não significa, como diziam Marx e Engels ainda no século XIX, que simplesmente teria ocorrido uma aniquilação do espaço pelo tempo, até porque não existe tempo sem espaço, mas sim que as novas velocidades de transporte e comunicação permitiram a supressão ou pelo menos o enfraquecimento de um dos entraves espaciais mais importantes, a distância física. Entretanto, mesmo esta visão mais simplificada, que vê o espaço simplesmente como distância física, deve ser relativizada, tamanhas as desigualdades sociais no acesso a essas novas tecnologias que permitem, pela superação das distâncias, acessar instantaneamente o outro lado do mundo. Como afirmou muito apropriadamente Doreen Massey (1993), a compressão tempo-espaço não diz respeito apenas a quem se desloca e quem não se desloca : (...) diz respeito também ao poder em relação aos fluxos e ao movimento. Diferentes grupos sociais têm distintas relações com esta mobilidade igualmente diferenciada: alguns são mais implicados do que outros; alguns iniciam fluxos e movimentos, outros não; alguns estão mais na extremidade receptora do que outros; alguns estão efetivamente aprisionados por ela. (Massey, 1993, p. 61) Além dessa enorme desigualdade entre os atores envolvidos, devemos salientar também os diferentes setores da sociedade e da própria economia. Enquanto o capital pode usufruir uma compressão global, circulando em tempo real ao redor do mundo, mercadorias de consumo cotidiano ainda necessitam um tempo razoável para serem transportadas de uma região ou de um país para outro. Alguns objetos se movem muito mais rapidamente do que outros, afetando a vida de todos que dependem dessa mobilidade. Enquanto alguns produtos efetivamente se libertam do constrangimento distância, outros adquirem novo valor justamente por dependerem dessas distâncias e se tornarem, assim, relativamente menos acessíveis. O próprio encontro face-a-face adquire outro valor, na medida em que se torna uma entre várias possibilidades de contato, explicitando assim a sua especificidade.
24 B G G 120 Ordenamento territorial Rogério Haesbaert Na verdade, o espaço geográfico em condições de pós-modernidade realmente sofreu uma grande mudança no que se refere à questão distância, às noções de perto e longe, presença, o que está do nosso lado, e ausência, o que está distante (Shields, 1992). Hoje, o distante pode também estar presente, o aqui e agora pode também ser o lá e agora, na medida em que podemos acessar e mesmo exercer influência, via Internet, por exemplo, sobre lugares muito distantes. Até mesmo gerenciar uma firma ou executar uma operação cirúrgica à distância tornou-se uma realidade. Outras questões envolvendo o espaço e o território, entretanto, devem ser consideradas. Segundo Rob Shields, foi apenas a relação entre presença e ausência, ligada ao que denominamos de questão da distância, que foi efetivamente alterada em condições de pós-modernidade. Outras propriedades fundamentais do espaço geográfico, como aquelas ligadas à diferenciação ou contraste e a inclusão e exclusão ou o que está dentro e o que está fora (o inside e o outside), ao invés de desaparecerem, de ser efetivamente alteradas ou consideravelmente enfraquecidas, foram intensificadas, com o aumento brutal das desigualdades e da segregação sócio-espacial, aquilo que, na expressão de Bergson, podemos denominar diferenças de grau (ou desigualdade) e diferença de natureza (ou diferença em sentido estrito). Com isso, ordenar o território ficou muito mais complexo. Se territorializar-se é, sobretudo, exercer controle sobre os movimentos de pessoas, objetos ou informações que se dão no e pelo espaço (Sack, 1986) e, a partir daí, dominar e apropriar-se deste espaço, podemos dizer que formar territórios é, automaticamente, ordená-los. Assim, haveria mesmo uma certa redundância entre os termos territorialização e ordenamento. Conseqüentemente, desterritorialização e desordenamento seriam também expressões correlatas. Mas esta constituiria mais uma leitura simplista, pois podemos afirmar que, assim como não há ordem sem desordem, ordenamento sem desordenamento, também não há territorialização sem desterritorialização, ou seja, precisamos destruir ou deixar um território para construir ou ingressar em um outro (Deleuze e Guattari, 1995). Para sermos mais precisos, todos os nossos atos interferem, de forma mais ou menos acentuada, em processos permanentes de des-re-territorialização. Pensar os processos de territorialização, ou seja, a formação de territórios, como um processo concomitantemente des-reterritorializador e, portanto, des-ordenador, não é tarefa fácil. Implica, em primeiro lugar, substituir as leituras estanques, euclidianas, de território como uma área ou superfície relativamente homogênea e dotada de limites ou fronteiras claramente esta-
25 n. 1, (26): , 2006 Nota 121 B G G belecidas. Devemos partir da constatação de que o espaço geográfico é moldado ao mesmo tempo por forças econômicas, políticas, culturais ou simbólicas e naturais que se conjugam de formas profundamente diferenciadas em cada local. Para simplificar, podemos partir dos seguintes processos: a dinâmica econômica, moldada, sobretudo, na forma de territóriosrede, como os territórios das grandes empresas transnacionais e que, portanto, se apropria reticularmente do espaço, ou seja, privilegiando pontos e linhas e não o espaço de todos no seu conjunto (o espaço banal de Santos, 1996); a dinâmica política que, apesar de também funcionar cada vez mais em termos de redes políticas (Lima, 2002), continua privilegiando a gestão em termos de territórios-zona, superfícies ou áreas com limites claramente estabelecidos, ainda que estes não tenham mais uma escala privilegiada, mas resultem da imbricação de vários níveis inter-relacionados; a dinâmica social em sentido mais estrito, que, com as crescentes desigualdades, relega cada vez mais uma parcela crescente da população à condição de exclusão sócio-espacial ou inclusão precária (aquilo que denominamos aglomerados de exclusão (Haesbaert, 1995); a dinâmica cultural, que cada vez mais foge da associação nítida entre um território e uma identidade específica para projetar-se igualmente na forma de identidades híbridas e de redes (como as grandes diásporas globais e, a nível intranacional, redes como a rede regional gaúcha no interior do Brasil (Haesbaert, 1997); a dinâmica natural, cada vez menos restrita a ambientes zonais locais e cada vez mais mergulhada na complexidade das relações sociedadenatureza de caráter global. Esse emaranhado de condições e as complexas combinações daí resultantes acabam dificultando enormemente a construção das políticas de ordenamento territorial que são, na verdade, sempre e mais do que nunca, políticas de des-ordenamento territorial. Administrar a des-ordem e a exclusão ou precarização das condições sócio-espaciais da população que a constitui passa a ser o grande dilema a ser enfrentado. Assim, o primeiro passo para um reordenamento mais consistente, e ao mesmo tempo mais coerente com a realidade social a ser trabalhada, deve ter como objetivos centrais 1 : a) diminuir as desigualdades sócio-espaciais e o correspondente grau de exclusão sócio-econômica da população, incluindo aí não apenas a melhoria das condições materiais em sentido mais estrito mas também a
26 B G G 122 Ordenamento territorial Rogério Haesbaert acessibilidade às conexões que estimulam hoje a formação de redes ou de articulações extra-locais, única forma de efetuar e de consolidar mudanças substanciais; b) aumentar o nível de democratização e representatividade dos espaços políticos a partir tanto da descentralização espacial do poder quanto da tomada de decisões com efetiva participação, seja da população como um todo, seja de grupos de experts locais; c) fomentar o comprometimento público com as iniciativas a serem executadas através não apenas do resgate e fortalecimento de identidades territoriais homogêneas, tradicionais, mas que dêem conta, efetivamente, também, do amálgama ou combinação específica entre múltiplas identidades culturais locais ; d) trabalhar sempre num des-re-ordenamento que integre múltiplas escalas, o que envolve não cair nem no localismo paroquialista nem no globalismo generalista, no regionalismo reacionário ou no nacionalismo exacerbado; colocam-se assim, no caso brasileiro, pelo menos quatro escalas básicas: a do município, a da meso-região, a dos Estados da federação e a da macro-região. Apesar de aparecer implícita, em todos esses momentos está presente a idéia de um espaço dinâmico, em rede, e que nunca será simplesmente reordenado, pois convive o tempo inteiro com a desordem que, como fonte da transformação, não pode ser vista apenas de forma negativa. Desse modo, antes de preocuparmo-nos em definir seus limites em termos de área dotada de certa homogeneidade, devemos considerar os múltiplos fluxos e conexões que o atravessam e que fazem dele, antes que uma área relativamente homogênea, a combinação específica de um conjunto de redes, entrecruzando de forma própria essas múltiplas propriedades. Num elenco de prioridades, sem dúvida o combate ao aumento das desigualdades e da exclusão sócio-espacial 2 deve ser o ponto primordial a ser considerado. Sempre cientes de que as desigualdades espaciais não são um fenômeno que pode ficar restrito ou mesmo ser priorizado em termos de uma escala específica, como a escala regional. Atacar as desigualdades sócio-espaciais, por um novo ordenamento territorial, significa atacá-las em seus múltiplos níveis, a começar pelo intra-urbano, especialmente no caso das grandes metrópoles nacionais, passando depois pelo meso-regional e chegando até o macro-regional, onde está incluída, de forma mais ou menos implícita, a própria relação nacional-global.
27 n. 1, (26): , 2006 Nota 123 B G G Sintetizando, em territórios não obrigatoriamente contínuos e contíguos, onde é possível a ação à distância provocando transformações muitas vezes imprevisíveis, é imprescindível distinguir o tipo de problema que é possível resolver em termos de continuidade espacial (como algumas questões ecológicas e de saneamento) e aqueles que só podem ser resolvidos em termos de descontinuidade espacial ou de territórios-rede, na combinação com outras escalas, como a questão fundamental das desigualdades e da exclusão social. Um reordenamento territorial integrado, hoje, é necessariamente multiescalar e multiterritorial, no sentido da combinação não simplesmente dos espaços político, econômico, cultural e natural, mas das múltiplas escalas e formas espaciais (incluindo os territórios-rede) em que eles se manifestam. Ignorar esta complexidade é retornar mais uma vez a políticas paliativas e setoriais de pensar a relação entre a sociedade e seu espaço. Notas 1 Devemos reconhecer aqui que em algumas dessas considerações inspiramo-nos em Amin, Massey e Thrift (2003), ao proporem iniciativas para a redução das desigualdades regionais na Inglaterra. 2 Sobre as controvérsias que esta concepção implica, ver especialmente Martins (1997) e Castel (2000). Referências AMIN, A.; MASSEY, D. e THRIFT, N. Decentering the nation: a radical approach to regional inequality. Catalyst Paper 8. Londres: Catalyst, BALANDIER, G. A Desordem: elogio do movimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, CASTEL, R. As armadilhas da exclusão. In: CASTEL, R.; WANDERLEY, L. e BELFIORE WAN- DERLEY, M. Desigualdade e a questão Social. São Paulo: EDUC, DELEUZE, G. e GUATTARI, F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: Ed. 34, HAESBAERT, R. Desterritorialização: entre as redes e os aglomerados de exclusão. In: CAS- TRO, I. et al. (Orgs.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, Des-territorialização e identidade: a rede gaúcha no Nordeste. Niterói: EdUFF, HARVEY, D. The postmodern condition. Oxford: Basil Blackwell, 1989.
28 B G G 124 Ordenamento territorial Rogério Haesbaert LIMA, I. Da representação do poder ao poder da representação: uma perspectiva geográfica. In: Santos, M. et al. Território, territórios. Niterói: Programa de Pós-Graduação em Geografia, MARTINS, J. Exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, MARX, K. e ENGELS, F. Manifesto comunista. São Paulo: Boitempo, MASSEY, D. Power-geometry and a progressive sense of place. In: Bird, J. et al. (Eds.). Mapping the futures, local cultures, global change. Londres, Nova York: Routledge, OFFE, C. Disorganized Capitalism. Cambridge: Polity, SACK, R. Human Territoriality. Cambridge: Cambridge University Press, SANTOS, M. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, SHIELDS, R. A truant proximity: presence and absence in the space of modernity. Environment and Planning D: Society and Space, v. 10, ROGÉRIO HAESBAERT Professor adjunto da Universidade Federal Fluminense. Realizou pós-doutorado no Departamento de Geografia da Open University, na Inglaterra. É pesquisador do CNPq e coordenador do NUREG (Núcleo de Estudos sobre Regionalização e Globalização). Recebido para publicação em agosto de 2006 Aceito para publicação em agosto de 2006
29 REGIÃO, DIVERSIDADE TERRITORIAL E GLOBALIZAÇÃO ROGÉRIO HAESBAERT Universidade Federal Fluminense Não pensamos que a região haja desaparecido. O que esmaeceu foi a nossa capacidade de reinterpretar e de reconhecer o espaço em suas divisões e recortes atuais, desafiando-nos a exercer plenamente aquela tarefa permanente dos intelectuais, isto é, a atualização dos conceitos. (SANTOS, 1994:102) A região continua a existir, mas com um nível de complexidade jamais visto pelo homem. Agora, nenhum subespaço do planeta pode escapar ao processo conjunto de globalização e fragmentação, isto é, de invidualização e regionalização. (SANTOS, 1999:16) Este artigo, que se pretende o embrião de um trabalho de maior fôlego sobre a questão regional, busca realizar uma avaliação preliminar da chamada Geografia Regional num contexto mundial de globalização. Discutiremos assim a relevância das questões regionais na atualidade, alguns dos fundamentos pelos quais se produz a diversidade territorial, base para qualquer proposta de regionalização, e as principais polêmicas em torno de uma redefinição do conceito de região. A pertinência da questão regional A questão regional retoma hoje sua força, não apenas nas ciências sociais, em função de vários debates acadêmicos, como também pela proliferação de regionalismos, identidades regionais e de novas-velhas desigualdades tanto a nível global como intranacional. Apesar da propalada globalização homogeneizadora o que 15
30 GEOgraphia Ano. 1 N o Haesbaert vemos, concomitantemente, é uma permanente reconstrução da heterogeneidade e da fragmentação via novas desigualdades e recriação da diferença em todos os cantos do planeta. Um certo retorno às singularidades e ao específico ficam evidentes em correntes como o pós-modernismo e o pós-estruturalismo, denominações que evocam a crise social e de paradigmas em que estamos mergulhados, o que exige um constante questionamento de nossas proposições conceituais. Deste modo, pretendemos problematizar a questão regional a partir dos chamados processos de globalização que são, na verdade, sempre, processos concomitantes de globalização e fragmentação (HAESBAERT, 1998). Nesta problematização consideraremos as novas formas de manifestação da diversidade territorial à qual está ligada a regionalização, assim como as novas escalas em que se dá a manifestação dessa diversidade. A relevância da questão regional não está ligada apenas à realidade concreta que mostra uma nova força das singularidades, um revigorar dos localismos/regionalismos e das desigualdades espaciais. A mídia também alimenta uma revalorização do regional, ainda que ele seja entendido de maneiras as mais diversas. Para alguns, uma nova valorização do regional aparece no próprio bojo da globalização dos mercados e das comunicações 1, o regional aí sendo interpretado como uma revalorização do singular, da diferença; para outros, a nova regionalização seria um contraponto à globalização, via criação de grandes uniões comerciais - como se os mercados comuns não estivessem inseridos numa articulação crescente aos circuitos globais da economia capitalista. A nível teórico podemos reconhecer, nas últimas décadas, a amplitude da questão: regionalismos, identidades regionais e/ou regiões são ou foram abordados tanto pela Ciência Política (desde o legado de Gramsci e a questão meridional italiana como questão regional), pela Economia regional (como nos trabalhos de Perroux, Boudeville, Richardson e Isnard), pela Sociologia (vide trabalhos de Bourdieu e Giddens), pela Antropologia e pela História regional. Isto sem falar em áreas ligadas às ciências naturais, onde começam a surgir conceitos como o de bio-região, numa correspondência entre identidade biofísica e cultural (McGINNIS et al., 1999). Na Geografia em língua estrangeira temos um revigorar da Geografia Regional principalmente entre geógrafos de língua inglesa, como Gilbert (1988), Thrift (1990, 1991, 1993, 1996), Entrikin (1990, 1994), Hauer (1990) e Storper (1997). Na França, cabe lembrar a reedição de A região, espaço vivido, de Frémont (1999) e o compêndio de Iniciação à Geografia Regional, de Claval (1993). No 1. Segundo o colunista social Wesley Sathler, da TV Vitória (ES), a televisão caminha em direção à regionalização, como nos Estados Unidos. Você não pode ter preconceito com o regional. (...) Se você tem a opção de mudar de canal e deparar com um programa que mostra a sua comunidade ali - lugares por onde você passa, pessoas que você conhece, empresas com as quais você trabalha - isso sempre vai ser mais interessante. (Jornal do Brasil, 8 ago. 99) 16
31 Região, Diversidade Territorial e Globalização caso da Geografia brasileira devemos destacar trabalhos das últimas duas décadas como os nossos próprios (Haesbaert, 1988, 1997), Corrêa (1986), Gomes (1988, 1995), Castro (1992), Heidrich (1999) e Albuquerque (1998). Gilbert (1988) afirma enfaticamente: (...) os geógrafos estão redescobrindo o estudo do específico. (...) a geografia está começando a ver aqueles sistemas e estruturas [aos quais estava inteiramente dedicada] como localizações e a reexaminar a especificidade dos lugares. (...) Esse interesse renovado pelo específico faz ressurgir alguns dos conceitos dos estudos regionais e pode assim ser interpretado como um retorno à corologia. Entretanto, devemos considerar (...) que a geografia regional praticada desde a metade da década de 1970 é uma nova geografia regional. (p. 208) Ao lado dessa nova geografia regional no âmbito acadêmico devemos lembrar também a proliferação do que podemos denominar geografias regionais populares, num interesse revigorado pelas singularidades que marcam o espaço geográfico, como bem o demonstra a crescente difusão de revistas e vídeos como os da National Geographic, que acaba de lançar sua revista em língua francesa. Mas sem dúvida uma das áreas que mais tem estimulado a diversidade territorial, através da valorização e/ou da re-criação da diferença (quando não do exótico) é o turismo, um dos setores mais dinâmicos da economia contemporânea. De saída, é importante explicitarmos alguns dos pressupostos a partir dos quais propomos trilhar estas reflexões. Em primeiro lugar, admitimos que regionalização é um processo amplo, instrumento de análise para o geógrafo em sua busca dos recortes mais coerentes que dêem conta das diferenciações no espaço. Por outro lado, região, como conceito, envolve um rigor teórico que restringe seu significado mas aprofunda seu poder explicativo; para defini-la devemos considerar problemáticas como a das escalas e fenômenos sociais mais específicos (como os regionalismos políticos e as identidades regionais) entre aqueles que produzem a diversidade geográfica do mundo. Região: entre o velho e o novo Antes de abordarmos as bases que envolvem a diversificação do espaço geográfico contemporâneo, é importante, ainda que de forma bastante sucinta, retomar as raízes da análise regional e do conceito de região, de acordo com algumas das linhas teóricas até aqui focalizadas pela Geografia. Devemos relembrar sobretudo nossos clássicos, responsáveis por uma paternidade da região em Geografia, especialmente Vidal de La Blache, Carl Sauer e Richard Hartshorne. Estes autores, em distintas perspectivas, enfatizaram a diferenciação de áreas como questão fundamental para o trabalho do geógrafo. Mas 17
32 GEOgraphia Ano. 1 N o Haesbaert enquanto La Blache via a região como algo vivo, uma individualidade ou mesmo uma personalidade geográfica, Hartshorne a encarava como um constructo intelectual e que, como tal, poderia variar em sua delimitação de acordo com os objetivos do pesquisador. Já Sauer, com um grau de racionalismo que parece ficar a meio caminho entre La Blache e Hartshorne, buscava na Geografia regional uma morfologia da paisagem que não se preocupava apenas com o único, o singular, mas também com a comparação dessas paisagens individuais, num sentido corológico pleno, isto é, a ordenação de paisagens culturais 2. Apesar de suas divergências em relação ao enfoque regional, podemos afirmar que são pontos comuns entre os três autores: - a importância dada ao específico, ao singular - aquilo que La Blache vai denominar de personalidade geográfica e Hartshorne de diferenciação de áreas ; apesar de não serem partidários de um empirismo baseado na descrição simplista de características únicas, como muitos alegam, os três autores muito menos são defensores irrestritos de um racionalismo lógico-analítico 3 ; - o estudo integrador ou de síntese que permite perceber uma coesão/coerência interna à região, envolvendo as múltiplas dimensões do espaço geográfico, a começar pelas humanas e naturais. 4 2 A geografia regional é morfologia comparada, o processo de comparar paisagens individuais em relação com outras paisagens. (SAUER, 1998 [1927]: 60) 3. É curioso observar como os três autores propuseram métodos próprios, às vezes um tanto ecléticos, de análise regional, sem nunca, entretanto, cair no simplismo de um método exclusivamente empirista (embora num sentido geral este seja predominante) ou objetivo-racionalista. Sauer, por exemplo, ao mesmo tempo que defende um método morfológico, empírico (1998:30-31) de estudo da paisagem, afirma também que a paisagem geográfica não é simplesmente uma cena real vista por um observador. A paisagem geográfica é uma generalização derivada da observação de cenas individuais, um tipo, pois o geógrafo tem sempre em mente o genérico e procede por comparação (1998:24). Mesmo La Blache (1994 [1903]), sempre lembrado pelas suas proposições empiristas, deixa clara sua preocupação com relações mais gerais em expressões como os efeitos incoerentes de circunstâncias locais, [o homem] substitui por um concurso sistemático de forças e a personalidade geográfica corresponde a um grau de desenvolvimento já avançado de relações gerais (p. 20). Gomes (1996) enfatiza esta interpretação mais complexa do pensamento lablacheano, cruzamento de influências, e mostra também as ambigüidades do pensamento de Hartshorne, o mais racionalista dos três. 4. Nas palavras de Sauer, ao se dar preferência ao conhecimento sintético de áreas para a ciência geral da terra, estaremos de acordo com toda a tradição da geografia (1998:17). Para ele, vários geógrafos, incluindo La Blache, teriam reafirmado a tradição clássica da geografia como relação corológica (p. 21), por ele também partilhada, como fica evidente em sua concepção de paisagem: uma área composta por uma associação distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais (p. 23, grifo nosso). Sobre esta síntese humano-natural, La Blache afirma que uma individualidade geográfica (...) não é uma coisa dada de antemão pela natureza. (...) É o homem que, ao submetê-la ao seu uso, ilumina sua individualidade (VIDAL DE LA BLACHE, 1994:20). 18
33 Região, Diversidade Territorial e Globalização - a continuidade espacial - nenhum deles trabalha com regiões fragmentadas ou descontínuas, embora Hartshorne admita (criticamente) esta proposição. - a estabilidade regional - embora mais visível na obra de La Blache 5, esta estabilidade - sempre relativa - fica implícita nas propostas de Sauer e Hartshorne (que na revisão de seu The Nature of Geography discute de modo mais incisivo os fluxos e as regiões funcionais). - a relação entre região e uma meso-escala de análise, aspecto este não exatamente proveniente da abordagem desses três autores, mas de uma tradição mais ampla em Geografia Regional; esta meso-escala estaria geralmente situada num nível sub ou infra-nacional, imediatamente referida ao Estado-nação. É importante destacar o grau de abrangência do conceito, que se tornou com certeza o mais pretensioso dentro da Geografia e, talvez por isto mesmo, também aquele que é mais nitidamente reconhecido como um conceito geográfico por outros cientistas sociais. Mesmo uma concepção mais ampla como a de território acaba, a priori, privilegiando uma dimensão social, geralmente a dimensão política (v. por exemplo as propostas de Raffestin, 1980, e Sack, 1986), enquanto paisagem, por sua vez, aparece com muita freqüência vinculada à dimensão simbólicocultural. Mas, mesmo perdendo terreno para concepções como as de território, rede e paisagem, a região nunca deixou de ser um instrumento de trabalho para o geógrafo, isto sem falar nos planejadores, nos políticos e nos militares. 6 Um dos problemas centrais levantados pela questão regional no âmbito acadêmico refere-se à busca da síntese entre múltiplas dimensões do espaço geográfico, síntese esta que, sem ser exaustiva, está vinculada à produção de uma singularidade coerente capaz de delimitar uma porção contínua e relativamente estável do espaço. Na prática, se La Blache foi quem teve mais sucesso nesta empreitada, a maioria dos geógrafos acabou priorizando uma dimensão do espaço: seja a dimensão natural, nas regionalizações do século XIX, a dimensão urbano-econômica, nas regiões funcionais, ou a dimensão política, mais recentemente enfatizada no vínculo região-regionalismo. Na busca do(s) elemento(s) integrador(es) o geógrafo muitas vezes caiu na simplificação generalista de um método pretensamente comple- 5 Mesmo reconhecendo que revoluções econômicas como aquelas que se desdobram nos nossos dias imprimem uma agitação extraordinária à alma humana, La Blache considera que este distúrbio não deve nos subtrair o fundo das coisas. (...) O estudo atento daquilo que é fixo e permanente nas condições geográficas da França deve ser ou deve tornar-se mais do que nunca o nosso guia. (VIDAL DE LA BLACHE, 1994[1903]:547, grifo nosso) Não se pode ignorar, entretanto, a distinção entre o La Blache do Tableau de 1903 e o de Princípios de Geografia Humana, editado em 1921, com uma de suas três partes dedicada à circulação. 6. Yves Lacoste (1976) ressalta o papel fundamentalmente político da região, etimologicamente ligada ao caráter militar, pois vem do latim regere, que significa dominar, reger. 19
34 GEOgraphia Ano. 1 N o Haesbaert xo, que tornou a análise (não atingindo a síntese ) regional um mero acúmulo de gavetas, onde se sucediam relevo, clima, população, economia, etc. Gilbert (1988) fala de uma renovação da síntese regional sob um não muito claro modo pós-positivista de explicação do específico (que hoje vai desde o marxismo e a teoria da estruturação de Giddens até o pós-estruturalismo). Análise e síntese, diz ela, são usados como complementares para entender a região e seu caráter singular. A síntese seria antecedida de uma base teórica que passa a considerar a especificidade regional como resultado da interconexão de processos em diferentes escalas, processos não necessariamente complementares, sem dúvida freqüentemente antagônicos. (1988:220) Fica evidente que, num mundo dito em processo de globalização, falar em estabilidade e continuidade (física) dos fenômenos no espaço é muito problemático. Ainda no início do século La Blache já demonstrava (apesar do que afirmam muitos dos seus críticos) que analisar uma região da França ou a França no seu conjunto demandava também analisar contextos mais amplos, na escala da Europa, por exemplo. Esta sobreposição das escalas de ocorrência dos fenômenos sociais, muito mais intrincada no mundo contemporâneo, dificulta a análise regional na medida em que é muito raro encontrar espaços coerentes e cuja especificidade possa ser analisada independente de sua inserção em processos visíveis em outros níveis escalares. Regionalizar num mundo em globalização é uma tarefa duplamente difícil: como se pode dividir o que em tese está em crescente processo de integração? Como se pode distinguir espaços num mundo que se diz em processo de homogeneização? Retomando as características apontadas acima para os estudos regionais clássicos, podemos dizer que permanecem como duas questões centrais, articulando a Geografia Regional ao longo de todo o seu percurso: - o estudo integrador ou de síntese, seja ele mais seletivo (quando seleciona um fato ou dimensão do espaço geográfico mais significativo para a definição desta integração regional), ou mais amplo. É verdade que todas as áreas/disciplinas realizam sínteses, mas ao geógrafo cabe uma síntese muito complexa e particular, por se concentrar no espaço enquanto condensação de múltiplas manifestações sociais. - o estudo das especificidades, da diferenciação de áreas ou ainda, para utilizar um termo menos carregado de um legado empirista, da diversidade territorial; apesar de toda a uniformização promovida através da globalização capitalista, torna-se imprescindível discutir e encontrar formas de distinguir espaços/regiões, pois no nosso entendimento a diversidade territorial continua sendo um leitmotiv fundamental na construção da Geografia. Talvez pudéssemos mesmo afirmar que uma das explicações para a timidez do geógrafo em se afirmar frente a outras áreas nas ciências sociais esteja no fato de 20
35 Região, Diversidade Territorial e Globalização ele não assumir que a natureza da Geografia depende em grande parte de uma visão do espaço como um conjunto integrado, uma condensação ou síntese (com toda a ambigüidade que este termo implica) de múltiplas dimensões que as análises regionais, bem ou mal, sempre procuraram alcançar. Mas, se num mundo em processo de globalização/des-territorialização temos mais dificuldade em encontrar áreas coesas (ou integradas ) e coerentes, cabe verificar qual a nova lógica da regionalização a partir dessa recriação da diversidade territorial. É o que procuraremos discutir a seguir. Diversidade territorial e regionalização Em meio às mutações de acordo com a abordagem teórico-filosófica, a Geografia Regional acabou sempre respondendo, em primeiro lugar, à questão: qual é o principal agente responsável pela produção da diversidade geográfica? No final do século XIX ainda eram fortes as correntes deterministas/ambientalistas que entendiam que o espaço deveria ser interpretado antes de mais nada pela diferenciação natural da superfície terrestre. Herbertson (1905), por exemplo, realizou uma grande regionalização do mundo em regiões naturais. Aos poucos os homens, os grupos sociais, foram predominando na interpretação dos geógrafos e com eles vieram o espaço agrário, as cidades (logo transformadas em nós ou pólos articuladores das regiões, que La Blache já denominava de regiões nodais ), os eixos de transporte etc. Da diferenciação baseada no uso agrícola do solo passouse logo à industrialização, ao comércio e aos serviços. Numa ótica ainda carregada de positivismo/funcionalismo, introduziram-se noções de região menos estáticas como a de centro-periferia, também reinterpretada numa visão crítica pelo marxismo. Embora tenha inicialmente rechaçado o conceito de região (LACOSTE, 1976), a vertente do materialismo histórico recuperou a análise regional a partir, primeiro, da noção de divisão territorial (ou espacial, na leitura de Massey, 1984) do trabalho e, depois, a partir do regionalismo político (MARKUSEN, 1981). Hoje encontramos uma multiplicidade de interpretações sobre região e regionalização. Como alguns não admitem uma leitura geral do espaço sob um mesmo critério integrador/ diferenciador, a diversidade territorial nem sempre se torna sinônimo de diversidade regional, pois, para muitos geógrafos, nem todo recorte coerente do espaço geográfico é uma região - apenas aqueles que se referem a processos específicos como os movimentos regionalistas e as identidades regionais. Aqui, portanto, os processos responsáveis pela formação de regiões acabam interligando o político, o econômico e o cultural. Num sentido mais amplo, qualquer iniciativa no sentido de analisar a diversidade territorial implica em reconhecer a relação particular-geral e singular-universal, de modo a não cair nem em estudos de caso que sirvam simplesmente para corroborar uma visão geral, como muitas vezes ocorre na concepção de região como 21
36 GEOgraphia Ano. 1 N o Haesbaert produto da divisão territorial do trabalho, nem em estudos específicos que nada dizem sobre relações sociais mais amplas, como ocorria em algumas leituras empiristas da geografia clássica. Cabe a uma Geografia Regional renovada recuperar o sentido dos recortes espaciais tanto a partir de sua inserção desigual em movimentos mais globalizados quanto a partir da re-criação de singularidades que lhes dão um carater próprio. Revalorizar o singular não significa cair outra vez numa fenomenologia pura, que vê somente o acontecimento, ou num empirismo bruto, baseado no binômio observação-descrição; significa, isto sim, evidenciar a capacidade dos grupos humanos de recriar espaços múltiplos de sociabilidade. Sintetizando, são questões fundamentais: - para entender a diversidade territorial devemos priorizar a diferença em sentido estrito ou a desigualdade, o par singular / universal ou particular / geral? - a regionalização seria aplicável apenas a alguns espaços, ligada a fenômenos sociais específicos, ou seria referida ao espaço geográfico no seu conjunto? Smith (1988) afirma que se pode ver a formulação regional como um compromisso geográfico entre equalização e diferença e entre fixidez e fluidez no espaço (p. 150). Pretendemos focalizar aqui o compromisso, não exatamente entre equalizaçao e diferença, mas entre des-equalização (ou desigualdade) e diferença. Ao observarmos as correntes geográficas que enfocaram a regionalização, percebemos que algumas entendiam a diversidade territorial mais pelo viés da diferença, em sentido estrito, ou seja, da singularidade, como é o caso da geografia regional lablacheana, e outras mais pela perspectiva da desigualdade, tomando um padrão de medida como referência para, em função dele, situar cada região. Nesta segunda perspectiva encontra-se a região como produto da divisão territorial do trabalho ou as regiões funcionais, hierarquizadas de acordo com a área de influência das cidades. As abordagens funcionalistas sobre a região negligenciam a dimensão específica do vivido. Como afirma Entrikin (1991), caracterizar lugares como todos funcionais ou como sistemas regionais tem uma utilidade clara no planejamento de atividades ou na vida cotidiana, quando vemos o lugar como algo que nos é exterior e como algo a ser manipulado para fins particulares. Esta concepção funcional de lugar e região é, contudo, um constructo intelectual que abstrai as qualidades contextuais específicas que proporcionam a sua significância existencial (p. 131). Deste modo, autores contemporâneos dão ênfase também ao espaço vivido (FRÉMONT, 1976) e às identidades territoriais na produção da diversidade geográfica. Aliar a construção sistêmica das desigualdades, principalmente aquela promovida pela (des)ordem econômica, com a produção diferenciadora das singularida- 22
37 Região, Diversidade Territorial e Globalização des, da vivência do espaço e da nossa identificação com ele, torna-se ao mesmo tempo um desafio e uma necessidade. A Geografia Regional, que nasce de uma outra dicotomia geográfica, aquela entre Geografia Regional e Geografia Geral ou Sistemática, tem a obrigação de não alimentar novos dualismos e, sempre que possível, afirmar sua pretensão integradora. Como observou Hartshorne (1978), a Geografia não pode ser considerada dividida entre análises tópicas, sistemáticas (a análise de elementos individuais através do mundo ), e análises integrativas, regionais (a análise de áreas ou de conexões de fenômenos em integração ). Temos a partir daí duas conotações do regional: análise de elementos individuais, específicos, regionalmente localizados, e análise integradora, mais totalizante, observando a integração de múltiplos fenômenos numa área (integração esta que depende, como já ressaltamos, de uma escolha teórica desses elementos integradores). Com certeza uma visão integrada do espaço geográfico irá revelar sua combinação específica, não reprodutível da mesma forma em outra área. Mas ao mesmo tempo ela reúne elementos presentes, sob outras formas de articulação, em outros espaços. Daí a possibilidade - e necessidade - de se trabalhar sempre, em qualquer análise geográfica, tanto com elementos singulares/especifícos, e universais, quanto com elementos particulares (parte de um todo) e gerais. Isto sem dicotomizá-los, já que não há nenhum limite claro entre eles - muitos fenômenos são produzidos concomitantemente como singulares/universais e como particulares/gerais. Diretamente envolvida nesta problemática encontramos a questão das relações global-local, que será abordada mais adiante. Num sentido mais amplo, devemos nos indagar agora sobre as razões que justificam, hoje, em plena dinâmica globalizadora, a produção da diferença/diversidade em sua manifestação territorial. Para entendermos a produção da diversidade territorial no mundo contemporâneo é necessário pensar, antes de mais nada, nos binômios (mas não num raciocínio binário) desigualdade-diferença e globalizaçãofragmentação através das relações global-local. O des-igual e o diferente A diversidade territorial do mundo contemporâneo é resultado da imbricação entre duas grandes tendências ou lógicas sócio-espaciais, uma decorrente mais dos processos de diferenciação/singularização, outra dos processos de des-igualização, padronizadores (mas nem por isso homogeneizantes). Podemos mesmo associar esta questão com aquilo que Gibson (1998) denomina os dois discursos distintos que marcam a interpretação da vida social nos anos 80 e 90: os debates em torno da polarização social, que priorizam a desigualdade econômica e a estratificação em classes sociais, e as teorias ou representações da diferença, que valorizam a construção social do gênero, etnia, sexualidade etc. 23
38 GEOgraphia Ano. 1 N o Haesbaert O par desigual-diferente corresponde aproximadamente à distinção feita pelo filósofo Bergson (1989 [1934]) entre diferenças de natureza, qualitativas, e diferenças de grau ou de intensidade, mais quantitativas. O desigual ou, em outras palavras, a diferença de grau, exige sempre a referência a uma escala de valores-padrão frente à qual os processos são comparados, medidos ou mesmo hierarquizados, pois em toda medida entra um elemento de convenção. Mesmo sem entrar aqui nas bases complexas da filosofia bergsoniana, que se volta para a apreensão do movimento e não da imobilidade, da intuição e não da análise, ressaltaríamos a relevância que adquire, para o autor, a busca das diferenciações e das integrações qualitativas, em contraponto à análise quantitativa, este retrato imóvel que nossos esquemas conceituais mais comumente implicam. Regionalizar não é simplesmente recortar o espaço a partir de parâmetros genéricos, quantitativos, diferenças de grau como faixas de renda, produto interno bruto, fluxos comerciais etc. Deve envolver, igualmente, as diferenças de natureza como aquelas de ordem mais estritamente cultural. Partiremos então do pressuposto de que a diversidade territorial, enquanto fundamento para a regionalização em seu sentido mais geral, se manifesta sob duas grandes formas: - a produção de particularidades, do desigual (diferenças de grau), que vincula os espaços em distintas escalas; - a produção de singularidades, do específico (diferenças de natureza), em geral mas não exclusivamente de base local e sem correlação obrigatória com realidades geográficas em outras escalas. Estas duas manifestações, embora participando de um jogo complexo de articulações mútuas na permanente transformação dialética da quantidade em qualidade, estão vinculadas a dois processos no bojo da des-ordem sócio-espacial contemporânea: - o aviltamento das desigualdades pelo capitalismo global altamente seletivo e, portanto, excludente; - o reafirmar das diferenças por movimentos sociais baseados no resgate ou reconstrução de identidades (religiosas, étnicas, nacionais etc.). Evidenciando a dialética de inclusão-exclusão entre estes dois movimentos podemos também afirmar que, no que diz respeito a esta re-afirmação das diferenças, ela tem duas faces, uma que é mais um produto da própria globalização dominante, outra que é mais uma resistência a este movimento globalizador/ des-igualizante. As diferenciações espaciais são fruto da globalização na medida em que o reforço da economia de mercado se dá via diversificação do consumo, pois diversidade vende (HERBERTSON, 1995). Assim, por exemplo, novos nichos de mercado são criados em função da valorização de hábitos locais/regionais. 24
39 Região, Diversidade Territorial e Globalização Por outro lado, a reativação de identidades culturais que a globalização tenderia a debilitar pode também manifestar sua outra face: a da resistência a estes processos globais. Assim, manifestar diferenças incomparáveis ligadas à religião, à etnia ou à língua pode ser uma forma de ir contra a dinâmica globalizadora, como no caso de alguns movimentos radicais muçulmanos. Por fim, essa re-afirmação da diferença, principalmente aquela que se dá pela maior mobilidade das pessoas (seja como turistas, como migrantes ou como refugiados), pode instaurar não apenas a resistência via formação de guetos, por exemplo, mas também os hibridismos culturais (HALL, 1997 [1992]; CANCLINI, 1997 [1992]) voltados para contatos e interações culturais muito mais intensas. Isto manifesta uma nova lógica das relações global-local, perspectiva mais geográfica dos processos de diferenciação e igualização (ou de heterogeneização e homogeneização), que será discutida a seguir. A dinâmica global-local Ao lado do par globalização-fragmentação, tão difundido hoje, encontramos um outro binômio, mais explicitamente espacial, pois envolve duas escalas geográficas: o global-local. As relações globais-locais (e vice-versa) são consideradas hoje uma das formas mais contundentes em que se pode perceber a dinâmica da des-equalizaçãodiferenciação. Muitos autores vêem, de forma simplista, o global associado com processos de totalização, de generalização/universalização, e o local com processos de fragmentação, de particularização/singularização, como se o global fosse o locus da homogeneização e o local o da heterogeneização. Vários outros estudiosos mostraram que a questão é muito mais complexa. Robertson (1995) chegou mesmo a propor o termo glocalização, considerado mais coerente para dar conta dessa relação. A luta entre uma face homogeneizadora e uma face heterogeneizadora demonstra que processos globais implantam-se no local, adaptando-se a ele, ao mesmo tempo em que o local pode globalizar-se na medida em que expande pelo mundo determinadas características locais. No primeiro caso ocorre uma dinâmica no sentido global-local, mas sem que o local seja um simples reflexo do global, pois ele impõe condições para a realização da globalização. No segundo caso, o local produz a diversidade no âmbito global, complexificando as características que marcam a globalização. Esta dinâmica local-global pode envolver desde circuitos globais paralelos ou não-integradores (para quem está fora dos seus circuitos), como o das grandes diásporas imigrantes, até circuitos globais integradores, como o de um valor ou hábito local que se projeta para vários outros grupos ao redor do mundo (o que aconteceu com a culinária chinesa e japonesa, por exemplo). É importante destacar que os circuitos globais podem ter tanto um caráter geral, mais disseminado, como é o caso das redes informacional e financeira, quanto um caráter segmentado, envolvendo grupos e culturas específicos, como ocorre nas 25
40 GEOgraphia Ano. 1 N o Haesbaert diásporas mundiais (chinesa, indiana, japonesa) e nas redes ilegais do contrabando e do narcotráfico. A escala cartográfica de atuação, em ambos os casos, é a mesma - o globo, mas o recorte aí privilegiado é distinto. Enquanto as redes informacional e financeira envolvem agentes com uma intenção clara de expandir ao máximo sua atuação (embora na prática continuem sempre seletivos), as diásporas mantêm laços atrelados à sua etnia ou grupo nacional, e o caráter ilegal dos circuitos do narcotráfico sugere sempre uma clandestinidade que se vê retratada na dimensão espacialmente mais restrita que eles ocupam na sociedade. Mais do que a distinção entre estes circuitos, devemos observar a vinculação entre eles, na medida em que os circuitos globais transformam e são transformados por fenômenos de nível dominantemente local. O que, entretanto, estamos denominando de local? Devemos reconhecer a existência de pelo menos três abordagens: - o local vinculado aos processos gerais de heterogeneização/diferenciação (frente a um global de tendências homogeneizadoras e universalizantes); - o local como instrumento de análise, escala geográfica de abordagem (envolvendo as relações sociais ligadas ao cotidiano e aos contatos face-a-face); - o local como lugar (este geralmente entendido como um espaço culturalmente signicativo, dotado de valor subjetivo). Tomando esta última abordagem, muito rica em seu conteúdo geográfico, percebemos também enfoques distintos. Na verdade os termos local e lugar são muito ambíguos. Para Giddens (1991), por exemplo, muitas vezes o lugar adquire o mesmo significado de local, na medida em que lugar seria melhor conceitualizado por meio da idéia de localidade, que se refere ao cenário físico da atividade social como situado geograficamente (p ). Ele admite, porém, que, sob condições de modernidade, promovendo relações entre ausentes e desencaixando assim o tempo do espaço, o lugar pode incluir o global, na medida em que o lugar se torna cada vez mais fantasmagórico; isto é, os locais são completamente penetrados e moldados em termos de influências sociais bem distantes deles (p. 27). 7 7 Mais adiante ele deixa ainda mais nítida esta correspondência entre lugar e local ao afirmar que a modernidade des-loca no sentido anteriormente analisado - o local [antes era o lugar] se torna fantasmagórico (Giddens, 1991:141). A posição de Castells (1999) parece mais restrita que a de Giddens, ao pensar o lugar como um local cuja forma, função e significado são independentes dentro das fronteiras da contigüidade (p. 447), um espaço interativo significativo, com uma diversidade de usos e ampla gama de funções e expressões (p ). 8 A re-criação da localidade envolve a re-criação de lugares de relativa pequenez e informalidade (GIDDENS, 1991:142), pois o reencaixe espaço-tempo corresponderia à reapropriação ou remodelação de relações sociais desencaixadas de forma a comprometê-las (embora parcial ou transitoriamente) a condições locais de tempo e lugar (p. 83). Lembre-se que por desencaixe [dos sistemas sociais] Giddens se refere ao deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço (p. 29). 26
41 Região, Diversidade Territorial e Globalização Enquanto Giddens, confundindo muitas vezes escala local e lugar, em geral os associa com espaços de co-presença ou de compromissos com rosto, de contatos face-a-face 8, Lévy (1999) deixa implícita uma distinção entre local, enquanto escala cartográfico-matemática, instrumento de análise, poderíamos dizer, e lugar, enquanto concepção geográfica, no sentido de incorporar um conteúdo sócio-espacial específico. Ele propõe assim uma definição de lugar como espaço em que se considera, por hipótese, que as distâncias separando os diferentes fenômenos que o compõem são nulas (p. 316). O lugar pode então ser pequeno ou grande em termos físico-cartográficos. 9 A anulação das distâncias promovida pelo lugar, neste caso (via redes informacionais, por exemplo), não leva obrigatoriamente ao contato face-a-face, como indica Giddens - assim como poderíamos fazer a afirmação inversa, de que a anulação das distâncias no contato face-a-face não leva obrigatoriamente à anulação de outra e mais substantiva distância, aquela entre as pessoas. A produção da diversidade territorial resulta, deste modo, de uma imbricação ou hibridização complexa entre as dimensões global e local, ou, em termos mais abstratos, universal e particular. Daí a pertinência do termo glocal tal como elaborado por Robertson (1995). Na verdade o que temos é um continuum de diferentes níveis de hibridização entre condições locais, diferenciadas/diferenciadoras, e condições globais, mais universalizantes, desde os lugares-mundo, altamente conectados pelos fluxos globais, até os lugares-tribo, em tentativas de fechamento em torno de valores exclusivistas, espacialmente segregados. Numa perspectiva das relações global-local, o local pode ser atravessado pelos processos globais e, mesmo fantasmagórico, continua sendo visto como o locus privilegiado dos contatos interpessoais. Numa outra perspectiva, os fenômenos de nível local podem expandir-se para o mundo, na medida em que a anulação das distâncias físicas pode se projetar, via meio técnico-científico informacional (SANTOS, 1994), para relações efetivamente globais. Não podemos esquecer que até mesmo relações pessoais mais íntimas também são construídas via circuitos impessoais como a Internet. Neste jogo entre o local e o global não se trata apenas de uma globalização homogeneizadora, que padroniza as desigualdades, e de localismos diferenciadores que resistem, promovendo a heterogeneização. Assim como a globalização se condensa no nível local, um pouco no sentido da compressão espaço-temporal de Harvey (1989), e o local pode se projetar para o global numa espécie de alongamento ou distanciamento tempo-espaço (tomando por empréstimo o polêmico termo de Giddens), também sabemos que condições originalmente locais 9 O próprio mundo hoje estaria em parte se transformando num lugar pela mundialização, especialmente no que se refere à circulação de capital e informação, que se tornam insensíveis à distância ou, mais simplesmente, funcionam sem distância (LÉVY, 1999:316). A mundialização seria então tanto destruidora quanto construtora de lugares. Lévy, entretanto, subvaloriza a dimensão mais subjetiva do lugar. 27
42 GEOgraphia Ano. 1 N o Haesbaert podem se tornar globais e que a própria globalização pode re-criar ou reinventar o local. Desta forma, obviamente, a globalização não serve apenas para globalizar. Como já enfatizamos, a diferença (cultural) pode ser estimulada pelos circuitos econômicos globais, a fim de produzir novos nichos de consumo. E a ideologia do lar que o desenraizamento globalizador produz não é apenas uma reação contra a globalização, mas seu produto indissociável, no bojo deste processo mais amplo, capaz inclusive de reinventar o sentido de lar 10. Por fim, no sentido de local enquanto escala física, de contatos a curta distância, não podemos esquecer que a produção da diversidade territorial, embora manifeste uma tendência a ocorrer cada vez mais nos circuitos que vinculam escala local e escala global, na verdade continua se dando em múltiplas escalas; por exemplo, a escala nacional e os movimentos nacionalistas, que em contextos como o do exbloco socialista se manifesta com grande intensidade. Além disso, é fundamental reconhecer sempre que, paralelamente aos circuitos que vinculam local e global num sistema-mundo (DOLLFUS,1993), há toda uma massa de excluídos (a qual denominamos aglomerados humanos de exclusão [HAESBAERT, 1995]) que acaba produzindo suas próprias diferenciações, não obrigatoriamente conectada a um ordenamento sistêmico. Questões sobre região e regionalização Tendo abordado, de forma genérica, os principais processos responsáveis pela produção da diversidade territorial, focalizaremos agora algumas questões centrais que se colocam para a análise regional. Antes disto, devemos retomar a distinção proposta entre região, enquanto conceito, e regionalização, enquanto método ou instrumento de análise. Como já afirmamos, partimos do pressuposto de que região e regionalização são concepções que envolvem posições teóricas distintas. Enquanto a região adquire um caráter epistemológico mais rigoroso, com uma delimitação conceitual mais consistente, a regionalização pode ser vista como um instrumento geral de análise, um pressuposto metodológico para o geógrafo e, neste sentido, é a diversidade territorial como um todo que nos interessa, pois a princípio qualquer espaço pode ser objeto de regionalização, dependendo dos objetivos definidos pelo pesquisador Robertson (1995) se refere à invenção do local, no mesmo sentido em que Eric Hobsbawm fala na invenção das tradições. 11 Daí a infinidade de recortes espaciais possíveis de serem produzidos pelos diversos métodos de regionalização, e que variam conforme o aspecto enfatizado na construção da diversidade territorial, desde aspectos naturais como o clima ( regiões climáticas) até aspectos culturais ( regiões culturais) ou econômicos. 28
43 Com relação à região enquanto conceito e não como simples parcela do espaço, como é concebida no senso comum, gostaríamos de lembrar uma proposta, fruto de nosso trabalho sobre o regionalismo e a identidade no espaço conhecido como Campanha Gaúcha, em que conceituamos região como um espaço (não institucionalizado como Estado-nação) de identidade ideológico-cultural e representatividade política, articulado em função de interesses específicos, geralmente econômicos, por uma fração ou bloco regional de classe que nele reconhece sua base territorial de reprodução (HAESBAERT, 1988:25). Tentamos integrar aqui as dimensões econômica, política e cultural, numa dialética em que o espaço regional é ao mesmo tempo um espaço de reprodução econômica, locus de representação política (efetiva ou almejada) e um espaço de identidade cultural. É claro que esta diversidade territorial não cobre todos os espaços. Alguns autores, de forma mais ampla, mas sem perder de vista este caráter condensador de múltiplas dimensões, definem região tentando incluir até mesmo a dimensão natural, negligenciada em propostas como a nossa, acima apresentada. É interessante ressaltar que uma dessas conceituações, a de Markusen (1987), veio na seqüência de outra proposta da mesma autora (MARKUSEN, 1981) em que ela tentava negar a relevância do espaço, utilizando o termo regionalismo no lugar de região a fim de não reificar o espaço, subordinando o espacial ao social. Markusen (1987:16-17) definiu região como uma sociedade territorial contígua, historicamente produzida, que possui um ambiente físico, um milieu [meio] sócio-econômico, político e cultural distinto de outras regiões e em relação a outras unidades territoriais básicas, a cidade e a nação. Permanecem na concepção da autora alguns princípios gerais que quase sempre marcaram o conceito de região, como contigüidade, caráter integrador entre múltiplas dimensões, diferenciação espacial ( milieu distinto ) e escala subnacional. Cabe então perguntarmo-nos quais destas características ainda são defensáveis diante dos processos sociais e da produção do espaço em um mundo dito globalizado. Retomemos e ampliemos aqui a discussão daquelas características enunciadas ao final da análise de nossos clássicos (La Blache, Sauer e Hartshorne): - a singularidade ou diferenciação espacial ; - a coesão e a integração entre múltiplas dimensões do espaço; - a estabilidade e a continuidade/contigüidade regional; - a escala ( meso-escala, escala subnacional e/ou local). Região, Diversidade Territorial e Globalização Se essas eram propriedades reconhecidas naquelas primeiras propostas de um discurso regional mais articulado, como elas podem ser vistas na atualidade? Embora seja muito difícil, pelas limitações deste artigo, aprofundar o debate sobre questões tão amplas e polêmicas, iremos pelo menos explicitar algumas idéias gerais preliminares. 29
44 GEOgraphia Ano. 1 N o Haesbaert Primeiro, com relação à especificidade/singularidade regional: vimos que ainda ocorre uma diferenciação de áreas e que a diversidade territorial continua a se difundir, apesar da relativa homogeneização promovida pelos processos globalizadores, especialmente aqueles ligados aos circuitos econômicos do capitalismo globalizado. Esta diferenciação, porém, se dá sob novas bases, inclusive com a diversidade sendo produto da própria dinâmica globalizadora. Trata-se de um processo que sempre associa a diferença de grau e a diferença de natureza, nos termos de Bergson, sem entretanto confundi-las. Aqui, a região como produto genérico da diversidade territorial adquire sua conotação mais ampla. Defini-la apenas do ponto de vista da diferença stricto sensu (diferença de natureza) seria uma temeridade e, de certa forma, um retorno às visões empiristas que mais criticamos. Por outro lado, ver apenas a diversidade territorial/regional sendo produzida pela diferença de grau, como em muitas regionalizações ligadas à divisão territorial do trabalho 12, também simplificaria a complexidade dos espaços, vendo-os apenas na sua dimensão econômico-funcional. Em relação à coerência, integração ou coesão interna aos espaços regionais e sua continuidade espacial, ninguém deveria hoje utilizar o termo região homogênea, por mais coerente e contínua que uma área pareça. A unidade geográfica, se é que ela ainda é defensável em termos de integração e continuidade espacial, tem uma coesão muito dinâmica. O que não podemos negar é a relevância e mesmo a necessidade, permanente, de identificar recortes espaciais, por mais mutáveis que eles sejam. Ainda que eles não sejam reconhecidos como regiões em sentido estrito, é de regionalização que estamos falando - este recortar o espaço geográfico, análogo ao recortar o tempo dos historiadores (GRATALOUP, 1991) 13. Como afirma Santos (1996), o que faz a região é a coerência funcional (e também simbólica, poderíamos acrescentar) que a distingue de outras entidades, vizinhas ou não (p. 197). Mesmo com sua mudança muito rápida, constantemente retrabalhados pelos intercâmbios acelerados da globalização, os recortes regionais sempre são passíveis de identificação. Num mundo onde as ordens econômica, política e cultural aparecem ao mesmo tempo globalizadas e fragmentadas, integradas e desconectadas, e onde o espaço natural é representado tanto de forma estanque (em territórios-clausura de reservas naturais ) quanto de formas completamente indissociáveis do espaço social (um pouco como os híbridos de Latour, 1991), torna-se extremamente difícil realizar uma síntese entre as múlti- 12. Smith (1988:159), por exemplo, faz uma clara associação entre diferenciação do espaço geográfico e divisão territorial do trabalho, como se esta fosse a única fonte da diversidade territorial. 13. Da mesma forma como ressaltamos para a regionalização, a periodização é vista pelos historiadores como uma hipótese necessária, um instrumento de trabalho: A divisão da história em períodos não é um fato, mas uma hipótese necessária ou um instrumento de pensamento, que vale na medida em que for esclarecedora e dependa, para sua validade, da interpretação (CARR, 1976:54-55). 30
45 Região, Diversidade Territorial e Globalização plas dimensões condensadas no espaço geográfico. Daí a necessidade de regionalizar, ao mesmo tempo distinguindo e integrando essas múltiplas dimensões. Muitos autores, ao elegerem uma questão ou fenômeno social mais específico na definição de região, como ocorreu nas últimas décadas com o regionalismo (político) e a identidade (cultural) regional, resolvem esta questão limitando a abrangência do conceito, vinculado a processos bem mais restritos dentro da produção da diversidade territorial. A questão da continuidade espacial para definir regiões ou recortes regionais envolve uma das grandes polêmicas da Geografia contemporânea, aquela sobre a relação entre território e rede ou, na linguagem de Veltz (1996), entre territóriorede e território-zona. A distribuição de fenômenos de forma mais homogênea no espaço, dentro de uma lógica zonal ou de continuidade, pertence à visão mais tradicional de território. Hoje, embora a lógica zonal não tenha em hipótese alguma desaparecido, torna-se cada vez mais dominante a lógica reticular, dos fluxos em rede, descontínua, que conecta apenas alguns pontos do espaço 14. Se antes a região podia ser vista de forma contínua, como unidade espacial não fragmentada, hoje o caráter altamente seletivo e muitas vezes pontual da globalização faz com que tenhamos um mosaico tão fragmentado de unidades espaciais que ou a região muda de escala (focalizada muito mais sobre o nível local, onde ainda parece dotada de continuidade) ou se dissolve entre áreas descontínuas e redes globalmente articuladas. Nesse caso, uma proposta interessante seria realizar uma regionalização global em rede, onde poderíamos distinguir territórios-rede de múltiplos agentes, como os que envolvem as grandes diásporas de imigrantes, os circuitos do narcotráfico, do contrabando, do sistema financeiro, do turismo internacional etc. Eles funcionam integrados ao sistema-mundo mas têm importantes especificidades que permitem uma leitura geográfica particular de suas atuações. Numa outra escala, enfatizando os mesmos processos sociais de nossa proposta conceitual de região (HAESBAERT, 1988), porém assimilando agora o caráter fragmentado dos espaços, elaboramos a noção de rede regional para apreender os múltiplos territórios desenhados pela rede gaúcha no interior do Brasil (HAESBAERT, 1997). No que se refere à estabilidade regional, como já comentamos ao citar Santos (1996), num mundo altamente volátil e onde o próprio capital seleciona e abandona espaços numa velocidade incrível, associada à tecnologia informacional, a instabilidade é na verdade o que domina. Não podemos contudo esquecer que em muitas áreas ocorre um retorno aos enraizamentos mais conservadores, através de identidades étnicas, religiosas, nacionais etc. e que este é um complicador a mais para nossas regionalizações. 14 Numa leitura similar, Castells (1999) utiliza as denominações espaço dos lugares e espaço das redes para distinguir estas duas perspectivas. 31
46 GEOgraphia Ano. 1 N o Haesbaert Por fim, no que se refere à escala privilegiada das análises regionais, podemos dizer que não há mais uma escala regional por excelência, como ocorria com a escala subnacional. Mas também parece não haver dúvida de que, por mais que os processos sociais manifestem tendência de privilegiar as escalas global e local, análises de fenômenos que se dão em escalas intermediárias ou meso-escalas continuarão sempre imprescindíveis. Como sabemos, a escala nacional, definida pelo espaço de atuação dos Estados-nações, continua muito relevante. Portanto, continuam tendo espaço para seus trabalhos aqueles geógrafos mais tradicionais que ainda definem uma escala regional de análise no nível subordinado imediatamente ao Estado-nação, identificando aí regiões subnacionais. Mas, se ainda é possível analisar regiões frente aos Estados-nações, não é frente à globalização que podemos redefinir melhor, a partir de agora, o conceito de região? A redefinição da região frente aos processos de globalização Se existe hoje um resgate ou uma continuidade teoricamente consistente para os estudos regionais e os métodos de regionalização, ele deve se pautar numa reconstrução do conceito de região a partir de suas articulações com os processos de globalização. Cabe-nos portanto, à guisa de conclusão, corroborar plenamente as duas afirmações de Milton Santos que abrem este artigo - a região não acabou (no título de Smith [1988]: A região está morta. Viva a região! ), devemos empreender uma atualização do conceito e esta se dá levando em conta: - o grau de complexidade muito maior na definição dos recortes regionais, atravessados por diversos agentes sociais que atuam em múltiplas escalas; - a mutabilidade muito mais intensa que altera mais rapidamente a coerência ou a coesão regional; - a inserção da região em processos concomitantes de globalização e fragmentação. A região enquanto conceito, na interação sujeito-objeto, não pode cair nem na visão de região como algo auto-evidente a ser descoberto (seja como realidade natural, seja como algo vivo percebido pelos homens ) nem como simples recorte apriorístico, definido pelo pesquisador com base unicamente nos objetivos de seu trabalho. Assumimos aqui a posição, já comentada, da região enquanto conceito, veículo de interpretação do real, e regionalização enquanto instrumento de investigação, de forma análoga ao método de periodização dos historiadores. Região, enquanto conceito, não deve entretanto ser vista como uma simples idéia lançada pelo geógrafo como uma rede produzida na e para a sua teoria regional. Esta rede apreende características efetivamente existentes. A região não é apenas uma construção intelectual, ela também é efetivamente construída pela atividade humana (SMITH, 1988), em sua constante produção da diversidade territo- 32
47 Região, Diversidade Territorial e Globalização rial. Se o conceito, enquanto idéia mais elaborada e geral que temos sobre o mundo, nunca esgota o entendimento da realidade e muito menos a substitui, ele também participa dela, na medida em que sua construção acaba sempre interferindo não só na nossa leitura como também na nossa ação sobre o mundo. A questão principal será sempre a de perceber quais são os agentes e os processos que devem ser priorizados para entender as razões da diferenciação espacial e, somente a partir daí, qual a escala em que ela se manifesta com maior clareza (ou coerência). Sintetizando, a região pode ser definida a partir de três grandes pontos de vista, sob três diferentes níveis de abrangência conceitual: a. qualquer recorte do espaço geográfico, independente da escala ou do processo social dominante; pode ser um simples instrumento para a análise do geógrafo (ex. a região como classe de área na geografia neopositivista [GRIGG, 1974]) ou, no senso comum, um instrumento para referência de localização das pessoas. b. um tipo de recorte do espaço geográfico, definido pela escala em que a diversidade territorial dos processos sociais se manifesta com maior evidência ou coesão (em sua complexidade ou elegendo-se os mais relevantes em dado momento histórico, como ocorre com a divisão espacial do trabalho na ótica de Massey, 1984) 15 ; c. um determinado recorte do espaço geográfico, decorrente de fenômenos sociais próprios, não generalizáveis a todos os espaços, notadamente os regionalismos políticos e as identidades regionais (como em nossa conceituação já citada: HAESBAERT, 1988). Com a reformulação do papel do Estado-nação e sua relativa perda de poder no ordenamento territorial desta virada de século, definir região frente ao Estadonação também se torna problemático. É verdade que ainda proliferam pelo mundo vários movimentos regionalistas que definem a região como locus destes movimentos políticos por maior autonomia frente ao Estado. Mas muitas destas regiões são também e cada vez mais espaços de articulação frente a outras escalas, mais diretamente vinculadas aos circuitos globais. Um exemplo é o da Catalunha, na Espanha, preocupada tanto em alcançar maior autonomia frente ao governo central espanhol quanto em assegurar um papel mais expressivo no contexto da União Européia e do mundo globalizado. O mesmo parece ocorrer no movimento regionalista do norte italiano, da Escócia e de Flandres, na Bélgica, movimentos regio- 15. Alguns autores, como Santos (1994), embora privilegiem um processo social na definição de regiões ( a energia que preside a sua formação é a das divisões do trabalho sucessivamente instaladas [p. 98]) não reconhecem uma escala prioritária para a manifestação desta diversidade regional ( regiões são subdivisões do espaço: do espaço total, do espaço nacional e mesmo do espaço local [p. 98]). 33
48 GEOgraphia Ano. 1 N o Haesbaert nais que em vários momentos se transformam também em movimentos nacionais, na medida em que almejam a formação de novos Estados-nações. Uma redefinição de região passa assim tanto pelas relações que se dão frente ao Estado-nação quanto frente aos circuitos da globalização. Como principais propostas alternativas para esta atualização conceitual reconhecemos a que destaca as relações entre os níveis local e global como relações privilegiadas na definição de região e a que admite a emergência de regiões numa nova escala regional ou mesoescala, que pode ser intra ou inter-nacional, mas também definida prioritariamente por suas relações na dinâmica global. No primeiro caso temos, por exemplo, a abordagem de Thrift (1996), no segundo caso temos a de Ohmae (1996). Para Smith a diferenciação regional se torna organizada cada vez mais no nível internacional do que no nível nacional; regiões subnacionais cada vez mais dão lugar a regiões da economia global (p. 150). Ele reconhece no entanto a força dos localismos, em sentido genérico, o que inclui a diferenciação regional em escalas de menor amplitude. Ohmae (1996) radicaliza: com o fim do Estado-nação (ou quase) emergem economias regionais que estabelecem um novo padrão ótimo de áreas geográficas capazes de atender com maior vantagem os requisitos de um capitalismo globalizado. Surgem assim Estados-regiões, unidades econômicas, e não políticas, cujo foco não tem nada de local (p. 83) e que têm que ser suficientemente pequenos para seus cidadãos compartilharem de interesses como consumidores, mas de tamanho suficiente para justificar economias não de escala (...) mas de serviços - infra-estrutura de comunicações, de transportes e de serviços profissionais essenciais à participação na economia global (p. 84). Situadas nas áreas mais dinâmicas intra ou transnacionais, sem fronteiras claras, os Estados-regiões corresponderiam à escala geográfica mais viável para a reprodução da dinâmica econômica global, acolhendo amplamente os investimentos externos e indo contra as preocupações retrógradas do Estado-nação ao qual pertencem (p. 74). Por mais questionável que seja esta proposta, vinda de um dos gurus da globalização, ela representa no mínimo uma evidência de novas formas de articulação espacial, para além das localizações pontuais (a disputa entre municípios, por exemplo) e impregnada dos interesses altamente seletivos da economia globalizada. Numa outra ótica, teoricamente muito mais elaborada, Thrift (1996) afirma que a região está se fragmentando, tornando-se não tão desorganizada (...) quanto deslocada nos termos em que costumamos considerar regiões como áreas contínuas e demarcadas (p. 239), fragmentação que decorre tanto da seletividade da globalização quanto do reforço de identidades culturais. Neste mundo globalmente local ou de localismos globalizados, os contextos podem ser consumidos localmente (embora até isto esteja em questão) mas são cada vez menos produzidos localmente (p. 240). Numa série anterior de três artigos, intitulada Por uma nova Geografia Regional, Thrift (1990, 1991, 1993) faz uma proposta bastante provocativa: reali- 34
49 Região, Diversidade Territorial e Globalização zar uma geografia regional reconstruída a partir do pensamento pós-estruturalista 16. O autor afirma que, se a Geografia Regional tem um projeto teórico, este é o de tratar as pessoas como agentes, os lugares como contextos e a causalidade como um processo iterativo de ações de movimento rápido e estruturas de movimento lento (1991:456). Ao associar região e lugar, ele se pergunta: O que é o lugar neste novo mundo? A resposta abreviada é suspeita: permanentemente em um estado de enunciação, entre endereços, sempre adiado. Lugares são estágios de intensidade, traços de movimento, velocidade e circulação (1993:94). Bem ao contrário, nem é preciso dizer, de visões já clássicas como a de Tuan, ao afirmar que, se o espaço é algo que permite movimento, então lugar é pausa; cada pausa no movimento torna possível que localização se transforme em lugar, esse mundo de significado organizado (1983:198). Significado, organização/ordenamento que cabe ao pós-estruturalismo, constantemente, desconstruir. No nosso ponto de vista o lugar da mobilidade ou a região-lugar de Thrift, associado ao pensamento de visionários como Baudrillard e Virilio, não exclui de modo algum o lugar da pausa de Tuan, pois há também o lugar das grandes estruturas de mudanças mais lentas (principalmente a mega-estrutura capitalista), continua existindo o fechamento relativo e novas formas de enraizamento. O problema crucial talvez seja o da imbricação de múltiplas lógicas num mesmo espaço: entre os extremos, hibridismos e neofundamentalismos podem aparecer dentro de uma única área, dependendo da relação entre os atores ali presentes 17. Mobilidade e hibridismo são duas características muito importantes mas não suficientes para reler o lugar e a região. Se, como afirma Thrift, temos que teorizar a identidade como uma distribuição no espaço-tempo de sujeitos-contextos híbridos que são constantemente copiados, que são constantemente revisitados, sentenciados e enunciados (1993:96), precisamos também dar conta daquelas identidades/espaços em que os sujeitos não permitem a hibridização e ainda percorrem um processo muito mais de tradição do que de tradução cultural, nos termos de Hall (1996). Quanto a este novo localismo, não podemos nos contentar com a leitura fragmentadora do pós-estruturalismo. O marxismo ainda tem contribuições muito importantes, e não apenas na sua leitura privilegiada, a da dimensão econômica do 16. De forma muito simplificada podemos dizer que o pós-estruturalismo (para alguns sinônimo de pós-modernismo e desconstrutivismo), de raízes francesas (Bataille, Derrida, Deleuze, Guattari, Lyotard) mas de difusão muito maior na geografia anglo-saxônica, se caracteriza por enfatizar o devir (o tornar-se ), a pluralização/diferenciação, a multiplicidade de interpretações e a hibridização. 17. Assim, no próprio Afeganistão dos talibãs, protótipo do reenraizamento e do territorialismo (o fechamento em um território segregado), temos ao mesmo tempo a lógica dominante, que impõe regras extremamente rígidas no uso e no controle do espaço, seccionando o espaço do homem e da mulher, contendo ou filtrando toda influência externa, e uma lógica mais extrovertida, aquela que envolve os traficantes de drogas e de armas e suas redes globalmente conectadas. 35
50 GEOgraphia Ano. 1 N o Haesbaert espaço. Smith (1988) afirma que o localismo representa uma desestruturação da coerência geográfica que dominava a expansão econômica na maior parte do mundo do pós-guerra, uma destruição da velha estrutura regional, resultado de intensa competição num novo modo de regulação moldado pelas teses neoliberais pós-fordistas. Para ele, numa crítica às vezes demasiado negativa, bem ao contrário das teses pós-modernistas da política da diferença, o localismo corresponderia hoje a uma política reacionária de impasse em que as velhas regras estão desaparecendo e as novas, longe de serem evidentes, são o objeto da luta política. Não podemos assim restringir a vida cotidiana simplesmente ao localismo, transformado em apriorismo filosófico que privilegia o local sobre todas as outras escalas espaciais (SMITH, 1988:151). Como nos anos 30, por trás desse localismo podem estar emergindo novas reestruturações regionais. Ao apresentar de forma sintética as proposições de uma região-estado (invertendo o termo de Ohmae) e uma região-local (e também lugar, na visão de Thrift), nosso objetivo é simplesmente o de encerrar este artigo ao mesmo tempo buscando respostas e abrindo novas questões, ou seja, estimulando a polêmica numa temática que ainda tem muito a ser discutido. Acreditamos ter avançado ao problematizar o novo contexto em que se desdobram as questões regionais, especialmente no âmbito da Geografia. Isto tanto se continuarmos enfatizando a coerência regional nos moldes dos territórios-zona, dotados de continuidade (porém priorizando agora o nível local, especialmente em suas relações com o global), quanto se assumirmos uma nova análise regional a partir dos territórios-rede, fisicamente descontínuos mas com fortes conexões internas (na conformação de redes regionais ). Fica evidente a relevância dos estudos regionais e a necessidade permanente de analisar a produção da diversidade territorial, seja região ou outro o nome que dermos para os recortes que ela produz. Porque mais do que avaliar um conceito o que importa é reconhecer a natureza dos novos-velhos processos que constróem o espaço geográfico, neste jogo indissociável entre des-igualdade e diferença - a primeira, centro da geografia marxista, a segunda, fundamento de uma geografia pósmoderna e/ou pós-estruturalista. REGIÃO, DIVERSIDADE TERRITORIAL E GLOBALIZAÇÃO Resumo: A região e a questão regional seguem sendo relevantes e são revigoradas, pois mesmo na era da globalização a diversidade territorial se manifesta tanto através de profundas desigualdades (econômicas) - que o marxismo ajuda a explicar, quanto de diferenças (culturais), sobrevalorizadas pelo chamado pós-estruturalismo. Neste jogo de múltiplos desenhos territoriais, a relação local-global adquire destaque e a região se torna muito mais complexa, manifestando-se tanto na forma tradicional dos territórios-zona quanto na forma de territórios-rede ou redes regionais. Palavras-chave: Região, Regionalização, Global-Local. REGION, TERRITORIAL DIVERSITY AND GLOBALIZATION Summary: Region and regional question are still notables and they are being reinvigorated, as even in the globalization era the territorial diversity appears by deep (economic) inequalities - 36
51 Região, Diversidade Territorial e Globalização explained mainly in marxist terms, and by (cultural) differences, overemphasized by the poststructuralism. At this game of multiple territorial designs, the global-local relation is emphasized and region becomes much more complex, appearing in the traditional form of zonal-territories as well as in the form of network-territories (or regional networks ). Keywords: Region, Regionalization, Global-Local. BIBLIOGRAFIA ALBUQUERQUE, E. (1998): O conceito de região aplicado a estados federais: o caso do Rio Grande do Sul. Dissertação de Mestrado, São Paulo: USP. BERGSON, H. (1989) [1934]: O Pensamento e o Movente (Introdução). In: Os Pensadores: William James e Henri Bergson. São Paulo: Nova Cultural. (1993) [1927]: Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris: PUF. BOUDEVILLE, J. (1972): Aménagement du territoire et polarisation. Paris, PUF. BOURDIEU, P. (1989): O Poder Simbólico. Lisboa e São Paulo: Difel e Bertrand Brasil. (cap. A identidade e a representação: elementos para uma reflexão crítica sobre a idéia de região). CANCLINI, N. (1997) [1992]: Culturas Híbridas. São Paulo: EdUSP. CARR, E. (1976) [1961]: Que é história? Rio de Janeiro: Paz e Terra. CASTELLS, M. (1999): A Sociedade em Rede. Rio de Janeiro: Paz e Terra. CASTRO, I. (1992): O Mito da Necessidade: discurso e prática do regionalismo nordestino. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. CLAVAL, P. (1993): Iniciation à la Géographie Régionale. Paris: Nathan. CORRÊA, R. (1986): Região e Organização Espacial. São Paulo: Ática. (1994): Região: globalização, pluralidade e persistência conceitual. Anais do 5º Congresso Brasileiro de Geógrafos. Vol. 1. AGB: Curitiba, pp DOLLFUS, O. (1993): Geopolítica do Sistema-Mundo. In: Santos, M. et al. (orgs.) Fim de Século e Globalização. São Paulo: HUCITEC-ANPUR. ENTRIKIN, N. (1990): The betweeness of place. Londres: Sage. (1994): Place and region. Progress in Human Geography, vol. 18. FRÉMONT, A. (1976): La région: espace vécu. Paris: Flammarion. (2a. ed. 1999; ed. portuguesa: A região, espaço vivido. Coimbra, Almedina, 1980). GIBSON, K. (1998): Social polarization and the politics of difference: discourses in colision or collusion? In: Fincher, R. e Jacobs, M. (eds.) Cities of Difference. New York: Guilford Publications. GIDDENS, A. (1991) [1990]: As Conseqüências da Modernidade. São Paulo: EdUNESP. GILBERT, A. (1988): The New Regional Geography in English and French-speaking Countries. Progress in Human Geography, 12 (2). GOMES, P. (1988): As razões da região. Rio de Janeiro: UFRJ (Dissertação de Mestrado). 37
52 GEOgraphia Ano. 1 N o Haesbaert (1995): O conceito de região e sua discussão. In: Castro, I. et al. (orgs.) Geografia: Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. (1996): Geografia e Modernidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. GRAMSCI, A. (1987): A Questão Meridional. Rio de Janeiro: Paz e Terra. GRATALOUP, C. (1991): Les régions du temps. In: Périodes: la construction du temps historique. Paris: Editions de l EHESC e Histoire au Présent. HAESBAERT, R. (1988): RS: Latifúndio e Identidade Regional. Porto Alegre: Mercado Aberto. (1995): Desterritorialização: entre as redes e os aglomerados de exclusão. In: Castro, I. et al. (orgs.) Geografia: Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. (1997): Des-territorialização e Identidade: a rede gaúcha no Nordeste. Niterói: EdUFF. (1998): Globalização e fragmentação no mundo contemporâneo. In: Haesbaert, R. (org.) Globalização e Fragmentação no Mundo Contemporâneo. Niterói, EdUFF. HALL, S. (1997) [1992]: Identidades Culturais na Pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A. HARTSHORNE, R. (1939): The Nature of Geography. Washington: Association of American Geographers. (1978) [1959]: Propósitos e Natureza da Geografia. São Paulo: Hucitec. HARVEY, D. (1989): A Condição da Pós-modernidade. São Paulo: Loyola. HAUER, J. (1990): What about regional geography after structuration theory? In: Johnston, R. et al. (eds.) Regional Geography: current developments and future prospects. Londres/Nova York: Routledge. HEIDRICH, A. (1999): Região e regionalismo: observações acerca dos vínculos entre a sociedade e o território em escala regional. Boletim Gaúcho de Geografia n. 25. Porto Alegre: AGB. HERBERTSON, A. (1905): The major natural regions: an essay in systematic geography. Geographical Journal, março. LACOSTE, Y. (1976): La Géographie, ça sert d abord à faire la guerre. Paris: Maspero. (ed. brasileira: A Geografia, isto serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Campinas: Papirus) LATOUR, B. (1991): Nous n avons jamais été modernes. Paris: La Découverte. (ed. brasileira: Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Ed. 34,1994) LEPETIT, B. (1998) [1996]: Sobre a escala na história. In: Revel, J. (org.) Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Ed. Fund. Getúlio Vargas. LÉVY, J. et al. (coord.) (1999): Mondialisation: les mots et les choses. Paris: Karthala. MARKUSEN, A. (1981): Regionalismo: uma abordagem marxista. Espaço e Debates 1(1). São Paulo: Cortez. 38
53 Região, Diversidade Territorial e Globalização (1987): Regions: the economics and politics of the territory. Totowa: Rowman & Littlefield. MASSEY, D. (1984): Spatial Divisions of Labour. N. York: Routledge. McGINNIS, M. (ed.) (1999): Bioregionalism. Londres/Nova York: Routledge. MOREIRA, R. (1997): Da região à rede e ao lugar. AGB-Bauru: Ciência Geográfica nº 6. OHMAE, K. (1996): O fim do Estado-nação: a ascenção das economias regionais. Rio de Janeiro: Campus. RAFFESTIN, C. (1993) [1980]: Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática. ROBERTSON, R. (1995): Glocalization: Time-Space and Homogeneity- Heterogeneity. In: Featherstone, M. et al. (eds.) Global Modernities. Londres: Sage Publications. SACK, R. (1986): Human Territoriality. Cambridge: Cambridge University Press. SANTOS, M. (1994): Técnica, Espaço, Tempo: Globalização e meio técnico-científico informacional. São Paulo: Hucitec. (1999): Modo de produção técnico-científico e diferenciação espacial. Território n. 6. Rio de Janeiro: UFRJ/Garamond. SAUER, C. (1998) [1925]: A morfologia da paisagem. In: Corrêa, R. e Rosendhal, Z. (orgs.) Paisagem, Tempo e Cultura. Rio de Janeiro: EdUERJ. SMITH, N. (1988): The region is dead! Long live the region! Political Geographical Quarterly. Vol. 7, n. 2, abril. Newcastle-upon-Tyne: Depto. de Geografia. STORPER, M. (1997): The Regional World. Nova York: Guilford. SWINGEDOUW, E. (1992): The Mammon quest; Glocalization, interspatial competiton and the monetary order: the construction of new scales. In: Dunford, M. e Kafkalas, G. (orgs.) Cities and regions in the new Europe. Londres: Belhaen Press. THRIFT, N. (1990, 1991, 1993): For a new regional geography 1, 2, 3. Progress in Human Geography vol. 14, 15 e 17. (1996): Visando o âmago da região. In: Gregory, D. et al. (orgs.) Geografia Humana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. TUAN, I.F. (1983) [1977]: Espaço & Lugar. São Paulo: DIFEL. VELTZ, P. (1996): Mondialisation, Villes et Territoires. Paris: PUF. VIDAL DE LA BLACHE, P. (1994) [1903]: Tableau de la Géographie de la France. Paris: La Table Ronde. (1954) [1921]: Princípios de Geografia Humana. Lisboa: Edições Cosmos. 39
54 etc, espaço, tempo e crítica Revista Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas e outras coisas ISSN http: // 15 de Agosto de 2007, n 2 (4), vol. 1 O território em tempos de globalização * Rogério Haesbaert Professor Associado do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense e Pesquisador do CNPq Ester Limonad Professora Associada do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense e Pesquisador a do CNPq ester_limonad@yahoo.com Resumo Este trabalho é uma introdução ao estudo das novas territorialidades emergentes no final do século XX, época usualmente definida como aquela marcada por um processo que, genericamente, convencionou-se denominar de globalização. Esboça-se uma síntese das principais linhas de interpretação ainda hoje vigentes sobre este conceito (ou noção), incluindo a proposta para uma caracterização das múltiplas faces do território, verificando como se manifestam novas territorialidades como o território-mundo no âmbito dos processos de globalização/fragmentação. Palavras-Chave Globalização/fragmentação, território, territorialidade, rede. Abstract This work is an introduction to the study of new emerging territorialities at the end of last century that has been usually defined as a time marked by a process generically called globalization. A synthesis of this concept (or notion) nowadays prevailing main lines of interpretation is sketched, including a proposal to characterize the multiple faces of the territory, verifying how new territorialities disclose as territory-world within globalization and fragmentation processes. Key- Words Globalization/fragmentation, territory, territoriality, network. Este ensaio é uma abordagem introdutória ao estudo das novas territorialidades emergentes ao final do século XX, época tantas vezes definida como aquela marcada por um processo que, genericamente, convencionou-se denominar de globalização. Constitui, assim, uma tentativa em distinguir o que há de novo e o que ainda reproduz antigos processos sociais, verificando portanto como se manifestam novas territorialidades como o territóriomundo, propalado hoje por pesquisadores das mais diversas áreas. Após alguns comentários iniciais sobre algumas controvérsias em torno dos processos concomitantes de globalização e fragmentação, a concepção de território * Esta é uma versão revisada e atualizada do artigo "O território em tempos de globalização" publicado na Revista Geo UERJ. Vol. 3 (5), semestre de Rio de Janeiro: Depto de Geografia UERJ. (ISSN ). etc..., espaço, tempo e crítica. N 2(4), VOL. 1, 15 de agosto de 2007, ISSN Recebido para Publicação em
Valter do Carmo Cruz. DEGEO/PPGEO/UFF
 Valter do Carmo Cruz. DEGEO/PPGEO/UFF I- Localizações, situações e posições: nosso lugar de enunciação II- Sobre os usos do conceito de território: território como categoria de análise e como categoria
Valter do Carmo Cruz. DEGEO/PPGEO/UFF I- Localizações, situações e posições: nosso lugar de enunciação II- Sobre os usos do conceito de território: território como categoria de análise e como categoria
Ensaio sobre as concepções do conceito de território. Test on the concepts of the territory
 Ensaio sobre as concepções do conceito de território Test on the concepts of the territory Thiago da Silva Melo (1) (1) Programa de Pós Graduação em Geografia, UEL, Brasil. E-mail: thiago_dasilvamelo@yahoo.com.br
Ensaio sobre as concepções do conceito de território Test on the concepts of the territory Thiago da Silva Melo (1) (1) Programa de Pós Graduação em Geografia, UEL, Brasil. E-mail: thiago_dasilvamelo@yahoo.com.br
Aula 4 CONCEITO DE TERRITÓRIO. Cecilia Maria Pereira Martins. METAS Apresentar diferentes abordagens do conceito de território
 Aula 4 CONCEITO DE TERRITÓRIO METAS Apresentar diferentes abordagens do conceito de território OBJETIVOS Ao final desta aula, o aluno deverá: Distinguir as variadas abordagens de território. Cecilia Maria
Aula 4 CONCEITO DE TERRITÓRIO METAS Apresentar diferentes abordagens do conceito de território OBJETIVOS Ao final desta aula, o aluno deverá: Distinguir as variadas abordagens de território. Cecilia Maria
O CONCEITO DE TERRITÓRIO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE
 O CONCEITO DE TERRITÓRIO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE (Autor) Tiago Roberto Alves Teixeira Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão tiago.porto@hotmail.com (Orientadora) Áurea Andrade Viana
O CONCEITO DE TERRITÓRIO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE (Autor) Tiago Roberto Alves Teixeira Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão tiago.porto@hotmail.com (Orientadora) Áurea Andrade Viana
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ GEOGRAFIA PROSEL/ PRISE 1ª ETAPA EIXO TEMÁTICO I MUNDO 1. ESPAÇO MUNDIAL
 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ GEOGRAFIA PROSEL/ PRISE 1ª ETAPA EIXO TEMÁTICO I MUNDO 1. ESPAÇO MUNDIAL COMPETÊNCIAS HABILIDADES CONTEÚDOS 1. A reestruturação do espaço mundial:modos de 1. Entender a reestruturação
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ GEOGRAFIA PROSEL/ PRISE 1ª ETAPA EIXO TEMÁTICO I MUNDO 1. ESPAÇO MUNDIAL COMPETÊNCIAS HABILIDADES CONTEÚDOS 1. A reestruturação do espaço mundial:modos de 1. Entender a reestruturação
Universidade Federal do Pará Processo Seletivo Especial Conteúdo de Geografia 1. ESPAÇO MUNDIAL
 Universidade Federal do Pará Processo Seletivo Especial 4-2011 Conteúdo de Geografia 1. ESPAÇO MUNDIAL EIXO TEMÁTICO I MUNDO COMPETÊNCIAS HABILIDADES CONTEÚDOS 1. Entender a reestruturação do espaço mundial
Universidade Federal do Pará Processo Seletivo Especial 4-2011 Conteúdo de Geografia 1. ESPAÇO MUNDIAL EIXO TEMÁTICO I MUNDO COMPETÊNCIAS HABILIDADES CONTEÚDOS 1. Entender a reestruturação do espaço mundial
PROCESSO SELETIVO GEOGRAFIA
 PROCESSO SELETIVO GEOGRAFIA EIXO TEMÁTICO: O MUNDO 1 O ESPAÇO MUNDIAL CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS HABILIDADES Compreender o espaço geográfico como resultante das interações históricas entre sociedade e natureza
PROCESSO SELETIVO GEOGRAFIA EIXO TEMÁTICO: O MUNDO 1 O ESPAÇO MUNDIAL CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS HABILIDADES Compreender o espaço geográfico como resultante das interações históricas entre sociedade e natureza
Território e Segregação Socioespacial
 (Artigo para avaliação da disciplina: Espaço Social e Condição Territorial, ministrada pelo Prof. Alvaro Luiz Heidrich no Programa de Pós Graduação em Geografia, UFRGS, 2010). Território e Segregação Socioespacial
(Artigo para avaliação da disciplina: Espaço Social e Condição Territorial, ministrada pelo Prof. Alvaro Luiz Heidrich no Programa de Pós Graduação em Geografia, UFRGS, 2010). Território e Segregação Socioespacial
DOS MÚLTIPLOS TERRITÓRIOS Á MULTITERRITORIALIDADE Rogério Haesbaert Porto Alegre, Setembro de 2004
 DOS MÚLTIPLOS TERRITÓRIOS Á MULTITERRITORIALIDADE Rogério Haesbaert Porto Alegre, Setembro de 2004 O objetivo deste trabalho é aprofundar o debate sobre uma noção proposta anteriormente, a noção de multiterritorialidade
DOS MÚLTIPLOS TERRITÓRIOS Á MULTITERRITORIALIDADE Rogério Haesbaert Porto Alegre, Setembro de 2004 O objetivo deste trabalho é aprofundar o debate sobre uma noção proposta anteriormente, a noção de multiterritorialidade
Identificar comemorações cívicas e religiosas por meio de imagens e textos variados.
 D1(H) Identificar comemorações cívicas e religiosas por meio de imagens e textos variados. D2(H) Reconhecer os conceitos de memória, história e patrimônio por meio da análise de textos e imagens. D3(H)
D1(H) Identificar comemorações cívicas e religiosas por meio de imagens e textos variados. D2(H) Reconhecer os conceitos de memória, história e patrimônio por meio da análise de textos e imagens. D3(H)
GEOGRAFIA HISTÓRICA DO BRASIL CAPITALISMO, TERRITÓRIO E PERIFERIA ANTÔNIO CARLOS ROBERT DE MORAES
 GEOGRAFIA HISTÓRICA DO BRASIL CAPITALISMO, TERRITÓRIO E PERIFERIA ANTÔNIO CARLOS ROBERT DE MORAES A GEOGRAFIA HISTÓRICA DO CAPITALISMO I) Espacialidade do Modo de produção capitalista - a valorização do
GEOGRAFIA HISTÓRICA DO BRASIL CAPITALISMO, TERRITÓRIO E PERIFERIA ANTÔNIO CARLOS ROBERT DE MORAES A GEOGRAFIA HISTÓRICA DO CAPITALISMO I) Espacialidade do Modo de produção capitalista - a valorização do
Segregação sócio-espacial e pobreza absoluta: algumas considerações
 Segregação sócio-espacial e pobreza absoluta: algumas considerações Thalita Aguiar Siqueira* 1 (PG), Marcelo de melo (PQ) Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Anápolis de ciências sócio-econômicas e
Segregação sócio-espacial e pobreza absoluta: algumas considerações Thalita Aguiar Siqueira* 1 (PG), Marcelo de melo (PQ) Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Anápolis de ciências sócio-econômicas e
Não é possível pensar em sociedade separada do espaço que ocupa.
 O ESPAÇO GEOGRÁFICO As sociedades humanas desenvolvem, durante sua história, modos próprios de vida. Estes decorreram da combinação de formas de subsistência material - com culturas diversas -, de diferentes
O ESPAÇO GEOGRÁFICO As sociedades humanas desenvolvem, durante sua história, modos próprios de vida. Estes decorreram da combinação de formas de subsistência material - com culturas diversas -, de diferentes
O TERRITÓRIO DA SAÚDE E SUA (DES)CONTINUIDADE, UMA ANALISE PELA MICRORREGIÃO DE ARAGUAÍNA.
 O TERRITÓRIO DA SAÚDE E SUA (DES)CONTINUIDADE, UMA ANALISE PELA MICRORREGIÃO DE ARAGUAÍNA. Vinicius Humberto Margarida 1 Eliseu Pereira de Brito 2 RESUMO: Nessa analise começamos por uma abordagem histórica,
O TERRITÓRIO DA SAÚDE E SUA (DES)CONTINUIDADE, UMA ANALISE PELA MICRORREGIÃO DE ARAGUAÍNA. Vinicius Humberto Margarida 1 Eliseu Pereira de Brito 2 RESUMO: Nessa analise começamos por uma abordagem histórica,
1960: sob influência das teorias marxistas, surge uma tendência crítica à Geografia Tradicional, cujo centro de preocupações passa a ser as relações
 1960: sob influência das teorias marxistas, surge uma tendência crítica à Geografia Tradicional, cujo centro de preocupações passa a ser as relações entre a sociedade, o trabalho e a natureza na produção
1960: sob influência das teorias marxistas, surge uma tendência crítica à Geografia Tradicional, cujo centro de preocupações passa a ser as relações entre a sociedade, o trabalho e a natureza na produção
EIXO TECNOLÓGICO: Ciências Humanas e suas Tecnologias DISCIPLINA: GEOGRAFIA PROFESSORES: ARIOMAR DA LUZ OLIVEIRA E MÁRCIO EMANOEL DANTAS ESTEVAM
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROMECÂNICA E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIXO TECNOLÓGICO: Ciências Humanas e suas Tecnologias DISCIPLINA: GEOGRAFIA PROFESSORES: ARIOMAR DA LUZ OLIVEIRA E MÁRCIO EMANOEL
CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROMECÂNICA E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIXO TECNOLÓGICO: Ciências Humanas e suas Tecnologias DISCIPLINA: GEOGRAFIA PROFESSORES: ARIOMAR DA LUZ OLIVEIRA E MÁRCIO EMANOEL
São Cristóvão, SE, abril de 2013 Prof.ª Dr.ª Vera Lucia Alves França Orientadora/NPGEO/UFS
 PREFÁCIO As novas dinâmicas urbano-regionais impostas pelo movimento do capital, intensificadas pelo meio técnico-científico-informacional, têm exigido dos pesquisadores um esforço concentrado para explicar
PREFÁCIO As novas dinâmicas urbano-regionais impostas pelo movimento do capital, intensificadas pelo meio técnico-científico-informacional, têm exigido dos pesquisadores um esforço concentrado para explicar
problemática da região e da regionalização, voltadas principalmente para a compreensão das heterogeneidades sociais, econômicas e culturais, promovend
 Região e regionalização, novas configurações, novos conceitos: uma proposta de reformulação da regionalização do Estado do Pará. Clay Anderson Nunes Chagas 1 claychagas@hotmail.com Este trabalho tem por
Região e regionalização, novas configurações, novos conceitos: uma proposta de reformulação da regionalização do Estado do Pará. Clay Anderson Nunes Chagas 1 claychagas@hotmail.com Este trabalho tem por
Lista Extra 1. Categorias Geográficas
 Lista Extra 1 Categorias Geográficas 1. (Mackenzie) O que significa estudar geograficamente o mundo ou parte do mundo? A Geografia se propõe a algo mais que descrever paisagens, pois a simples descrição
Lista Extra 1 Categorias Geográficas 1. (Mackenzie) O que significa estudar geograficamente o mundo ou parte do mundo? A Geografia se propõe a algo mais que descrever paisagens, pois a simples descrição
Ressignificação da juventude
 Ressignificação da juventude Seminário de Integração Favela-Cidade Regina Novaes. maio de 2012 MESA 5: Ressignificação da juventude A proliferação de atividades ilegais e o constante isolamento das favelas
Ressignificação da juventude Seminário de Integração Favela-Cidade Regina Novaes. maio de 2012 MESA 5: Ressignificação da juventude A proliferação de atividades ilegais e o constante isolamento das favelas
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA O PAPEL DO POLICIAL MILITAR NA MEDIAÇÃO DA RELAÇÃO DO JOVEM COM A CIDADE: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA O PAPEL DO POLICIAL MILITAR NA MEDIAÇÃO DA RELAÇÃO DO JOVEM COM A CIDADE: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA
GEOGRAFIA. 2.1 Base Estrutural da Geografia
 GEOGRAFIA 2.1 Base Estrutural da Geografia O que a Geografia estuda: Geo (terra) Grafia (escrita). Para o geografo Ruy Moreira: o espaço surge na relação do homem com seu meio; dois acontecimentos geram
GEOGRAFIA 2.1 Base Estrutural da Geografia O que a Geografia estuda: Geo (terra) Grafia (escrita). Para o geografo Ruy Moreira: o espaço surge na relação do homem com seu meio; dois acontecimentos geram
OLIVEIRA, Francisco de. Elegia Para uma Re(li)gião. Sudene, Nordeste. Planejamento e conflitos de classe. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
 OLIVEIRA, Francisco de. Elegia Para uma Re(li)gião. Sudene, Nordeste. Planejamento e conflitos de classe. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. Faculdade de Ciências e Tecnologia Universidade Estadual
OLIVEIRA, Francisco de. Elegia Para uma Re(li)gião. Sudene, Nordeste. Planejamento e conflitos de classe. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. Faculdade de Ciências e Tecnologia Universidade Estadual
LEFEBVRE, Henri. Espaço e Política. Belo Horizonte: Editora UFMG, p. Tradução: Margarida Maria de Andrade e Sérgio Martins.
 LEFEBVRE, Henri. Espaço e Política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 190 p. Tradução: Margarida Maria de Andrade e Sérgio Martins. ESPAÇO E POLÍTICA Henri Lefebvre 1 Por Vera Mizrahi Graduanda em Geografia
LEFEBVRE, Henri. Espaço e Política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 190 p. Tradução: Margarida Maria de Andrade e Sérgio Martins. ESPAÇO E POLÍTICA Henri Lefebvre 1 Por Vera Mizrahi Graduanda em Geografia
A construção do espaço pósmoderno. Professor Thiago Espindula - Geografia
 A construção do espaço pósmoderno Professor Thiago Espindula - Geografia Objetivo Apresentar o homem pós-moderno, suas relações sociais e com o território. Apresentar alguns aspectos dos tempos contemporâneos,
A construção do espaço pósmoderno Professor Thiago Espindula - Geografia Objetivo Apresentar o homem pós-moderno, suas relações sociais e com o território. Apresentar alguns aspectos dos tempos contemporâneos,
A escala como ferramenta que aproxima a geografia das práticas e saberes espaciais dos estudantes
 Estágio da pesquisa: Em andamento aguardando o término das atividades que estão sendo aplicadas para a análise dos resultados. A escala como ferramenta que aproxima a geografia das práticas e saberes espaciais
Estágio da pesquisa: Em andamento aguardando o término das atividades que estão sendo aplicadas para a análise dos resultados. A escala como ferramenta que aproxima a geografia das práticas e saberes espaciais
SOCIEDADE E PRÁXIS ESPACIAL: A CONSTRUÇÃO DAS BASES METODOLÓGICAS PARA A COMPREENSÃO DA EXCLUSÃO CIBERESPACIAL NO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG
 456 SOCIEDADE E PRÁXIS ESPACIAL: A CONSTRUÇÃO DAS BASES METODOLÓGICAS PARA A COMPREENSÃO DA EXCLUSÃO CIBERESPACIAL NO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG Fabio Ferreira Ramos¹ geofabioramos@gmail.com Geografia-Licenciatura
456 SOCIEDADE E PRÁXIS ESPACIAL: A CONSTRUÇÃO DAS BASES METODOLÓGICAS PARA A COMPREENSÃO DA EXCLUSÃO CIBERESPACIAL NO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG Fabio Ferreira Ramos¹ geofabioramos@gmail.com Geografia-Licenciatura
Recomendada. Coleção Geografia em Construção. Por quê? A coleção. Na coleção, a aprendizagem é entendida como
 1ª série (144 p.): Unidade 1. Quem é você?; Unidade 2. A vida em família; Unidade 3. Moradia; Unidade 4. Escola; Unidade 5. Rua, que lugar é esse? 2ª série (144 p.): Unidade 1. O lugar onde você vive;
1ª série (144 p.): Unidade 1. Quem é você?; Unidade 2. A vida em família; Unidade 3. Moradia; Unidade 4. Escola; Unidade 5. Rua, que lugar é esse? 2ª série (144 p.): Unidade 1. O lugar onde você vive;
Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (V3)
 Coleção Crescer História aprovada no PNLD 2019 Código 0202P19041 Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (V3) 1º ano Mundo pessoal: meu lugar no mundo As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado,
Coleção Crescer História aprovada no PNLD 2019 Código 0202P19041 Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (V3) 1º ano Mundo pessoal: meu lugar no mundo As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado,
TRADIÇÃO E MODERNIDADE: A MULTITERRITORIALIDADE DO POVO XUCURÚ-KARIRÍ
 TRADIÇÃO E MODERNIDADE: A MULTITERRITORIALIDADE DO POVO XUCURÚ-KARIRÍ CAETANO LUCAS BORGES FRANCO 1 e EVÂNIO DOS SANTOS BRANQUINHO 2 caecaldas@hotmail.com, evanio.branquinho@unifal-mg.edu.br 1 Graduando
TRADIÇÃO E MODERNIDADE: A MULTITERRITORIALIDADE DO POVO XUCURÚ-KARIRÍ CAETANO LUCAS BORGES FRANCO 1 e EVÂNIO DOS SANTOS BRANQUINHO 2 caecaldas@hotmail.com, evanio.branquinho@unifal-mg.edu.br 1 Graduando
GÊNERO E EMPODERAMENTO DE MULHERES. Marlise Matos - UFMG
 GÊNERO E EMPODERAMENTO DE MULHERES Marlise Matos - UFMG Uma proposta de percurso a ser brevemente desenvolvida aqui a partir de TRES pontos: 1 Uma abordagem FEMINISTA e pautada na luta dos movimentos feministas
GÊNERO E EMPODERAMENTO DE MULHERES Marlise Matos - UFMG Uma proposta de percurso a ser brevemente desenvolvida aqui a partir de TRES pontos: 1 Uma abordagem FEMINISTA e pautada na luta dos movimentos feministas
Políticas territoriais e desenvolvimento econômico local
 Políticas territoriais e desenvolvimento econômico local José Carlos Vaz Instituto Pólis 19 de maio de 2004 A partir de resultados da pesquisa Aspectos Econômicos das Experiências de Desenvolvimento Local
Políticas territoriais e desenvolvimento econômico local José Carlos Vaz Instituto Pólis 19 de maio de 2004 A partir de resultados da pesquisa Aspectos Econômicos das Experiências de Desenvolvimento Local
MOVIMENTOS SOCIOTERRITORIAIS E ESPACIALIZAÇÃO DA LUTA PELA TERRA
 MOVIMENTOS SOCIOTERRITORIAIS E ESPACIALIZAÇÃO DA LUTA PELA TERRA Bernardo Mançano Fernandes Universidade Estadual Paulista, Pesquisador do CNPq - bmf@prudente.unesp.br Introdução Neste texto, apresentamos
MOVIMENTOS SOCIOTERRITORIAIS E ESPACIALIZAÇÃO DA LUTA PELA TERRA Bernardo Mançano Fernandes Universidade Estadual Paulista, Pesquisador do CNPq - bmf@prudente.unesp.br Introdução Neste texto, apresentamos
OBJETIVOS CONTEÚDOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CURITIBA DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL GERÊNCIA DE CURRÍCULO GEOGRAFIA 1º ANO OBJETIVOS CONTEÚDOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO Observação de objetos em relação à forma,
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CURITIBA DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL GERÊNCIA DE CURRÍCULO GEOGRAFIA 1º ANO OBJETIVOS CONTEÚDOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO Observação de objetos em relação à forma,
Direito Constitucional
 Direito Constitucional Aula 02 Os direitos desta obra foram cedidos à Universidade Nove de Julho Este material é parte integrante da disciplina oferecida pela UNINOVE. O acesso às atividades, conteúdos
Direito Constitucional Aula 02 Os direitos desta obra foram cedidos à Universidade Nove de Julho Este material é parte integrante da disciplina oferecida pela UNINOVE. O acesso às atividades, conteúdos
Código 0222P Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (V3)
 Coleção Akpalô História aprovada no PNLD 2019 Código 0222P19041 Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (V3) 1º ano Mundo pessoal: meu lugar no mundo As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado,
Coleção Akpalô História aprovada no PNLD 2019 Código 0222P19041 Objetos de Conhecimento e Habilidades BNCC (V3) 1º ano Mundo pessoal: meu lugar no mundo As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado,
Sociologia Jurídica. Apresentação 2.1.b Capitalismo, Estado e Direito
 Sociologia Jurídica Apresentação 2.1.b Capitalismo, Estado e Direito O direito na sociedade moderna Fonte: UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito na Sociedade Moderna contribuição à crítica da teoria social.
Sociologia Jurídica Apresentação 2.1.b Capitalismo, Estado e Direito O direito na sociedade moderna Fonte: UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito na Sociedade Moderna contribuição à crítica da teoria social.
Geografia - 6º AO 9º ANO
 5ª Série / 6º Ano Eixos norteadores Temas Conteúdo Habilidades Competências A Geografia como uma - Definição de Geografia - Noções de tempo e -Compreender processos - Identificar diferentes formas de representação
5ª Série / 6º Ano Eixos norteadores Temas Conteúdo Habilidades Competências A Geografia como uma - Definição de Geografia - Noções de tempo e -Compreender processos - Identificar diferentes formas de representação
O ESTADO DA ARTE DO ENSINO DE GEOGRAFIA DO BRASIL A PARTIR DO USO DE NOVAS TECNOLOGIAS
 DO BRASIL A PARTIR DO USO DE NOVAS Wilcilene da Silva Corrêa Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Geografia - UFAM Universidade Federal do Amazonas prof.wilcilenecorrea@hotmail.com Amélia Regina
DO BRASIL A PARTIR DO USO DE NOVAS Wilcilene da Silva Corrêa Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Geografia - UFAM Universidade Federal do Amazonas prof.wilcilenecorrea@hotmail.com Amélia Regina
PALESTRANTES ANA LUIZA CARVALHO DA ROCHA ANTONIO DAVID CATTANI
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL (PROPUR) GRUPO DE PESQUISA LABORATÓRIO DE ESTUDOS URBANOS (LEURB) CURSO DE EXTENSÃO EM PLANEJAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL (PROPUR) GRUPO DE PESQUISA LABORATÓRIO DE ESTUDOS URBANOS (LEURB) CURSO DE EXTENSÃO EM PLANEJAMENTO
Territórios e Regionalização. Professor Diego Alves de Oliveira
 Territórios e Regionalização Professor Diego Alves de Oliveira Conceitos de território Pode ser associado a vários elementos: Biológicos: área dominada por uma espécie animal; Sociais: área vivida por
Territórios e Regionalização Professor Diego Alves de Oliveira Conceitos de território Pode ser associado a vários elementos: Biológicos: área dominada por uma espécie animal; Sociais: área vivida por
O ENSINO DE GEOGRAFIA E A CATEGORIA TERRITÓRIO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGINA
 O ENSINO DE GEOGRAFIA E A CATEGORIA TERRITÓRIO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGINA Elisiane Barbosa de Sá Graduanda do curso de Licenciatura em geografia, UFAL. lisa.sa09@hotmail.com O presente artigo
O ENSINO DE GEOGRAFIA E A CATEGORIA TERRITÓRIO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGINA Elisiane Barbosa de Sá Graduanda do curso de Licenciatura em geografia, UFAL. lisa.sa09@hotmail.com O presente artigo
POLÍTICAS E PLANEJAMENTO DO TURISMO. Prof. Marcos Aurélio Tarlombani da Silveira GB 087 Geografia do Turismo Geografia - UFPR Curitiba, 2017.
 POLÍTICAS E PLANEJAMENTO DO TURISMO Prof. Marcos Aurélio Tarlombani da Silveira GB 087 Geografia do Turismo Geografia - UFPR Curitiba, 2017. Política de turismo: definição Conjunto de regulamentos, normas,
POLÍTICAS E PLANEJAMENTO DO TURISMO Prof. Marcos Aurélio Tarlombani da Silveira GB 087 Geografia do Turismo Geografia - UFPR Curitiba, 2017. Política de turismo: definição Conjunto de regulamentos, normas,
CURSO DE EXTENSÃO EM PLANEJAMENTO URBANO ENCONTRO 2: DE LONGE, DE PERTO, DE DENTRO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL (PROPUR) GRUPO DE PESQUISA LABORATÓRIO DE ESTUDOS URBANOS (LEURB)) CURSO DE EXTENSÃO EM PLANEJAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL (PROPUR) GRUPO DE PESQUISA LABORATÓRIO DE ESTUDOS URBANOS (LEURB)) CURSO DE EXTENSÃO EM PLANEJAMENTO
DIRETRIZES CURRICULARES do estado do PNLD
 DIRETRIZES CURRICULARES do estado do PNLD GEOGRAFIA: PARANÁ LEITURAS E INTERAÇÃO 2018 OBRAS APROVADAS MATERIAL DE DIVULGAÇÃO ESCALA E LEYA EDUCAÇÃO O conteúdo deste fascículo foi desenvolvido pela Escala
DIRETRIZES CURRICULARES do estado do PNLD GEOGRAFIA: PARANÁ LEITURAS E INTERAÇÃO 2018 OBRAS APROVADAS MATERIAL DE DIVULGAÇÃO ESCALA E LEYA EDUCAÇÃO O conteúdo deste fascículo foi desenvolvido pela Escala
O livro na sociedade, a sociedade no livro: pensando sociologicamente a literatura
 O livro na sociedade, a sociedade no livro: pensando sociologicamente a literatura Laura Garbini Both Mestre em Antropologia Social UFPR Profa. da UNIBRASIL laura.both@unibrasil.com.br No nosso dia-a-dia
O livro na sociedade, a sociedade no livro: pensando sociologicamente a literatura Laura Garbini Both Mestre em Antropologia Social UFPR Profa. da UNIBRASIL laura.both@unibrasil.com.br No nosso dia-a-dia
REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM MEMÓRIA SOCIAL E BENS CULTURAIS MESTRADO PROFISSIONAL EM MEMÓRIA SOCIAL E BENS CULTURAIS
 REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM MEMÓRIA SOCIAL E BENS CULTURAIS MESTRADO PROFISSIONAL EM MEMÓRIA SOCIAL E BENS CULTURAIS Disciplinas obrigatórias Memória Social 45 Cultura 45
REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM MEMÓRIA SOCIAL E BENS CULTURAIS MESTRADO PROFISSIONAL EM MEMÓRIA SOCIAL E BENS CULTURAIS Disciplinas obrigatórias Memória Social 45 Cultura 45
UM NOVO PARADIGMA Para compreender o mundo de hoje Autor: Alain Touraine
 UM NOVO PARADIGMA Para compreender o mundo de hoje Autor: Alain Touraine PROFESSOR : Arnoldo Hoyos ALUNA Alessandra Libretti O autor Sumário Introdução Parte I Quando falávamos de nos em termos sociais
UM NOVO PARADIGMA Para compreender o mundo de hoje Autor: Alain Touraine PROFESSOR : Arnoldo Hoyos ALUNA Alessandra Libretti O autor Sumário Introdução Parte I Quando falávamos de nos em termos sociais
DO ESPAÇO AO TERRITÓRIO
 DO ESPAÇO AO TERRITÓRIO Pollyanna Mirando Cardamone 1 Gleice Simone Vieira De Souza Gomes 2 Weslen Manari Gomes 3 RESUMO: Por muito tempo conceitos, como o de espaço, ficaram sem uma definição objetiva
DO ESPAÇO AO TERRITÓRIO Pollyanna Mirando Cardamone 1 Gleice Simone Vieira De Souza Gomes 2 Weslen Manari Gomes 3 RESUMO: Por muito tempo conceitos, como o de espaço, ficaram sem uma definição objetiva
MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009 EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento) I. Dominar
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009 EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento) I. Dominar
Formação do Sistema Internacional DABHO SB (4-0-4)
 Formação do Sistema Internacional DABHO1335-15SB (4-0-4) Professor Dr. Demétrio G. C. de Toledo BRI demetrio.toledo@ufabc.edu.br UFABC - 2017.I (Ano 2 do Golpe) Aula 5 3ª-feira, 21 de fevereiro Módulo
Formação do Sistema Internacional DABHO1335-15SB (4-0-4) Professor Dr. Demétrio G. C. de Toledo BRI demetrio.toledo@ufabc.edu.br UFABC - 2017.I (Ano 2 do Golpe) Aula 5 3ª-feira, 21 de fevereiro Módulo
AS REDES DE PODER NA MODELAGEM E ARTICULAÇÃO TERRITORIAL: algumas reflexões
 AS REDES DE PODER NA MODELAGEM E ARTICULAÇÃO TERRITORIAL: algumas reflexões Maria Erlan Inocêncio Professora da Universidade Estadual de Goiás, Pires do Rio, GO. Aluna do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação
AS REDES DE PODER NA MODELAGEM E ARTICULAÇÃO TERRITORIAL: algumas reflexões Maria Erlan Inocêncio Professora da Universidade Estadual de Goiás, Pires do Rio, GO. Aluna do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação
Matéria: Geografia Assunto: Geopolítica Prof. Luciano Teixeira
 Matéria: Geografia Assunto: Geopolítica Prof. Luciano Teixeira Geografia 1. Geopolítica Geopolítica é o conjunto de estratégias adotadas pelo estado para administrar seu território. Desta forma, Geopolítica
Matéria: Geografia Assunto: Geopolítica Prof. Luciano Teixeira Geografia 1. Geopolítica Geopolítica é o conjunto de estratégias adotadas pelo estado para administrar seu território. Desta forma, Geopolítica
Implantação de Núcleos de Ação Educativa em Museus 1/26
 Implantação de Núcleos de Ação Educativa em Museus 1/26 Museu da Imigração Análise do Programa Educativo 2/38 Princípios norteadores da Política Educacional 3/38 Missão Promover o conhecimento e a reflexão
Implantação de Núcleos de Ação Educativa em Museus 1/26 Museu da Imigração Análise do Programa Educativo 2/38 Princípios norteadores da Política Educacional 3/38 Missão Promover o conhecimento e a reflexão
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE HISTÓRIA - ENSINO FUNDAMENTAL
 D1 D2 D3 D4 D5 Identificar a constituição de identidades culturais em diferentes Reconhecer a influência das diversidades étnico-raciais na formação da sociedade brasileira em diferentes tempos e espaços.
D1 D2 D3 D4 D5 Identificar a constituição de identidades culturais em diferentes Reconhecer a influência das diversidades étnico-raciais na formação da sociedade brasileira em diferentes tempos e espaços.
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS - SADEAM 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
 MATRIZ DE REFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS - SADEAM 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DOMÍNIO I MEMÓRIA E REPRESENTAÇÕES D1 H Reconhecer a História como produto histórico, social e cultural e suas implicações na
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS - SADEAM 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DOMÍNIO I MEMÓRIA E REPRESENTAÇÕES D1 H Reconhecer a História como produto histórico, social e cultural e suas implicações na
O TERRITÓRIO E SEUS DESDOBRAMENTOS: TERRITORIALIZAÇÃO, DESTERRITORIALIZAÇÃO E RETERRITORIALIZAÇÃO
 O TERRITÓRIO E SEUS DESDOBRAMENTOS: TERRITORIALIZAÇÃO, DESTERRITORIALIZAÇÃO E RETERRITORIALIZAÇÃO Eliane Maria da Silva¹; Gisele Kelly Gomes De Lima²; Valdeir Cândido da Silva Souza 3 Orientador: Jorge
O TERRITÓRIO E SEUS DESDOBRAMENTOS: TERRITORIALIZAÇÃO, DESTERRITORIALIZAÇÃO E RETERRITORIALIZAÇÃO Eliane Maria da Silva¹; Gisele Kelly Gomes De Lima²; Valdeir Cândido da Silva Souza 3 Orientador: Jorge
DA HABITAÇÃO POPULAR AO DIREITO À CIDADE: O PROGRAMA MINHA CASA, MINHAVIDA, DO VILA DO SUL E VILA BONITA, EM VITORIA DA CONQUISTA (BA)
 DA HABITAÇÃO POPULAR AO DIREITO À CIDADE: O PROGRAMA MINHA CASA, MINHAVIDA, DO VILA DO SUL E VILA BONITA, EM VITORIA DA CONQUISTA (BA) Rita de Cássia Ribeiro Lopes 1 Suzane Tosta Souza 2 Esse resumo faz
DA HABITAÇÃO POPULAR AO DIREITO À CIDADE: O PROGRAMA MINHA CASA, MINHAVIDA, DO VILA DO SUL E VILA BONITA, EM VITORIA DA CONQUISTA (BA) Rita de Cássia Ribeiro Lopes 1 Suzane Tosta Souza 2 Esse resumo faz
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE HISTÓRIA - ENSINO FUNDAMENTAL
 D1 Identificar a constituição de identidades culturais em diferentes contextos Identificar as diferentes representações sociais e culturais no espaço paranaense no contexto brasileiro. Identificar a produção
D1 Identificar a constituição de identidades culturais em diferentes contextos Identificar as diferentes representações sociais e culturais no espaço paranaense no contexto brasileiro. Identificar a produção
TERRITORIALIDADES DA PROSTITUIÇÃO NOS LIMITES ENTRE AS CIDADES DE BELÉM E ANANINDEUA NO ESTADO DO PARÁ
 TERRITORIALIDADES DA PROSTITUIÇÃO NOS LIMITES ENTRE AS CIDADES DE BELÉM E ANANINDEUA NO ESTADO DO PARÁ Michel Brito de Lima AGB - Belém michelbrito10@hotmail.com Universidade Federal do Pará Bolsista do
TERRITORIALIDADES DA PROSTITUIÇÃO NOS LIMITES ENTRE AS CIDADES DE BELÉM E ANANINDEUA NO ESTADO DO PARÁ Michel Brito de Lima AGB - Belém michelbrito10@hotmail.com Universidade Federal do Pará Bolsista do
O Lugar da Diversidade no contexto da Inclusão e Flexibilização Curricular: Alguns Apontamentos
 O Lugar da Diversidade no contexto da Inclusão e Flexibilização Curricular: Alguns Apontamentos Prof. Doutoranda. Alessandra Lopes Castelini UFPI/Feevale/IPL Sociedade Inclusiva e Multicultural? Educação
O Lugar da Diversidade no contexto da Inclusão e Flexibilização Curricular: Alguns Apontamentos Prof. Doutoranda. Alessandra Lopes Castelini UFPI/Feevale/IPL Sociedade Inclusiva e Multicultural? Educação
Cap. 17: A compressão do espaçotempo e a condição pós-moderna
 Universidade Federal Fluminense Departamento de Geografia Grupos de Estudos de Geografia Histórica GEGH Prof. Dr. Marcelo Werner Aluna: Ianani Dias Cap. 17: A compressão do espaçotempo e a condição pós-moderna
Universidade Federal Fluminense Departamento de Geografia Grupos de Estudos de Geografia Histórica GEGH Prof. Dr. Marcelo Werner Aluna: Ianani Dias Cap. 17: A compressão do espaçotempo e a condição pós-moderna
A AÇÃO DO ESTADO E DO MERCADO IMOBILIÁRIO NO PROCESSO DE SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL EM ILHA COMPRIDA - SP
 A AÇÃO DO ESTADO E DO MERCADO IMOBILIÁRIO NO PROCESSO DE SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL EM ILHA COMPRIDA - SP NASCIMENTO, R. S. Departamento de Geografia - IGCE, Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita
A AÇÃO DO ESTADO E DO MERCADO IMOBILIÁRIO NO PROCESSO DE SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL EM ILHA COMPRIDA - SP NASCIMENTO, R. S. Departamento de Geografia - IGCE, Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita
O contexto filosófico e histórico em Paul Vidal de la Blache
 O contexto filosófico e histórico em Paul Vidal de la Blache Deyse Cristina Brito Fabrício deyse_nytzah@hotmail.com IG/UNICAMP Antonio Carlos Vitte IG/UNICAMP Palavras-chave: História da Geografia, Paul
O contexto filosófico e histórico em Paul Vidal de la Blache Deyse Cristina Brito Fabrício deyse_nytzah@hotmail.com IG/UNICAMP Antonio Carlos Vitte IG/UNICAMP Palavras-chave: História da Geografia, Paul
pondo o direito no seu devido lugar
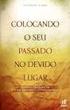 pondo o direito no seu devido lugar cidade pra quem: (re)produção do espaço urbano e o âmbito jurídico o direito vai além do que se vê (voz ativa CATB/UNIT) giro espacial no direito o que é o direito como
pondo o direito no seu devido lugar cidade pra quem: (re)produção do espaço urbano e o âmbito jurídico o direito vai além do que se vê (voz ativa CATB/UNIT) giro espacial no direito o que é o direito como
MILTON SANTOS E A FÁBULA DA GLOBALIZAÇÃO
 MILTON SANTOS E A FÁBULA DA GLOBALIZAÇÃO Maria Luiza Pierri 1 Marcio Marchi 2 Uma fábula é, popularmente, uma história cujo principal objetivo é repassar ideias virtuosas e de cunho moral aos seus leitores
MILTON SANTOS E A FÁBULA DA GLOBALIZAÇÃO Maria Luiza Pierri 1 Marcio Marchi 2 Uma fábula é, popularmente, uma história cujo principal objetivo é repassar ideias virtuosas e de cunho moral aos seus leitores
TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE
 TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE Ao se buscar definir a territorialização em saúde, precede explicitar a historicidade dos conceitos de território e territorialidade, suas significações e as formas de apropriação
TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE Ao se buscar definir a territorialização em saúde, precede explicitar a historicidade dos conceitos de território e territorialidade, suas significações e as formas de apropriação
Palavras Chave: segunda residência; produção do espaço urbano; dinâmica imobiliária; Santos SP; segregação socioespacial 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
 INSTITUCIONAL/IFSP PROJETO DE PESQUISA TÍTULO DO PROJETO: O turismo de segunda residência na Baixada Santista e a dinâmica imobiliária em Santos - SP Área do Conhecimento (Tabela do CNPq): 6. 1 3. 0 0.
INSTITUCIONAL/IFSP PROJETO DE PESQUISA TÍTULO DO PROJETO: O turismo de segunda residência na Baixada Santista e a dinâmica imobiliária em Santos - SP Área do Conhecimento (Tabela do CNPq): 6. 1 3. 0 0.
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA EDITAL 08/2016 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOGRAFIA HUMANA E ECONÔMICA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA EDITAL 08/2016 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOGRAFIA HUMANA E ECONÔMICA
5. Considerações Finais
 5. Considerações Finais O COMPERJ, desde o início de sua instalação, carrega consigo a imagem do desenvolvimento e sustentabilidade. Entretanto, as des-reterritorializações das comunidades que estão na
5. Considerações Finais O COMPERJ, desde o início de sua instalação, carrega consigo a imagem do desenvolvimento e sustentabilidade. Entretanto, as des-reterritorializações das comunidades que estão na
Rede global de interações
 ECONOMIA INFORMACIONAL E GLOBAL ou Rede global de interações Sociedade em rede ( Manuel Castells ) Informacional: a produtividade e a competitividade ( de empresas, regiões e nações ) dependerão basicamente
ECONOMIA INFORMACIONAL E GLOBAL ou Rede global de interações Sociedade em rede ( Manuel Castells ) Informacional: a produtividade e a competitividade ( de empresas, regiões e nações ) dependerão basicamente
Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org
 Este documento faz parte do Repositório Institucional do Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org Mesa de Diálogo e controvérsia - (número 2) amos diante de uma grande crise econômico-financeira:
Este documento faz parte do Repositório Institucional do Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org Mesa de Diálogo e controvérsia - (número 2) amos diante de uma grande crise econômico-financeira:
Actas Congreso Internacional de Geografía - 77º Semana de la Geografía
 CONFERENCIA 295 296 Actas Congreso Internacional de Geografía - 77º Semana de la Geografía Actas Científicas CIG - 77 º Semana de la Geografía Pág 297 a 298 Recibido xx/xx/xxxx - Aceptado xx/xx/xxxx 297
CONFERENCIA 295 296 Actas Congreso Internacional de Geografía - 77º Semana de la Geografía Actas Científicas CIG - 77 º Semana de la Geografía Pág 297 a 298 Recibido xx/xx/xxxx - Aceptado xx/xx/xxxx 297
Tema-problema: 2.1 Estrutura familiar e dinâmica social DURAÇÃO DE REFERÊNCIA (AULAS): 16 ( )
 MÓDULO 5 Área I A Pessoa Unidade Temática 2 O SUJEITO HISTÓRICO-SOCIAL Tema-problema: 2.1 Estrutura familiar e dinâmica social DURAÇÃO DE REFERÊNCIA (AULAS): 16 (14.09.2017 13.10.2017) APRESENTAÇÃO: Este
MÓDULO 5 Área I A Pessoa Unidade Temática 2 O SUJEITO HISTÓRICO-SOCIAL Tema-problema: 2.1 Estrutura familiar e dinâmica social DURAÇÃO DE REFERÊNCIA (AULAS): 16 (14.09.2017 13.10.2017) APRESENTAÇÃO: Este
MERCADO DE TRABALHO: DEFINIÇÕES, TRANSFORMAÇÕES E DESIGUALDADES
 MERCADO DE TRABALHO: DEFINIÇÕES, TRANSFORMAÇÕES E DESIGUALDADES Prof. Francisco E. B. Vargas Instituto de Filosofia, Sociologia e Política Cursos de Ciências Sociais Pelotas, setembro de 2014 O Mercado
MERCADO DE TRABALHO: DEFINIÇÕES, TRANSFORMAÇÕES E DESIGUALDADES Prof. Francisco E. B. Vargas Instituto de Filosofia, Sociologia e Política Cursos de Ciências Sociais Pelotas, setembro de 2014 O Mercado
Cultura e Modernidade. Prof. Elson Junior. Santo Antônio de Pádua, julho de 2017.
 Cultura e Modernidade Prof. Elson Junior Santo Antônio de Pádua, julho de 2017. Objetivos Refletir sobre os aspectos dinâmicos que conformam as identidades culturais contemporaneidade; Compreender o processo
Cultura e Modernidade Prof. Elson Junior Santo Antônio de Pádua, julho de 2017. Objetivos Refletir sobre os aspectos dinâmicos que conformam as identidades culturais contemporaneidade; Compreender o processo
Mesa redonda: A política educacional e seus objetos de estudos Dia 20/08/2014 Quarta-feira Horário: das 10:30 às 12:30 Título
 Mesa redonda: A política educacional e seus objetos de estudos Dia 20/08/2014 Quarta-feira Horário: das 10:30 às 12:30 Título do trabalho: Considerações epistemológicas da política educacional brasileira:
Mesa redonda: A política educacional e seus objetos de estudos Dia 20/08/2014 Quarta-feira Horário: das 10:30 às 12:30 Título do trabalho: Considerações epistemológicas da política educacional brasileira:
Apontamentos das obras LeYa em relação ao Currículo de Referência da Rede Estadual de Educação de GOIÁS. Geografia Leituras e Interação
 Apontamentos das obras LeYa em relação ao Currículo de Referência da Rede Estadual de Educação de GOIÁS Geografia Leituras e Interação 2 Caro professor, Este guia foi desenvolvido para ser uma ferramenta
Apontamentos das obras LeYa em relação ao Currículo de Referência da Rede Estadual de Educação de GOIÁS Geografia Leituras e Interação 2 Caro professor, Este guia foi desenvolvido para ser uma ferramenta
SAÚDE MENTAL: ACOLHIMENTO DA QUEIXA, NECESSIDADE E DEMANDA. Psic. Felipe Faria Brognoli
 SAÚDE MENTAL: ACOLHIMENTO DA QUEIXA, NECESSIDADE E DEMANDA Psic. Felipe Faria Brognoli ACOLHIMENTO Dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, receber, atender, admitir (FERREIRA,
SAÚDE MENTAL: ACOLHIMENTO DA QUEIXA, NECESSIDADE E DEMANDA Psic. Felipe Faria Brognoli ACOLHIMENTO Dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, receber, atender, admitir (FERREIRA,
O espaço como a acumulação desigual de tempos
 O espaço como a acumulação desigual de tempos Organização: GRUPO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA HISTÓRICA Departamento de Geografia de Campos Universidade Federal Fluminense http://geohistorica.wordpress.com/
O espaço como a acumulação desigual de tempos Organização: GRUPO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA HISTÓRICA Departamento de Geografia de Campos Universidade Federal Fluminense http://geohistorica.wordpress.com/
14 Arquitetura. Sob esta perspectiva, é possível supor as condições econômicas dos habitantes e, além disso, aproximar-se das representações sociais d
 Introdução Os problemas urbanos vinculados ao setor habitacional podem ser identificados, também, pelas materialidades presentes na estrutura do espaço das grandes cidades brasileiras, tal qual o Rio de
Introdução Os problemas urbanos vinculados ao setor habitacional podem ser identificados, também, pelas materialidades presentes na estrutura do espaço das grandes cidades brasileiras, tal qual o Rio de
RECRO GEOGRAFIA 6º ANO 1º BIMESTRE EIXO: A GEOGRAFIA COMO POSSIBILIDADE DE LEITURA E COMPREENSÃO DO MUNDO. lugares que constituem o mundo.
 6º ANO 1º BIMESTRE EIXO: A GEOGRAFIA COMO POSSIBILIDADE DE LEITURA E COMPREENSÃO DO MUNDO COMPETÊNCIA Construir, por meio da linguagem iconográfica, Entender e aplicar o conceito de paisagens. escrita
6º ANO 1º BIMESTRE EIXO: A GEOGRAFIA COMO POSSIBILIDADE DE LEITURA E COMPREENSÃO DO MUNDO COMPETÊNCIA Construir, por meio da linguagem iconográfica, Entender e aplicar o conceito de paisagens. escrita
Disciplina: Desenvolvimento sócio-espacial e dinâmica urbana. Profa. Dra. Silvia Ap. Guarnieri Ortigoza
 Faculdade de Ciências e Letras, UNESP - Campus de Araraquara Curso de Especialização em Governança Pública e Novos Arranjos de Gestão Disciplina: Desenvolvimento sócio-espacial e dinâmica urbana Profa.
Faculdade de Ciências e Letras, UNESP - Campus de Araraquara Curso de Especialização em Governança Pública e Novos Arranjos de Gestão Disciplina: Desenvolvimento sócio-espacial e dinâmica urbana Profa.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS - INEP DIRETORIA DE AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS - INEP DIRETORIA DE AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS - INEP DIRETORIA DE AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e
6. Considerações finais
 6. Considerações finais Neste trabalho, procuramos definir qual o programa da cultura visual configurado no cartaz de cinema produzido no Brasil. Se suas origens pertencem ao que se busca definir como
6. Considerações finais Neste trabalho, procuramos definir qual o programa da cultura visual configurado no cartaz de cinema produzido no Brasil. Se suas origens pertencem ao que se busca definir como
Os conceitos geográficos fundamentais
 Os conceitos geográficos fundamentais GEOGRAFIA GREGOS - ANTIGUIDADE GEOGRAFIA TERRA DESCREVER ESCREVER SOBRE A TERRA GEOGRAFIA Geografia é a ciência que estuda a Terra e as relações entre esta e o homem
Os conceitos geográficos fundamentais GEOGRAFIA GREGOS - ANTIGUIDADE GEOGRAFIA TERRA DESCREVER ESCREVER SOBRE A TERRA GEOGRAFIA Geografia é a ciência que estuda a Terra e as relações entre esta e o homem
1 Introdução 1.1. Problema de pesquisa
 1 Introdução 1.1. Problema de pesquisa As mudanças no mundo do trabalho impulsionaram o reposicionamento das empresas exigindo novas definições para o processo de produção e de gestão das relações de trabalho.
1 Introdução 1.1. Problema de pesquisa As mudanças no mundo do trabalho impulsionaram o reposicionamento das empresas exigindo novas definições para o processo de produção e de gestão das relações de trabalho.
I. Vivemos no Brasil a multiculturalidade que resulta de um grande caleidoscópio cultural enraizado nas bases da formação da nossa sociedade.
 Questão 1 O sociólogo Octávio Ianni afirma que a sociedade global está sendo tecida por relações, processos e estruturas de dominação e apropriação, integração e antagonismo, soberania e hegemonia. Trata-se
Questão 1 O sociólogo Octávio Ianni afirma que a sociedade global está sendo tecida por relações, processos e estruturas de dominação e apropriação, integração e antagonismo, soberania e hegemonia. Trata-se
DA DESTERRITORIALIZAÇÃO À MULTITERRITORIALIDADE
 DA DESTERRITORIALIZAÇÃO À MULTITERRITORIALIDADE Rogério Haesbaert 1 Pretendemos com este trabalho dar continuidade à nossa crítica ao discurso da desterritorialização (especialmente em O Mito da Desterritorialização,
DA DESTERRITORIALIZAÇÃO À MULTITERRITORIALIDADE Rogério Haesbaert 1 Pretendemos com este trabalho dar continuidade à nossa crítica ao discurso da desterritorialização (especialmente em O Mito da Desterritorialização,
TESE DE DOUTORADO MEMÓRIAS DE ANGOLA E VIVÊNCIAS NO BRASIL: EDUCAÇÃO E DIVERSIDADES ÉTNICA E RACIAL
 TESE DE DOUTORADO MEMÓRIAS DE ANGOLA E VIVÊNCIAS NO BRASIL: EDUCAÇÃO E DIVERSIDADES ÉTNICA E RACIAL Marciele Nazaré Coelho Orientadora: Profa. Dra. Roseli Rodrigues de Mello Por: Adriana Marigo Francisca
TESE DE DOUTORADO MEMÓRIAS DE ANGOLA E VIVÊNCIAS NO BRASIL: EDUCAÇÃO E DIVERSIDADES ÉTNICA E RACIAL Marciele Nazaré Coelho Orientadora: Profa. Dra. Roseli Rodrigues de Mello Por: Adriana Marigo Francisca
Paulo Fernando Cavalcanti Filho
 Conferência Internacional LALICS 2013 Sistemas Nacionais de Inovação e Políticas de CTI para um Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável 11 e 12 de Novembro, 2013 - Rio de Janeiro, Brasil O Conceito de
Conferência Internacional LALICS 2013 Sistemas Nacionais de Inovação e Políticas de CTI para um Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável 11 e 12 de Novembro, 2013 - Rio de Janeiro, Brasil O Conceito de
Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
 Apresentação Titulo Limonad, Ester - Autor/a; Autor(es) En: Entre a ordem próxima e a ordem distante: contribuições a partir do pensamento En: de Henri Lefebvre. Niterói : UFF ; GECEL, 2003. Niterói Lugar
Apresentação Titulo Limonad, Ester - Autor/a; Autor(es) En: Entre a ordem próxima e a ordem distante: contribuições a partir do pensamento En: de Henri Lefebvre. Niterói : UFF ; GECEL, 2003. Niterói Lugar
SABERES DOCENTES NECESSÁRIOS À PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL TECNOLÓGICA
 SABERES DOCENTES NECESSÁRIOS À PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL TECNOLÓGICA Carmen Célia Barradas Correia Bastos- UNIOESTE/Cascavel/PR Nelci Aparecida
SABERES DOCENTES NECESSÁRIOS À PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL TECNOLÓGICA Carmen Célia Barradas Correia Bastos- UNIOESTE/Cascavel/PR Nelci Aparecida
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE GEOGRAFIA - ENSINO FUNDAMENTAL
 D1 Identificar diferentes tipos de representação da superfície terrestre (globo terrestre, maquetes, mapas, plantas, croquis). Identificar diferenças entre as representações do espaço geográfico. Comparar
D1 Identificar diferentes tipos de representação da superfície terrestre (globo terrestre, maquetes, mapas, plantas, croquis). Identificar diferenças entre as representações do espaço geográfico. Comparar
GEOGRAFIA. 2. Observe atentamente o mapa apresentado a seguir:
 GEOGRAFIA 1. O petróleo, recurso não-renovável, é a principal fonte de energia consumida no mundo. a) Aponte duas fontes alternativas de energia para a diminuição do consumo do petróleo. b) Quais as vantagens
GEOGRAFIA 1. O petróleo, recurso não-renovável, é a principal fonte de energia consumida no mundo. a) Aponte duas fontes alternativas de energia para a diminuição do consumo do petróleo. b) Quais as vantagens
PLANEJAMENTO ANUAL / TRIMESTRAL 2014 Conteúdos Habilidades Avaliação
 Disciplina: Geografia Trimestre: 1º PLANEJAMENTO ANUAL / TRIMESTRAL 2014 1. Mundo contemporâneo: economia e geopolítica: - Processo de desenvolvimento do capitalismo - Geopolítica e economia do pós-segunda
Disciplina: Geografia Trimestre: 1º PLANEJAMENTO ANUAL / TRIMESTRAL 2014 1. Mundo contemporâneo: economia e geopolítica: - Processo de desenvolvimento do capitalismo - Geopolítica e economia do pós-segunda
A importância da análise da circulação de ônibus para o estudo das relações interurbanas: o caso da Região Administrativa de Presidente Prudente-SP
 A importância da análise da circulação de ônibus para o estudo das relações interurbanas: o caso da Região Administrativa de Presidente Prudente-SP Introdução: Vitor Koiti Miyazaki Faculdade de Ciências
A importância da análise da circulação de ônibus para o estudo das relações interurbanas: o caso da Região Administrativa de Presidente Prudente-SP Introdução: Vitor Koiti Miyazaki Faculdade de Ciências
Inovação Setorial Pedro Passos & Adilson Primo
 Inovação Setorial Pedro Passos & Adilson Primo Introdução Esta apresentação tem como objetivo iniciar, no âmbito da MEI, uma série de discussões acerca da possibilidade de obtermos maiores avanços na agenda
Inovação Setorial Pedro Passos & Adilson Primo Introdução Esta apresentação tem como objetivo iniciar, no âmbito da MEI, uma série de discussões acerca da possibilidade de obtermos maiores avanços na agenda
CADERNO II TÓPICO 2: O JOVEM COMO SUJEITO DO ENSINO MÉDIO JOVENS, CULTURAS, IDENTIDADES E TECNOLOGIAS
 CADERNO II TÓPICO 2: O JOVEM COMO SUJEITO DO ENSINO MÉDIO JOVENS, CULTURAS, IDENTIDADES E TECNOLOGIAS Rosa do Carmo Lourenço Gianotto Prof. História do CEP Aluna bolsista turma 2 Colégio Estadual do Paraná
CADERNO II TÓPICO 2: O JOVEM COMO SUJEITO DO ENSINO MÉDIO JOVENS, CULTURAS, IDENTIDADES E TECNOLOGIAS Rosa do Carmo Lourenço Gianotto Prof. História do CEP Aluna bolsista turma 2 Colégio Estadual do Paraná
A área de Ciências Humanas no EM
 A área de Ciências Humanas no EM Papel da área: Contribuir para a formação integral dos estudantes. Desenvolver o olhar crítico e contextualizado das ações de diferentes indivíduos, grupos, sociedades
A área de Ciências Humanas no EM Papel da área: Contribuir para a formação integral dos estudantes. Desenvolver o olhar crítico e contextualizado das ações de diferentes indivíduos, grupos, sociedades
