CADERNO 15. Anais Eletrônicos VI ECLAE. Semântica e ensino
|
|
|
- Samuel Salgado Sá
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 CADERNO 15 Anais Eletrônicos VI ECLAE Semântica e ensino
2 RESUMO Para Émile Benveniste (2009) sentido e forma ainda que noções opostas são tratadas como indissociáveis, assim como a significação da língua pode ser observada por meio dos níveis: semântico e semiótico. Este artigo analisa o problema da significação da língua nos níveis: semântico e semiótico, considerando a identidade cultural nas cidades de Salvador e Recife, baseando-se na teoria de Émile Benveniste (2005, 2006 e 2014). As discussões traçadas neste trabalho giram em torno do axioma enunciativo de Benveniste (2006): enunciação é o colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização. Acreditamos que ao se apropriar e utilizar o dialeto, o sujeito se enuncia e se estabelece, ao mesmo tempo em que reafirma a sua identidade cultural. Com base em uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, realizada nas cidades de Salvador e Recife, discutiremos a relação de sentido e as possíveis marcas do sujeito encontradas no discurso de alguns entrevistados dessas regiões, uma vez que, em termos teóricos, podemos dizer que a identidade cultural pertence à esfera do discurso. Ou seja, o sujeito marca da forma que for seu lugar na cultura, ou no próprio discurso sobre a cultura. (FREITAS, 2010). Este trabalho é um recorte dos resultados parciais da dissertação de mestrado em Ciências da Linguagem do PPGCL da UNICAP. Palavras-chave: Semântico, Semiótico, Sentido, Forma, Identidade cultural.
3 ÁREA TEMÁTICA - Semântica e ensino Discussão sobre o sentido semântico/semiótico E a identidade cultural Daniele dos Santos Lima (UNICAP) Isabela Barbosa do Rêgo Barros (UNICAP) Introdução Este artigo analisa o problema da significação da língua nos níveis: semântico e semiótico, levando também em consideração a identidade cultural, pois o sujeito diz a sua identidade cultural através da língua. Sendo assim, será discutido o sentido semântico e semiótico da enunciação baseando-se na teoria de Émile Benveniste e a identidade cultural do sujeito falante. A significação da língua é um dos problemas mais complexos da Linguística. Para Flores (2013a, p. 89) é difícil recuperar a história do termo Semântica da Enunciação e, mais difícil ainda é recuperar a história do uso atribuído à palavra enunciação. Existem poucos trabalhos que se dedicam a informar as origens históricas e conceituais de ambas. Segundo o autor é difícil definirmos o que estuda a Semântica da Enunciação, o primeiro ponto a ser avaliado diz respeito às diferenças de nomeações que existem para identificar o campo. É interessante ressaltar que há no mínimo três denominações: Semântica da enunciação, Teoria da Enunciação e Linguística da Enunciação. Flores (2013a), explica que quando falamos nos autores individualmente, falamos em Teorias da Enunciação; quando falamos no conjunto delas, usamos o termo Linguística da 4041
4 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais Enunciação. Já a Semântica da Enunciação estuda a enunciação. Mas segundo Flores (2013a), o problema é que a enunciação é algo distinto para cada autor. Ou seja, para fazermos uma análise enunciativa temos que nos vincular a uma das Teorias da Enunciação para podermos fazer uma Semântica da Enunciação. Por isso foi escolhido os aspectos semânticos e semióticos circunscritos à Teoria de Émile Benveniste. Para Émile Benveniste sentido e forma ainda que noções opostas são tratadas como indissociáveis. Para o autor a significação da língua pode ser observada por meio dos níveis: semântico e semiótico. De acordo com Flores (2012), o homem está na língua e estar na língua é a enunciação. O indivíduo faz uso das palavras, sem parar para pensar nelas, sem ter a consciência do seu ato, de sua enunciação. E a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização. A enunciação inclui no seu escopo a língua e a fala, isto é, o ato que um sujeito realiza ao comunicar os seus pensamentos. O sujeito ao enunciar faz um uso individual e único do sistema linguístico. Para Flores (2013, p. 37), enunciar é converter a língua em discurso, logo, este é produto daquela. A enunciação, não é a língua, e sim aquilo que possibilita o seu emprego, este tornar próprio de si que o locutor opera com a língua. Referente à identidade cultural será analisado neste trabalho este colocar em funcionamento a língua quando o sujeito se apropria e utiliza um dialeto, tendo em vista a relação estabelecida entre a língua e o sujeito na enunciação. Como o sujeito se estabelece e se constitui na relação com o outro e com a língua? O sujeito revela a sua identidade cultural através da língua. Em termos teóricos podemos dizer que a identidade cultural pertence à esfera do discurso. A metodologia usada neste trabalho foi com base em uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, realizada nas cidades de Salvador e Recife, na qual discutimos a relação de sentido e as possíveis marcas do sujeito encontradas no discurso de alguns entrevistados dessas regiões, uma vez que, ou seja, o sujeito marca da forma que for seu lugar na cultura, ou no próprio discurso sobre a cultura. (FREITAS, 2010). Este trabalho é um recorte dos resultados parciais da dissertação de mestrado em Ciências da Linguagem do PPGCL da UNICAP. 4042
5 Daniele dos Santos Lima, Isabela Barbosa do Rêgo Barros O semântico e o semiótico Saussure é quem pela primeira vez discute a noção de signo e de uma possível ciência dos signos, a semiologia. O mestre genebrino destaca em seus estudos a língua como um sistema de signos que se relacionam entre si, tomando-a como norma para todas as manifestações da linguagem. Conforme Benveniste (2014) a doutrina saussuriana cobre apenas, sob as espécies da língua, a parte semiotizável da língua, seu inventário material. Ela não se aplica à língua como produção, ou seja, a língua em uso. Segundo Normand (2012) foi o estudo de Benveniste sobre a significação da língua que o fez ultrapassar Saussure. Stumpf (2010, p.01) é mais preciso ao afirmar que é na oposição semiótico/semântico que podemos encontrar um momento de ultrapassagem do pensamento de Benveniste em relação a Saussure. Trois (2004) faz uma análise, uma interpretação da passagem realizada por Benveniste das relações entre os signos no interior do sistema da língua (na perspectiva saussuriana) para as relações entre as posições de enunciação do sujeito na língua. Para Trois (idem) a primeira posição, é a do âmbito semiótico, ou seja, as palavras já possuem sua significação no sistema da língua. O segundo âmbito refere-se ao semântico, momento em que as palavras adquirem significação no discurso (utilização da língua pelo falante). No texto A forma e o sentido na linguagem, publicado em 1966 na obra Problema de Linguística Geral II (PLG II), Benveniste apresenta sua perspectiva de estudo da língua, opondo nela dois níveis de significação: semiótico e semântico. Para Benveniste (1989, p. 224) dizer que a língua é feita de signos é dizer antes de tudo que o signo é a unidade semiótica. Para Trois (2004, p.36) o signo depende da consideração semiótica da língua. Ele conclui dizendo ao leitor que o signo é limitado pela significação, para ele o conceito de significação subordina o de signo. Benveniste (2006, p. 229) afirma que há dois modos de significação: Há para a língua duas maneiras de ser língua no sentido e na forma. Ou seja, para Benveniste há dois modos de significação da língua. O modo semiótico, que está organizado por relações paradigmáticas e internas à língua, onde cada signo é significativo em relação a sua diferença com os demais e o modo semântico que está organizado por operações sintagmáticas no nível da frase, através da colocação da língua em ação por um locutor. 4043
6 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais Assim, a semiótica constitui uma propriedade da língua e a semântica uma propriedade do locutor. As noções de forma e sentido, anteriormente disjuntas (semiótico, para a forma dos signos e semântico, para o sentido das palavras na frase. Esse englobamento, proposto por Benveniste, do nível de significação produzido pela articulação semântica onde o sentido é definido pela mensagem, que é organizada pelas palavras que por sua vez, são determinadas pelo contexto de situação de discurso vai possibilitar o desenvolvimento teórico sobre a categoria de pessoa e os conceitos de intersubjetividade e de enunciação. (TROIS, 2004, p. 36) Trois (2004) mostra também a sequência de relações entre os âmbitos semióticos e semânticos da linguagem, relacionados ao conceito de enunciação. O primeiro âmbito tem como unidade o signo, o segundo, a palavra: Quadro 1: Relação Semiótica e Semântica (TROIS, 2004, p. 37) Aparelho Semântico Formal da Enunciação Semiótico 4044
7 Daniele dos Santos Lima, Isabela Barbosa do Rêgo Barros O referido autor pontua que no âmbito Semiótico a unidade de significação é o Signo correspondente ao conceito de língua em Saussure, ou seja, a língua é uma possibilidade combinatória (diferencial) que está virtualmente à disposição da comunidade dos falantes. Assim o âmbito semiótico define-se pela existência do signo na língua, que depende exclusivamente das relações diferenciais que se estabelecem no interior do sistema, independente da existência do sujeito e da referência. Por outro lado, no âmbito Semântico, Trois (2004), apoiado nas considerações de Benveniste sobre o aparelho formal da enunciação, explica que a unidade de significação é a palavra considerada como língua em uso. É a palavra que, ao ser agenciada pelo locutor, coloca a língua em funcionamento. Por isso, língua e uso são indissociáveis, isto é, um não existe sem o outro. Dessa maneira, as palavras, instrumentos da expressão semântica, são materialmente os signos do repertório semiótico (BENVENISTE, 1989, p. 233). Flores et al (2009) no dicionário de linguística da enunciação menciona que o sentido intervém nas operações de segmentação e substituição em função do nível da análise do qual ele depende. O sentido de uma unidade é condição fundamental para que ela possa, simultaneamente, integrar um nível superior e distribuir-se no mesmo nível. Ele esclarece que há duas espécies de relações entre as unidades: as relações entre unidades do mesmo nível e as relações entre unidades de nível diferente. Entre as unidades de mesmo nível, as relações são distribucionais; entre as unidades de nível diferente, são integrativas. É nesse contexto que Benveniste acrescenta a discussão em torno das noções de forma e sentido. A forma diz respeito às relações distribucionais e permite reconhecer as unidades como constituintes; o sentido diz respeito às relações integrativas e permite reconhecer as unidades como integrantes. (FLORES et al, idem, p ) 4045
8 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais Esquematicamente, tem-se: Quadro 2: Níveis de Análise Linguística (FLORES et al, idem, p ) Relações distribucionais Relações integrativas Permitem reconhecer unidades constituintes Permitem reconhecer unidades integrantes Forma: capacidade de dissociação Sentido: capacidade de integração Ainda considerando as ideias de Flores et al. (idem), o modo semiótico da língua está ligado ao sistema de signos cuja significação se estabelece intrassistema, mediante distinção; o modo semântico está ligado à atividade do locutor e implica construção de referência e agenciamento sintagmático. Benveniste, na aula 3 de 16 de dezembro de 1968, publicada no livro Ùltimas aulas no Collège de France (2014), afirma que a língua é observada da seguinte maneira: A língua é vista, ao mesmo tempo, como conjunto de signos e como um dos sistemas semiológicos. Assim é definida a estrutura e o pertencimento da língua; sua natureza significante e a dependência em que ela se encontra em relação a outros sistemas de signos, entre os quais toma lugar. A língua, feita de signos, se torna um dos sistemas de signos. Para nós, que nos interessamos pela noção de signo e pela semiologia, trata-se de ver como Saussure a pensou, uma vez aceito que a linguística é um ramo da semiologia geral. (Benveniste, 2014, p. 100) O autor ainda reitera que poderíamos dizer que a língua pertence ao sistema geral da significação, que ela faz parte, enquanto sistema particular mais elaborado, do mundo dos sistemas significantes, cuja característica é a de serem sistemas, de apresentarem significação como distribuída e articulada por 4046
9 Daniele dos Santos Lima, Isabela Barbosa do Rêgo Barros princípios significantes. Há, portanto, uma força original em curso, que opera as grandes separações de unidades, que nos aparecem eternamente divididas, como forma e sentido, significante/significado (BENVENISTE, 2014, p. 119). Ou seja, a língua é articulada pela significação. Forma e sentido estão intimamente ligados, um não anda sem o outro, mas essa ligação não pode ser inteiramente contingente e, se nos aplicamos em descrever atentamente as formas, descobrimos que é o sentido que dá a razão de suas diferenças, até mesmo de suas anomalias. Há, de fato, uma ordem dos signos, essa ordem diferente daquela da natureza ou da racionalidade, mas não sem relação com a substância, ingrediente inseparável do sujeito vivo e do mundo de sua experiência. Não podemos esquecer que o sentido passa sempre por formas. Referente às explicações sobre frase, Benveniste (2005, p ) diz o seguinte: a frase pertence ao discurso, isto é, a frase tem uma predicação. Flores (2013b, p. 135) esclarece esta citação de Benveniste e menciona que há um duplo aspecto na frase: de um lado (o formal), ela é o nível superior da análise, é uma predicação; de outro lado (do sentido) é de limites indefinidos; é o próprio discurso. Em Problemas de Linguística Geral I, no capítulo Os níveis da análise linguística, Benveniste conceitua a frase da seguinte maneira: A frase é uma unidade, na medida em que é um segmento de discurso, e não na medida em que poderia ser distintiva com relação a outras unidades do mesmo nível o que ela não é, como vimos. É porém uma unidade completa, que traz ao mesmo tempo sentido e referência: sentido porque é enformada de significação, e referência porque se refere a uma determinada situação. Os que se comunicam têm justamente isto em comum, uma certa referência de situação, sem a qual a comunicação como tal não se opera, sendo inteligível o sentido mas permanecendo desconhecida a referência. (BENVENISTE, 2005, p ) Stump (2010, p. 5) em seu artigo Saussure e Benveniste: ultrapassagem ou rompimento? questiona como Benveniste trata a questão da referência. Apesar de ele não formular essa pergunta, a autora informa ao leitor utilizando as palavras de Normand (2012 ) que tudo indica que ele respondeu em suas 4047
10 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais análises, levando em conta as particularidades de enunciação de um sujeito na língua. Vale ressaltar que a referência diz respeito a uma determinada situação. Ela não se repete, ou seja, ela é irrepetível. A enunciação e o dialeto Em O aparelho formal da enunciação, artigo publicado na revista Langages em 1970, e reproduzido no PLG II (1989), Émile Benveniste esclarece que: O ato individual pelo qual se utiliza a língua introduz em primeiro lugar o locutor como parâmetro nas condições necessárias da enunciação. Antes da enunciação, a língua não é senão possibilidade da língua. Depois da enunciação, a língua é efetuada em uma instância de discurso, que emana de um locutor, forma sonora que atinge um ouvinte e que suscita uma outra enunciação de retorno. (BENVENISTE, 1989, p ) O autor informa ao leitor de forma concisa que o locutor se apropria do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor por meio de índices específicos 1, de um lado, e por meio de procedimentos acessórios 2, de outro. E mais adiante Benveniste (1989) explica que a partir do momento que ele se declare locutor e assuma a língua, automaticamente ele implica o outro diante de si, qualquer que seja o grau de presença que ele atribua a este outro. Segundo o linguista citado toda enunciação é, explícita ou implicitamente, uma alocução, ela postula um alocutário (BENVENISTE, idem, p. 84). Ou seja, o alocutário se relaciona com o locutor, o sentido do enunciado produzido por um locutor a um alocutário, é a representação da enunciação. Já a referência (o sentido) é parte integrante da enunciação. O que em geral caracteriza a enunciação é a acentuação da relação discursiva com o parceiro, seja este real ou imaginado, 1. Segundo Flores (2013, p. 177) índices específicos são: recursos linguísticos, previstos no aparelho formal da língua, cuja função é colocar o locutor em relação constante e necessária com sua enunciação e que permitem ao locutor enunciar a sua posição de locutor. 2. Para Flores (2013, p. 177) procedimentos acessórios são: recursos linguísticos, previstos no aparelho formal da língua, cuja função é colocar o locutor em relação constante e necessária com a enunciação. São todos os mecanismos linguísticos que, embora não específicos, servem para o locutor enunciar a sua posição. 4048
11 Daniele dos Santos Lima, Isabela Barbosa do Rêgo Barros individual ou coletivo (BENVENISTE, idem, p. 87). É estrutura do diálogo, duas estruturas na posição de parceiros que são alternativamente protagonistas da enunciação. Benveniste afirma ser a enunciação o ato individual de colocar a língua em funcionamento, esse aspecto aproxima em nossas discussões a afirmação do autor à identidade cultural, ao considerar que o sujeito se enuncia ao se apropriar e utilizar o dialeto, tendo em vista a relação estabelecida entre a língua e o sujeito na enunciação. Conforme, Benveniste (2014, p. 103) simplesmente a língua está em toda parte. A consideração é pragmática. Ainda com as palavras do autor: a língua contém a sociedade [...] a sociedade é suscetível como o sujeito se estabelece e se constitui na relação com o outro e com a língua? O sujeito diz a sua identidade cultural através da língua (BENVENISTE, 2006, 97-98)). Freitas (2010) em seu artigo A identidade cultural na interface com os estudos enunciativos e discursivos pontua que ao pensarmos na enunciação de Benveniste, partindo da noção de intersubjetividade, talvez seja possível propor trabalhos relacionados à identidade cultural. Segundo o autor, em princípio, não seria provavelmente o caso de uma análise linguística formal; mas sim, semântica discursiva. Ele acrescenta que se quisermos entender a cultura como a relação entre sujeito, língua e sociedade, temos não só uma mera manifestação discursiva de alguns sujeitos. Temos na verdade, algo que atesta essa relação intricada: está na língua (aqui como discurso) por que está no sujeito, e portanto na sociedade, simultaneamente. O autor sugere outra questão para estudo da identidade cultural: Outra questão pertinente é, já que Benveniste fala em estrutura da língua e da sociedade, discutir se cabe pensarmos os estudos da cultura, ou da identidade mais especificamente, dentro da sugerida metassemântica 3, que ainda não tem seu aparelho de conceitos e definições, mas que pode ser desenvolvido. De antemão, podemos propor que falar de identidade cultural é propor-se como sujeito da cultura na língua (dizer eu sou gaúcho não está em uma relação lógica como mundo organizado geopoliticamente, mas está em uma relação subjetiva com e referencial ao próprio discurso sobre a cultura). (FREITAS, 2014, p. 327) 3. Disciplina que deveria estudar, com base na semântica da enunciação, os textos e as obras. Tal disciplina foi apenas concebida programaticamente por Benveniste (FLORES, 2013, p. 160). 4049
12 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais Ou seja, ao tomar a língua, o sujeito enuncia sua posição com marcas linguísticas específicas (BARBISAN, 2006). Já para Benveniste (1989, p. 93) em seu texto Estrutura da língua e estrutura da sociedade, a sociedade é dada com a linguagem. Assim, cada uma destas duas entidades, linguagem e sociedade, implica a outra. Um exemplo disso são os sotaques, a variação linguística que marcam o sujeito no discurso e indica a sua origem. Para Sá (2013, p.41) a variação linguística pode ocorrer na pronúncia, no vocabulário e na gramática. Porém, ao ser percebida como marca de uma determinada região ou regiões diferentes, pode ser caracterizada como dialeto. Segundo o autor (idem, p. 42) o termo dialeto apareceu no Português Brasileiro em 1920, quando foi publicada a primeira versão do Dialeto Caipira, de Amadeu Amaral. Segundo Cunha e Cintra (2000, p.03) as formas características que uma língua assume regionalmente denomina-se DIALECTOS. No Dicionário de Linguística e Fonética, Crystal (1985, p. 81) diz que: a dialetologia é o estudo sistemático de todas as formas de dialeto, em especial o dialeto regional (por isso, pode ser chamada também de geografia linguística ou geografia dialetal). O autor explica que os estudos da dialetologia se iniciaram no final do século XIX e tomaram a forma de pesquisas detalhadas com o uso de questionários e de entrevistas gravadas. Focalizavam as palavras regionalmente distintas (na Forma, no Sentido ou na Pronúncia). Dialetos falados costumam também ser associados a uma pronúncia característica ou sotaque. Qualquer língua com um número significativo de falantes acabará por ter dialetos, principalmente se houver barreiras geográficas separando os grupos de pessoas ou divisões em classes sociais. [...] O termo dialeto também é aplicado às vezes aos estágios históricos linguisticamente distintos por que uma língua atravessou (podendo ser usadas aqui as expressões dialeto histórico ou temporal. [...] dialeto tem sido igualmente usado para indicar uma linguagem adotada por um grupo profissional específico ( dialeto ocupacional, mas existem termos mais recentes para as variações sociais deste tipo (RE- GISTRO, DIAtipo, VARIANTE). (CRYSTAL, 1985, p ) Cada pessoa fala um ou outro dialeto. Ou seja, a língua pode ser falada de maneiras diferentes pelos indivíduos de variados grupos sociais. 4050
13 Daniele dos Santos Lima, Isabela Barbosa do Rêgo Barros Traços de sujeito e de identidade no dialeto Decidimos investigar os dois dialetos, soteropolitano e recifense, por meio de um confronto não para colocá-los em oposição ou em uma relação de importância, mas para identificar o sentido que as formas dialetais podem trazer para o sujeito que delas fazem uso marcando na língua ao se enunciar no discurso o lugar do sujeito e seus traços de identidade cultural. A ideia de identidade cultural revela um construto de práticas históricas e conjunção/dispersão de discursos sobre a cultura e sobre a identidade. É o sujeito que se encontra marcado na língua ao fazer referência a si e ao seu povo ao utilizar uma forma dialetal no seu discurso. Esclarecemos que o termo dialeto será utilizado neste artigo em consonância com os pesquisadores do projeto ALiB 4, a exemplo de Cardoso (2010, p. 45) para quem a história dos estudos dialetais vem demonstrando que a visão diatópica não tem estado desacompanhada da perspectiva social na construção de uma metodologia a ser seguida pela geolinguística. Para a autora a dialetologia busca estabelecer relações entre modalidades de uso de uma língua. A geografia linguística como método por excelência da dialetologia vai se incumbir de recolher de forma sistemática o testemunho das diferentes realidades dialetais refletidas nos espaços considerados. (idem, p. 46) Selecionamos para este trabalho fragmentos do discurso de quatro informantes, retirados de três perguntas que representam os resultados iniciais da pesquisa realizada no mestrado em Ciências da Linguagem do PPGCL da UNI- CAP. São apresentados dois pares de sujeitos (sexo masculino e feminino) de cada cidade - Recife e de Salvador. As faixas etárias compreendem entre de 18 a 30 e a de 50 a 65; sendo dois informante de nível superior e dois ensino fundamental I incompleto. Seguindo as instruções do ALiB, foram realizadas entrevistas semidirigidas na qual solicitou-se que os sujeitos respondessem questões relativas a classe gra- 4. O Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) tem como objetivo descrever a realidade linguística do Brasil, no que tange à língua portuguesa, com enfoque na identificação das diferenças diatópicas (fônicas, morfossintáticas, léxico-semânticas e prosódicas) consideradas na perspectiva da Geolinguística. (COMITÊ NACIONAL, 2001, p. vii). 4051
14 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais matical dos verbos, uma vez que procuramos trazer os verbos como indicadores de subjetividade. Esses que, para Benveniste (apud FLORES et al, 2009) estão relacionados à dêixis: formas disponíveis na língua cujo emprego remete à enunciação. Seguem as três perguntas selecionadas para este trabalho: 1. Como se chama a ação de copiar do outro na escola no dia da prova? 2. Como se chama o ato de cobrir os livros novos da escola? 3. Como se chama o ato de faltar à escola ou o trabalho? Os sujeitos recifenses entrevistados entenderam a ação de copiar do outro na escola como filar, enquanto para os soteropolitanos essa ação é caracterizada por pescar ou colar. O ato de cobrir os livros novos da escola para os recifenses é encapar e para os soteropolitanos pode ser forrar ou plastificar. É interessante destacar aqui que os fazer as perguntas os informantes ficavam atônitos, pois para eles a resposta é óbvia, ou seja, o semblante deles demonstrava o seguinte: que pergunta fácil!!! Será que é uma pegadinha? Podemos perceber que essa logicidade irracional é o que marca as marcas do sujeito na língua e sua identidade cultural. Quando você pergunta ao baiano o que é filar e ele diz que é faltar o trabalho, isso também é marca do sujeito na língua, no dialeto, pois contrário ao baiano o sujeito pernambucano se marcaria afirmando que filar é copiar na prova. Verificamos que as respostas dos sujeitos estão, em sua maioria, em consonância com o que nos esclarece os dicionários do Pernambuquês, do Baianês e do Nordeste. Para o dicionário Pernambuquês (2002, p. 97) filar é colar, copiar do outro. Ou seja, filar na prova. Mas para o dicionário Baianês (2013) filar é queimar no sentido de faltar à aula ou ao trabalho. Nas entrevistas realizadas foi possível constatar isso, pois no questionário há uma parte que mencionamos uma frase e solicitamos que o informante use o verbo de sua região para que o enunciado tenha sentido. E o sentido do verbo usado pelos falantes das respectivas cidades foram esses citados nos dicionários do Pernambuquês e do Baianês. Já no dicionário do Nordeste (2013, p. 330) filar é copiar (colar) respostas de terceiros, para sair-se melhor numa prova ou teste. Faltar à aula, ao trabalho ou a um compromisso, gazear, gazetear. [origem: variante despalatizada de filhar (conquistar, pilhar, tomar, obter)]. 4052
15 Daniele dos Santos Lima, Isabela Barbosa do Rêgo Barros Dessa maneira, podemos perceber o seguinte: se a enunciação é o ato individual de colocar a língua em funcionamento, quando o sujeito escolhe (porque essa ação na verdade não é uma escolha voluntária, ocorre inconscientemente) um dialeto, no lugar de outra palavra instituída nas gramáticas normativas, se identifica com o dialeto e enuncia marcando seu lugar no tempo e no espaço. Ou seja, a enunciação é irrepetível e acontece no aqui e agora talvez essa característica da enunciação justifica as marcas do sujeito no dialeto, pois aproxima-os de seus pares no tempo e no espaço discursivo. Por outro lado no dicionário de Houaiss (2009, p. 348) filar possui três sentidos diferentes: 1- v. {mod. 1}t.d. sair em retirada; fugir. Seguir (alguém) de modo suspeito. Observar ocultamente; espreitar, vigiar [ORIGEM: do fr. filer da forma de fio, correr em fio] ; 2- v. {mod. 1}t.d. segurar com força segurar; agarrar; conseguir de graça; pedir para não ter que comprar; agarra-se a (presa) fortemente com os dentes [ORIGEM: alt do port. arc. Filhar conquistar, tomar ] ; 3- v. {mod. 1}t.d. instigar um (cão para o ataque, perseguição [ORIGEM: do lat. Fibulãre ou fiblãre prender com fivela. Aqui, podemos perceber cinco formas com sentidos diferentes para a palavra filar. Filar em Salvador pode ter o sentido de filar a comida, ou seja, comer o almoço. Essas considerações tornam-se importantes na medida em que percebemos os diferentes sentidos atribuídos aos verbos, que poderiam modificar o sentido do discurso do sujeito deslocado de seu lugar de origem. Para que o usuário da língua entenda o significado do discurso é necessário compartilhar o mesmo contexto. Essa afirmação coaduna com os comentários sobre os indicadores de subjetividade ou dêixis trazidos por Benveniste: a dêixis é responsável pela conversão do significado do signo no nível semiótico da língua em referência da palavra no nível semântico da língua. (FLORES et al, 2009, p.77) Dessa forma, acreditamos que ao usar o signo filar no sentido de copiar um trabalho, deslocando-o para o nível semântico da palavra atrelada ao contexto discursivo, o sujeito ocupa um lugar em oposição a outros sujeitos, marcando-se subjetivamente de maneira singular no discurso. O ato de cobrir os livros novos da escola é chamado pelos recifenses de encapar e para os soteropolitanos é chamado de forrar ou plastificar. Não encontramos encapar nos dicionários de Pernambuquês e do Nordeste, mas en- 4053
16 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais contramos no dicionário de Baianês da seguinte forma: forrar (o livro) é igual a encapar o livro. No dicionário Houaiss (2009, p. 280) encapar é: v. {mod. 1}t.d revestir com capa (livro, caderno etc./desencapar. Nas entrevistas os sujeitos entrevistados ficaram surpresos com a pergunta, pois para eles a resposta seria instantânea. Isto é, o ato de cobrir os livros novos da escola é: forrar ou plastificar. O interessante é como ficou os semblantes deles, parecia dizer:: você não sabe disso? Para a pergunta Como se chama o ato de faltar a escola ou o trabalho? os recifenses atribuem como significando faltar ou gazear, enquanto os soteropolitanos afirmaram ser faltar ou queimar. Curiosamente, no dicionário de Pernambuquês não encontramos as palavras faltar e gazear, porém no dicionário do Baianês encontramos o significado o signo queimar referente a faltar (queimar o trabalho ou a escola). Isso reforça que a enunciação é o ato individual de colocar a língua em funcionamento, quando o sujeito escolhe um dialeto, marcando seu lugar no tempo e no espaço. Outro fato interessante é que, segundo o dicionário baianês, queimar também pode ter um sentido pejorativo para os soteropolitanos: peidar. Considerado, assim, um tabu linguístico. Para Guérios (1979, p. 5) o tabu linguístico é a proibição de dizer qualquer expressão imoral ou grosseira. Os soteropolitanos têm o hábito de usar na comunicação palavras consideradas tabus linguísticos. Para Houaiss (2009, p. 372) gazear é: v. {mod. 5} t.d. e int. ausentar-se de (aulas, escola, trabalho) para vadiar [ORIGEM: talvez ligado a gazetear]. Já queimar para Houaiss (idem, p. 623) tem o sentido de: v. {mod. 1} destruir pelo fogo; abrasar. Por outro lado, no dicionário do Nordeste não localizamos a palavra gazear e a palavra queimar encontramos com outro sentido N.E. v.t.d e intr.. Errar o passo e provocar bagunça numa dança (pastoril ou quadrilha, por exemplo); v. pron. Bronzear-se, tomar banho de sol. Houaiss já traz uma definição mais formal, literal da palavra queimar. A enunciação não é a língua, e sim aquilo que possibilita o seu emprego, este tornar próprio de si que o locutor opera com a língua. Todo homem se coloca em sua individualidade enquanto eu por oposição a um tu. O ato de discurso que enuncia o eu aparecerá, cada vez que ele é reproduzido, como o mesmo ato para aquele que o entende, mas para aquele que o enuncia, é cada 4054
17 Daniele dos Santos Lima, Isabela Barbosa do Rêgo Barros vez um ato novo, ainda que repetido mil vezes, porque ele realiza a cada vez a inserção do locutor num momento novo do tempo e numa textura diferente de circunstâncias e de discursos. Isto é, Se é isso, o que dizer quando o locutor usa o dialeto? Lembre-se também da relação de subjetividade entre o eu e o tu quando o locutor para a sujeito na enunciação. Quando o eu do teu entrevistado afirma que gazear é isso e não aquilo o que ele diz a você (o tu dele naquela ocasião)? O que ele enuncia? No livro Problema de Linguística Geral II, Benveniste (1989) afirma que no semântico o sentido se realiza na e por uma forma específica, aquela do sintagma, diferentemente do semiótico que se define por uma relação de paradigma. Dessa maneira, no semântico a forma diz respeito à ideia decorrente dessa sintagmatização. Ou seja, no semântico o sentido se realiza formalmente na língua pela escolha, pelo agenciamento de palavras, por sua organização sintática, pela ação que elas exercem umas sobre as outras. Ou seja, quando a perguntamos Como chamamos o ato de cobrir os livros novos da escola ao soteropolitano e recifense as respostas são distintas, pois no semântico a forma diz respeito à ideia de sintagmatização. O termo tempo recobre representações muito diferentes, que são as muitas maneiras de colocar o encadeamento das coisas, em que a língua define o tempo de modo totalmente diferente da reflexão e que somente o verbo permite exprimir o tempo. A língua-discurso constrói uma semântica própria, uma significação intencionada, produzida pela sintagmatização das palavras em que cada palavra não retém senão uma pequena parte do valor que tem enquanto signo. Nesse sistema, apresentado como um âmbito da língua, dão-se as relações intersubjetivas. Assim, entende-se que, com a proposição desse sistema, da enunciação. Definido como atividade do locutor relativa à língua, pressupõe a presença de alocutário, bem como a instalação de tempo e espaço. Considerações finais Podemos verificar através desta discussão a significação da língua, levando em consideração a forma e a identidade cultural, pois o sujeito diz a sua identidade cultural através da língua. Sendo assim, foi discutido o sentido semântico e semiótico da enunciação baseando-se na teoria de Émile Benveniste. 4055
18 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais É perceptível que a significação da língua é um dos problemas mais complexos da Linguística, mas para a teoria da enunciação de Benveniste a significação da língua pode ser observada por meio dos níveis: semântico e semiótico. Para o autor, sentido e forma ainda que noções opostas são tratadas como indissociáveis. O âmbito semiótico define-se pela existência do signo na língua, que depende exclusivamente das relações diferenciais que estabelece no interior do sistema, independente da existência do sujeito e da referência. Por outro lado, no âmbito Semântico a unidade de significação é a Palavra considerada como língua em uso. É a palavra que pode ser agenciada pelo locutor, que pode colocar a língua em funcionamento. Por isso, língua e uso são indissociáveis, isto é, um não existe sem o outro. Referente à identidade cultural podemos analisar este colocar em funcionamento a língua quando o sujeito se apropria e utiliza um dialeto, tendo em vista a relação estabelecida entre a língua e o sujeito na enunciação. Ou seja, ao tomar a língua em seu dialeto, o sujeito enuncia sua posição com marcas linguísticas específicas. Dessa maneira, o sujeito (re)afirma sua identidade cultural. Referências BARBISAN, Leci Borges. O conceito de enunciação em Benveniste e em Ducrot. Letras. n. 33, (Émile Benveniste: interfaces, enunciação e discurso), Santa Maria, RS, jul/dez BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral I. Trad. de Maria da Glória Novak e Maria Luisa Neri. 5. ed. Campinas: Pontes Editores, Problemas de linguística geral II. Trad. Eduardo Guimarães et al. Campinas: Pontes, Ùltimas aulas no Collège de France. Trad. Daniel Costa da Silva et al. São Paulo: Editora Unesp, COMITÊ NACIONAL. Atlas Linguístico do Brasil. Questionários. Londrina: Ed. UEL, 2001 FERRAREZI Jr., Celso.; BASSO, Renato. Semântica, semânticas: uma introdução. São Paulo. Contexto, FLORES, Valdir do Nascimento. In: FERRAREZI Jr., Celso; BASSO, Renato. Semântica, semânticas: uma introdução. São Paulo: Contexto 2013a.. Introdução à teoria enunciativa de Benveniste. São Paulo: Parábola, 2013b.. et al. Dicionário de linguística de enunciação. São Paulo: Contexto, FLORES, Valdir do Nascimento; TEIXEIRA, Marlene. Introdução à linguística da enunciação. 1ª reimp. São Paulo: Contexto,
19 Daniele dos Santos Lima, Isabela Barbosa do Rêgo Barros FREITAS, Luis Felipe Rhoden. A identidade cultural na interface com os estudos enunciativos e discursivos. Anais do SITED, Porto Alegre, RS, p , set GUÉRIOS, Rosário Farâni Mansur. Tabus linguísticos. 2. ed. aum. São Paulo: Ed. Nacional; Curitiba: Ed. Universidade Federal do Paraná, NORMAND, Claudine. Convite à linguística. 1ª. reimp. São Paulo: Contexto, PIRES, Vera Lúcia; DIAS, Ana Beatriz Ferreira. A questão da significação na língua para Benveniste e para Bakhtin: é possível uma aproximação? ReVEL, v. 7, n. 13, p. 1-11, SAUUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, STUMPF, Elisa Marchioro. Saussure e Benveniste: ultrapassagem ou rompimento? ReVEL, v. 8, n. 14, p. 1-12, TROIS, João Fernando de Moraes. O retorno a Saussure de Benveniste: a língua como um sistema de enunciação. Letras de Hoje, Porto Alegre, v.39, n. 4, p , dez
20 RESUMO Cientes de que muitos alunos apresentam dificuldades de leitura, não conseguindo, muitas vezes, atribuir sentido aos textos lidos e defendendo a hipótese de que a inserção de práticas escolares de natureza semântico-pragmáticas pode contribuir para a reversão deste quadro, o presente estudo tem como propósito maior apresentar a relevância de se desenvolver nos alunos a habilidade de fazer inferências, seja por pressuposição (resgate de informações implícitas que podem ser inferidas a partir do que é explicitamente posto, mesmo quando se faz necessário acionar o contexto, assumido como contexto semântico), seja por implicatura (inferência dependente do conhecimento de mundo, ou seja, do contexto pragmático). Pautados na certeza de que o ensino da língua deve ocorrer baseado nos diversos gêneros e que os enunciados expressos em um texto são carregados de informações explícitas e implícitas, escolhemos para nosso estudo a charge, gênero que é produzido para criticar ou satirizar, humoristicamente, um determinado acontecimento político, econômico, social ou histórico. Assim, propomo-nos a: a) analisar as pressuposições e as implicaturas contidas em quatro charges; b) verificar de que modo esses itens influenciam na compreensão dos referidos textos; e, c) refletir como tais conteúdos podem ser abordados em sala de aula. Trata-se, portanto, de um estudo qualitativo realizado à luz dos princípios da Semântica e da Pragmática. Para sua operacionalização, tomamos como base postulados de autores como Ducrot(1987), Ilari e Geraldi(2006) e Moura(2006), Nery(2007), Antunes(2003), Kleiman(2000), entre outros, além de documentos oficiais como os PCN de Língua Portuguesa (1997/2000) e RCEM PB (2006). Os resultados revelam que o reconhecimento das pressuposições e das implicaturas influi diretamente na interpretação dos sentidos veiculados no gênero, o que nos permite ratificar que a abordagem desses aspectos em sala de aula contribui para o aprimoramento das habilidades de leitura e, consequentemente, para o desenvolvimento da competência leitora. Palavras-chave: Charge, Inferências, Semântica, Competência leitora.
21 ÁREA TEMÁTICA - Semântica e ensino O TRABALHO COM O GÊNERO CHARGE: CONTRIBUIÇÕES DA SEMÂNTICA PARA DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA LEITORA Alessandra Magda de Miranda (SEE-PB) Aleise Guimarães Carvalho (SEE-PB) Introdução Partindo do princípio de que o ensino de leitura não deve centrar-se em práticas de decodificação, documentos orientadores da ação docente, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN, 1997/1998) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006), ressaltam a importância de a leitura ser vista como uma prática social, cujo ensino permita o desenvolvimento da criticidade dos educandos. Neste sentido, tais documentos afirmam que, ao trabalhar com a leitura em sala de aula, o professor deve priorizar o trabalho com a reflexão, centrando-se em práticas que possibilitem o desenvolvimento das capacidades de compreensão e interpretação do texto. Para tanto, os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio da Paraíba, (RCEM-PB, 2006), na seção destinada à abordagem de conceitos-chave relevantes no contexto das práticas de linguagem, destacam, dentre os fenômenos textuais e enunciativos importantes para a prática pedagógica, os implícitos e, consequentemente, a habilidade de fazer inferências. Considerando que se pode inferir tanto por pressuposição quanto por implicatura conceitos que serão mais bem abordados mais adiante e corroborando com os documentos supracitados, acreditamos que a inserção de práticas esco- 4059
22 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais lares de natureza semântico-pragmática contribui para o ensino de leitura, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da capacidade de percepção de informações implícitas nos textos. Assim, propomo-nos no presente estudo a: a) analisar as pressuposições e as implicaturas contidas em quatro charges publicadas no último semestre de 2012; b) verificar de que modo as informações implícitas influenciam na compreensão dos referidos textos; e c) refletir como tais conteúdos podem ser abordados em sala de aula durante o ensino da leitura. Sabedores de que o ensino da língua deve ocorrer baseado nos diversos gêneros e que os enunciados expressos em um texto são carregados de informações explícitas e implícitas, escolhemos como corpus para nosso estudo quatro charges, publicadas na internet, no segundo semestre de Como se sabe, tal gênero une elementos verbais e não-verbais e é produzido para criticar ou satirizar humoristicamente um determinado acontecimento político, econômico, social ou histórico. Considerando as peculiaridades do gênero, acreditamos que sua abordagem na sala de aula pode ajudar o professor na realização do trabalho com inferências durante o ensino da leitura. Para realização deste estudo, tomaremos como base os princípios da Semântica e da Pragmática, considerando as contribuições teóricas de Ducrot (1987), Ilari e Geraldi (2006), Moura (2006) e outros que se dedicam aos estudos sobre pressuposição, implicatura e contextos; bem como as orientações contidas nos documentos oficiais a exemplo dos PCN de Língua Portuguesa (1997/1998), OCEM (2006) e RCEM-PB (2006), além de alguns autores em seus postulados a respeito do ensino da língua, especificamente, do ensino de leitura. Nesse sentido, o presente artigo encontra-se organizado em sessões. Na primeira, organizamos algumas reflexões a respeito do ensino da leitura, do trabalho com inferências (pressuposição e implicatura) e da questão dos contextos (semântico e pragmático). Na sessão seguinte, realizamos a análise dos textos, seguida de alguns comentários, ressaltando a importância dos implícitos (pressuposições e implicaturas) para a compreensão das charges. Por fim, encerramos o artigo com algumas reflexões/sugestões de como tais conteúdos podem ser levados para a sala de aula. 4060
23 Alessandra Magda de Miranda, Aleise Guimarães Carvalho Um pouco de teoria Sobre o ensino da leitura Ao refletirmos sobre o ensino de leitura, faz-se necessário esclarecer que aqui tal atividade não se associa às práticas centradas na decodificação, pois pautamo-nos na concepção de que ler é uma atividade de interação entre sujeitos e supõe muito mais que a simples decodificação dos sinais gráficos. O leitor, como um dos sujeitos da interação, atua participativamente, buscando recuperar, interpretar e compreender o conteúdo e as intenções pretendidas pelo autor. (AN- TUNES, 2003, p.64). Nesse sentido e de acordo com os PCN de Língua Portuguesa, é preciso considerar que ler não é extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível proficiência (PCN, 1998, p.69). Em outros termos, podemos dizer que o referido documento postula que o trabalho com a leitura não se reduz ao reconhecimento de palavra e sons, pois consiste numa atividade que está diretamente relacionada com a construção de significados, sendo necessário, portanto, ser concebida como uma prática que leva à compreensão. Neste sentido, Lajolo assevera que Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido do texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significação, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se para esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista (LAJOLO, 1982, p.59). Sob esta perspectiva, percebemos que o ensino da leitura relaciona-se diretamente ao trabalho com a significação (a semântica). Deste modo, ao explorar a leitura em sala de aula, independentemente da série, o professor deve utilizarse de estratégias, a partir das quais os alunos possam compreender os diversos significados veiculados no texto. 4061
24 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais De acordo com os documentos oficiais anteriormente mencionados, ao trabalhar com a leitura, o professor deve realizar atividades que explorem a capacidade dos alunos de construir expectativas sobre os textos e de confirmar/ verificar as hipóteses levantadas e as inferências realizadas ao longo da leitura. Considerando que as inferências podem ser realizadas por procedimentos distintos, o próximo tópico abordará dois processos pelos quais podemos inferir sobre um texto: a pressuposição e a implicatura. Inferências e contextos: entre a semântica e a pragmática Conforme apontamos anteriormente, os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio da Paraíba (RCEM-PB, 2006), na seção destinada à abordagem de conceitos-chave importantes no contexto das práticas de linguagem, destacam os implícitos como um dos fenômenos textuais e enunciativos que devem ser explorados nas aulas de língua materna. Ao abordar tal temática, o documento enfatiza que os alunos podem fazer inferências tanto a partir do contexto, como a partir do conhecimento prévio. No texto, ainda ressalta-se que as informações implícitas podem ser pressupostas ou subentendidas 1. A este respeito, os RCEM-PB esclarecem que as informações pressupostas são ideias não expressas de modo explícito, que decorrem do sentido de certas palavras ou expressões contidas nas frases e as subentendidas são insinuações, não marcadas linguisticamente, contidas em uma frase e ou conjunto de frases (RCEM-PB, 2006, p.28-29). Considerando as peculiaridades dessas duas maneiras de fazer inferências, passemos a uma breve conceituação de cada uma. De acordo com Moura, ao analisarmos sentenças, é possível percebermos dois níveis nas informações veiculadas: no primeiro nível encontramos o posto, informações num plano literal, ou seja, contidas no próprio sentido das palavras (MOURA, 2006, p.12); no outro, encontramos informações que não são afirmadas literalmente, mas inferidas a partir enunciação das sentenças (Op. cit., p.13), ou seja, encontramos o pressuposto. 1. Ao longo do nosso artigo, estas informações subentendidas serão por nós tratadas como Implicaturas, pois tomaremos como base as nomenclaturas utilizadas por Moura (2006). 4062
25 Alessandra Magda de Miranda, Aleise Guimarães Carvalho Para esclarecer tal definição, consideremos a sentença abaixo: (1) João parou de roer unhas. Nela encontramos a informação de que João não rói unhas mais, informação expressa literalmente na sentença, ou seja, informação posta. A partir da enunciação dessa sentença, é possível inferir que João roía unhas antes, e esta é a informação que foi pressuposta. Tal inferência só pode ser realizada porque, na sentença, existe um elemento linguístico (o verbo parar), que ativa a pressuposição. No que se refere às expressões ativadoras (gatilhos) de pressuposição, de acordo com o autor supracitado, fazem parte desse conjunto: as descrições definidas, os verbos factivos, os verbos implicativos, os verbos de mudança de estado, os iterativos, as expressões temporais e as sentenças clivadas. Tendo em vista que só o fato de a sentença apresentar alguma expressão que ative uma pressuposição não é o suficiente para que possamos afirmar que uma determinada inferência constitui uma pressuposição, Frege (1892) apud Koch (2008, P.47) aponta dois testes aos quais a informação pressuposta deve resistir: o da negação e o da interrogação. Assim, ao transformarmos uma sentença em uma negação ou em uma interrogação, a informação pressuposta deve se manter inalterada. Considerando o exemplo (1), vejamos se o pressuposto ora apontado resiste a tais dois testes: Negação de (1): João não parou de roer unhas. Interrogação de (1): João parou de roer unhas? Como é possível perceber, tanto negando quanto interrogando a sentença (1), a informação de que João roía unhas antes é preservada comprovando, assim, que esse pressuposto resiste aos testes de negação e de interrogação. Como afirmam Geraldi e Ilari (2006, p.61), uma oração pressupõe outra quando a verdade e a falsidade da primeira tornam inescapável a verdade da segunda. Complementando a afirmação dos autores, diríamos que não só a verdade e a falsidade, mas também a interrogação da primeira evidencia a verdade da segunda. 4063
26 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais Ainda a respeito da pressuposição, segundo Moura (2006), em alguns casos, para que haja a aceitação/compreensão dos pressupostos de uma sentença é necessário acionar o conhecimento compartilhado, que é formado por um conjunto de proposições 2 que são aceitas tanto pelo falante quanto pelo ouvinte (Op.cit, p.17). Tal conhecimento é considerado, portanto, elemento contextual base para o uso dos pressupostos. Em conformidade com esse autor, este contexto é dinâmico, visto que é alterado/construído ao longo da conversação. Para esclarecer melhor tal questão, o autor postula: a ideia então é que os interlocutores assumem que um conjunto de proposições C= {m,p,q,r} são mutuamente aceitas, e além disso, novas proposições {n,t}, podem ser incorporadas a esse conjunto, na medida em que a conversação avança (Moura, 2006, p.45). Pode-se, então, concluir que ao longo de uma conversação, ao passo que novas sentenças forem proferidas, o contexto vai sendo alterado de modo que novas pressuposições podem ser incorporadas e outras anuladas. Em suma, podemos dizer que a pressuposição é uma inferência linguisticamente marcada, porém sua determinação se faz pelo contexto, ou seja, depende tanto do contexto conversacional quanto do conhecimento compartilhado entre os interlocutores. No que tange à implicatura, Moura (2006, p.13) afirma que se trata de um tipo de inferência pragmática baseada não no sentido literal das palavras, mas naquilo que o locutor pretendeu transmitir ao interlocutor, o que nos faz entender que esse processo de inferência está diretamente relacionado à intenção do locutor. É por tal fato que Ducrot (1987) afirma que o subentendido (implicatura) relaciona-se ao modo como o sentido de um enunciado será decifrado pelo destinatário. Ainda a respeito das informações subentendidas (implicaturas), este autor afirma que elas são insinuações presentes numa frase ou num conjunto de frases que não são marcadas linguisticamente. Nos termos de Santos e Trindade (2009, p.25), nesse processo de inferência não há marcadores linguísticos, e sim lacunas apresentadas a partir do texto que serão preenchidas ou construídas na 2. O autor denomina proposição o conteúdo semântico de uma sentença. 4064
27 Alessandra Magda de Miranda, Aleise Guimarães Carvalho interlocução. Ou seja, são informações que estão nas entrelinhas do enunciado ou que vão além do que foi dito, o que permite que seja possível que o locutor diga algo que não está explicitamente dito no texto. As autoras supracitadas ainda afirmam que esse processo de inferência depende de um conhecimento que vai além do linguístico: os ouvintes percebem as implicaturas porque conhecem o contexto da enunciação e supõem as intenções dos locutores (SANTOS & TRINDADE, 2009, p. 26). Assim, um enunciado como: (2) A porta encontra-se aberta pode apresentar conotações diferentes dependendo da situação em que foi dito. Imaginemos as seguintes situações: A: Em uma sala de aula, um aluno conversa enquanto um professor explica um determinado conteúdo. E esse professor interrompe sua explicação, dirigindo-se ao aluno que conversa e diz (2), certamente esse enunciado significa a solicitação para que o aluno retire-se da sala. B: Estando em casa, a filha vai ao quarto da mãe e bate a porta. A mãe simplesmente enuncia (2), nessa ocasião, tal sentença pode significar tanto a permissão quanto a solicitação/convite para que a filha entre no quarto. Como é possível perceber, (2) assume sentidos diferentes dependendo do contexto em que ocorre. É por isso que Santos e Trindade (2009, p.26) afirmam que na implicatura há lacunas que são apresentadas a partir do texto e que só podem ser preenchidas/construídas na interlocução. O que implica dizer que, nesse processo de inferência, os significados são concluídos por meio de aspectos extratextuais, conclusões formadas por cada leitor. Enfim, diferente da pressuposição, a implicatura não é marcada linguisticamente, mas está implícita na enunciação e é ativada pelo contexto pragmático. 4065
28 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais Processos inferenciais e a compreensão de charges Tendo em vista a existência de diversos gêneros textuais e as especificidades de cada um, neste estudo, tomamos a charge como objeto de nossa pesquisa. Tal gênero consiste em uma produção crítica e artística baseada em um dado momento sócio-histórico-econômico e enquadra-se no grupo dos que fazem uso de recursos linguísticos verbais e visuais. De acordo com Ferraz (2012, p.111), os chargistas utilizam-se, geralmente, de temas atuais, o que faz da charge um texto com prazo de validade (...). No entanto, alguns temas podem ser considerados atemporais, devido à recorrência com a qual são veiculados em nossa sociedade. É devido a essa relação com o tempo da produção que, muitas das vezes, ao lermos uma charge, precisamos ativar o conhecimento de mundo (conhecimento extratextual) para podermos compreendê-la. Com base nesse fato, podemos afirmar que a charge constitui um texto cuja leitura ancora-se num processo de construção de sentidos que vai além do significado das palavras, sendo necessário considerar tanto o que está dito, quanto o que está nas entrelinhas, o que está além do texto. Conforme essa autora, alguns requisitos são necessários para que o leitor compreenda e interprete tal gênero. São eles Conhecimento do tema explorado; conhecimento e reconhecimento do fato político, econômico ou social, ao qual o texto faz referência; reconhecimento, caso haja, da personalidade representada pelo desenho ou caricatura; capacidade de perceber a constituição do sentido através da relação imagem (não-verbal)/enunciado (verbal); leituras que permitam a percepção do fenômeno da intertextualidade, isto é, a relação de um texto com outro(s); e reconhecimento, caso haja, do elemento linguístico posto como gatilho para a compreensão da parte verbal (FERRAZ, op.cit, p ). Considerando que o trabalho com tal gênero e com os processos de inferência (pressuposição e implicatura) podem contribuir para o ensino da leitura, vejamos inicialmente como o reconhecimento das inferências influência na compreensão da charge. 4066
29 Alessandra Magda de Miranda, Aleise Guimarães Carvalho Charge 01: Figura 01: (AMORIM, 2012). Nessa charge, dois personagens dialogam a respeito da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A partir dos elementos visuais, é possível perceber que temos um fiscal de prova e um candidato que está se submetendo ao exame. Considerando que nosso foco é a importância das inferências para a compreensão do texto, vejamos quais informações estão implícitas. A partir do enunciado Ainda não começou?, que representa a fala do fiscal, podemos inferir, por pressuposição (pp), que: pp1: Existe algo a ser feito; pp2: Alguém deveria ter começado a fazer algo e não começou; Ou seja, existe uma prova (o ENEM) pressuposto de existência a qual o aluno/candidato deveria ter começado a fazer, mas não começou. Tal pressuposição é ativada pelo advérbio ainda que foi utilizado como uma expressão temporal. As pressuposições podem ser reiteradas ou anuladas no fluxo da conversação, que devido à introdução de novas proposições podem modificar o contexto. Assim, o enunciado tô esperando aparecer alguém querendo anular a prova 4067
30 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais desse ano, introduzido pelo aluno como resposta à pergunta do fiscal, confirma a informação pressuposta anteriormente e permite que novas inferências sejam realizadas. A princípio, poderíamos dizer que tal enunciado pressupõe que a prova desse ano pode ser anulada por alguém, no entanto, a presença do verbo querer impede que tal inferência seja realizada, pois alguns termos funcionam como bloqueios de pressuposição, como é o caso do verbo em questão. No entanto, a partir desse mesmo enunciado, o leitor, ao ativar seus conhecimentos de mundo, pode inferir por implicatura que provas de anos anteriores foram anuladas. Para confirmação dessa inferência, basta recordar algumas questões extratextuais como, por exemplo, o fato de o exame em questão já ter sido anulado em 2009, devido o vazamento da prova; de, em 2010, ter ocorrido falha na impressão/montagem de algumas provas (as de cor amarela), o que levou a anulação destas; e, em 2011, ter acontecido o vazamento de algumas questões, que acarretou, novamente, na anulação de parte da prova. Considerando que a implicatura diz respeito às informações que o leitor pode depreender a partir do que foi dito, podemos, ainda, inferir que uma das possíveis intenções do locutor tenha sido dizer que, assim como nos anos anteriores, pode ser que aconteça algo que implique na anulação do ENEM de Pode-se subentender, ainda, que, devido às falhas apresentadas em anos anteriores, o exame está perdendo a credibilidade para os candidatos ou que os candidatos não estão levando o exame a sério. Afirmamos, portanto, que uma das finalidades do autor tenha sido chamar a atenção dos órgãos responsáveis pela realização do exame e/ou criticar o desempenho dos mesmos nos anos anteriores, já que a charge em análise foi publicada em outubro de 2012, dias antes da realização do exame. Como é possível perceber, para conduzirmos os alunos a essa conclusão, faz-se necessário considerar o texto como um todo (elementos verbais e visuais), atentando tanto para as questões pertinentes ao contexto semântico e quanto para as cabíveis ao contexto pragmático, uma vez que, se tivéssemos analisado os enunciados descontextualizados, não seria possível realizar tantas inferências e, consequentemente, atribuir significação ao texto. Ressaltamos, ainda, a importância de o texto ser abordado durante o ensino da leitura como uma produção, cuja compreensão requer que se considerem tan- 4068
31 Alessandra Magda de Miranda, Aleise Guimarães Carvalho to os elementos linguísticos, os objetivos de produção, o contexto de circulação, o período de publicação, como as informações compartilhadas, que vão sendo determinadas pelo fluxo conversacional. Charge 02: Figura 02: (ADNAEL, 2012) No segundo texto, ao realizarmos uma análise dos elementos não-verbais, é possível inferir que a charge em questão tem como personagens um casal da zona rural, que sobrevive da agricultura, oriundo provavelmente da região Nordeste. Tais conclusões são possíveis devido à significação atribuída a alguns dos elementos que compõem este texto, como: o céu ensolarado, a ausência de nuvens, o solo seco e o cacto, simbolizando a escassez de chuva, fato comum na região Nordeste; e a casinha de barro, os trajes do casal (roupas simples), a enxada, as partes do esqueleto de um boi, que remetem à zona rural. Nesse sentido, o não verbal permite ao leitor compreender em que contexto os enunciados foram proferidos. 4069
32 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais Partindo desses levantamentos e considerando os elementos verbais, percebemos que a temática abordada no texto em questão é a seca no nordeste, problemática que pode ser considerada atemporal, uma vez que remete tanto à situação atual, como a outros momentos nos quais a referida população passou por grandes períodos de estiagem. No que diz respeito às informações postas e pressupostas, a partir do enunciado do primeiro balão, Sonda descobre evidências da existência de água em Marte!, podemos dizer que no nível do posto, tem-se a descoberta de evidências da existência de água em Marte, e no nível do pressuposto: pp1: Existe uma sonda que investiga/busca a existência de água em Marte; pp2: Não eram conhecidas evidências da existência de água em marte. A pp1 é um pressuposto de existência e a pp2 é ativada pelo verbo factivo descobrir, que sugere que só se descobre algo que existe e que não é/era conhecido até o momento da descoberta. Tal informação, por sua vez, leva o leitor a subentender que se há evidência, pode-se concluir que existe água em marte. Com a inserção de uma nova proposição, Oxe, manda essa bichinha pra cá, percebemos que a informação veiculada nas duas sentenças faz parte do conhecimento compartilhado dos dois personagens, de modo que as informações pressupostas não são alteradas e o leitor é levado a realizar novas inferências. Por exemplo, o verbo mandar utilizado com o sentido de enviar, permite que se pressuponha que pp3: Os personagens do texto em questão não possuem o instrumento (a sonda) que possibilita que evidências da existência de água, na região, sejam encontradas. Ainda é possível inferir, por implicatura, que o casal representado no texto está à procura de água ou que os personagens da referida situação têm interesse em um equipamento que os ajude na busca pela água ou, então, que eles sofrem com a falta de chuva (estiagem) e, por isso, necessitam de um equipamento que os ajude a encontrar água na região. 4070
33 Alessandra Magda de Miranda, Aleise Guimarães Carvalho Com base nessa análise, evidenciamos que o processo de leitura e compreensão de texto revela a necessidade de o professor, ao realizar o ensino da leitura, explorar o trabalho com as inferências, induzindo o aluno a perceber a necessidade de considerar o texto como um todo, composto por imagens e palavras, cuja compreensão só é possível a partir do momento em que elementos linguísticos e extralinguísticos são igualmente considerados e analisados. Fato que ocorre também no texto 03. Charge 03: Figura 03: Texto 03 (DUKE, 2012) Considerando inicialmente os elementos verbais dessa charge, temos o enunciado Prepare-se!!! Vem vindo mais um com cara de indeciso!!!. A partir da expressão mais um é possível inferir, por pressuposição, que pp1: Existem pessoas com cara de indecisas; pp2: Já vieram (passaram por aquele lugar) outras pessoas com caras de indecisas. 4071
34 Anais Eletrônicos VI ECLAE / Comunicações Individuais Partindo para a análise desse enunciado juntamente com os elementos nãoverbais, é possível perceber que a charge tem como temática a política/as eleições. Tendo em vista tal fato, é possível inferir por implicatura que o alvo dos políticos são os eleitores indecisos e que muitos eleitores indecisos já foram pegos pelos políticos. Assim, a partir do nosso conhecimento de mundo, é possível subentender que, nesse texto, a corda e marreta que servem para amarrar e calar os eleitores representam, metaforicamente, a compra de votos que ocorre no período das eleições. Desse modo, pode-se dizer que a intenção do chargista foi tanto criticar os políticos, por se aproveitar dos eleitores indecisos; como alertar os eleitores sobre a conduta dos possíveis representantes da população. Conclusão a qual só se chega quando analisamos a intersecção dos elementos verbais e visuais que compõem o texto e com a ativação dos conhecimentos extralinguísticos que nos permitem levantar hipóteses a respeito das pretensões do chargista ao abordar a temática em questão. Charge 04: Figura 04: Texto 04 (2012) 4072
Daniele dos Santos Lima (UNICAP) 1 INTRODUÇÃO
 ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS NA FALA DE PERNAMBUCO E DA BAHIA: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE À LUZ DA DIALETOLOGIA E DA TEORIA DA ENUNCIAÇÃO DE ÉMILE BENVENISTE Daniele dos Santos Lima (UNICAP) danlima02@hotmail.com
ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS NA FALA DE PERNAMBUCO E DA BAHIA: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE À LUZ DA DIALETOLOGIA E DA TEORIA DA ENUNCIAÇÃO DE ÉMILE BENVENISTE Daniele dos Santos Lima (UNICAP) danlima02@hotmail.com
RELAÇÕES%DE%PRESSUPOSIÇÃO%E%ACARRETAMENTO%NA%COMPREENSÃO% DE%TEXTOS% PRESUPPOSITION%AND%ENTAILMENT%RELATIONS%IN%TEXT% COMPREHENSION%
 RELAÇÕESDEPRESSUPOSIÇÃOEACARRETAMENTONACOMPREENSÃO DETEXTOS PRESUPPOSITIONANDENTAILMENTRELATIONSINTEXT COMPREHENSION KarinaHufdosReis 1 RESUMO: Partindo das definições de pressuposição e acarretamento,
RELAÇÕESDEPRESSUPOSIÇÃOEACARRETAMENTONACOMPREENSÃO DETEXTOS PRESUPPOSITIONANDENTAILMENTRELATIONSINTEXT COMPREHENSION KarinaHufdosReis 1 RESUMO: Partindo das definições de pressuposição e acarretamento,
ORDENAÇÃO DOS ADVÉRBIOS MODALIZADORES EM ENTREVISTAS VEICULADAS PELA REVISTA VEJA
 73 de 119 ORDENAÇÃO DOS ADVÉRBIOS MODALIZADORES EM ENTREVISTAS VEICULADAS PELA REVISTA VEJA Marivone Borges de Araújo Batista* (UESB) (UESC) Gessilene Silveira Kanthack** (UESC) RESUMO: Partindo da análise
73 de 119 ORDENAÇÃO DOS ADVÉRBIOS MODALIZADORES EM ENTREVISTAS VEICULADAS PELA REVISTA VEJA Marivone Borges de Araújo Batista* (UESB) (UESC) Gessilene Silveira Kanthack** (UESC) RESUMO: Partindo da análise
Palavras-Chave: Gênero Textual. Atendimento Educacional Especializado. Inclusão.
 O GÊNERO TEXTUAL BILHETE COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E DA ESCRITA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UMA EXPERIÊNCIA NA APAE BELÉM Albéria Xavier de Souza Villaça 1 Bruna
O GÊNERO TEXTUAL BILHETE COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E DA ESCRITA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UMA EXPERIÊNCIA NA APAE BELÉM Albéria Xavier de Souza Villaça 1 Bruna
INTRODUÇÃO À ANÁLISE DO(S)/DE DISCURSO(S) UNEB Teorias do signo Lidiane Pinheiro
 INTRODUÇÃO À ANÁLISE DO(S)/DE DISCURSO(S) UNEB Teorias do signo Lidiane Pinheiro PARA ALÉM DA FRASE Ex.: Aluga-se quartos FRASE mensagem significado TEXTO/ discurso sentido ENUNCIADO Traços de condições
INTRODUÇÃO À ANÁLISE DO(S)/DE DISCURSO(S) UNEB Teorias do signo Lidiane Pinheiro PARA ALÉM DA FRASE Ex.: Aluga-se quartos FRASE mensagem significado TEXTO/ discurso sentido ENUNCIADO Traços de condições
ENSINO DE GRAMÁTICA: A PRÁXIS DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
 ENSINO DE GRAMÁTICA: A PRÁXIS DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA Sueilton Junior Braz de Lima Graduando da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) Josefa Lidianne de Paiva
ENSINO DE GRAMÁTICA: A PRÁXIS DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA Sueilton Junior Braz de Lima Graduando da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) Josefa Lidianne de Paiva
A IMPORTÂNCIA DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE GÊNEROS
 A IMPORTÂNCIA DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE GÊNEROS Autora: Maria Karolina Regis da Silva Universidade Federal da Paraíba UFPB karolina0715@hotmail.com Resumo: A ideia de apresentar diversos
A IMPORTÂNCIA DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE GÊNEROS Autora: Maria Karolina Regis da Silva Universidade Federal da Paraíba UFPB karolina0715@hotmail.com Resumo: A ideia de apresentar diversos
CRENÇAS QUE ALUNOS DE LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS MANIFESTAM A RESPEITO DO PAPEL DA GRAMÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
 CRENÇAS QUE ALUNOS DE LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS MANIFESTAM A RESPEITO DO PAPEL DA GRAMÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Maria Avelino de Araujo (BIC/ARAUCÁRIA), Letícia Fraga (Orientadora), e- mail: leticiafraga@gmail.com
CRENÇAS QUE ALUNOS DE LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS MANIFESTAM A RESPEITO DO PAPEL DA GRAMÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Maria Avelino de Araujo (BIC/ARAUCÁRIA), Letícia Fraga (Orientadora), e- mail: leticiafraga@gmail.com
AULA DE LITERATURA NAS ESCOLAS PÚBLICAS: UM DESAFIO A SER SUPERADO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 AULA DE LITERATURA NAS ESCOLAS PÚBLICAS: UM DESAFIO A SER SUPERADO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA Jobson Soares da Silva (UEPB) jobsonsoares@live.com Auricélia Fernandes de Brito (UEPB) auriceliafernandes@outlook.com
AULA DE LITERATURA NAS ESCOLAS PÚBLICAS: UM DESAFIO A SER SUPERADO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA Jobson Soares da Silva (UEPB) jobsonsoares@live.com Auricélia Fernandes de Brito (UEPB) auriceliafernandes@outlook.com
OS ESTUDOS DA ENUNCIAÇÃO E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS
 OS ESTUDOS DA ENUNCIAÇÃO E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS Kelly C. Granzotto Werner kcgbr@yahoo.com.br RESUMO Este trabalho apresenta algumas reflexões a respeito de como os estudos da enunciação,
OS ESTUDOS DA ENUNCIAÇÃO E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS Kelly C. Granzotto Werner kcgbr@yahoo.com.br RESUMO Este trabalho apresenta algumas reflexões a respeito de como os estudos da enunciação,
IX SEMINÁRIO DE PESQUISA E ESTUDOS LINGUÍSTICOS 21 e 22 de setembro de 2017
 Página 383 de 492 SEMÂNTICA E SEMÂNTICAS: COMO TEORIAS DIVERSAS DA SIGINIFICAÇÃO ANALISAM/INTERPRETAM UM TEXTO LITERÁRIO DE CORDEL Sheila Ferreira dos Santos (UESB/PPGLIN) Jorge Viana Santos (UESB) RESUMO
Página 383 de 492 SEMÂNTICA E SEMÂNTICAS: COMO TEORIAS DIVERSAS DA SIGINIFICAÇÃO ANALISAM/INTERPRETAM UM TEXTO LITERÁRIO DE CORDEL Sheila Ferreira dos Santos (UESB/PPGLIN) Jorge Viana Santos (UESB) RESUMO
Koch, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997, 124 p.
 Koch, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997, 124 p. Resenhado por: Adriana Sidralle Rolim O texto e a construção dos sentidos é um livro que aborda questões referentes ao
Koch, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997, 124 p. Resenhado por: Adriana Sidralle Rolim O texto e a construção dos sentidos é um livro que aborda questões referentes ao
Rebak 1 : A alteridade pelo viés dialógico e a prática de escrita do aluno
 Rebak 1 : A alteridade pelo viés dialógico e a prática de escrita do aluno Viviane Letícia Silva Carrijo 2 O eu pode realizar-se verbalmente apenas sobre a base do nós. BAKHTIN/VOLOSHINOV (1926) Bakhtin
Rebak 1 : A alteridade pelo viés dialógico e a prática de escrita do aluno Viviane Letícia Silva Carrijo 2 O eu pode realizar-se verbalmente apenas sobre a base do nós. BAKHTIN/VOLOSHINOV (1926) Bakhtin
DEPARTAMENTO DE ARTES E LIBRAS LETRAS LIBRAS EAD PLANO DE ENSINO
 DEPARTAMENTO DE ARTES E LIBRAS LETRAS LIBRAS EAD PLANO DE ENSINO 2016.2 CÓDIGO DA DISCIPLINA: LLV9108 equivalente a LSB7303 DISCIPLINA: Semântica e Pragmática HORAS/AULA SEMANAL: 4 horas/aula TOTAL DE
DEPARTAMENTO DE ARTES E LIBRAS LETRAS LIBRAS EAD PLANO DE ENSINO 2016.2 CÓDIGO DA DISCIPLINA: LLV9108 equivalente a LSB7303 DISCIPLINA: Semântica e Pragmática HORAS/AULA SEMANAL: 4 horas/aula TOTAL DE
Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: ( X ) Resumo ( ) Relato de Caso
 Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: ( X ) Resumo ( ) Relato de Caso Desvelando o texto: o trabalho com implícitos em anúncios publicitários AUTOR PRINCIPAL: Sabrina Zamin Vieira CO-AUTORES:
Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: ( X ) Resumo ( ) Relato de Caso Desvelando o texto: o trabalho com implícitos em anúncios publicitários AUTOR PRINCIPAL: Sabrina Zamin Vieira CO-AUTORES:
A RELAÇÃO ENTRE ATOS DE FALA E PROSÓDIA
 247 de 665 A RELAÇÃO ENTRE ATOS DE FALA E PROSÓDIA Polliana Teixeira Alves (UESB) Vera Pacheco (UESB) Alcione Santos (UESB) RESUMO Nas mais variadas situações de comunicação, nas quais se realizam os atos
247 de 665 A RELAÇÃO ENTRE ATOS DE FALA E PROSÓDIA Polliana Teixeira Alves (UESB) Vera Pacheco (UESB) Alcione Santos (UESB) RESUMO Nas mais variadas situações de comunicação, nas quais se realizam os atos
A ORALIDADE E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
 A ORALIDADE E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Maria de Fátima de Souza Aquino (UEPB) 1. Introdução Nas últimas décadas os estudos sobre a oralidade têm avançado significativamente,
A ORALIDADE E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Maria de Fátima de Souza Aquino (UEPB) 1. Introdução Nas últimas décadas os estudos sobre a oralidade têm avançado significativamente,
Conteúdos e Didática de Língua Portuguesa e Literatura
 Conteúdos e Didática de Língua Portuguesa e Literatura Professor autor: Juvenal Zanchetta Junior Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Letras de Assis - UNESP Professores assistentes: João
Conteúdos e Didática de Língua Portuguesa e Literatura Professor autor: Juvenal Zanchetta Junior Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Letras de Assis - UNESP Professores assistentes: João
O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM TURMAS DA EJA: A UTILIZAÇÃO DE CHARGES COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE INGLÊS COMO UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA
 O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM TURMAS DA EJA: A UTILIZAÇÃO DE CHARGES COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE INGLÊS COMO UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA Clara Mayara de Almeida Vasconcelos Universidade Estadual da Paraíba
O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA EM TURMAS DA EJA: A UTILIZAÇÃO DE CHARGES COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE INGLÊS COMO UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA Clara Mayara de Almeida Vasconcelos Universidade Estadual da Paraíba
MICROLINGUÍSTICA 1 : UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA. Miguel Eugênio ALMEIDA (UEMS)
 MICROLINGUÍSTICA 1 : UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA Miguel Eugênio ALMEIDA (UEMS) O estudo microlinguístico da língua compreende basicamente a busca dos elementos dos mecanismos internos dessa língua, ou conforme
MICROLINGUÍSTICA 1 : UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA Miguel Eugênio ALMEIDA (UEMS) O estudo microlinguístico da língua compreende basicamente a busca dos elementos dos mecanismos internos dessa língua, ou conforme
DACEX CTCOM Disciplina: Análise do Discurso. Profa. Dr. Carolina Mandaji
 DACEX CTCOM Disciplina: Análise do Discurso cfernandes@utfpr.edu.br Profa. Dr. Carolina Mandaji Análise do Discurso Fernanda Mussalim Objetivos da aula DISCURSO IDEOLOGIA SUJEITO SENTIDO Teoria da Análise
DACEX CTCOM Disciplina: Análise do Discurso cfernandes@utfpr.edu.br Profa. Dr. Carolina Mandaji Análise do Discurso Fernanda Mussalim Objetivos da aula DISCURSO IDEOLOGIA SUJEITO SENTIDO Teoria da Análise
O TRABALHO DO PROFESSOR COMO AGENTE LETRADOR EM TURMAS DO 6 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 O TRABALHO DO PROFESSOR COMO AGENTE LETRADOR EM TURMAS DO 6 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Flávia Campos Cardozo (UFRRJ) Marli Hermenegilda Pereira (UFRRJ) Thatiana do Santos Nascimento Imenes (UFRRJ) RESUMO
O TRABALHO DO PROFESSOR COMO AGENTE LETRADOR EM TURMAS DO 6 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Flávia Campos Cardozo (UFRRJ) Marli Hermenegilda Pereira (UFRRJ) Thatiana do Santos Nascimento Imenes (UFRRJ) RESUMO
SANTOS, Leonor Werneck. RICHE, Rosa Cuba. TEIXEIRA, Claudia Souza. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012.
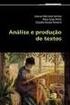 Resenhas 112 SANTOS, Leonor Werneck. RICHE, Rosa Cuba. TEIXEIRA, Claudia Souza. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012. Fernanda Cristina Ferreira* nandacferreira@hotmail.coml * Aluna
Resenhas 112 SANTOS, Leonor Werneck. RICHE, Rosa Cuba. TEIXEIRA, Claudia Souza. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012. Fernanda Cristina Ferreira* nandacferreira@hotmail.coml * Aluna
ANÁLISE DESCRITIVA DOS ASPECTOS SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS QUE PREJUDICAM A INTERCOMPREENSÃO DOS ALUNOS TIMORENSES DA UNILAB
 ANÁLISE DESCRITIVA DOS ASPECTOS SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS QUE PREJUDICAM A INTERCOMPREENSÃO DOS ALUNOS TIMORENSES DA UNILAB Marlene Arminda Quaresma JosÉ 1, Claúdia Ramos Carioca 2 RESUMO A maioria dos estudantes
ANÁLISE DESCRITIVA DOS ASPECTOS SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS QUE PREJUDICAM A INTERCOMPREENSÃO DOS ALUNOS TIMORENSES DA UNILAB Marlene Arminda Quaresma JosÉ 1, Claúdia Ramos Carioca 2 RESUMO A maioria dos estudantes
ENSINO DE LÍNGUA E ANÁLISE LINGUÍSTICA: PRESCRUTANDO OS DOCUMENTOS OFICIAIS
 ENSINO DE LÍNGUA E ANÁLISE LINGUÍSTICA: PRESCRUTANDO OS DOCUMENTOS OFICIAIS Maria Eliane Gomes Morais (PPGFP-UEPB) lia_morais.jta@hotmail.com Linduarte Pereira Rodrigues (DLA/PPGFP-UEPB) linduarte.rodrigues@bol.com.br
ENSINO DE LÍNGUA E ANÁLISE LINGUÍSTICA: PRESCRUTANDO OS DOCUMENTOS OFICIAIS Maria Eliane Gomes Morais (PPGFP-UEPB) lia_morais.jta@hotmail.com Linduarte Pereira Rodrigues (DLA/PPGFP-UEPB) linduarte.rodrigues@bol.com.br
IV SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS
 351 de 368 ENSINO/APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS GRAMATICAIS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DA LÍNGUA MATERNA Elane Nardotto Rios Universidade
351 de 368 ENSINO/APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS GRAMATICAIS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DA LÍNGUA MATERNA Elane Nardotto Rios Universidade
O GÊNERO FÁBULA E VALORES HUMANOS
 O GÊNERO FÁBULA E VALORES HUMANOS INTRODUÇÃO Este plano foi criado para trabalhar com uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental, com alunos que possuem em torno de 7 a 8 anos de idade, para que se aprofundem
O GÊNERO FÁBULA E VALORES HUMANOS INTRODUÇÃO Este plano foi criado para trabalhar com uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental, com alunos que possuem em torno de 7 a 8 anos de idade, para que se aprofundem
Descrição da Escala Língua Portuguesa - 7 o ano EF
 Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 150 identificam a finalidade de produção do texto, com auxílio de elementos não verbais e das informações explícitas presentes em seu título, em cartaz de propaganda
Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 150 identificam a finalidade de produção do texto, com auxílio de elementos não verbais e das informações explícitas presentes em seu título, em cartaz de propaganda
DAS CRÍTICAS E CONTRIBUIÕES LINGUÍSTICAS. Por Claudio Alves BENASSI
 DAS CRÍTICAS E CONTRIBUIÕES LINGUÍSTICAS Por Claudio Alves BENASSI omo vimos anteriormente, em relação ao uso que o sujeito com C surdez faz da modalidade escrita do surdo, o recurso didático Números Semânticos
DAS CRÍTICAS E CONTRIBUIÕES LINGUÍSTICAS Por Claudio Alves BENASSI omo vimos anteriormente, em relação ao uso que o sujeito com C surdez faz da modalidade escrita do surdo, o recurso didático Números Semânticos
PÊCHEUX E A PLURIVOCIDADE DOS SENTIDOS 1
 1 PÊCHEUX E A PLURIVOCIDADE DOS SENTIDOS 1 Silmara Cristina DELA-SILVA Universidade Estadual Paulista (Unesp)... as palavras, expressões, proposições etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas
1 PÊCHEUX E A PLURIVOCIDADE DOS SENTIDOS 1 Silmara Cristina DELA-SILVA Universidade Estadual Paulista (Unesp)... as palavras, expressões, proposições etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas
ESTUDO DA LINGUÍSTICA CONTEMPORÂNEA: A ENUNCIAÇÃO A PARTIR DE DOIS OLHARES ESTRUTURALISTAS
 ESTUDO DA LINGUÍSTICA CONTEMPORÂNEA: A ENUNCIAÇÃO A PARTIR DE DOIS OLHARES ESTRUTURALISTAS Giovana Reis LUNARDI Universidade de Passo Fundo RESUMO: A proposta deste artigo visa à compreensão do conceito
ESTUDO DA LINGUÍSTICA CONTEMPORÂNEA: A ENUNCIAÇÃO A PARTIR DE DOIS OLHARES ESTRUTURALISTAS Giovana Reis LUNARDI Universidade de Passo Fundo RESUMO: A proposta deste artigo visa à compreensão do conceito
APONTAMENTOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA EM RESENHAS ACADÊMICAS
 221 de 297 APONTAMENTOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA EM RESENHAS ACADÊMICAS Carla da Silva Lima (UESB) RESUMO Inscrito no campo teórico da Análise do Discurso francesa, o objetivo deste trabalho é defender
221 de 297 APONTAMENTOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA EM RESENHAS ACADÊMICAS Carla da Silva Lima (UESB) RESUMO Inscrito no campo teórico da Análise do Discurso francesa, o objetivo deste trabalho é defender
Questões sobre a frase na obra de Émile Benveniste
 51 Questões sobre a frase na obra de Émile Benveniste 1 Resumo: O objetivo desse artigo é mostrar que noções podem estar imbricadas para que se entenda o termo frase na obra de Émile Benveniste (1974/2006,
51 Questões sobre a frase na obra de Émile Benveniste 1 Resumo: O objetivo desse artigo é mostrar que noções podem estar imbricadas para que se entenda o termo frase na obra de Émile Benveniste (1974/2006,
PERSPECTIVAS PARA O PLANEJAMENTO DE ESCRITA Autor1: Jeyza Andrade de Medeiros. Modalidade: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
 PERSPECTIVAS PARA O PLANEJAMENTO DE ESCRITA Autor1: Jeyza Andrade de Medeiros Modalidade: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA RESUMO Neste trabalho, temos por tema o estudo do planejamento de escrita e estabelecemos
PERSPECTIVAS PARA O PLANEJAMENTO DE ESCRITA Autor1: Jeyza Andrade de Medeiros Modalidade: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA RESUMO Neste trabalho, temos por tema o estudo do planejamento de escrita e estabelecemos
Descrição da Escala Língua Portuguesa - 7 o ano EF
 Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 150 identificam a finalidade de produção do texto, com auxílio de elementos não verbais e das informações explícitas presentes em seu título, em cartaz de propaganda
Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 150 identificam a finalidade de produção do texto, com auxílio de elementos não verbais e das informações explícitas presentes em seu título, em cartaz de propaganda
O QUE É O NORMAL E O QUE É PATÓLÓGICO NA FALA? UMA REFLEXÃO LINGUÍSTICA
 VI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 35 de 119 O QUE É O NORMAL E O QUE É PATÓLÓGICO NA FALA? UMA REFLEXÃO LINGUÍSTICA Emanuelle de Souza S. Almeida (UESB) Ivone Panhoca ** (PUCCamp) RESUMO:
VI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 35 de 119 O QUE É O NORMAL E O QUE É PATÓLÓGICO NA FALA? UMA REFLEXÃO LINGUÍSTICA Emanuelle de Souza S. Almeida (UESB) Ivone Panhoca ** (PUCCamp) RESUMO:
INTRODUÇÃO. ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) Nível A2
 APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) Nível A2 INTRODUÇÃO O Português Língua Não Materna (PLNM) constitui uma componente
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) Nível A2 INTRODUÇÃO O Português Língua Não Materna (PLNM) constitui uma componente
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
 APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS JULHO DE 2018 ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) Nível A2 INTRODUÇÃO O Português Língua Não Materna (PLNM)
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS JULHO DE 2018 ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) Nível A2 INTRODUÇÃO O Português Língua Não Materna (PLNM)
DO RECURSO DIDÁTICO NÚMEROS SEMÂNTICOS E SUA APLICABILIDADE. Por Claudio Alves BENASSI
 1 DO RECURSO DIDÁTICO NÚMEROS SEMÂNTICOS E SUA APLICABILIDADE Por Claudio Alves BENASSI D uarte, pesquisador da linguística da Língua Brasileira de Sinais, dá uma importante contribuição para o avanço
1 DO RECURSO DIDÁTICO NÚMEROS SEMÂNTICOS E SUA APLICABILIDADE Por Claudio Alves BENASSI D uarte, pesquisador da linguística da Língua Brasileira de Sinais, dá uma importante contribuição para o avanço
MÉTODOS INTERDISCIPLINARES APROXIMANDO SABERES MATEMÁTICOS E GEOGRÁFICOS
 MÉTODOS INTERDISCIPLINARES APROXIMANDO SABERES MATEMÁTICOS E GEOGRÁFICOS Celso Gomes Ferreira Neto, Universidade Estadual da Paraíba - UEPB Profª. Drª. Filomena Maria G. S. Cordeiro Moita, Universidade
MÉTODOS INTERDISCIPLINARES APROXIMANDO SABERES MATEMÁTICOS E GEOGRÁFICOS Celso Gomes Ferreira Neto, Universidade Estadual da Paraíba - UEPB Profª. Drª. Filomena Maria G. S. Cordeiro Moita, Universidade
GUIMARÃES, Eduardo. História da Semântica. Sujeito, Sentido e Gramática no Brasil. Campinas, Pontes, 2004, 142 p. Maurício da Silva *
 GUIMARÃES, Eduardo. História da Semântica. Sujeito, Sentido e Gramática no Brasil. Campinas, Pontes, 2004, 142 p. Maurício da Silva * Os estudos acerca da significação, no Brasil, são pode-se dizer tardios,
GUIMARÃES, Eduardo. História da Semântica. Sujeito, Sentido e Gramática no Brasil. Campinas, Pontes, 2004, 142 p. Maurício da Silva * Os estudos acerca da significação, no Brasil, são pode-se dizer tardios,
CRIAÇÃO LEXICAL: O USO DE NEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS FALADO EM DOURADOS
 CRIAÇÃO LEXICAL: O USO DE NEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS FALADO EM DOURADOS Paulo Gerson Rodrigues Stefanello ¹; Elza Sabino da Silva Bueno². ¹Aluno do 4º ano do Curso de Letras Português/Espanhol. Bolsista
CRIAÇÃO LEXICAL: O USO DE NEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS FALADO EM DOURADOS Paulo Gerson Rodrigues Stefanello ¹; Elza Sabino da Silva Bueno². ¹Aluno do 4º ano do Curso de Letras Português/Espanhol. Bolsista
Questões-chave da lingüística da enunciação A lingüística da enunciação constitui um campo científico de estudos?...
 Sumário Apresentação... 7 Por que um livro sobre enunciação?... 11 O primeiro pós-saussuriano: Charles Bally... 15 O lingüista da comunicação: Roman Jakobson... 21 A lingüística comporta a enunciação:
Sumário Apresentação... 7 Por que um livro sobre enunciação?... 11 O primeiro pós-saussuriano: Charles Bally... 15 O lingüista da comunicação: Roman Jakobson... 21 A lingüística comporta a enunciação:
IMPLICAÇÕES SEMÂNTICA AULA 02 SAULO SANTOS
 IMPLICAÇÕES SEMÂNTICA AULA 02 SAULO SANTOS PROGRAMA DA AULA 1. Semântica vs. Pragmática 2. Implicações 3. Acarretamento 4. Pressuposições 1. SEMÂNTICA VS. PRAGMÁTICA (1) Qual é o objeto de estudo da Semântica?
IMPLICAÇÕES SEMÂNTICA AULA 02 SAULO SANTOS PROGRAMA DA AULA 1. Semântica vs. Pragmática 2. Implicações 3. Acarretamento 4. Pressuposições 1. SEMÂNTICA VS. PRAGMÁTICA (1) Qual é o objeto de estudo da Semântica?
ENSINO DE HISTÓRIA: UM ESTUDO DESCRITIVO DA LEITURA E DA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
 ENSINO DE HISTÓRIA: UM ESTUDO DESCRITIVO DA LEITURA E DA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL Isabel Rodrigues Diniz Graduanda em História pelo PARFOR da E-mail: eldinhasoares@hotmail.com José
ENSINO DE HISTÓRIA: UM ESTUDO DESCRITIVO DA LEITURA E DA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL Isabel Rodrigues Diniz Graduanda em História pelo PARFOR da E-mail: eldinhasoares@hotmail.com José
COMPORTAMENTOS LEITORES E COMPORTAMENTOS ESCRITORES
 COMPORTAMENTOS LEITORES E COMPORTAMENTOS ESCRITORES Aula 4 META Apresentar os comportamentos leitores e escritores como conteúdos das aulas sobre gêneros textuais. OBJETIVOS Ao fi nal desta aula, o aluno
COMPORTAMENTOS LEITORES E COMPORTAMENTOS ESCRITORES Aula 4 META Apresentar os comportamentos leitores e escritores como conteúdos das aulas sobre gêneros textuais. OBJETIVOS Ao fi nal desta aula, o aluno
A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DA ESCRITA COMO PROCESSO COGNITIVO
 A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DA ESCRITA COMO PROCESSO COGNITIVO SILVIA FERNANDES DE OLIVEIRA 1 INTRODUÇÃO Este projeto pretende enfocar a especificidade da construção do sistema da escrita como processo cognitivo.
A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DA ESCRITA COMO PROCESSO COGNITIVO SILVIA FERNANDES DE OLIVEIRA 1 INTRODUÇÃO Este projeto pretende enfocar a especificidade da construção do sistema da escrita como processo cognitivo.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL IV SEAD - SEMINÁRIO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DO DISCURSO 1969-2009: Memória e história na/da Análise do Discurso Porto Alegre, de 10 a 13 de novembro de 2009 RELAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL IV SEAD - SEMINÁRIO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DO DISCURSO 1969-2009: Memória e história na/da Análise do Discurso Porto Alegre, de 10 a 13 de novembro de 2009 RELAÇÃO
UMA NOÇÃO DE TEXTO. por Gabriele de Souza e Castro Schumm
 ARTIGO UMA NOÇÃO DE TEXTO por Gabriele de Souza e Castro Schumm Profa. Dra. Gabriele Schumm, graduada e doutora em Linguística pela Unicamp, é professora do curso de Licenciatura em Letras do Centro Universitário
ARTIGO UMA NOÇÃO DE TEXTO por Gabriele de Souza e Castro Schumm Profa. Dra. Gabriele Schumm, graduada e doutora em Linguística pela Unicamp, é professora do curso de Licenciatura em Letras do Centro Universitário
ELEMENTOS DÊITICOS EM NARRATIVAS EM LIBRAS 43
 Página 111 de 315 ELEMENTOS DÊITICOS EM NARRATIVAS EM LIBRAS 43 Lizandra Caires do Prado 44 (UESB) Adriana Stella Cardoso Lessa-de-Oliveira 45 (UESB) RESUMO Este estudo objetiva investigar a dêixis em
Página 111 de 315 ELEMENTOS DÊITICOS EM NARRATIVAS EM LIBRAS 43 Lizandra Caires do Prado 44 (UESB) Adriana Stella Cardoso Lessa-de-Oliveira 45 (UESB) RESUMO Este estudo objetiva investigar a dêixis em
A ORGANIZAÇÃO DOS DESCRITORES NA PROVINHA BRASIL
 00604 Resumo A ORGANIZAÇÃO DOS DESCRITORES NA PROVINHA BRASIL Célia Aparecida Bettiol Arliete Socorro Da Silva Neves O presente texto faz parte de um trabalho em andamento e se constitui em pesquisa documental,
00604 Resumo A ORGANIZAÇÃO DOS DESCRITORES NA PROVINHA BRASIL Célia Aparecida Bettiol Arliete Socorro Da Silva Neves O presente texto faz parte de um trabalho em andamento e se constitui em pesquisa documental,
A REALIZAÇÃO DO SUJEITO PRONOMINAL DE REFERÊNCIA ARBITRÁRIA NA COMUNIDADE LINGUÍSTICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA *
 249 de 298 A REALIZAÇÃO DO SUJEITO PRONOMINAL DE REFERÊNCIA ARBITRÁRIA NA COMUNIDADE LINGUÍSTICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA * Daiane Gomes Bahia ** Elisângela Gonçalves *** Paula Barreto Silva **** RESUMO
249 de 298 A REALIZAÇÃO DO SUJEITO PRONOMINAL DE REFERÊNCIA ARBITRÁRIA NA COMUNIDADE LINGUÍSTICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA * Daiane Gomes Bahia ** Elisângela Gonçalves *** Paula Barreto Silva **** RESUMO
EBSERH E D I I T T R A
 EBSERH E D I T R A APRESENTAÇÃO...3 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO...5 1. Informações Literais e Inferências possíveis...6 2. Ponto de Vista do Autor...7 3. Significado de Palavras e Expressões...7 4. Relações
EBSERH E D I T R A APRESENTAÇÃO...3 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO...5 1. Informações Literais e Inferências possíveis...6 2. Ponto de Vista do Autor...7 3. Significado de Palavras e Expressões...7 4. Relações
Linguagem como Interlocução em Portos de Passagem
 Linguagem como Interlocução em Portos de Passagem (Anotações de leitura por Eliana Gagliardi) Geraldi, em seu livro Portos de Passagem, São Paulo, Martins Fontes, 1991, coloca-nos que o ensino de Português
Linguagem como Interlocução em Portos de Passagem (Anotações de leitura por Eliana Gagliardi) Geraldi, em seu livro Portos de Passagem, São Paulo, Martins Fontes, 1991, coloca-nos que o ensino de Português
Planejamento Anual 2015 Disciplina: Língua Portuguesa: Ação Série: 3º ano Ensino: Médio Professor: André
 Objetivos Gerais: Planejamento Anual 2015 Disciplina: Língua Portuguesa: Ação Série: 3º ano Ensino: Médio Professor: André # Promover as competências necessárias para as práticas de leitura e escrita autônomas
Objetivos Gerais: Planejamento Anual 2015 Disciplina: Língua Portuguesa: Ação Série: 3º ano Ensino: Médio Professor: André # Promover as competências necessárias para as práticas de leitura e escrita autônomas
INTRODUÇÃO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS
 APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) INTRODUÇÃO O Português Língua Não Materna (PLNM) constitui um espaço curricular
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) INTRODUÇÃO O Português Língua Não Materna (PLNM) constitui um espaço curricular
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA SALA DE AULA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA SALA DE AULA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA Ana Paula de Souza Fernandes Universidade Estadual da Paraíba. E-mail: Aplins-@hotmail.com Beatriz Viera de
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA SALA DE AULA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA Ana Paula de Souza Fernandes Universidade Estadual da Paraíba. E-mail: Aplins-@hotmail.com Beatriz Viera de
O TRABALHO COM LEITURA E ESCRITA NA SALA DE AULA: A EXECUÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM TURMAS DE 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 O TRABALHO COM LEITURA E ESCRITA NA SALA DE AULA: A EXECUÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM TURMAS DE 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Alessandra Magda de Miranda Mestre em Linguística pela UFPB Professora de
O TRABALHO COM LEITURA E ESCRITA NA SALA DE AULA: A EXECUÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM TURMAS DE 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Alessandra Magda de Miranda Mestre em Linguística pela UFPB Professora de
A IMPORTÂNCIA DO SIGNO PARA O APRENDIZADO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
 413 de 664 A IMPORTÂNCIA DO SIGNO PARA O APRENDIZADO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL Nayra Marinho Silva 124 (UESB) Carla Salati Almeida Ghirello-Pires 125 (UESB) RESUMO Este trabalho objetiva investigar
413 de 664 A IMPORTÂNCIA DO SIGNO PARA O APRENDIZADO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL Nayra Marinho Silva 124 (UESB) Carla Salati Almeida Ghirello-Pires 125 (UESB) RESUMO Este trabalho objetiva investigar
Descrição da Escala Língua Portuguesa - 5 o ano EF
 Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental < 125 identificam o sentido de expressão típica da fala coloquial utilizada em segmento de história em quadrinhos; e o local em que se desenrola o enredo, em anedota.
Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental < 125 identificam o sentido de expressão típica da fala coloquial utilizada em segmento de história em quadrinhos; e o local em que se desenrola o enredo, em anedota.
CONTEÚDO ESPECÍFICO DA PROVA DA ÁREA DE LETRAS GERAL PORTARIA Nº 258, DE 2 DE JUNHO DE 2014
 CONTEÚDO ESPECÍFICO DA PROVA DA ÁREA DE LETRAS GERAL PORTARIA Nº 258, DE 2 DE JUNHO DE 2014 O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no uso de suas
CONTEÚDO ESPECÍFICO DA PROVA DA ÁREA DE LETRAS GERAL PORTARIA Nº 258, DE 2 DE JUNHO DE 2014 O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no uso de suas
OS DIFERENTES TIPOS DE CORREÇÃO TEXTUAL NAS PRODUÇÕES ESCRITAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE GOIÁS
 OS DIFERENTES TIPOS DE CORREÇÃO TEXTUAL NAS PRODUÇÕES ESCRITAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE GOIÁS Lara Roberta Silva Assis 1, Maria de Lurdes Nazário 2 1 Graduanda do curso de Letras
OS DIFERENTES TIPOS DE CORREÇÃO TEXTUAL NAS PRODUÇÕES ESCRITAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE GOIÁS Lara Roberta Silva Assis 1, Maria de Lurdes Nazário 2 1 Graduanda do curso de Letras
TRABALHAR COM GÊNEROS TEXTUAIS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO. Maria da Graça Costa Val Faculdade de Letras/UFMG CEALE FAE/UFMG
 TRABALHAR COM GÊNEROS TEXTUAIS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO Maria da Graça Costa Val Faculdade de Letras/UFMG CEALE FAE/UFMG De onde vem a proposta de trabalhar com gêneros textuais? PCN de 1ª a 4ª séries
TRABALHAR COM GÊNEROS TEXTUAIS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO Maria da Graça Costa Val Faculdade de Letras/UFMG CEALE FAE/UFMG De onde vem a proposta de trabalhar com gêneros textuais? PCN de 1ª a 4ª séries
MODERNIDADE E SUA INFLUÊNCIA NO SENTIDO DE LEITURA
 Página 413 de 492 MODERNIDADE E SUA INFLUÊNCIA NO SENTIDO DE LEITURA Bianca Vivas (UESB) Victor Lima (UESB) Adilson Ventura (PPGLIN-UESB) RESUMO Este trabalho consiste na análise do sentido da palavra
Página 413 de 492 MODERNIDADE E SUA INFLUÊNCIA NO SENTIDO DE LEITURA Bianca Vivas (UESB) Victor Lima (UESB) Adilson Ventura (PPGLIN-UESB) RESUMO Este trabalho consiste na análise do sentido da palavra
sintaticamente relevante para a língua e sobre os quais o sistema computacional opera. O resultado da computação lingüística, que é interno ao
 1 Introdução A presente dissertação tem como tema a aquisição do modo verbal no Português Brasileiro (PB). Tal pesquisa foi conduzida, primeiramente, por meio de um estudo dos dados da produção espontânea
1 Introdução A presente dissertação tem como tema a aquisição do modo verbal no Português Brasileiro (PB). Tal pesquisa foi conduzida, primeiramente, por meio de um estudo dos dados da produção espontânea
Aula6 MATERIALIDADE LINGUÍSTICA E MATERIALIDADE DISCURSIVA. Eugênio Pacelli Jerônimo Santos Flávia Ferreira da Silva
 Aula6 MATERIALIDADE LINGUÍSTICA E MATERIALIDADE DISCURSIVA META Discutir língua e texto para a Análise do Discurso. OBJETIVOS Ao fi nal desta aula, o aluno deverá: Entender a língua como não linear e que
Aula6 MATERIALIDADE LINGUÍSTICA E MATERIALIDADE DISCURSIVA META Discutir língua e texto para a Análise do Discurso. OBJETIVOS Ao fi nal desta aula, o aluno deverá: Entender a língua como não linear e que
CELM. Linguagem, discurso e texto. Professora Corina de Sá Leitão Amorim. Natal, 29 de janeiro de 2010
 CELM Linguagem, discurso e texto Professora Corina de Sá Leitão Amorim Natal, 29 de janeiro de 2010 A LINGUAGEM Você já deve ter percebido que a linguagem está presente em todas as atividades do nosso
CELM Linguagem, discurso e texto Professora Corina de Sá Leitão Amorim Natal, 29 de janeiro de 2010 A LINGUAGEM Você já deve ter percebido que a linguagem está presente em todas as atividades do nosso
Além disso, relembre-se que, por coesão, entende-se ligação, relação, nexo entre os elementos que compõem a estrutura textual.
 Nas palavras de Evanildo Bechara, o enunciado não se constrói com um amontoado de palavras e orações. Elas se organizam segundo princípios gerais de dependência e independência sintática e semântica, recobertos
Nas palavras de Evanildo Bechara, o enunciado não se constrói com um amontoado de palavras e orações. Elas se organizam segundo princípios gerais de dependência e independência sintática e semântica, recobertos
A coleção Português Linguagens e os gêneros discursivos nas propostas de produção textual
 A coleção Português Linguagens e os gêneros discursivos nas propostas de produção textual Marly de Fátima Monitor de Oliveira Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp Araraquara e-mail:
A coleção Português Linguagens e os gêneros discursivos nas propostas de produção textual Marly de Fátima Monitor de Oliveira Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp Araraquara e-mail:
A DECODIFICAÇÃO DA LEITURA E O PROCESSO DE COMPREENSÃO DO TEXTO
 A DECODIFICAÇÃO DA LEITURA E O PROCESSO DE COMPREENSÃO DO TEXTO Maria de Fátima de Souza Aquino Universidade Estadual da Paraíba fatimaaquinouepb@yahoo.com.br RESUMO A leitura é uma atividade complexa
A DECODIFICAÇÃO DA LEITURA E O PROCESSO DE COMPREENSÃO DO TEXTO Maria de Fátima de Souza Aquino Universidade Estadual da Paraíba fatimaaquinouepb@yahoo.com.br RESUMO A leitura é uma atividade complexa
A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM E DE INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL
 A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM E DE INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL GONÇALVES, Raquel Pereira Universidade Estadual de Goiás, Câmpus de Iporá raquelpg.letras@gmail.com MOURA,
A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM E DE INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL GONÇALVES, Raquel Pereira Universidade Estadual de Goiás, Câmpus de Iporá raquelpg.letras@gmail.com MOURA,
Conceituação. Linguagem é qualquer sistema organizado de sinais que serve de meio de comunicação de ideias ou sentimentos.
 Linguagem e Cultura Conceituação Linguagem é qualquer sistema organizado de sinais que serve de meio de comunicação de ideias ou sentimentos. Cultura é todo saber humano, o cabedal de conhecimento de um
Linguagem e Cultura Conceituação Linguagem é qualquer sistema organizado de sinais que serve de meio de comunicação de ideias ou sentimentos. Cultura é todo saber humano, o cabedal de conhecimento de um
MAIS RESENHA: UMA PROPOSTA PARA FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO NA ESCOLA
 MAIS RESENHA: UMA PROPOSTA PARA FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO NA ESCOLA Adriana Letícia Torres da Rosa adrianarosa100@gmail.com Cristina Lúcia de Almeida krisluci@yahoo.com.br José Batista de Barros Instituto
MAIS RESENHA: UMA PROPOSTA PARA FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO NA ESCOLA Adriana Letícia Torres da Rosa adrianarosa100@gmail.com Cristina Lúcia de Almeida krisluci@yahoo.com.br José Batista de Barros Instituto
CURSO DE ENFERMAGEM Reconhecido pela Portaria nº 270 de 13/12/12 DOU Nº 242 de 17/12/12 Seção 1. Pág. 20
 CURSO DE ENFERMAGEM Reconhecido pela Portaria nº 270 de 13/12/12 DOU Nº 242 de 17/12/12 Seção 1. Pág. 20 Componente Curricular: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL Código: ENF - 302 Pré-requisito: Nenhum Período Letivo:
CURSO DE ENFERMAGEM Reconhecido pela Portaria nº 270 de 13/12/12 DOU Nº 242 de 17/12/12 Seção 1. Pág. 20 Componente Curricular: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL Código: ENF - 302 Pré-requisito: Nenhum Período Letivo:
O PAPEL DAS INTERAÇÕES PROFESSOR-ALUNO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
 O PAPEL DAS INTERAÇÕES PROFESSOR-ALUNO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA Autor: Almir Lando Gomes da Silva (1); Co-autor: Antonio Fabio do Nascimento Torres (2); Coautor: Francisco Jucivanio
O PAPEL DAS INTERAÇÕES PROFESSOR-ALUNO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA Autor: Almir Lando Gomes da Silva (1); Co-autor: Antonio Fabio do Nascimento Torres (2); Coautor: Francisco Jucivanio
Professora: Jéssica Nayra Sayão de Paula
 Professora: Jéssica Nayra Sayão de Paula Conceitos básicos e importantes a serem fixados: 1- Sincronia e Diacronia; 2- Língua e Fala 3- Significante e Significado 4- Paradigma e Sintagma 5- Fonética e
Professora: Jéssica Nayra Sayão de Paula Conceitos básicos e importantes a serem fixados: 1- Sincronia e Diacronia; 2- Língua e Fala 3- Significante e Significado 4- Paradigma e Sintagma 5- Fonética e
1 Introdução. 1 Tal denominação da variante da Língua Portuguesa foi retirada da dissertação de Mestrado
 15 1 Introdução O presente trabalho tem como tema o uso de modalidades expressas pelo subjuntivo e pelo infinitivo em orações completivas no português padrão distenso falado no Brasil, ou seja, no português
15 1 Introdução O presente trabalho tem como tema o uso de modalidades expressas pelo subjuntivo e pelo infinitivo em orações completivas no português padrão distenso falado no Brasil, ou seja, no português
GRAMÁTICA, CONCEPÇÕES DE LÍNGUA E ARGUMENTAÇÃO: O TRABALHO COM AS CONJUNÇÕES COORDENATIVAS ADVERSATIVAS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 GRAMÁTICA, CONCEPÇÕES DE LÍNGUA E ARGUMENTAÇÃO: O TRABALHO COM AS CONJUNÇÕES COORDENATIVAS ADVERSATIVAS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA Marcos Antônio da Silva (UFPB/PROLING) sambiar@ig.com.br Ana Carolina
GRAMÁTICA, CONCEPÇÕES DE LÍNGUA E ARGUMENTAÇÃO: O TRABALHO COM AS CONJUNÇÕES COORDENATIVAS ADVERSATIVAS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA Marcos Antônio da Silva (UFPB/PROLING) sambiar@ig.com.br Ana Carolina
SUBSÍDIOS DE LÍNGUA MATERNA NA PRODUÇÃO ESCRITA EM PORTUGUÊS LÍNGUA ADICIONAL
 SUBSÍDIOS DE LÍNGUA MATERNA NA PRODUÇÃO ESCRITA EM PORTUGUÊS LÍNGUA ADICIONAL Silvana Maria Mamani 1 1 Universidade Federal de Minas Gerais/ Faculdade de Letras/ Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos/
SUBSÍDIOS DE LÍNGUA MATERNA NA PRODUÇÃO ESCRITA EM PORTUGUÊS LÍNGUA ADICIONAL Silvana Maria Mamani 1 1 Universidade Federal de Minas Gerais/ Faculdade de Letras/ Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos/
GÊNEROS TEXTUAIS: A PRÁTICA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA AULA DE LP
 GÊNEROS TEXTUAIS: A PRÁTICA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA AULA DE LP Janaína da Costa Barbosa (PIBID/CH/UEPB) janne3010@hotmail.com Edna Ranielly do Nascimento (PIBID/CH/UEPB) niellyfersou@hotmail.com
GÊNEROS TEXTUAIS: A PRÁTICA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA AULA DE LP Janaína da Costa Barbosa (PIBID/CH/UEPB) janne3010@hotmail.com Edna Ranielly do Nascimento (PIBID/CH/UEPB) niellyfersou@hotmail.com
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO Disciplina: Português
 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO Disciplina: Português Ensino Básico Ano letivo: 16/17 5º ANO Perfil de Aprendizagens Específicas O aluno é capaz: Domínios Interpretar discursos orais breves (Referir
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO Disciplina: Português Ensino Básico Ano letivo: 16/17 5º ANO Perfil de Aprendizagens Específicas O aluno é capaz: Domínios Interpretar discursos orais breves (Referir
PARÁFRASE COMO RECURSO DISCURSIVO NO ENSINO DE CIÊNCIAS. Margarethe Steinberger Elias e Francisco das Chagas Pereira
 PARÁFRASE COMO RECURSO DISCURSIVO NO ENSINO DE CIÊNCIAS Margarethe Steinberger Elias e Francisco das Chagas Pereira Universidade Federal do ABC (UFABC) Modalidade: Comunicação científica Resumo O uso de
PARÁFRASE COMO RECURSO DISCURSIVO NO ENSINO DE CIÊNCIAS Margarethe Steinberger Elias e Francisco das Chagas Pereira Universidade Federal do ABC (UFABC) Modalidade: Comunicação científica Resumo O uso de
AS DIFERENÇAS ENTRE OS ALUNOS: COMO OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EXPLICAM-NAS
 AS DIFERENÇAS ENTRE OS ALUNOS: COMO OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EXPLICAM-NAS Alex Sandro Carneiro Brito Graduando em Educação Física pelo PARFOR da E-mail: alehis@hotmail.com Elizângela da Conceição
AS DIFERENÇAS ENTRE OS ALUNOS: COMO OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EXPLICAM-NAS Alex Sandro Carneiro Brito Graduando em Educação Física pelo PARFOR da E-mail: alehis@hotmail.com Elizângela da Conceição
Linguagem em (Dis)curso LemD, v. 9, n. 1, p , jan./abr. 2009
 Linguagem em (Dis)curso LemD, v. 9, n. 1, p. 187-191, jan./abr. 2009 RESENHA DE INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA LINGUAGEM: DISCURSO E TEXTUALIDADE [ORLANDI, E.P.; LAGAZZI- RODRIGUES, S. (ORGS.) CAMPINAS, SP:
Linguagem em (Dis)curso LemD, v. 9, n. 1, p. 187-191, jan./abr. 2009 RESENHA DE INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA LINGUAGEM: DISCURSO E TEXTUALIDADE [ORLANDI, E.P.; LAGAZZI- RODRIGUES, S. (ORGS.) CAMPINAS, SP:
Atividades de Leitura: Uma Análise Discursiva
 Atividades de Leitura: Uma Análise Discursiva Jeize de Fátima Batista 1 Devido a uma grande preocupação em relação ao fracasso escolar no que se refere ao desenvolvimento do gosto da leitura e à formação
Atividades de Leitura: Uma Análise Discursiva Jeize de Fátima Batista 1 Devido a uma grande preocupação em relação ao fracasso escolar no que se refere ao desenvolvimento do gosto da leitura e à formação
(2) A rápida publicação deste livro pela editora foi um bom negócio.
 1 Introdução Esta dissertação tem o objetivo geral de investigar as formas nominalizadas deverbais no que tange ao seu aspecto polissêmico e multifuncional. O objetivo específico consiste em verificar,
1 Introdução Esta dissertação tem o objetivo geral de investigar as formas nominalizadas deverbais no que tange ao seu aspecto polissêmico e multifuncional. O objetivo específico consiste em verificar,
EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS - IRATI (Currículo iniciado em 2015)
 EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS - IRATI (Currículo iniciado em 2015) ANÁLISE DO DISCURSO 68 h/a 1753/I Vertentes da Análise do Discurso. Discurso e efeito de sentido. Condições de
EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS - IRATI (Currículo iniciado em 2015) ANÁLISE DO DISCURSO 68 h/a 1753/I Vertentes da Análise do Discurso. Discurso e efeito de sentido. Condições de
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO EDUCACIONAL: REFLEXÕES TEÓRICO PRÁTICAS
 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO EDUCACIONAL: REFLEXÕES TEÓRICO PRÁTICAS Autor(a): Luanna Maria Beserra Filgueiras (1); Maria das Graças Soares (1); Jorismildo da Silva Dantas (2); Jorge Miguel Lima Oliveira
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO EDUCACIONAL: REFLEXÕES TEÓRICO PRÁTICAS Autor(a): Luanna Maria Beserra Filgueiras (1); Maria das Graças Soares (1); Jorismildo da Silva Dantas (2); Jorge Miguel Lima Oliveira
AULA: MARCADORES CONVERSACIONAIS INTERACIONAIS
 AULA: MARCADORES CONVERSACIONAIS INTERACIONAIS 1. Preliminares Alguns desses marcadores podem ter a função concomitante de sequenciadores tópicos Grupos de marcadores interacionais aqui abordados o ah,
AULA: MARCADORES CONVERSACIONAIS INTERACIONAIS 1. Preliminares Alguns desses marcadores podem ter a função concomitante de sequenciadores tópicos Grupos de marcadores interacionais aqui abordados o ah,
Alfabetização/ Letramento Codificação, decodificação, interpretação e aplicação
 Alfabetização/ Letramento Codificação, decodificação, interpretação e aplicação ALFABETIZAÇÃO E/OU LETRAMENTO? Dissociação entre o aprender a escrever e o usar a escrita Expressão letramento. E o que aconteceu
Alfabetização/ Letramento Codificação, decodificação, interpretação e aplicação ALFABETIZAÇÃO E/OU LETRAMENTO? Dissociação entre o aprender a escrever e o usar a escrita Expressão letramento. E o que aconteceu
PLANO DE ENSINO DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
 PLANO DE ENSINO DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio Série/período: 1º ano Carga
PLANO DE ENSINO DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio Série/período: 1º ano Carga
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COORDENADORIA DE CONCURSOS CCV
 Língua Portuguesa I Questão 01 A questão 01 é de compreensão leitora. Nela, solicita-se que o candidato assinale a alternativa que apresenta afirmação depreendida da leitura do texto quanto a por que vale
Língua Portuguesa I Questão 01 A questão 01 é de compreensão leitora. Nela, solicita-se que o candidato assinale a alternativa que apresenta afirmação depreendida da leitura do texto quanto a por que vale
As capacidades linguísticas na alfabetização e os eixos necessários à aquisição da língua escrita - PARTE 2
 As capacidades linguísticas na alfabetização e os eixos necessários à aquisição da língua escrita - PARTE 2 Disciplina: Linguagem e aquisição da escrita Angélica Merli Abril/2018 1 Compreender os processos
As capacidades linguísticas na alfabetização e os eixos necessários à aquisição da língua escrita - PARTE 2 Disciplina: Linguagem e aquisição da escrita Angélica Merli Abril/2018 1 Compreender os processos
A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE DA CRIANÇA: UMA REFLEXÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA 1
 A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE DA CRIANÇA: UMA REFLEXÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA 1 Sirlane de Jesus Damasceno Ramos Mestranda Programa de Pós-graduação Educação Cultura e Linguagem PPGEDUC/UFPA.
A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE DA CRIANÇA: UMA REFLEXÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA 1 Sirlane de Jesus Damasceno Ramos Mestranda Programa de Pós-graduação Educação Cultura e Linguagem PPGEDUC/UFPA.
Plano de ensino: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
 Plano de ensino: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Título Contextualização Ementa Objetivos gerais CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA A língua portuguesa,
Plano de ensino: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Título Contextualização Ementa Objetivos gerais CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA A língua portuguesa,
1.1 Os temas e as questões de pesquisa. Introdução
 1 Introdução Um estudo de doutorado é, a meu ver, um caso de amor, e em minha vida sempre houve duas grandes paixões imagens e palavras. Escolhi iniciar minha tese com o poema apresentado na epígrafe porque
1 Introdução Um estudo de doutorado é, a meu ver, um caso de amor, e em minha vida sempre houve duas grandes paixões imagens e palavras. Escolhi iniciar minha tese com o poema apresentado na epígrafe porque
ARTICULAÇÃO PIBID E O CURSO DE CIÊNCIAS EXATAS LICENCIATURA: UM OLHAR PARA A ABORDAGEM DE TEMAS
 ARTICULAÇÃO PIBID E O CURSO DE CIÊNCIAS EXATAS LICENCIATURA: UM OLHAR PARA A ABORDAGEM DE TEMAS *Aline dos Santos Brasil¹ Sandra Hunsche (Orientador)² Eixo Temático: 2. Docência e formação de professores
ARTICULAÇÃO PIBID E O CURSO DE CIÊNCIAS EXATAS LICENCIATURA: UM OLHAR PARA A ABORDAGEM DE TEMAS *Aline dos Santos Brasil¹ Sandra Hunsche (Orientador)² Eixo Temático: 2. Docência e formação de professores
sábado, 11 de maio de 13 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO LEITURA, INTERAÇÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS Introdução l A linguagem, por realizar-se na interação verbal dos interlocutores,
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO LEITURA, INTERAÇÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS Introdução l A linguagem, por realizar-se na interação verbal dos interlocutores,
O LIVRO DIDÁTICO E A FORMAÇÃO DO LEITOR PROFICIENTE
 O LIVRO DIDÁTICO E A FORMAÇÃO DO LEITOR PROFICIENTE Ariádine Zacarias de Sousa 1 1 UFMG/Mestrado Profissional em Letras/Faculdade de Letras/ariadinesosa@hotmail.com Resumo: Este artigo apresenta uma análise
O LIVRO DIDÁTICO E A FORMAÇÃO DO LEITOR PROFICIENTE Ariádine Zacarias de Sousa 1 1 UFMG/Mestrado Profissional em Letras/Faculdade de Letras/ariadinesosa@hotmail.com Resumo: Este artigo apresenta uma análise
ENUNCIAÇÃO E ESTUDO DO TEXTO: UM ESBOÇO DE PRINCÍPIOS E DE CATEGORIAS DE ANÁLISE
 Introdução ENUNCIAÇÃO E ESTUDO DO TEXTO: UM ESBOÇO DE PRINCÍPIOS E DE CATEGORIAS DE ANÁLISE Carolina Knack 1 É sabido que, no Brasil, embora Benveniste seja frequentemente citado em bibliografia especializada,
Introdução ENUNCIAÇÃO E ESTUDO DO TEXTO: UM ESBOÇO DE PRINCÍPIOS E DE CATEGORIAS DE ANÁLISE Carolina Knack 1 É sabido que, no Brasil, embora Benveniste seja frequentemente citado em bibliografia especializada,
