ESTRUTURA DO MUNDO VIA LINGUAGEM
|
|
|
- João Victor Sacramento Caiado
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1
2
3 ESTRUTURA DO MUNDO VIA LINGUAGEM Acylene Maria Cabral Ferreira* INTRODUÇÃO Há várias possibilidades de pensar a estrutura do mundo, dependendo da perspectiva do observador. Assim, o mundo pode ser pensado a partir de sua constituição física, histórica etc. Este ensaio deterse-á na estruturação do mundo através da linguagem. A preocupação aqui é discutir como a linguagem pode estruturar o mundo, na medida em que é por meio dela que o homem se refere ao mundo e nele é inserido. A proposta de refletir sobre a estruturação do mundo via linguagem fundamenta-se no fato de que o homem não tem outra forma de se colocar no mundo a não ser a partir da linguagem, quer dizer, a condição de possibilidade para que o homem pense todas as outras formas de estruturas possíveis do mundo é a linguagem. Portanto, por que não privilegiar a linguagem como sendo uma das formas de estruturar o mundo? No entanto, mesmo que tal pressuposto seja aceitável, ainda é necessário determinar como a linguagem pode cumprir o seu papel de estruturadora do mundo, pois mesmo no âmbito da linguagem há maneiras distintas de tratar tal estruturação. A forma adotada, neste ensaio, para abordar a linguagem nesta sua dinâmica é o termo "função", porque a palavra "função" implica numa relação estabelecida entre dois ou mais termos, dentre os quais podem apresentar também uma Página 13
4 relação de dependência entre si. Cada termo da função é denominado por L. T. Hjelmslev nos "Prolegômenos a uma teoria da linguagem (1943)" de "funtivos". Deste modo, dentro de uma função há dois ou mais "funtivos" que a determinam. Por exemplo, a função significativa da linguagem tem, como "funtivos", o expressar e o designar. É na complementaridade entre a expressão e o ato designativo que a linguagem significa algo. Ora, se a função é determinada pelos seus "funtivos", então cada "funtivo" remete para a função que ele determina. A função da palavra é chamar o sentido do que ela representa. A função básica da linguagem é comunicar um sentido, fator comum do qual se deve participar, caso se queira fazer parte do mundo lingüístico. O sentido é a grandeza que se define pela função comunicativa. Para comunicar "sentidos" a linguagem necessita da participação de seus "funtivos", pois cada função tem uma classe de "funtivos" que mantêm uma relação um com o outro. Nesta perspectiva, pode-se dizer que as funções da linguagem - função semântica, significativa, predicativa, veritativa etc. - são os "funtivos" da função fundamental da linguagem: estruturar significativamente o mundo. Esta concepção de linguagem reforça o juízo de que é próprio da linguagem o expressar ou apontar o sentido de algo, mesmo quando sobre este algo não se possa falar. Por isto, pode-se também considerar o silêncio como uma forma expressiva da linguagem. Deste modo, a linguagem estrutura o mundo no momento em que ela o significa e mesmo quando ela não é capaz de exprimi-lo ela ainda lhe dá, de algum modo, uma significação. É exatamente no sentido de significação e, dentro deste, o de expressão que a linguagem pode estruturar o mundo. Para mostrar como a função única da linguagem é estruturar mundo, adotar-se á aqui apenas dois "funtivos" da linguagem, os quais serão tratados, no momento, como "função" (predicativa e semântica), já que dentro deles temse presente outros "funtivos" (declarar e determinar/ expressar e descrever) que se encontram correlacionados. A função predicativa da linguagem será exemplificada pelo pensamento de Aristóteles nas "Categorias" e no "De Interpretatione" 1, para mostrar a estruturação da linguagem Página 14
5 como língua, composta de nome e verbo, sujeito e predicado. A partir daí, procurar-se-á indicar como a estrutura predicativa da linguagem, que, por um viés, toma também o lugar de uma função apofântica, se encontra atrelada à estruturação do mundo aristotélico. Para discutir a função semântica da linguagem a obra escolhida foi o Tractatus-Philosophicus de L. Wittgenstein, porque nesta obra, segundo Adam Shaff, Wittgenstein apresenta idéias importantes para a filosofia semântica, tais como: [i] "a linguagem é o único objeto de pesquisa filosófica, [ii] a tarefa da filosofia se limita a explicar o sentido da linguagem da ciência, [iii] tudo isto que ultrapassa os limites da metafísica é desprovido de sentido" 2. FUNÇÃO PREDICATIVA DA LINGUAGEM 3 As "Categorias" de Aristóteles têm por finalidade demonstrar como a estrutura predicativa da linguagem representa a organização de mundo de uma sociedade. Desta forma, pode-se afirmar que a estrutura predicativa, em Aristóteles, orienta, tanto a função lógica, já que preocupa-se com a sistematização da linguagem, quanto a função ontológica de seu pensamento, pois esta sistematização lógica leva-nos a uma ordem significativa e denorninadora do mundo. Assim, a função predicativa, em Aristóteles, funciona como fundamento último da linguagem e fundamento último do mundo, visto que ela, ao dizer algo sobre algo, é a base da significação da linguagem e da ontologia. Por que se pode dizer que Aristóteles privilegia a função predicativa como estrutura da linguagem e do mundo? À unidade objetiva, que funda a significação das palavras e a significação do mundo, Aristóteles dá o nome de essência. É porque as coisas têm uma essência que a linguagem e o mundo têm um sentido. "A essência de cada coisa é o que é dito em virtude dela mesma. Ser você não é ser músico; você não é músico em virtude de você mesmo. O que, então, você é em virtude de você mesmo é sua essência" (Met. Z, 1ü29b 13-15). Se o homem é homem, se o cavalo é cavalo e, se eles podem ser reconhecidos como homem e como cavalo, isto que os distingue e que permite que sejam reconhecidos enquanto Página 15
6 tais, isto é a sua essência. Portanto, a condição de possibilidade da significação é a essência como fundamento da unidade de sentido da linguagem e, como permanência da estrutura significativa do mundo. A lógica é considerada, por Aristóteles, como pressuposto fundamental para o desenvolvimento e fundamentação de toda e qualquer ciência. Ela não aparece na divisão das ciências (teoréticas, práticas e poiéticas) estabelecida pelo estagirita, justamente porque ocupa a função de instrumento (organon) ou de ferramenta para a formação do pensamento. A filosofia, por sua vez, pertence ao quadro das ciências teoréticas e enquanto tal necessita da lógica, pois esta é o meio para pensar e questionar-se sobre o ser e sobre a essência de todas as coisas existentes. Isto não quer dizer que a lógica engloba a filosofia, mas simplesmente que a lógica, como instrumento, é imprescindível para o filosofar. Na medida em que a lógica é considerada como um pressuposto básico para qualquer ciência, ela também pode ser vista, nesta perspectiva, como anterior à própria filosofia. A ontologia como discurso total sobre o ser se confunde com o discurso em geral: ela é uma tarefa por essência infinita, visto que ela não teria outro fim, senão este do diálogo entre os homens. Mas uma ontologia como ciência pode fixar inicialmente uma tarefa mais modesta e realizável dentro de seu princípio: estabelecer o conjunto das condições a priori que permitem aos homens se comunicarem pela linguagem 4. O principio ou a condição a priori que permite aos homens se comunicarem, em Aristóteles, está representado pelas categorias da linguagem. As categorias, que podem ser denominadas de esquemas da predicação, são a condição de possibilidade do predicar. Um sujeito pode ser predicado essencialmente (José é homem) ou acidentalmente (José é branco). A um sujeito podem ser atribuídos diversos predicados, sem que ele deixe de ser o mesmo sujeito, porque a sua essência permanece. Se José está sentado, deitado ou de pé, se ele é branco, músico ou alto, mesmo assim, com todos Página 16
7 estes atributos pode-se ainda reconhecer José como o José, que ele é e sempre será. As categorias são o fundamento para a inteligibilidade da linguagem e para a percepção e compreensão do mundo. As categorias, ao atribuírem um predicado a um sujeito, organizam a estrutura da linguagem, como também do mundo. Como as categorias são predicados de um sujeito e como predicar é dizer algo sobre algo, este algo predicável deve ser a essência, aquilo que permanece o mesmo - o sujeito da atribuição. A tábua aristotélica das categorias é composta de dez categorias, as quais enunciam a multiplicidade dos modos através dos quais o ser aparece no mundo. Estas categorias têm a pretensão de expressar os vários modos que o ser tem para presentar-se. As categorias podem ser consideradas respostas dadas à pergunta sobre o que é o ser das coisas. Neste sentido, as categorias são os modos de significação do ser. Apesar de a pergunta sobre o que é o ser compor uma questão propriamente filosófica e freqüente na ontologia, o conjunto das categorias não poderia jamais ser tomado como unidade universal que é capaz de representar o ser em totalidade; ou ainda, nenhuma categoria poderia ser tomada como categoria geral, para significação do ser como um todo. As categorias significam imediatamente o ser, no entanto não têm a capacidade de esgotar a sua significabilidade, porque o ser está além das categorias. A transcendência do ser é o motivo de revigoramento das categorias; por isso, continua-se a predicar, a atribuir o conjunto das categorias ao ser das coisas, por este motivo, o mundo prossegue na sua condição de predicável e pode transformar-se, de acordo com o desenvolvimento das diversas épocas históricas: o que muda não são as categorias, mas as coisas que elas representam. Quer dizer então que a predicação existe ad infinitum? É o próprio Aristóteles quem responde: Mas isto é impossível, não mais do que dois tennos podem ser combinados. Um acidente não é um acidente do acidente, a menos que ambos so/am acidentes do mesmo s1!feito. (M.et. G, 1007 b 1-5). Página 17
8 A primeira das categorias aristotélicas é a substância (ousia). O termo "substância" será utilizado, aqui, em vez do termo "essência", com o objetivo de marcar a diferença entre a essência, como categoria do ser e a substância, como categoria da linguagem. A palavra "substância" aparece na Metafísica na acepção de essência, de sujeito último de atribuição, como aquilo que é determinável e definível; por' isso, ela mostra o que é o ser das coisas. Já nas "Categorias", ela representa o sujeito, que é predicável de todas as demais categorias e, deste modo, mantém uma relação de prioridade sobre os predicados, ou seja, sobre as outras categorias. Das coisas que são ditas, algumas envolvem combinação, enquanto outras são ditas sem combinação... Quando quer que uma coisa sqa predicada de uma outra como do stijeito, todas as coisas ditas do que é predicado deverá ser dita do s1!j"eito também... Das coisas ditas sem combinação, cada uma significa ou substância, ou quantidade, ou qualificação, ou o relativo, ou onde, ou quando, ou estando em posição, ou tendo, ou fazendo, ou sendo afetado (Cat. Ia 15 ss). Aristóteles entende por substância, nas "Categorias", isto que parece significar um certo "este"; isto que não é dito do sujeito, ou no sujeito. As substâncias podem ser primárias ou secundárias. As primeiras podem ser consideradas como sujeito ou atributo essencial e as segundas representam a espécie ou o gênero e podem ser vistas como predicado das primeiras. Devido ao segundo uso, as substâncias fazem parte da tábua das categorias, como atributo e não como sujeito da atribuição. Ao enunciar a frase: José é homem, aplica-se uma substância secundária a uma primária. Mas, se a frase enunciada for: José é preto, ou José está no pátio, atribui-se a uma substância primária a categoria de qualidade e de lugar. Das substâncias secundárias, é dominante aquela que estiver mais próxima das substâncias primárias. As substâncias, primárias e secundárias, aceitam receber contrários, mas isto não quer dizer que há, entre elas, a contrariedade. Não se pode dizer que homem é contrário a indivíduo, ou a animal. Da mesma forma, não se pode dizer que um homem é mais ou menos homem do que outro. As substâncias aceitam receber contrários, Página 18
9 se esses pertencem a categorias diferentes. "As categorias representam os modos os mais universais de ser que, enquanto tais, indicam, ao mesmo tempo, os gêneros supremos do discurso. Elas são do ponto de vista ontológico, as determinações fundamentais do real, os últimos predicados do ente" 5. As categorias correspondem, do ponto de vista meta físico, às representações fundamentais do ser e, do ponto de vista lógico, elas são os gêneros primeiros e os resíduos últimos a que qualquer membro da proposição deve remeter para significar. Ao se decompor uma proposição, o que resta de seus termos encontra-se inserido em uma das dez categorias, assim como, para compreender o significado das coisas, é preciso que se saiba de qual categoria ela se originou. A primeira categoria, a substância serve sempre de sujeito, e só impropriamente ela serve de predicado, como substância secundária. As demais categorias (qualidade, quantidade, relação, lugar, tempo, posição, situação, ação e passividade) servem de predicado, são os gêneros supremos dos predicados. Quando se tomam os termos da proposição em separado; isto é, quando se toma as categorias sem conexão, não se tem, nem verdade, nem falsidade. O valor de verdade só se encontra na proposição; ou seja, na conexão ou combinação das categorias. Se as substâncias representam o sujeito e as demais categorias representam os predicados, então sujeito e predicado se encontram no mesmo nível? Não. É preciso fazer uma distinção de níveis, tanto entre sujeito e predicado, quanto entre os modos da predicação, que são capazes de expressar mais apuradamente a essência do sujeito. Eles.devem ter precedência sobre os demais, pelo fato de responderem melhor à questão sobre o que é o ser de determinada coisa. Pelo mesmo motivo, justifica-se a precedência do sujeito sobre o predicado. A substância apresenta uma primazia em relação às outras categorias, porque ela responde imediatamente ao que é o ser das coisas. Estas distinções hierárquicas entre sujeito, predicado e modos da predicação devem ser feitas, para que se possa expressar, claramente, o pensamento sobre algo. A hierarquização das categorias possibilita a diferenciação e a particularidade do sujeito da atribuição, o qual pode Página 19
10 receber uma sucessão de predicados e ainda ser reconhecido como tal. Sendo assim, as distinções hierárquicas pontuam a condição de possibilidade da comunicação em geral. É importante salientar que, quando as categorias representam modos de ser diferentes, elas podem encontrar-se no mesmo nível. Pode-se afirmar que, a partir do tratado das "Categorias", Aristóteles instaura a separação da língua e do ser, do signo e do significado. As categorias englobam a forma organizacional e predicativa, que a linguagem usa, para dizer algo sobre algo.isto seria o mesmo que dizer que a linguagem é sempre categorial e apofântica. Apophansis, no sentido aristotélico, significa "declaração". A declaração cumpre sua função apofântica, à medida que revela e torna manifesto o sentido de um discurso, adjudicando-lhe o seu caráter de verdade ou falsidade. O valor de verdade das declarações não se encontra nas coisas, mas sim no pensamento. Não é a coisa que é verdadeira ou falsa, mas é o juízo que se faz dela que é verdadeiro ou falso. Segundo Aristóteles, nem toda sentença é apofântica. Aquelas que exprimem pedidos, invocações, exclamações e outras semelhanças, que dizem respeito ao discurso retórico ou poético, estão fora da função apofântica, porque não estão sujeitas à possibilidade de serem verdadeiras ou falsas. "Toda sentença é significativa (não como um instrumento, antes como dizemos, por convenção), mas nem toda sentença é declarativa (apofântica), somente aquelas em que há verdade ou falsidade" (De Int. 4, 17a 1-3). As sentenças declarativas ou apofânticas estruturamse como discurso, pois a tarefa principal da declaração é mostrar a coisa assim como ela se manifesta, e esta é a característica própria do discurso. O mostrar tem, como modos de realização: o afirmar e o negar, o ocultar e o desvelar. Algo pode desvelar-se, ou ocultar-se, de forma afirmativa ou negativa e vice-versa, podendo apresentar-se como verdadeiro ou falso. A verdade de algo remete para o desvelar daquilo que antes encontrava-se oculto e a falsidade apresenta algo como se ele fosse de uma determinada maneira que não é. A falsidade dá a ilusão de que algo é deste modo, mas, de fato, ele é de uma forma como não se esperava, nem se pensava que pudesse ser. Assim, a falsidade não é o Página 20
11 contrário da verdade; mas um outro tipo de manifestação da coisa. Por isto, pode-se afirmar que as sentenças declarativas, que se encontram na base do discurso, operam como um deixar ver o mundo existente. Isto possibilita dizer que o discurso declarativo é um deixar ver que indica o modo de atualização da coisa. Desta forma, a declaração ou o discurso em a função de determinar algo. A declaração (discurso) tem condições de determinar o modo de ser das coisas do mundo, través da função predicativa da linguagem, já que o predicado,,u as categorias destacam como as coisas aparecem ou se mostram. Neste sentido, é que a linguagem pode ser encarada orno categorial e apofântica. A predicação adjudica ao discurso a qualidade de Jrnar evidente o ser das coisas. A predicação tem este poder, porque ela apresenta as coisas como sendo desta ou daquela forma. Este "como sendo" representa o "como" estrutural a predicação. Ele pode ser assim denominado, porque funciona como a estrutura sobre a qual a predicação se fundamenta. Pode-se ainda acrescentar que o "como" estrutural a predicação é essencial para a efetivação da função predicativa, pois uma coisa pode mostrar-se num momento de uma maneira e depois de outra. Quando algo é predicado, ele é determinado e definido, mas isto não significa que não se poderá predicá-lo posteriormente de outra forma. Este fato confirma a tese de que o discurso pode ser revelador ou dissimulador, isto é, pode ser verdadeiro ou falso, afirmativo u negativo, ou afirmar negando e negar afirmando. Este como" estrutural da predicação indica o comportamento que as coisas têm, que tiveram e que um dia podem ter e, neste ponto de vista, torna-se o responsável pela evidência do lodo como as coisas se mostram. Somente afirmar que o "como" estrutural da predicação essencial para revelar como as coisas se colocam no mundo, não é suficiente para explicitar e atestar a importância da função predicativa da linguagem, dentro do conjunto de estruturas responsáveis pela significabilidade do mundo. Esta Insuficiência leva a indagar "que função tem a significação ou como-estrutura para a possibilidade da declaração, cujo caráter marcante é poder ser verdadeiro ou falso" 6? Para Página 21
12 melhor explicitar o movimento operado pela função predicativa da linguagem, é necessário complementar que a função do "como" estrutural é exprimir o para quê de algo e o a quê o discurso se refere. O para quê da coisa, ou a sua instrumentalidade e o sobre o quê a declaração discursa, isto é, se refere, representam o "algo" sobre o qual o discurso, através de seu fundamento - o "como" estrutural da predicação - profere alguma coisa. Como o discurso se caracteriza por dizer algo sobre algo, o para quê e o sobre o quê, referidos no discurso, podem ser considerados como uma possibilidade de concretude, para a declaração na sua função apofântica: ser verdadeira ou falsa, afirmando ou negando e reciprocamente. A declaração não se dirige simplesmente ao ente e o nomeia por um nome, mas sim ela o mostra em seu ser e como ente.... Os elementos da declaração, a partir dos quais ela consiste, são onoma e rhma, nome e verbo. Pela primeira ve:v enuncia-se aqui a relação entre lógos e tempo... Para a constituição da estrutura da declaração, o verbo tem um papel decisivo... A disposição de um verbo para um nome compõe o lógos, em sua forma fundamental. Daí então cada declaração se determina, essencialmente, como propriamente temporal 7. Ainda dentro do intuito de esclarecer mais a estrutura da função predicativa da linguagem, cabe ressaltar que a declaração ou o discurso apofântico é formada pela combinação de nomes e verbos, sendo que o verbo detém o papel de determinação tanto quanto o caráter temporal e dinâmico da proposição. Aristóteles entende por nome o som falado, composto de significado. Os nomes existem por "convenção", porque são símbolos de alguma coisa da natureza, ou de afecçães da alma. Se os nomes são símbolos das coisas, então, para significar, deve-se ter o mesmo número de nomes e de coisas? Conforme Aristóteles, os nomes existem em número limitado e as coisas existem em número infinito; explicando-se, dessa forma, o uso da mesma palavra para determinar coisas distintas. Esta formulação permite acrescentar que o nome não toma o lugar da coisa, visto que a coisa existe, independente de seu nome. Esta confirmação denota, Página 22
13 ao mesmo tempo, a limitação (empregam-se nomes para estabelecer relações com as coisas) e a "espontaneidade" (independência do nome e da coisa) inerente à linguagem. Pierre Aubenque, em Le probleme de I'être chez Aristote (p. 119), acentua a importância de se perceber a diferença entre a afirmação de que as palavras significam várias coisas e a afirmação de que a palavra tem várias significações. A primeira diz respeito à essência da coisa e a segunda ao "como" estrutural da função predicativa, ou seja, ao "como" apofântico do modo de estruturação da concepção aristotélica da linguagem. O nome, como símbolo, cumpre a função de reenvio à coisa. Ele tem a capacidade de fazer ver alguma coisa, no sentido de designar, de apontar e indicar; ele se refere à "coisidade". A definição aristotélica de nome já foi mencionada, agora resta mostrar o que Aristóteles entende por verbo, para esclarecer como se dá a relação nome e verbo para ele, isto é, como forma-se a proposição: combinação, por um lado, de nome e verbo, e por outro, de sujeito e predicado. "O verbo é o que adicionalmente significa tempo, nenhuma parte dele sendo significante separadamente; é o signo das coisas ditas de alguma coisa mais" (De lnt. 16b, 6-7). Sem a caracterização de tempo, o verbo seria simplesmente um nome. O nome e o verbo, sozinhos, não significam nada, são apenas expressões, não têm nenhum sentido. É o conjunto dos verbos, juntamente com os nomes, que vem dar sentido à linguagem. Os nomes, em separado, não constituem linguagem. É o verbo que tem o privilégio de determinar e dar o sentido da linguagem significar a realidade. O verbo faz a coisa aparecer, situada em um tempo e em um lugar; ele declara algo sobre algo, ele pertence ao que foi declarado de algo. Talvez, seja plausível afirmar que a função predicativa da linguagem aparece justaposta à função apofântica, declarativa da linguagem. Por quê? Porque, em cada declaração é possível notar o sujeito, sobre o qual se declara algo, e o predicado - o que é declarado do sujeito. Assim o declarado é aquele que determina a coisa, a noção de predicado perde seu lugar para a noção de declarado. Agora, em vez da relação entre sujeito e predicado, tem-se a relação entre isto sobre o quê se declara e o declarado. O Página 23
14 papel da linguagem parece ser, pois o de designar as coisas e distingui-ias umas das outras, antes mesmo do que exprimi-las como elas são. Aristóteles, quando separa linguagem e ser, signo e significado, parece deixar implícita a noção de que, através da linguagem, isto é, de signos (verbos) e símbolos (nomes), escondese uma intenção humana, dirigida às coisas. A linguagem, como convenção, seria o elo entre a intenção humana, que movimenta a significação, e a coisa à qual esta intenção se dirige. É nesta conjunção da intenção significativa e da coisa intencionada que a linguagem ganha sentido. Sons falados são símbolos de tifecções da alma, e marcas escritas são símbolos de sons falados. E assim como as marcas escritas não são as mesmas para todos os homens, nem os sons falados também o são. Mas o que eles são em primeiro lugar signo de - tifecções da alma são o mesmo para todos; e o que estas tifecções são semelhanças de - coisas atuais- são também o mesmo (De Int. 16a 1-10). Apesar de a função predicativa da linguagem estar estruturada, objetivamente, sobre sua função apofântica e sobre convenções humanas, observa-se que ela é capaz de significar o ser e de representar a estrutura do mundo. As línguas são diferentes entre si, têm palavras diferentes para expressar as mesmas coisas e, ainda lhes faltam palavras para nomear certas coisas. Ora, se tudo isto acontece e se as coisas são as mesmas para todos os homens, isto quer dizer, que só é possível comunicar através do ser e no ser. Pode-se afirmar que o ser é a unidade objetiva que permite aos homens a intersubjetividade discursiva da comunicação. Como a função predicativa pode apresentar-se, no pensamento aristotélico, como aquela que estrutura tanto o mundo, quanto a linguagem? Para que se tenha êxito nesta justificativa, é necessário lembrar a prioridade que Aristóteles atribui à noção de substância nas "Categorias". A substância é a primeira das categorias. Por um lado, porque ela diz imediatamente o ser das coisas e, por outro lado, porque ela é predicável de todas as outras categorias. Na medida em que a substância é predicável de todas as outras categorias, ela se Página 24
15 contrapõe às demais, é como se, de um lado, estivesse a substância e, de outro, se colocassem as nove categorias restantes, todas as demais categorias funcionando como predicado para a substância. Neste sentido, a substância representa o fundamento sobre o qual as demais categorias se estruturam. A substância toma, então, o lugar de sujeito da atribuição, onde as categorias podem exercer sua função de atributo. A função predicativa ainda responde pela estruturação de mundo e da linguagem, porque a pergunta sobre o que é o ser de algo é aplicada também às categorias. Por exemplo: o que é uma cor? É uma qualidade. Ou ainda: o que é o homem? É uma substância. Portanto, através da primazia da substância, que, entre as categorias, é a que se encontra mais próxima do ser, pode-se notar que a função predicativa tem uma estrutura ontológica, à medida que procura responder ao que é o ser de cada coisa. As categorias aristotélicas mostram-se, assim, não apenas como estruturadoras da forma lingüística de uma sociedade, mas também como organizadoras das coisas que elas representam, ou seja, as categorias, através da função predicativa, estruturam tanto a linguagem, quanto o mundo. Por um lado, a função predicativa a partir de seu aspecto apofântico declara algo sobre alguma coisa e, por outro, mediante as categorias aristotélicas determinam algo. É sob este ponto de vista que o declarar e o determinar atuam como "funtivos" da função predicativa da linguagem. FUNÇÃO SEMÊNTICA DA LINGUAGEM Porém, mais recentemente a teoria convencionalista da necessidade foi adoptada por muitos filósofos e alguns consideram mesmo a lógica como se fosse idêntica à semântica, i.e., ao estudo das regras lingüísticas ou costumes que dão às palavras a sua significação. Esta modificação parece datar da publicação do Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein em 1921 embora seja quase certo 1ue a princípio Wittgenstein não queria nada desse género 8. Página 25
16 Para Wittgenstein, a função da filosofia, no Tractatus, é clarificar os princípios da linguagem, através de uma crítica de seu uso, viabilizada por uma semântica construtiva. O objetivo desta semântica seria ditar as regras que possibilitassem a representação do isomorfismo existente entre a realidade e a linguagem; ou seja, indicar uma lei sob a qual a linguagem se apresentasse como o espelho do mundo. A condição de possibilidade para o processar de tal espelhamento é que a estrutura do mundo mantivesse um paralelismo com a estrutura da linguagem. Com a introdução desta noção do isomorfismo, o autor citado acreditava que a questão da significação e sentido da linguagem estaria resolvida, pois o isomorfismo entre a linguagem e a realidade acabaria por mostrar que aquilo que se pode falar, ou pensar pode ser falado, ou pensado claramente. Esta tentativa de Wittgenstein de identificar a linguagem e o mundo pressupõe uma exigência fundamental: que ambos sejam dotados de uma estrutura a priori, que possibilite a identificação entre a linguagem e o mundo, que proporcione à linguagem a condição de figurar a realidade do mundo corretamente; em outras palavras, que capacite à linguagem significar clara e fielmente a totalidade do mundo. A estrutura a p rio ri da linguagem e do mundo, ou talvez podese dizer, a projeção dos fatos do mundo no expressar das proposições da linguagem, deixa em aberto o que é necessário para que se perceba este isomorfismo. Será que, para poder representar a relação de identidade entre a estrutura do mundo e da linguagem, ter-se-ia que possuir uma pré-compreensão que habilitasse à percepção daquilo que é a prion? Se, para representar e significar o mundo, a linguagem necessita de uma estrutura a priori, que é seu fundamento e sem a qual ela não poderia cumprir o seu papel de afiguração do mundo, pode-se então afirmar que Wittgenstein, no Tractatus, participa de um certo modo de transcendentalismo. Como opera a semântica do Tractatus? Pode-se afirmar que a função semântica, no Tractatus, desenvolve-se a partir de duas teses centrais: a primeira diz que o que pode ser dito, pode ser dito claramente e a segunda diz que aquilo que "pode ser mostrado não pode ser dito". Mostrar e dizer são dois modos de expressão, visto que a Página 26
17 linguagem significa o que diz. Porém, afirmar que a linguagem mostra o sentido do indizível produz certa estranheza, porque se criou o hábito de acreditar que somente aquilo que pode ser dito tem sentido, e o que não pode ser dito seria desprovido de sentido, seria o sem sentido. Ou melhor, somente aquilo que pode ser pensado (ou dito logicamente) é sensato, e aquilo que não se pode explicar com clareza é insensato. "A pesquisa da lógica significa a pesquisa de toda legalidade. E fora da lógica é tudo um acaso" (6.3) 9. Em geral, a tese fundamental de uma filosofia semântica baseia-se no fato de que a linguagem é a criação de uma convenção arbitrária e que tal convenção delibera a imagem de mundo de uma sociedade lingüística. O discurso tem aí a função de intersubjetividade, que proporciona a unificação lingüística desta sociedade, criando uma imagem subjetiva da realidade objetiva. Qual a inovação de Wittgenstein no Tractatus? Sua contribuição refere-se à concepção do mundo como um agregado de fatos e não de coisas. O mundo deve estar assim composto e estruturado, para que a linguagem tenha condições de descrevê-io. "O mundo é um agregado de fatos". O que Wittgenstein considera como fato? Seria algo acontecido, dado? O que é o caso, o fato, é a existência de estado de coisa (2). O estado de coisas é uma ligação de o/ijetos (2.01). Para conhecer um o/ijeto, na verdade não preciso conhecer suas propriedades externas - mas preciso conhecer todas as suas propriedades internas ( ). Um estado de coisas é uma conexão de objetos. Os objetos são simples e têm propriedades essenciais; ou seja, propriedades internas. São tais propriedades que designam as possibilidades que os objetos têm de se combinarem (ou não) com outros. Desta maneira, os objetos são expressos em configurações, ou seja, estão combinados com outros objetos. Isto significa que, para conhecer um objeto, devese também conhecer suas ocorrências possíveis em estado de coisas e, como essas possibilidades participam da natureza do objeto, é Página 27
18 plausível dizer que o objeto mantém uma relação de precedência sobre o estado de coisas. Se o objeto pode ser reconhecido apenas se todas as suas propriedades internas são conhecidas e se o objeto dispõe da capacidade ou poder de combinar com outros objetos formando estado de coisas, então o objeto pode ser concebido como substância do mundo, como resíduo último da ftlosofia tractatiana. Pois, ao serem dados os objetos, já são dados, concomitantemente, todos os possíveis estados de coisas. O modo particular de como os objetos se configuram em estado de coisas representa a forma do objeto, que é constituída pelas suas propriedades internas e externas. A forma do objeto pode ser distinta, de acordo com as diferentes associações de que os objetos participam. As propriedades externas do objeto são contingentes e, por isso, são responsáveis pelas diversas configurações em que o mesmo pode entrar. A forma do objeto determina as possibilidades de seu aparecimento na realidade, configuradas em inúmeros estados de coisas possíveis. Quando os elementos da realidade são combinados em estados de coisas, eles se tornam expressos pela linguagem. Representamos a realidade pelo pensamento, isto é,formamos para nós uma imagem, uma figura. Para que a imagem possa representar seu modelo, é necessário que ele tenha com o modelo, uma mesma estrutura. Para que o pensamento possa representar a realidade, é necessário que as proposições pelas quais queremos representar a realidade sdam da mesma estrutura da realidade, isto quer dizer que os elementos que compõem a proposição estejam juntos na mesma relação, na qual se encontram os elementos da realidade (2. 15). Esta identidade de estrutura, é esta que Wittgenstein chama de forma lógica (2.2 e ss.) 10. Na teoria do Tractatus, o mundo é composto de fatos, que são configurados pela concatenação de objetos simples. O mundo real representa apenas um ponto no espaço lógico (constituído de objetos; é um e indizível) de mundos possíveis, de formas diversas e de possíveis combinações em estados de coisas. Os mundos possíveis são atestados pela independência dos estados de coisas. O mundo, como fato, representa a Página 28
19 possibilidade da atualização e individualização dos mundos possíveis. Dessa forma, o mundo é um conjunto de fatos particulares, é um caleidoscópio de fatos, de figurações. O mundo, como fato, consiste numa realidade e esta significa a existência ou não-existência de estados de coisas. Donde pode-se corroborar que o mundo como fato é o total da realidade. O fato, para ser uma figuração, deve ter algo em comum com o afigurado (2.16). A figuração é um modelo da realidade (2.12). O que toda figuração, qualquer que s~a sua forma, deve ter em comum com a realidade para poder de algum modo - correta ou falsamente - afigurá-ia é a forma lógica, isto é, a forma da realidade (2.18). O que a figuração representa é seu sentido (2.221). Com a sua teoria da figuração, Wittgenstein sustenta que as sentenças, as proposições da linguagem representam a realidade. Para que esta representação seja possível, ele introduz a noção de forma lógica, que promove o isomorfismo entre a linguagem e os fatos do mundo. Quando este isomorfismo acontece na estrutura interna da proposição, é para referirse ao seu sentido e, quando ele diz respeito à sua estruturação externa, é para figurar a realidade como verdadeira ou falsa. A forma lógica, como forma da realidade e da linguagem, é o resíduo, em termos de forma de possibilidades que permite a representação. A sentença não pode dizer, mas apenas mostrar a forma lógica. Esta estrutura a priori, a que Wittgenstein dá o nome de forma lógica da realidade, não se deixa descrever pela linguagem, dela não se pode falar; a linguagem apenas é capaz de exibi-ia. Talvez se possa afirmar que aquilo que, por excelência, a linguagem não diz seria justamente a sua forma lógica. Como a linguagem se relaciona com o mundo? Assim como o mundo é um conjunto de fatos, a linguagem é um conjunto de proposições. A proposição determina os fatos do mundo e esses expressam a situação significada. As proposições têm sentido e direção. O sentido de uma proposição é interno Página 29
20 a ela e a direção para onde ela aponta é externa a ela, refere-se àquilo que ela pretende representar. As proposições são determinadas pelo seu sentido. Pode-se afirmar que a linguagem é, para Wittgenstein, bipolar porque a verdade da proposição consiste no acordo entre a estrutura da proposição e a estrutura do fato que ela representa. Para que algo seja dado, para que haja um fato, a forma lógica deste fato deve ser dada, pois o que é representado isomorficamente é o fato e não o objeto. Não se pode escolher arbitrariamente qualquer regra para orientar a linguagem, mas somente as que espelham a estrutura lógica do mundo. Aqui, a linguagem coincide com o mundo. O isomorfismo existente entre a estrutura da proposição e a estrutura do fato seria a resultante da aplicação do método de projeção. Esse método torna-se responsável pela significação da linguagem e representação do mundo; ou seja, onde não há projeção, não há linguagem, nem mundo. "O sinal por meio do qual exprimimos o pensamento chamo de sinal proposicional. E a proposição é o sinal proposicional em sua relação projetiva com o mundo" (3.12). A visão projetiva do mundo encontra-se correlacionada com o sentido da proposição, pois à proposição pertence tanto o sentido, antes mesmo de ela ser verdadeira ou falsa, quanto a projeção, ou a possibilidade do projetado. O sentido da proposição, assim como a possibilidade do projetado, é algo interno à estrutura de ambos e não ao seu conteúdo. Isto quer dizer que a proposição somente tem sentido, quando a estrutura do mundo é correlacionada com os elementos da proposição, não se levando em consideração, neste momento, se a proposição é verdadeira ou falsa. Infere-se daí que o sentido da proposição é independente do valor de verdade da proposição. Para certificar-se do valor de verdade de uma proposição, esta deve ser confrontada com o fato que ela representa. A proposição, para Wittgenstein, é uma figura que representa estados de coisas possíveis. Uma proposição pode ser compreendida, caso se compreenda o que a torna verdadeira ou falsa, isto é, caso se analise sua forma lógica. É a capacidade de se compreender a projeção do mundo na linguagem que permite perceber a Página 30
21 figuração que a proposlçao representa. Para compreender uma proposição, é necessário conhecer antes o seu sentido do que a sua valoração. O sentido funciona como o reflexo da figuração. Apenas diante da compreensão do sentido ou significação de uma proposição, é que se pode verificar o seu valor de verdade. "O método de projeção é pensar o sentido da proposição" (3.11). Se o pensamento é o que representa a realidade através da figura, então o pensamento é a projeção das possibilidades sobre o mundo. O que pode ser pensado pode ser figurado. Nessa perspectiva, a medida do mundo passa a ser o sentido da proposição pensada, já que o pensamento está sendo tomado como uma proposição com um sentido. Convém ressaltar que nenhum pensamento pode ser pensado a priori como verdade. A proposição não pode representar a forma lógica, esta forma se espe/ha na proposição. a que se espe/ha na linguagem, esta não pode representar. a que se exprime na linguagem, nós não podemos representar por meio de/a. A proposição mostra a forma lógica da realidade (4.121). A linguagem, para Wittgensteirt, é composta por proposições, por concatenações de nomes, que substituem ou significam os objetos. A função da proposição, visto que ela é um fato semântico, é descrever a realidade e não nomeá-ia. Ao contrário, os objetos são passíveis de nomeação, pelo fato de serem substituídos por nomes. Os nomes são os sinais que vêm no lugar do objeto, permitindo o conhecimento e acesso à realidade. Compreender um nome é saber a que objeto ele se refere. Por isso, dos objetos só é possível dizer como eles estão e não o que eles são. A função de falar como estão os objetos diz respeito à proposição. Se não houvesse distinção entre proposição e nome, a noção diferenciada entre fato e objeto estaria prejudicada. A conexão entre o fato e o objeto é análoga à conexão entre o nome e as leis que regem uma linguagem, para a combinação dos nomes em proposições significativas. Os objetos são descritos através de suas propriedades externas, através de sua combinação em estados de coisas, Página 31
22 visto que é a configuração dos objetos que os traz ao conhecimento. Já as proposições descrevem a realidade a partir de suas propriedades internas, de seu modo de articulação e vinculação à realidade. A proposição, ao descrever a realidade, provoca o enquadramento da mesma a um sim ou a um não. Porque, apenas desse modo - sim ou não - e somente quando os elementos da linguagem e do mundo têm algo em comum, é que a proposição e a realidade têm sentido. Caso contrário, dessa realidade, para a qual não se consegue dar um sentido (talvez pode-se dizer de uma realidade sem sentido), não se poderá falar, por não se dispor de uma proposição que consiga expressá-ia. Aquilo que não se pode pensar, não se pode falar. Ou melhor: "o que pode ser mostrado não pode ser dito" (4.1212); a proposição pode exibir o sentido da realidade, mas não tem condições de representar-se. Como os nomes são sinais não podemos toma-los em separado porque se assim o fizermos ele não possuiriam nenhum sentido. Como todo sinal, o nome ganha sentido, quando articulado numa proposição. E como o sentido pertence à proposição, os nomes só têm significado dentro do contexto de uma proposição. A condição de possibilidade da proposição é a capacidade que os nomes têm de substituir os objetos. Um nome é sinal de objetos aqui, de outros ali e assim sucessivamente, até formar conceitos. Assim, os nomes se encontram articulados numa proposição e não representam palavras soltas e perdidas dentro dela. É justamente a articulação dos nomes na proposição que permitem figurar a realidade. O objetivo da proposição é, portanto, comunicar uma situação. Para que a proposição possa realizar seu propósito, é necessário que ela esteja vinculada à situação. E, como foi acentuado anteriormente, o que permite a vinculação da proposição à realidade é a forma lógica, o modo de projeção da proposição sobre o mundo, o seu isomorfismo com a realidade. Através deste isomorfismo, a proposição pode representar a existência ou inexistência dos fatos do mundo, ao ser verificada sua condição de verdade. O nome não descreve, não tem sentido, porque ele é a contrapartida do objeto; assim como os objetos só têm sentido, se configurados em estados de coisas, os nomes só Página 32
23 têm sentido, se articulados em uma proposlçao. O nome é um ponto, uma substituição do objeto, pois aparece no lugar desse. E o objeto é uma substância porque é impossível conceber um objeto sem suas propriedades internas; uma propriedade é interna, se o objeto não tem condições de ser pensado sem ela. O nome é o resíduo último para representar e o objeto é o resíduo último que permite a representação. A partir desses pressupostos, fica uma pergunta: qual é a concepção tractatiana da linguagem? A função essencial da linguagem, para Wittgenstein, é descrever a realidade, por isso o fato de nomear encontrase ligado à descrição. Como a proposição que descreve o mundo é aquela dotada de sentido, seja ela verdadeira, ou falsa, e como as proposições, para se constituírem têm que se conformar, numa articulação convencional de nomes, podese dizer que a proposição, no Tractatus, tem uma função semântica por obedecer às regras de descrição e afiguração da linguagem. A função semântica da linguagem aí estaria fundamentada sobre as leis de projeção da linguagem. Que hega uma regra por meio da qual o músico pode extrair a sinfonia da partitura, uma por meio da qual se pode derivar a sinfonia dos sulcos do disco e, segundo a primeira regra, derivar novamente a partitura, é precisamente nisso que consiste a semelhança interna dessas cotifigurações, que parecem tão completamente diferentes. E essa regra é a lei de projeção, lei que prqjeta a sinfonia na linguagem das notas. É a regra de tradução da linguagem dasnotas na linguagem do disco gramo/ônico (4. O 141). A lei de projeção da linguagem permite a ela toda forma de representação? A 'linguagem é capaz de expressar todos os fatos do mundo? O sistema de significação da linguagem dá conta de dizer tudo o que a linguagem quer figurar? A linguagem, apesar de todas as suas regras de expressividade, apresenta limites internos, pelo fato de não poder falar de sua forma lógica, de seu fundamento; ou seja, por não poder falar de si mesma. A forma lógica é o indizível da linguagem e, neste sentido, representa um limite da linguagem. Para que a Página 33
24 linguagem fosse capaz de falar a partir de si mesma, ela teria que sair de si, o que seria o mesmo que sair da lógica, isto é, do mundo. Para poder falar da linguagem, é necessário que se esteja, juntamente com suas proposições, fora da própria linguagem, problema este que mais se parece com uma aporia. Quando a linguagem quer exprimir-se como linguagem, ela deixa de ter sentido, por querer dizer o irrepresentável. A linguagem torna-se assim o seu próprio limite. Que o mundo s~ja meu mundo, é o que se mostra nisso: os limites da linguagem (a linguagem que, só ela, eu entendo) significam os limites de meu mundo (5.62). Não acreditamos a priori numa lei de conservação, mas sabemos a priori da possibilidade de uma forma lógica (6.33). A lógica não é uma teoria, mas uma imagem especular do mundo. A lógica é transcendental (6.13). Mundo e linguagem, em Wittgenstein, coincidem. O que retrata tal coincidência? Que só é mundo aquilo que se consegue descrever? Que, se não se conhece determinada linguagem, também não se pode conhecer seu mundo? Decorre daí, que somente se pode participar de uma sociedade com a qual se compartilhe a língua? Provavelmente pode-se argumentar que o que Wittgenstein quer dizer com "a linguagem que eu entendo", não é a linguagem no seu sentido de língua: português, alemão, francês etc., pois esta diferença entre elas é apenas convencional. O que ele quer dizer é: a linguagem é uma só, isto é, todas as línguas formam uma linguagem. A linguagem como sendo uma quer dizer, no Tractatus, que a linguagem tem leis a priori que a regem e, por isso, nada pode ser pensado ilogicamente, seria inaceitável uma linguagem ilógica. A lógica deve estar presente em toda língua, para que a linguagem tenha sentido. Entretanto, se apenas se pode conceber a visão de mundo que uma linguagem dá, isto pode ser tomado na acepção de que a escolha daquilo que se pode pensar só pode ser feita a partir das possibilidades de representação que se tem; ou seja, só se pode considerar como o mundo de cada um aquele que Página 34
25 está sujeito a figurar-se. Melhor dizendo: não há nenhuma concepção de mundo para além da linguagem. A teoria filosófica da linguagem, no Tractatus, é de natureza semântica, porque assim como a semântica determina s de significação e de representação para a linguagem, a linguagem, nesta obra, traduz-se pela determinação de sua estrutura e de seus limites. "Na lógica, nada é casual: se a coisa de aparecer no estado de coisas, a possibilidade do estado coisas já deve estar prejulgada na coisa" (2.012). A estrutura da linguagem tem, como fronteira, os fatos do mundo. E os limites da linguagem são traçados pelo que pode ser dito e representado. Na medida em que a linguagem tem a forma lógica como condição de possibilidade para expressar o mundo, ela parece estar aí limitada ao contingente e parece refletir a necessidade que limita a realidade na sua estrutura quando a linguagem desvela a estrutura do discurso, ela vela também a estrutura da realidade. A linguagem mantém na relação especular com o mundo. Como a linguagem incide com o mundo, essas duas estruturas - da linguagem do mundo - poderiam ser vistas como sendo uma única estrutura: a forma lógica. Neste sentido, pode-se dizer que função semântica estrutura o mundo ao expressa-lo como também ao descrevê-lo. Neste aspecto, a descrição e o expressar podem ser vistos como os "funtivos" da função semântica da linguagem. CONCLUSÃO As funções predicativa e semântica da linguagem, lesar de parecerem totalmente diferentes e separadas, no fundo, apresentam algumas características que as unem. Dessas características pode-se afirmar, inicialmente, que estas funções também as demais "funções" da linguagem, como as ficcionais, fantásticas, míticas etc., que não foram tratadas aqui, participam são constituintes da função fundamental da linguagem: estruturar significativamente o mundo. Daí, de acordo com que foi explicitado, anteriormente, pode-se dizer que as Ias funções escolhidas para exemplificar os diversos modos Página 35
26 de atuação da linguagem são, na verdade, "funtivos" ou modos de exercício da função primordial da linguagem. O termo função foi usado tanto para especificar a função originária da linguagem tanto quanto para designar seus "funtivos", para realçar a intercomunicabilidade e interdependência existentes entre estes termos. A intercomunicabilidade da função e seus "funtivos" é essencial para a fundamentação da linguagem. Toda riqueza de significações que a linguagem produz advém desta intercomunicabilidade. A interdependência dos "funtivos" em relação à função fundamental da linguagem permite que esses ocupem o seu lugar e, como conseqüência, os "funtivos" da função apresentam-se como se fossem a própria função. É pelo fato de que cada um destes "funtivos" se apresenta como significando mundo que eles também foram chamados de função e participam da mesma capacidade da linguagem de estruturar mundo. A segunda característica comum entre os "funtivos" ou "funções" diz respeito à forma como cada "funtivo" (função) significa mundo. Se a primeira característica identifica as "funções" como possibilidade de dizer o que é mundo, esta segunda característica as diferencia uma da outra. Mas, esta diferenciação só é possível a partir daquilo que as identificou, ou seja, que cada uma procura estruturar a concepção de mundo, como faz a função fundamental da linguagem. A forma que cada função ("funtivo") tem para estruturar o mundo marca o lugar de cada uma delas, como sendo predicativa, semântica etc. e assim as diferenciam uma das outras. Ainda pode-se indicar, como terceira característica comum entre as "funções", o fato de que se elas operam como se fossem a função fundamental da linguagem; então, elas também devem possuir "funtivos". Como se mostrou, os "funtivos" da função predicativa são representados pelas categorias (determinação) e pela forma apofântica do discurso (declaração). A função predicativa institui a realidade, através de declarações afirmativas ou negativas que dizem respeito à verdade ou falsidade sobre aquilo que é dito de algo. O representar determinante da predicação declara algo sobre algo e assim edifica uma concepção de mundo. Já a forma Página 36
fragmentos dos diálogos categorias e obras da exortativas interpretação aristóteles introdução, tradução e notas ricardo santos tradução ( universidad
 fragmentos dos diálogos categorias e obras da exortativas interpretação aristóteles introdução, tradução e notas ricardo santos tradução ( universidade e textos introdutórios de lisboa) antónio de castro
fragmentos dos diálogos categorias e obras da exortativas interpretação aristóteles introdução, tradução e notas ricardo santos tradução ( universidade e textos introdutórios de lisboa) antónio de castro
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura
 O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
O caráter não-ontológico do eu na Crítica da Razão Pura Adriano Bueno Kurle 1 1.Introdução A questão a tratar aqui é a do conceito de eu na filosofia teórica de Kant, mais especificamente na Crítica da
constituímos o mundo, mais especificamente, é a relação de referência, entendida como remissão das palavras às coisas que estabelece uma íntima
 1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
1 Introdução Esta tese aborda o tema da relação entre mundo e linguagem na filosofia de Nelson Goodman ou, para usar o seu vocabulário, entre mundo e versões de mundo. Mais especificamente pretendemos
A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS
 A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS O que é a metafísica? É a investigação das causas primeiras de todas as coisas existentes e estuda o ser enquanto ser. É a ciência que serve de fundamento para
A METAFÍSICA E A TEORIA DAS QUATRO CAUSAS O que é a metafísica? É a investigação das causas primeiras de todas as coisas existentes e estuda o ser enquanto ser. É a ciência que serve de fundamento para
FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS
 FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO - 36 Esperava-se que o estudante estabelecesse a distinção entre verdade e validade e descrevesse suas respectivas aplicações. Item
FILOSOFIA - ENADE 2005 PADRÃO DE RESPOSTAS QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO - 36 Esperava-se que o estudante estabelecesse a distinção entre verdade e validade e descrevesse suas respectivas aplicações. Item
filosofia, 2, NORMORE, C. Some Aspects of Ockham s Logic, p. 34.
 Introdução Na Idade Média, a lógica foi concebida como a ciência da razão (scientia rationalis) ou como a ciência do discurso (scientia sermocinalis). Em geral, a primeira concepção distingue-se por identificar
Introdução Na Idade Média, a lógica foi concebida como a ciência da razão (scientia rationalis) ou como a ciência do discurso (scientia sermocinalis). Em geral, a primeira concepção distingue-se por identificar
A Negação como uma Operação Formal
 143 Rogério Saucedo Corrêa 1 A Negação como uma Operação Formal A Negação como uma Operação Formal Rogério Saucedo Corrêa Resumo A distinção entre operação e operação de verdade permite esclarecer o caráter
143 Rogério Saucedo Corrêa 1 A Negação como uma Operação Formal A Negação como uma Operação Formal Rogério Saucedo Corrêa Resumo A distinção entre operação e operação de verdade permite esclarecer o caráter
Uma questão acerca do espaço lógico no Tractatus Logico-Philosophicus
 Uma questão acerca do espaço lógico no Tractatus Logico-Philosophicus Gustavo Gueraldini Michetti Mestrando em Filosofia pela UFSCar Bolsista CAPES gusmichetti@gmail.com Palavras-chave Espaço lógico. Fatos.
Uma questão acerca do espaço lógico no Tractatus Logico-Philosophicus Gustavo Gueraldini Michetti Mestrando em Filosofia pela UFSCar Bolsista CAPES gusmichetti@gmail.com Palavras-chave Espaço lógico. Fatos.
AULA FILOSOFIA. O realismo aristotélico
 AULA FILOSOFIA O realismo aristotélico DEFINIÇÃO O realismo aristotélico representa, na Grécia antiga, ao lado das filosofias de Sócrates e Platão, uma reação ao discurso dos sofistas e uma tentativa de
AULA FILOSOFIA O realismo aristotélico DEFINIÇÃO O realismo aristotélico representa, na Grécia antiga, ao lado das filosofias de Sócrates e Platão, uma reação ao discurso dos sofistas e uma tentativa de
Metodologia do Trabalho Científico
 Especialização em Redes de Computadores Metodologia do Trabalho Científico Ciência e Conhecimento Científico Tipos de Conhecimento Antes de conceituar conhecimento científico, é necessário diferenciá-lo
Especialização em Redes de Computadores Metodologia do Trabalho Científico Ciência e Conhecimento Científico Tipos de Conhecimento Antes de conceituar conhecimento científico, é necessário diferenciá-lo
Lógica Computacional
 Lógica Computacional Frases Quantificadas Quantificadores e Variáveis Fórmulas Bem Formadas: Sintaxe e Semântica Formas Aristotélicas 21 Outubro 2013 Lógica Computacional 1 Frases Quantificadas - Existem
Lógica Computacional Frases Quantificadas Quantificadores e Variáveis Fórmulas Bem Formadas: Sintaxe e Semântica Formas Aristotélicas 21 Outubro 2013 Lógica Computacional 1 Frases Quantificadas - Existem
Versão integral disponível em digitalis.uc.pt
 TEODORICO DE FREIBERG TRATADO SOBRE A ORIGEM DAS COISAS CATEGORIAIS LUÍS M. AUGUSTO * Introdução 1 3. Introdução Analítica às Diferentes Partes do Tratado 3.6. Capítulo 5 Após as longas digressões metafísicas
TEODORICO DE FREIBERG TRATADO SOBRE A ORIGEM DAS COISAS CATEGORIAIS LUÍS M. AUGUSTO * Introdução 1 3. Introdução Analítica às Diferentes Partes do Tratado 3.6. Capítulo 5 Após as longas digressões metafísicas
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DISCURSO COTIDIANO NO PENSAMENTO DE MARTIN HEIDEGGER
 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DISCURSO COTIDIANO NO PENSAMENTO DE MARTIN HEIDEGGER Marcos Paulo A. de Jesus Bolsista PET - Filosofia / UFSJ (MEC/SESu/DEPEM) Orientadora: Profa. Dra. Glória Maria Ferreira Ribeiro
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DISCURSO COTIDIANO NO PENSAMENTO DE MARTIN HEIDEGGER Marcos Paulo A. de Jesus Bolsista PET - Filosofia / UFSJ (MEC/SESu/DEPEM) Orientadora: Profa. Dra. Glória Maria Ferreira Ribeiro
ARISTÓTELES ( )
 ARISTÓTELES (384 322) Nascido em Estagira; Juntamente com seu mestre Platão, é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental; Professor de Alexandre O Grande. METAFÍSICA Uma das principais obras
ARISTÓTELES (384 322) Nascido em Estagira; Juntamente com seu mestre Platão, é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental; Professor de Alexandre O Grande. METAFÍSICA Uma das principais obras
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1
 NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
NOTAS DE AULA CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 1 Profa. Gláucia Russo Um projeto de pesquisa pode se organizar de diversas formas, naquela que estamos trabalhando aqui, a problematização estaria
OS DIFERENTES CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE PALAVRAS EM GRAMÁTICAS ESCOLARES
 OS DIFERENTES CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE PALAVRAS EM GRAMÁTICAS ESCOLARES Maria Luiza Casado Silva casadoluiza01@gmail.com Luana Lima Cabral da Silva luannnalima78@gmail.com Universidade
OS DIFERENTES CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE PALAVRAS EM GRAMÁTICAS ESCOLARES Maria Luiza Casado Silva casadoluiza01@gmail.com Luana Lima Cabral da Silva luannnalima78@gmail.com Universidade
O PRINCíPIO METAFóRICO DA LINGUAGEM - O APODIGMA. Vera Lúcia Albuquerque de Moraes
 \1Jo \-?.; c:j O PRINCíPIO METAFóRICO DA LINGUAGEM - O APODIGMA Vera Lúcia Albuquerque de Moraes A dinâmica isomórfica de projeção, possibilitada pela forma lógica, determina a figuração dos fatos reais
\1Jo \-?.; c:j O PRINCíPIO METAFóRICO DA LINGUAGEM - O APODIGMA Vera Lúcia Albuquerque de Moraes A dinâmica isomórfica de projeção, possibilitada pela forma lógica, determina a figuração dos fatos reais
O FENOMENO DO MUNDO NO PENSAMENTO DE MARTIN HEIDEGGER
 O FENOMENO DO MUNDO NO PENSAMENTO DE MARTIN HEIDEGGER Caroline Martins de Sousa Bolsista PET - Filosofia / UFSJ (MEC/SESu/DEPEM) Orientadora: Profa. Dra. Glória Maria Ferreira Ribeiro - DFIME / UFSJ (Tutora
O FENOMENO DO MUNDO NO PENSAMENTO DE MARTIN HEIDEGGER Caroline Martins de Sousa Bolsista PET - Filosofia / UFSJ (MEC/SESu/DEPEM) Orientadora: Profa. Dra. Glória Maria Ferreira Ribeiro - DFIME / UFSJ (Tutora
Plano de Atividades Pós-Doutorado
 Plano de Atividades Pós-Doutorado O presente projeto de pesquisa tem a proposta de três bolsas de pósdoutorados, para candidatos selecionados com base em uma chamada internacional, de modo a desenvolverem
Plano de Atividades Pós-Doutorado O presente projeto de pesquisa tem a proposta de três bolsas de pósdoutorados, para candidatos selecionados com base em uma chamada internacional, de modo a desenvolverem
Cálculo proposicional
 Notas de aula de MAC0329 (2003) 9 2 Cálculo proposicional Referências para esta parte do curso: capítulo 1 de [Mendelson, 1977], capítulo 3 de [Whitesitt, 1961]. Proposição Proposições são sentenças afirmativas
Notas de aula de MAC0329 (2003) 9 2 Cálculo proposicional Referências para esta parte do curso: capítulo 1 de [Mendelson, 1977], capítulo 3 de [Whitesitt, 1961]. Proposição Proposições são sentenças afirmativas
DERRIDA. 1. Argélia: 1930 / França: 2004
 DERRIDA 1. Argélia: 1930 / França: 2004 2. Temas e conceitos privilegiados: Desconstrução, diferência, diferença, escrita, palavra, sentido, significante 3. Principais influências: Rousseau, Husserl, Heidegger,
DERRIDA 1. Argélia: 1930 / França: 2004 2. Temas e conceitos privilegiados: Desconstrução, diferência, diferença, escrita, palavra, sentido, significante 3. Principais influências: Rousseau, Husserl, Heidegger,
Filosofia (aula 7) Dimmy Chaar Prof. de Filosofia. SAE
 Filosofia (aula 7) Prof. de Filosofia SAE leodcc@hotmail.com Linguagem Existe entre o poder da palavra e a disposição da alma a mesma relação entre a disposição dos remédios e a natureza do corpo. Alguns
Filosofia (aula 7) Prof. de Filosofia SAE leodcc@hotmail.com Linguagem Existe entre o poder da palavra e a disposição da alma a mesma relação entre a disposição dos remédios e a natureza do corpo. Alguns
Introdução à Lógica Proposicional Sintaxe
 Bacharelado em Ciência e Tecnologia BC&T Introdução à Lógica Proposicional Sintaxe PASSOS PARA O ESTUDO DE LÓGICA Prof a Maria das Graças Marietto graca.marietto@ufabc.edu.br 2 ESTUDO DE LÓGICA O estudo
Bacharelado em Ciência e Tecnologia BC&T Introdução à Lógica Proposicional Sintaxe PASSOS PARA O ESTUDO DE LÓGICA Prof a Maria das Graças Marietto graca.marietto@ufabc.edu.br 2 ESTUDO DE LÓGICA O estudo
IDEALISMO ESPECULATIVO E A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO CURSO DE EXTENSÃO 22/10/ Prof. Ricardo Pereira Tassinari
 IDEALISMO ESPECULATIVO E A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO CURSO DE EXTENSÃO 22/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 20 Se tomarmos o pensar na sua representação mais próxima, aparece, α) antes
IDEALISMO ESPECULATIVO E A FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO CURSO DE EXTENSÃO 22/10/2011 - Prof. Ricardo Pereira Tassinari TEXTO BASE 1 20 Se tomarmos o pensar na sua representação mais próxima, aparece, α) antes
Semântica e Gramática
 Cadernos de Letras da UFF- GLC, n. 27, p. 181-185, 2003 181 Semântica e Gramática Monika Benttenmuller Amorim Maira Primo de Medeiros Lacerda RESUMO Esta resenha tem por objetivo apresentar as propostas
Cadernos de Letras da UFF- GLC, n. 27, p. 181-185, 2003 181 Semântica e Gramática Monika Benttenmuller Amorim Maira Primo de Medeiros Lacerda RESUMO Esta resenha tem por objetivo apresentar as propostas
Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões
 Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões Questão nº 1 - Resposta B Justificativa: O amante do mito é de certo modo também um filósofo, uma vez que o mito se compõe de maravilhas
Prova Global Simulado 6º. Filosofia 2014/2 Devolutiva das questões Questão nº 1 - Resposta B Justificativa: O amante do mito é de certo modo também um filósofo, uma vez que o mito se compõe de maravilhas
Aristóteles, Ética a Nicômaco, X 7, 1177 b 33.
 91 tornar-se tanto quanto possível imortal Aristóteles, Ética a Nicômaco, X 7, 1177 b 33. 92 5. Conclusão Qual é o objeto da vida humana? Qual é o seu propósito? Qual é o seu significado? De todas as respostas
91 tornar-se tanto quanto possível imortal Aristóteles, Ética a Nicômaco, X 7, 1177 b 33. 92 5. Conclusão Qual é o objeto da vida humana? Qual é o seu propósito? Qual é o seu significado? De todas as respostas
PENSAMENTO CRÍTICO. Aula 4. Profa. Dra. Patrícia Del Nero Velasco Universidade Federal do ABC
 PENSAMENTO CRÍTICO Aula 4 Profa. Dra. Patrícia Del Nero Velasco Universidade Federal do ABC 2016-2 Conceitos trabalhados até aqui: Inferência; Premissa; Conclusão; Argumento; Premissa Básica; Premissa
PENSAMENTO CRÍTICO Aula 4 Profa. Dra. Patrícia Del Nero Velasco Universidade Federal do ABC 2016-2 Conceitos trabalhados até aqui: Inferência; Premissa; Conclusão; Argumento; Premissa Básica; Premissa
4 - Considerações finais
 4 - Considerações finais Eduardo Ramos Coimbra de Souza SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros SOUZA, ERC. Considerações finais. In: Schopenhauer e os conhecimentos intuitivo e abstrato: uma teoria
4 - Considerações finais Eduardo Ramos Coimbra de Souza SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros SOUZA, ERC. Considerações finais. In: Schopenhauer e os conhecimentos intuitivo e abstrato: uma teoria
Aula 3 - Modelo Entidade-Relacionamento
 Aula 3 - Modelo Entidade-Relacionamento 1. Conceitos básicos O modelo Entidade-Relacionamento (E-R) tem por base a percepção de que o mundo real é formado por um conjunto de objetos chamados de entidades
Aula 3 - Modelo Entidade-Relacionamento 1. Conceitos básicos O modelo Entidade-Relacionamento (E-R) tem por base a percepção de que o mundo real é formado por um conjunto de objetos chamados de entidades
Resumo: A grande maioria dos dilemas filosóficos, só
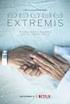 Filosofia Clínica e Exames Categoriais Contribuições de Ryle para a Filosofia Clínica, em especial para os exames Categoriais. Vera Lucia Laporta Analista junguiana e Especialista em Formação em Filosofia
Filosofia Clínica e Exames Categoriais Contribuições de Ryle para a Filosofia Clínica, em especial para os exames Categoriais. Vera Lucia Laporta Analista junguiana e Especialista em Formação em Filosofia
Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen
 1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
1 Vocabulário Filosófico Dr. Greg L. Bahnsen Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com GERAL Razão: capacidade intelectual ou mental do homem. Pressuposição: uma suposição elementar,
COMO LER NOTAÇÃO LÓGICA
 COMO LER NOTAÇÃO LÓGICA DARREN BRIERTON TRADUÇÃO DE AISLAN ALVES BEZERRA Conectivos Proposicionais O primeiro conjunto de símbolos que introduzir-vos-ei são chamados de conectivos proposicionais porque
COMO LER NOTAÇÃO LÓGICA DARREN BRIERTON TRADUÇÃO DE AISLAN ALVES BEZERRA Conectivos Proposicionais O primeiro conjunto de símbolos que introduzir-vos-ei são chamados de conectivos proposicionais porque
1 Introdução. 1 CÂMARA JR., J.M, Estrutura da língua portuguesa, p Ibid. p. 88.
 1 Introdução A categoria tempo é um dos pontos mais complexos dos estudos em língua portuguesa. Por se tratar de um campo que envolve, sobretudo, conceitos igualmente complexos como semântica e interpretação
1 Introdução A categoria tempo é um dos pontos mais complexos dos estudos em língua portuguesa. Por se tratar de um campo que envolve, sobretudo, conceitos igualmente complexos como semântica e interpretação
Português. 1. Signo natural
 Português Ficha de apoio 1 1 os anos João Cunha fev/12 Nome: Nº: Turma: Signos O signo é objeto de estudo de ciências como a Semiologia, a Semiótica e a Linguística, entre outras. Existem várias teorias
Português Ficha de apoio 1 1 os anos João Cunha fev/12 Nome: Nº: Turma: Signos O signo é objeto de estudo de ciências como a Semiologia, a Semiótica e a Linguística, entre outras. Existem várias teorias
Metodologia do Trabalho Científico
 Metodologia do Trabalho Científico Teoria e Prática Científica Antônio Joaquim Severino Grupo de pesquisa: Educação e saúde /enfermagem: políticas, práticas, formação profissional e formação de professores
Metodologia do Trabalho Científico Teoria e Prática Científica Antônio Joaquim Severino Grupo de pesquisa: Educação e saúde /enfermagem: políticas, práticas, formação profissional e formação de professores
4 Considerações finais
 4 Considerações finais Concluindo esta dissertação, pensamos que seu objetivo tenha sido alcançado. Após a realização desta pesquisa, descrevemos as principais idéias de Tarso Mazzotti a respeito da argumentação
4 Considerações finais Concluindo esta dissertação, pensamos que seu objetivo tenha sido alcançado. Após a realização desta pesquisa, descrevemos as principais idéias de Tarso Mazzotti a respeito da argumentação
A LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. Bruno Senoski do Prado (PIBIC), Marciano Adilio Spica (Orientador),
 A LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. Bruno Senoski do Prado (PIBIC), Marciano Adilio Spica (Orientador), e-mail: marciano.spica@gmail.com Universidade Estadual do Centro-Oeste, Setor de Ciências Humanas,
A LINGUAGEM NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. Bruno Senoski do Prado (PIBIC), Marciano Adilio Spica (Orientador), e-mail: marciano.spica@gmail.com Universidade Estadual do Centro-Oeste, Setor de Ciências Humanas,
RELAÇÃO ENTRE ESSÊNCIA E DEFINIÇÃO NAS SUBSTÂNCIAS COMPOSTAS EM TOMÁS DE AQUINO NO LIVRO ENTE E A ESSÊNCIA
 RELAÇÃO ENTRE ESSÊNCIA E DEFINIÇÃO NAS SUBSTÂNCIAS COMPOSTAS EM TOMÁS DE AQUINO NO LIVRO ENTE E A ESSÊNCIA Allan Wolney Mesquita Santos 8 Resumo: O termo definição no livro O Ente e a Essência de Tomás
RELAÇÃO ENTRE ESSÊNCIA E DEFINIÇÃO NAS SUBSTÂNCIAS COMPOSTAS EM TOMÁS DE AQUINO NO LIVRO ENTE E A ESSÊNCIA Allan Wolney Mesquita Santos 8 Resumo: O termo definição no livro O Ente e a Essência de Tomás
Leia, com atenção, o texto abaixo (Texto I), para responder às questões de 01 a 04. A identidade e a diferença: o poder de definir
 Leia, com atenção, o texto abaixo (Texto I), para responder às questões de 01 a 04. A identidade e a diferença: o poder de definir A identidade e a diferença são o resultado de um processo de produção
Leia, com atenção, o texto abaixo (Texto I), para responder às questões de 01 a 04. A identidade e a diferença: o poder de definir A identidade e a diferença são o resultado de um processo de produção
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010
 NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010 12 Daniel José Crocoli * A obra Sobre ética apresenta as diferentes formas de se pensar a dimensão ética, fazendo
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2010 12 Daniel José Crocoli * A obra Sobre ética apresenta as diferentes formas de se pensar a dimensão ética, fazendo
Expandindo o Vocabulário. Tópicos Adicionais. Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto. 12 de junho de 2019
 Material Teórico - Módulo de INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA Expandindo o Vocabulário Tópicos Adicionais Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto 12 de junho de 2019
Material Teórico - Módulo de INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA Expandindo o Vocabulário Tópicos Adicionais Autor: Prof. Francisco Bruno Holanda Revisor: Prof. Antônio Caminha Muniz Neto 12 de junho de 2019
Resenha Especiaria n 19.indd 343 Especiaria n 19.indd 343 6/11/ :13:09 6/11/ :13:09
 Resenha Especiaria n 19.indd 343 6/11/2009 08:13:09 RESENHA Sobre a liberdade da expressão Imaculada Kangussu E-mail: lkangassu@gmail.com Palavras-chave: Adorno. Expressão. Liberdade. Especiaria n 19.indd
Resenha Especiaria n 19.indd 343 6/11/2009 08:13:09 RESENHA Sobre a liberdade da expressão Imaculada Kangussu E-mail: lkangassu@gmail.com Palavras-chave: Adorno. Expressão. Liberdade. Especiaria n 19.indd
Filosofia COTAÇÕES GRUPO I GRUPO II GRUPO III. Teste Intermédio de Filosofia. Teste Intermédio. Duração do Teste: 90 minutos
 Teste Intermédio de Filosofia Teste Intermédio Filosofia Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março 1. 2. COTAÇÕES GRUPO I 1.1.... 10 pontos
Teste Intermédio de Filosofia Teste Intermédio Filosofia Duração do Teste: 90 minutos 20.04.2012 11.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março 1. 2. COTAÇÕES GRUPO I 1.1.... 10 pontos
COMENTÁRIO AO DE INTERPRETATIONE DE ARISTÓTELES
 CONDENSADO DO COMENTÁRIO DE S. TOMÁS DE AQUINO AO DE INTERPRETATIONE DE ARISTÓTELES:Index. S. Tomás de Aquino COMENTÁRIO AO DE INTERPRETATIONE DE ARISTÓTELES CONDENSADO Livro Primeiro I. INTRODUÇÃO DE
CONDENSADO DO COMENTÁRIO DE S. TOMÁS DE AQUINO AO DE INTERPRETATIONE DE ARISTÓTELES:Index. S. Tomás de Aquino COMENTÁRIO AO DE INTERPRETATIONE DE ARISTÓTELES CONDENSADO Livro Primeiro I. INTRODUÇÃO DE
O Projeto de TCC. Como elaborar??? Claudia Brandelero Rizzi. (com contribuições do Clodis e Adriana)
 O Projeto de TCC Como elaborar??? Claudia Brandelero Rizzi (com contribuições do Clodis e Adriana) O Projeto de Pesquisa Título Apesar de ser o primeiro item a ser lido em um projeto, o título também pode
O Projeto de TCC Como elaborar??? Claudia Brandelero Rizzi (com contribuições do Clodis e Adriana) O Projeto de Pesquisa Título Apesar de ser o primeiro item a ser lido em um projeto, o título também pode
KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA. Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense
 KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense marcos_giusti@uol.com.br Resumo: A crítica kantiana à metafísica, diferentemente do que exprimem
KANT: A DISTINÇÃO ENTRE METAFÍSICA E CIÊNCIA Marcos Vinicio Guimarães Giusti Instituto Federal Fluminense marcos_giusti@uol.com.br Resumo: A crítica kantiana à metafísica, diferentemente do que exprimem
Semiótica. Prof. Veríssimo Ferreira
 Semiótica Prof. Veríssimo Ferreira Natureza e Cultura Domínio da Natureza Universo das coisas naturais. Domínio da Cultura Universo das práticas sociais humanas. Cultura Fazer humano transmitido às gerações
Semiótica Prof. Veríssimo Ferreira Natureza e Cultura Domínio da Natureza Universo das coisas naturais. Domínio da Cultura Universo das práticas sociais humanas. Cultura Fazer humano transmitido às gerações
RACIOCÍNIO ANALÍTICO COMUNICAÇÃO EFICIENTE DE ARGUMENTOS - LINGUAGEM- Professor Josimar Padilha
 RACIOCÍNIO ANALÍTICO COMUNICAÇÃO EFICIENTE DE ARGUMENTOS - LINGUAGEM- Professor Josimar Padilha I SENTENÇAS Expressão de um pensamento completo. São compostas por um sujeito (algo que se declara) e por
RACIOCÍNIO ANALÍTICO COMUNICAÇÃO EFICIENTE DE ARGUMENTOS - LINGUAGEM- Professor Josimar Padilha I SENTENÇAS Expressão de um pensamento completo. São compostas por um sujeito (algo que se declara) e por
Professora: Jéssica Nayra Sayão de Paula
 Professora: Jéssica Nayra Sayão de Paula Conceitos básicos e importantes a serem fixados: 1- Sincronia e Diacronia; 2- Língua e Fala 3- Significante e Significado 4- Paradigma e Sintagma 5- Fonética e
Professora: Jéssica Nayra Sayão de Paula Conceitos básicos e importantes a serem fixados: 1- Sincronia e Diacronia; 2- Língua e Fala 3- Significante e Significado 4- Paradigma e Sintagma 5- Fonética e
Lógica Proposicional Parte 2
 Lógica Proposicional Parte 2 Como vimos na aula passada, podemos usar os operadores lógicos para combinar afirmações criando, assim, novas afirmações. Com o que vimos, já podemos combinar afirmações conhecidas
Lógica Proposicional Parte 2 Como vimos na aula passada, podemos usar os operadores lógicos para combinar afirmações criando, assim, novas afirmações. Com o que vimos, já podemos combinar afirmações conhecidas
DISCURSO, PRAXIS E SABER DO DIREITO
 DISCURSO, PRAXIS E SABER DO DIREITO ELZA ANTONIA PEREIRA CUNHA MESTRANDA CPGD - UFSC A análise do discurso jurídico, proposta por nossa equipe, reside num quadro epistemológico geral com articulação de
DISCURSO, PRAXIS E SABER DO DIREITO ELZA ANTONIA PEREIRA CUNHA MESTRANDA CPGD - UFSC A análise do discurso jurídico, proposta por nossa equipe, reside num quadro epistemológico geral com articulação de
manifestações científicas, gêneros literários (provérbio, poesia, romance) etc. AULA GÊNEROS DISCURSIVOS: NOÇÕES - CONTINUAÇÃO -
 AULA GÊNEROS DISCURSIVOS: NOÇÕES - CONTINUAÇÃO - Texto Bakhtin (2003:261-305): Introdução Campos da atividade humana ligados ao uso da linguagem O emprego da língua se dá em formas de enunciados o Os enunciados
AULA GÊNEROS DISCURSIVOS: NOÇÕES - CONTINUAÇÃO - Texto Bakhtin (2003:261-305): Introdução Campos da atividade humana ligados ao uso da linguagem O emprego da língua se dá em formas de enunciados o Os enunciados
Este capítulo aborda os fundamentos principais aplicados neste trabalho.
 2 Fundamentos Este capítulo aborda os fundamentos principais aplicados neste trabalho. 2.1 Linked Data Linked Data é um padrão de práticas a serem seguidas para a publicação e interligação de dados estruturados
2 Fundamentos Este capítulo aborda os fundamentos principais aplicados neste trabalho. 2.1 Linked Data Linked Data é um padrão de práticas a serem seguidas para a publicação e interligação de dados estruturados
A FENOMENOLOGIA E A LIBERDADE EM SARTRE
 1- Anais - Congresso de Fenomenologia da Região Centro-Oeste A FENOMENOLOGIA E A LIBERDADE EM SARTRE Joao Victor Albuquerque 1 Aluno graduando do Curso de Filosofia-UFG joão.victorcbjr@hotmail.com Eixo
1- Anais - Congresso de Fenomenologia da Região Centro-Oeste A FENOMENOLOGIA E A LIBERDADE EM SARTRE Joao Victor Albuquerque 1 Aluno graduando do Curso de Filosofia-UFG joão.victorcbjr@hotmail.com Eixo
A LÓGICA E SUA APLICAÇÃO. O problema das formas possíveis das proposições elementares no Tractatus Logico-philosophicus de Wittgenstein
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA A LÓGICA E SUA APLICAÇÃO O problema das formas possíveis das proposições elementares
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA A LÓGICA E SUA APLICAÇÃO O problema das formas possíveis das proposições elementares
CANAL ESBOÇO DE LEITURAS SIMPLES APREENSÃO. CANAL ESBOÇO DE LEITURAS. A lógica formal ou dialética
 ap SIMPLES APREENSÃO A lógica formal ou dialética OPERAÇÕES INTELECTUAIS APREENSÃO (Termo) JUÍZO (Proposição) RACIOCÍNIO (Argumento) 1 Conceito de apreensão Apreender é o ato pelo qual a inteligência concebe
ap SIMPLES APREENSÃO A lógica formal ou dialética OPERAÇÕES INTELECTUAIS APREENSÃO (Termo) JUÍZO (Proposição) RACIOCÍNIO (Argumento) 1 Conceito de apreensão Apreender é o ato pelo qual a inteligência concebe
Indiscernibilidade de Idênticos. Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de idênticos
 Indiscernibilidade de Idênticos Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de Consideremos agora o caso das atitudes proposicionais, das construções epistémicas e psicológicas, e perguntemo-nos se é
Indiscernibilidade de Idênticos Atitudes Proposicionais e indiscernibilidade de Consideremos agora o caso das atitudes proposicionais, das construções epistémicas e psicológicas, e perguntemo-nos se é
COLÉGIO SHALOM ENSINO MEDIO 1 ANO - filosofia. Profº: TONHÃO Disciplina: FILOSOFIA Aluno (a):. No.
 COLÉGIO SHALOM ENSINO MEDIO 1 ANO - filosofia 65 Profº: TONHÃO Disciplina: FILOSOFIA Aluno (a):. No. ROTEIRO DE RECUERAÇÃO ANUAL 2016 Data: / / FILOSOFIA 1º Ano do Ensino Médio 1º. O recuperando deverá
COLÉGIO SHALOM ENSINO MEDIO 1 ANO - filosofia 65 Profº: TONHÃO Disciplina: FILOSOFIA Aluno (a):. No. ROTEIRO DE RECUERAÇÃO ANUAL 2016 Data: / / FILOSOFIA 1º Ano do Ensino Médio 1º. O recuperando deverá
A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA
 MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
MAT1513 - Laboratório de Matemática - Diurno Professor David Pires Dias - 2017 Texto sobre Lógica (de autoria da Professora Iole de Freitas Druck) A LINGUAGEM DO DISCURSO MATEMÁTICO E SUA LÓGICA Iniciemos
INTRODUÇÃO A LÓGICA. Prof. André Aparecido da Silva Disponível em:
 INTRODUÇÃO A LÓGICA Prof. André Aparecido da Silva Disponível em: http://www.oxnar.com.br/aulas 1 CIENCIA E LÓGICA RACIOCINIO LÓGICO NOTAÇÃO POSICIONAL PRINCIPIOS DA LÓGICA CONECTIVOS LÓGICOS REGRAS DE
INTRODUÇÃO A LÓGICA Prof. André Aparecido da Silva Disponível em: http://www.oxnar.com.br/aulas 1 CIENCIA E LÓGICA RACIOCINIO LÓGICO NOTAÇÃO POSICIONAL PRINCIPIOS DA LÓGICA CONECTIVOS LÓGICOS REGRAS DE
1 Lógica de primeira ordem
 1 Lógica de primeira ordem 1.1 Sintaxe Para definir uma linguagem de primeira ordem é necessário dispor de um alfabeto. Este alfabeto introduz os símbolos à custa dos quais são construídos os termos e
1 Lógica de primeira ordem 1.1 Sintaxe Para definir uma linguagem de primeira ordem é necessário dispor de um alfabeto. Este alfabeto introduz os símbolos à custa dos quais são construídos os termos e
4.3 A solução de problemas segundo Pozo
 39 4.3 A solução de problemas segundo Pozo Na década de noventa, a publicação organizada por Pozo [19] nos dá uma visão mais atual da resolução de problemas. A obra sai um pouco do universo Matemático
39 4.3 A solução de problemas segundo Pozo Na década de noventa, a publicação organizada por Pozo [19] nos dá uma visão mais atual da resolução de problemas. A obra sai um pouco do universo Matemático
CADA PAÍS TEM UMA LÍNGUA DE SINAIS PRÓPRIA E A LIBRAS É A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
 CADA PAÍS TEM UMA LÍNGUA DE SINAIS PRÓPRIA E A LIBRAS É A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS Desse modo, a língua de sinais não é uma língua universal, pois adquire características diferentes em cada país e,
CADA PAÍS TEM UMA LÍNGUA DE SINAIS PRÓPRIA E A LIBRAS É A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS Desse modo, a língua de sinais não é uma língua universal, pois adquire características diferentes em cada país e,
Leia, com atenção, o texto abaixo (Texto I), para responder às questões de 01 a 04. A identidade e a diferença: o poder de definir
 Leia, com atenção, o texto abaixo (Texto I), para responder às questões de 01 a 04. A identidade e a diferença: o poder de definir A identidade e a diferença são o resultado de um processo de produção
Leia, com atenção, o texto abaixo (Texto I), para responder às questões de 01 a 04. A identidade e a diferença: o poder de definir A identidade e a diferença são o resultado de um processo de produção
Disciplina: Língua Portuguesa (Nível Médio) Grupo 2
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos Edital nº 293/2016 Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos Edital nº 293/2016 Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões
com que seja possível, dia após dia, reconhecer que continuamos a ser a mesma pessoa e eu o mundo ainda é o nosso mundo.
 1-Mostra como a dimensão social e cultural é determinante no processo de tornar-se humano. Para se tornar humano, este tem que passar por processos de aprendizagens de formas partilhadas e reconhecíveis
1-Mostra como a dimensão social e cultural é determinante no processo de tornar-se humano. Para se tornar humano, este tem que passar por processos de aprendizagens de formas partilhadas e reconhecíveis
PENSAMENTO E FIGURAÇÃO NO TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS TÍTULO Thought and picture in the Tractatus Logico-Philosophicus
 ISSN 0104-4443 Licenciado sob uma Licença Creative Commons PENSAMENTO E FIGURAÇÃO NO TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS TÍTULO Thought and picture in the Tractatus Logico-Philosophicus Rogério Saucedo Corrêa
ISSN 0104-4443 Licenciado sob uma Licença Creative Commons PENSAMENTO E FIGURAÇÃO NO TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS TÍTULO Thought and picture in the Tractatus Logico-Philosophicus Rogério Saucedo Corrêa
Perspectivas da Abordagem Sistêmico-Funcional
 Perspectivas da Abordagem Sistêmico-Funcional Ariel Novodvorski UFU Mestre em Estudos Linguísticos, Linguística Aplicada UFMG Fone: (34)3087-6776 E-mail: ariel_novodvorski@yahoo.com.br Data de recepção:
Perspectivas da Abordagem Sistêmico-Funcional Ariel Novodvorski UFU Mestre em Estudos Linguísticos, Linguística Aplicada UFMG Fone: (34)3087-6776 E-mail: ariel_novodvorski@yahoo.com.br Data de recepção:
produziu mais cedo será sempre anterior ao que se produziu mais tarde. Quanto aos conceitos temporais, Elias escreve:
 5 O Conceito Tempo Entender e conceituar o tempo sempre foi um desafio para o homem. Isaac Newton (1643 1727) criou o conceito de tempo absoluto, verdadeiro, matemático que flui constante e uniformemente.
5 O Conceito Tempo Entender e conceituar o tempo sempre foi um desafio para o homem. Isaac Newton (1643 1727) criou o conceito de tempo absoluto, verdadeiro, matemático que flui constante e uniformemente.
TESTE SEUS CONHECIMENTOS sobre o MESTRE GENEBRINO! Faça o teste, conte os pontos e veja no final comentários sobre a sua pontuação.
 TESTE SEUS CONHECIMENTOS sobre o MESTRE GENEBRINO! Faça o teste, conte os pontos e veja no final comentários sobre a sua pontuação. Você encontra as leituras de apoio ao exercício neste link: http://www.revel.inf.br/pt/edicoes/?mode=especial&id=13
TESTE SEUS CONHECIMENTOS sobre o MESTRE GENEBRINO! Faça o teste, conte os pontos e veja no final comentários sobre a sua pontuação. Você encontra as leituras de apoio ao exercício neste link: http://www.revel.inf.br/pt/edicoes/?mode=especial&id=13
Fundamentos 1. Lógica de Predicados
 Fundamentos 1 Lógica de Predicados Predicados Estudamos até agora a lógica proposicional Predicados Estudamos até agora a lógica proposicional A lógica proposicional têm possibilidade limitada de expressão.
Fundamentos 1 Lógica de Predicados Predicados Estudamos até agora a lógica proposicional Predicados Estudamos até agora a lógica proposicional A lógica proposicional têm possibilidade limitada de expressão.
Sobre este trecho do livro VII de A República, de Platão, é correto afirmar.
 O que é o mito da caverna? O que levou Platão a se decepcionar com a política? 3) Mas quem fosse inteligente (...) lembrar-se-ia de que as perturbações visuais são duplas, e por dupla causa, da passagem
O que é o mito da caverna? O que levou Platão a se decepcionar com a política? 3) Mas quem fosse inteligente (...) lembrar-se-ia de que as perturbações visuais são duplas, e por dupla causa, da passagem
Fundamentos 1. Lógica de Predicados
 Fundamentos 1 Lógica de Predicados Predicados e Quantificadores Estudamos até agora a lógica proposicional Predicados e Quantificadores Estudamos até agora a lógica proposicional A lógica proposicional
Fundamentos 1 Lógica de Predicados Predicados e Quantificadores Estudamos até agora a lógica proposicional Predicados e Quantificadores Estudamos até agora a lógica proposicional A lógica proposicional
ÉTICA AULA 3 PROF. IGOR ASSAF MENDES
 ÉTICA AULA 3 PROF. IGOR ASSAF MENDES LUDWIG WITTGENSTEIN Texto 2 LUDWIG WITTGENSTEIN 1889-1951 Estudou o significado conceitos filosóficos através da análise lógica da natureza das proposições da linguagem.
ÉTICA AULA 3 PROF. IGOR ASSAF MENDES LUDWIG WITTGENSTEIN Texto 2 LUDWIG WITTGENSTEIN 1889-1951 Estudou o significado conceitos filosóficos através da análise lógica da natureza das proposições da linguagem.
Texto. Denotação e Conotação. Como Ler e Entender Bem um Texto. Interpretação de textos métodos de interpretação Interpretação de textos
 Interpretação de textos métodos de interpretação Interpretação de textos Texto Os concursos apresentam questões interpretativas que têm por finalidade a identificação de um leitor autônomo. Portanto, o
Interpretação de textos métodos de interpretação Interpretação de textos Texto Os concursos apresentam questões interpretativas que têm por finalidade a identificação de um leitor autônomo. Portanto, o
BuscaLegis.ccj.ufsc.br
 BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
BuscaLegis.ccj.ufsc.br A Dúvida Metódica Em Descartes Antonio Wardison Canabrava da Silva* A busca pelo conhecimento é um atributo essencial do pensar filosófico. Desde o surgimento das investigações mitológicas,
Linguagem e Ideologia
 Linguagem e Ideologia Isabela Cristina dos Santos Basaia Graduanda Normal Superior FUPAC E-mail: isabelabasaia@hotmail.com Fone: (32)3372-4059 Data da recepção: 19/08/2009 Data da aprovação: 31/08/2011
Linguagem e Ideologia Isabela Cristina dos Santos Basaia Graduanda Normal Superior FUPAC E-mail: isabelabasaia@hotmail.com Fone: (32)3372-4059 Data da recepção: 19/08/2009 Data da aprovação: 31/08/2011
Introdução a Filosofia
 Introdução a Filosofia Baseado no texto de Ludwig Feuerbach, A essência do homem em geral, elaborem e respondam questões relacionadas a este tema. 1- Quem foi Feuerbach? PERGUNTAS 2- Qual é a diferença
Introdução a Filosofia Baseado no texto de Ludwig Feuerbach, A essência do homem em geral, elaborem e respondam questões relacionadas a este tema. 1- Quem foi Feuerbach? PERGUNTAS 2- Qual é a diferença
Por Fernanda Cintra Lauriano Silva. 1 Ética
 Analisa a ética enquanto influenciadora da conduta ideal e da conduta real dos indivíduos. Demonstra divergência doutrinária entre os conceitos de moral e ética, juízo de fato e juízo de valor e analisa
Analisa a ética enquanto influenciadora da conduta ideal e da conduta real dos indivíduos. Demonstra divergência doutrinária entre os conceitos de moral e ética, juízo de fato e juízo de valor e analisa
A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações
 A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações Marcio Tadeu Girotti * RESUMO Nosso objetivo consiste em apresentar a interpretação de Michelle
A ilusão transcendental da Crítica da razão pura e os princípios P1 e P2: uma contraposição de interpretações Marcio Tadeu Girotti * RESUMO Nosso objetivo consiste em apresentar a interpretação de Michelle
CONHECIMENTO POPULAR E/OU EMPÍRICO
 CONHECIMENTO POPULAR E/OU EMPÍRICO Ensino Médio 2º Ano - LPT Professor: Rafael Farias O conhecimento popular/empírico também pode ser designado vulgar ou de senso comum. Porém, nesse tipo de conhecimento,
CONHECIMENTO POPULAR E/OU EMPÍRICO Ensino Médio 2º Ano - LPT Professor: Rafael Farias O conhecimento popular/empírico também pode ser designado vulgar ou de senso comum. Porém, nesse tipo de conhecimento,
Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis
 77 Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis Renato Mendes Rocha 1 mendesrocha@gmail.com Resumo: O discurso a respeito dos Mundos Possíveis pode ser uma ferramenta bastante
77 Duas teorias realistas para a interpretação da semântica dos mundos possíveis Renato Mendes Rocha 1 mendesrocha@gmail.com Resumo: O discurso a respeito dos Mundos Possíveis pode ser uma ferramenta bastante
ANÁLISE DE DISCURSO de origem francesa. Circulação e textualização do conhecimento científico PPGECT maio 2015 Henrique César da Silva
 ANÁLISE DE DISCURSO de origem francesa Circulação e textualização do conhecimento científico PPGECT maio 2015 Henrique César da Silva Por que análise de discurso no campo da educação científica? Análise
ANÁLISE DE DISCURSO de origem francesa Circulação e textualização do conhecimento científico PPGECT maio 2015 Henrique César da Silva Por que análise de discurso no campo da educação científica? Análise
PERFIL DE APRENDIZAGENS 5ºANO
 5ºANO No final do 5º ano, o aluno deverá ser capaz de: No domínio da Oralidade: -Exprimir-se oralmente com progressiva autonomia e clareza em função de objetivos diversos. - Comunicar oralmente tendo em
5ºANO No final do 5º ano, o aluno deverá ser capaz de: No domínio da Oralidade: -Exprimir-se oralmente com progressiva autonomia e clareza em função de objetivos diversos. - Comunicar oralmente tendo em
4 A expressão do tempo através da conjunção quando
 4 A expressão do tempo através da conjunção quando A definição da categoria tempo nos estudos de língua portuguesa está ligada, conforme examinamos no capítulo três, à idéia de que uma situação localiza-se
4 A expressão do tempo através da conjunção quando A definição da categoria tempo nos estudos de língua portuguesa está ligada, conforme examinamos no capítulo três, à idéia de que uma situação localiza-se
PADRÃO DE RESPOSTA - FILOSOFIA - Grupo L
 PADRÃO DE RESPOSTA - FILOSOFIA - Grupo L 1 a QUESTÃO: (2,0 pontos) Avaliador Revisor No diálogo Fédon, escrito por Platão, seu personagem Sócrates afirma que a dedicação à Filosofia implica que a alma
PADRÃO DE RESPOSTA - FILOSOFIA - Grupo L 1 a QUESTÃO: (2,0 pontos) Avaliador Revisor No diálogo Fédon, escrito por Platão, seu personagem Sócrates afirma que a dedicação à Filosofia implica que a alma
Oi, Ficou curioso? Então conheça nosso universo.
 Oi, Somos do curso de Filosofia da Universidade Franciscana, e esse ebook é um produto exclusivo criado pra você. Nele, você pode ter um gostinho de como é uma das primeiras aulas do seu futuro curso.
Oi, Somos do curso de Filosofia da Universidade Franciscana, e esse ebook é um produto exclusivo criado pra você. Nele, você pode ter um gostinho de como é uma das primeiras aulas do seu futuro curso.
Kant e a filosofia crítica. Professora Gisele Masson UEPG
 Kant e a filosofia crítica Programa de Pós-Graduação em Educação Professora Gisele Masson UEPG Immanuel Kant (1724-1804) Principais obras Crítica da razão pura - 1781 Fundamentação da Metafísica dos Costumes
Kant e a filosofia crítica Programa de Pós-Graduação em Educação Professora Gisele Masson UEPG Immanuel Kant (1724-1804) Principais obras Crítica da razão pura - 1781 Fundamentação da Metafísica dos Costumes
Revista Filosofia Capital ISSN Vol. 1, Edição 1, Ano PASSADO É PRESENÇA A IMPORTÂNCIA DO PASSADO NA CONSTRUÇÃO DO SER PRESENTE
 64 PASSADO É PRESENÇA A IMPORTÂNCIA DO PASSADO NA CONSTRUÇÃO DO SER PRESENTE Raquel Silva de Brito kelsb10@hotmail.com Brasília-DF 2006 65 PASSADO É PRESENÇA A IMPORTÂNCIA DO PASSADO NA CONSTRUÇÃO DO SER
64 PASSADO É PRESENÇA A IMPORTÂNCIA DO PASSADO NA CONSTRUÇÃO DO SER PRESENTE Raquel Silva de Brito kelsb10@hotmail.com Brasília-DF 2006 65 PASSADO É PRESENÇA A IMPORTÂNCIA DO PASSADO NA CONSTRUÇÃO DO SER
1ª Fase PROVA OBJETIVA FILOSOFIA DO DIREITO
 1ª Fase PROVA OBJETIVA FILOSOFIA DO DIREITO P á g i n a 1 QUESTÃO 1 - Admitindo que a história da filosofia é uma sucessão de paradigmas, a ordem cronológica correta da sucessão dos paradigmas na história
1ª Fase PROVA OBJETIVA FILOSOFIA DO DIREITO P á g i n a 1 QUESTÃO 1 - Admitindo que a história da filosofia é uma sucessão de paradigmas, a ordem cronológica correta da sucessão dos paradigmas na história
IDEOLOGIA: UMA IDEIA OU UMA INFLUÊNCIA?
 Matheus Silva Freire IDEOLOGIA: UMA IDEIA OU UMA INFLUÊNCIA? Introdução Em resumo, todos têm costumes e coisas que são passadas de geração para geração, que são inquestionáveis. Temos na nossa sociedade
Matheus Silva Freire IDEOLOGIA: UMA IDEIA OU UMA INFLUÊNCIA? Introdução Em resumo, todos têm costumes e coisas que são passadas de geração para geração, que são inquestionáveis. Temos na nossa sociedade
Grice: querer dizer. Projecto de Grice: explicar a significação em termos de intenções.
 Grice: querer dizer Referências: Grice, Paul, Meaning, in Studies in the Way of Words, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1989, pp 213-223. Schiffer, Stephen, Meaning, Oxford, Oxford University
Grice: querer dizer Referências: Grice, Paul, Meaning, in Studies in the Way of Words, Cambridge (Mas.), Harvard University Press, 1989, pp 213-223. Schiffer, Stephen, Meaning, Oxford, Oxford University
3 Tempo e Espaço na Estética transcendental
 3 Tempo e Espaço na Estética transcendental 3.1. Exposição metafísica dos conceitos de tempo e espaço Kant antecipa então na Dissertação alguns argumentos que serão posteriormente, na Crítica da razão
3 Tempo e Espaço na Estética transcendental 3.1. Exposição metafísica dos conceitos de tempo e espaço Kant antecipa então na Dissertação alguns argumentos que serão posteriormente, na Crítica da razão
Lógica. Abílio Rodrigues. FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho.
 Lógica Abílio Rodrigues FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho São Paulo 2011 09 Lógica 01-08.indd 3 4/29/11 2:15 PM 1. Verdade, validade e forma lógica
Lógica Abílio Rodrigues FILOSOFIAS: O PRAZER DO PENSAR Coleção dirigida por Marilena Chaui e Juvenal Savian Filho São Paulo 2011 09 Lógica 01-08.indd 3 4/29/11 2:15 PM 1. Verdade, validade e forma lógica
Ética e política da subjetividade: hermenêutica do sujeito e parrhesía em Michel Foucault.
 Ética e política da subjetividade: hermenêutica do sujeito e parrhesía em Michel Foucault. André Pereira Almeida Os últimos cursos e trabalhos de Foucault acerca da constituição do sujeito ético e político
Ética e política da subjetividade: hermenêutica do sujeito e parrhesía em Michel Foucault. André Pereira Almeida Os últimos cursos e trabalhos de Foucault acerca da constituição do sujeito ético e político
Roteiro para a leitura do texto
 WEBER, Max - A "objetividade" do conhecimento nas Ciências Sociais In: Max Weber: A objetividade do conhecimento nas ciências sociais São Paulo: Ática, 2006 (: 13-107) Roteiro para a leitura do texto Data
WEBER, Max - A "objetividade" do conhecimento nas Ciências Sociais In: Max Weber: A objetividade do conhecimento nas ciências sociais São Paulo: Ática, 2006 (: 13-107) Roteiro para a leitura do texto Data
