Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Ciências Agrárias Curso de Agronomia TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
|
|
|
- Washington Quintanilha Vilalobos
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Ciências Agrárias Curso de Agronomia TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ESTABELECIMENTO DO MEIO DE CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO IN VITRO DE ÁPICES CAULINARES DA VARIEDADE CÍTRICA BAÍA-CATARINA VISANDO A LIMPEZA DE VÍRUS Eduardo Lemos da Costa Aranha Florianópolis / SC 2010/2
2 2 Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Ciências Agrárias Curso de Agronomia ESTABELECIMENTO DO MEIO DE CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO IN VITRO DE ÁPICES CAULINARES DA VARIEDADE CÍTRICA BAÍA-CATARINA VISANDO A LIMPEZA DE VÍRUS Trabalho de Conclusão do Curso de Agronomia Eduardo Lemos da Costa Aranha Orientadora: Profª/Drª Rosete Pescador Supervisor de Estágio: Prof./Dr. Gilmar Roberto Zaffari EMPRESA: EPAGRI Itajaí/SC Florianópolis / SC 2010/2
3 3 AGRADECIMENTOS Agradeço a todos que fizeram este trabalho possível: A mim, pela persistência, dedicação e perseverança; Aos meus pais (Antonio Carlos Vieira da Costa Aranha e Zuleika Lemos da Costa Aranha), por sempre terem valorizado a educação de seus filhos; A todos os mestres que contribuíram para minha formação como engenheiro agrônomo, em especial ao Prof./Dr. Renato Irgang; A toda a equipe do laboratório de biotecnologia da EPAGRI (Eliseu Emanoel dos Santos, Larissa Stadler Arruda Cantarotti, Bárbara Penno Braga e Dilnei Souza Medeiros), em especial ao supervisor de estágio Dr. Gilmar Roberto Zaffari, pela paciência e esforço em me ensinar as técnicas por eles conhecidas; A minha orientadora, Profª/Drª Rosete Pescador, pelo carisma e disponibilidade em prontamente esclarecer minhas dúvidas; A minha grande companheira Narah, por sempre estar presente, com palavras de apoio; E a Deus, por ter me concedido saúde e força para a realização deste trabalho.
4 4 LISTA DE FIGURAS FIGURA 01 Frutos contaminados com o vírus da xiloporose FIGURA 02 Fruto contaminado com o vírus da tristeza FIGURA 03 Variedade cítrica Baía FIGURA 04 Variedade Baía-Catarina FIGURA 05 Principais métodos de micropropagação e as rotas de crescimento vegetal dos explantes FIGURA 06 - Secção longitudinal do meristema apical do caule de Coleus sp FIGURA 07 Ápices caulinares microscopia e figura ilustrativa FIGURA 08 - Portão principal da EEI FIGURA 09 Lab. de Biotecnologia da EEI FIGURA 10 - Técnicos do laboratório realizando assepsia do material vegetal sob a CFL FIGURA 11 - Avaliação aos 14 dias dos ápices caulinares cítricos inoculados pela equipe do laboratório de biotecnologia FIGURA 12 - Coleção de plantas cítricas da EEI FIGURA 13 - Cerca viva da variedade Flying Dragon (coleção da EEI) FIGURA 14 - Estagiário regulando o ph do meio de cultura FIGURA 15 Regulagem do ph do meio de cultura FIGURA 16 - Material utilizado no preparo dos meios de cultura FIGURA 17 - Soluções utilizadas no meio MS FIGURA 18 Reguladores de crescimento utilizados FIGURA 19 - Laranjeiras da variedade Baía-Catarina FIGURA 20 - Ápices caulinares em brotações novas FIGURA 21 - Ápices caulinares da variedade cítrica Baía-Catarina FIGURA 22 Sala de crescimento (organogênese direta) FIGURA 23 - Sala de crescimento (organogênese indireta) FIGURA 24 - Ápice caulinar FIGURA 25 - Ápice caulinar com 2 mm isolado à lupa FIGURA 26 - Acadêmico isolando ápices caulinares à lupa FIGURA 27 - Inoculação dos ápices caulinares sob a CFL... 59
5 5 FIGURA 28 - Ápices caulinares mantidos em peneira esterilizada sob a CFL FIGURA 29 - Frascos apresentando meios de cultura contaminados por fungos FIGURA 30 - Contaminação por fungos FIGURA 31 - Avaliação do material aos 15 dias FIGURA 32 - Ápice caulinar em desenvolvimento FIGURA 33 Ápice caulinar em desenvolvimento no meio de cultura n FIGURA 34 Ápice caulinar em desenvolvimento no meio de cultura n FIGURA 35 Ápice caulinar oxidado no meio de cultura n
6 6 LISTA DE TABELAS Tabela 01 Meios de cultura preparados e seus respectivos constituintes Tabela 02 Material avaliado aos 15 dias após a inoculação Tabela 03 Material avaliado aos dias após a inoculação (organogênese direta) Tabela 04 Avaliação aos 15 dias para organogênese indireta... 62
7 7 LISTA DE ABREVIATURAS C graus célsius 2,4-D 2,4-diclorofenoxiacético ABA Ácido abscísico ACARESC Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina ACARPESC - Associação de Crédito e Assistência Pesqueira de Santa Catarina AIA ácido 3-indolacético AIB Ácido indol-3-butírico ANA Ácido naftalenoacético APEX Associação Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos atm - atmosfera BAP - Benzilaminopurina CEPC - Campo Experimental de Piscicultura CETREI Centro de Treinamento da EPAGRI Itajaí CFL Câmara de Fluxo Laminar cm - centímetro EDTA - Ethylenediamine tetra-acetic acid EEI Estação Experimental de Itajaí ELISA Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMPASC Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina FAPESC Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina Fe - Ferro g grama GA₃ - Ácido giberélico HCl Ácido clorídrico IASC Instituto de Apicultura de Santa Catarina IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística KIN - Cinetina
8 8 l - litro M - molar MAPA Ministério da Agropecuária mg - miligrama mm - milímetro MS Meio de Cultura Murashige & Skoog (1962) NaOH Hidróxido de sódio nm nanômetro PADFIN Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada do Nordeste ph potencial hidrogeniônico RENASEM Registro Nacional de Sementes e Mudas UFSC Universidade Federal de Santa Catarina USDA United States Department of Agriculture
9 9 RESUMO O Estágio de Conclusão do Curso de Agronomia corresponde à última fase do curso, no qual se espera que o acadêmico, até então inserido em um ambiente distinto daquele encontrado na vida profissional, tenha contato direto com as atividades desenvolvidas pelo profissional da Agronomia e se prepare para o mercado de trabalho que encontrará logo após sua graduação. As doenças de natureza vegetal são causadas por fungos, bactérias e vírus (ou ainda por nematóides). Medidas efetivas de controle químico são aplicadas para a maior parte das doenças, exceto para aquelas causadas por vírus. Em geral, esses patógenos não são transmitidos pela semente, mas tendem a se acumular nas plantas propagadas vegetativamente. Diante da falta de um produto químico capaz de erradicar vírus de plantas infectadas, a cultura de ápices caulinares vem sendo utilizada a fim de obter material de multiplicação com alta qualidade fitossanitária. Durante o período de estágio foram acompanhadas as atividades realizadas pelos técnicos do Laboratório de Biotecnologia da EPAGRI de Itajaí- SC com vistas à ambientação e conhecimento sobre os procedimentos e protocolos padrões. Logo em seguida, sucedeu-se a implantação de um experimento com ápices caulinares visando à definição do meio de cultura que favoreceria o desenvolvimento dos ápices caulinares para posterior limpeza viral. Houve a coleta, isolamento à lupa, assepsia e inoculação dos ápices caulinares da variedade copa cítrica Baía-Catarina, seguida de avaliação aos 15 e aos dias após a inoculação. Deduziu-se que os meios de cultura contendo os três reguladores de crescimento (BAP, ANA e GA₃) favorecem o desenvolvimento dos ápices caulinares, mantendo-os com coloração verde e grande potencial de desenvolvimento. Palavras-chave: Ápices caulinares, micropropagação, organogênese, limpeza de vírus, Citrus.
10 10 ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO OBJETIVOS OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS JUSTIFICATIVA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA A Citricultura no Brasil A Variedade Cítrica Baía-Catarina Histórico da Cultura de Tecidos Cultura de Tecidos Totipotência Competência e Determinação Celular Cultura de Meristemas e de Ápices Caulinares Estabilidade dos Meristemas Apicais Meios Nutritivos Componentes de Meios Nutritivos Água Macronutrientes Micronutrientes Carboidratos Vitaminas Mio-Inositol Ágar-ágar O ph e Outras Características dos Meios Fitormônios e Reguladores de Crescimento Auxinas Citocininas Giberelinas Ácido Abscísico Recuperação de Plantas Livres de Vírus Microenxertia... 44
11 11 5 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA HIPÓTESE DESCRIÇÃO DA EMPRESA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATIVIDADES INICIAIS INOCULAÇÃO SOB A CÂMARA DE FLUXO LAMINAR PLANEJAMENTO DO EXPERIMENTO PREPARO DOS MEIOS DE CULTURA COLETA, ISOLAMENTO, ASSEPSIA E INOCULAÇÃO DOS ÁPICES CAULINARES AVALIAÇÃO DO MATERIAL INOCULADO RESULTADOS DISCUSSÃO CONSIDERAÇÕES FINAIS BIBLIOGRAFIA ANÁLISE CRÍTICA DO ESTÁGIO CONCLUSÃO ANEXOS... 69
12 12 1. INTRODUÇÃO O Estágio de Conclusão do Curso de Agronomia corresponde à última fase do curso, no qual se espera que o acadêmico, até então inserido em um ambiente distinto daquele encontrado na vida profissional, tenha contato direto com as atividades desenvolvidas pelo profissional da Agronomia e se prepare para o mercado de trabalho que encontrará logo após sua graduação. O presente trabalho é referente ao estágio realizado no período de 01 de setembro de 2010 a 17 de dezembro de 2010 em período integral na Estação Experimental de Itajaí (situada na Rodovia Antonio Heil Km 6, s/n, Caixa Postal 277, Cep.: Itajaí - Santa Catarina Brasil) da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, com duração total de 360 horas. O trabalho contou com a orientação da Profª/Drª Rosete Pescador do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da UFSC e foi supervisionado pelo Eng. Agr./Dr. Gilmar Roberto Zaffari, com experiência particular em Biotecnologia. O presente estava inserido em trabalhos realizados pela equipe do Laboratório de Biotecnologia da EEI, onde foi possível aprender técnicas da Cultura de Tecidos e Propagação de Plantas In vitro, bem como realizar parte de um experimento sendo executado também pela equipe do laboratório, como Trabalho de Conclusão de Curso. O estágio foi de vital importância, pois permitiu ampliar as perspectivas quanto à profissão de Engenheiro Agrônomo, descobrindo uma nova área pela qual já possuía afinidade e sequer estava ciente desse fato. Também permitiu que se relacionasse o conteúdo interdisciplinar visto no decorrer de quatro anos e meio do Curso de Agronomia com o que de fato ocorre na prática, tanto nas atividades de pesquisa quanto na rotina a campo de um Engenheiro Agrônomo.
13 13 2 OBJETIVOS 2.1 Objetivo Geral Avaliar qual(is) o(s) meio(s) de cultura favorece(m) o desenvolvimento dos ápices caulinares da variedade copa cítrica Baía Catarina visando o desenvolvimento de protocolo para a limpeza de vírus através da micropropagação. 2.2 Objetivos Específicos Definir as composições e as concentrações dos reguladores de crescimento que serão utilizados em cada meio de cultura; Preparar e esterilizar os meios de cultura; Coletar, isolar, realizar a assepsia e inocular os ápices caulinares da variedade cítrica Baía Catarina nos meios de cultura preparados; Armazenar (em sala de crescimento) o material inoculado, sendo os meios de cultura destinados à organogênese direta armazenados no claro e os meios destinados à organogênese indireta armazenados no escuro. Avaliar aos quinze e aos vinte-trinta dias o desenvolvimento do material e registrar os dados; Observar o resultado e gerar dados para o futuro desenvolvimento de protocolo para limpeza viral em Citrus sp. 3 JUSTIFICATIVA Segundo levantamento coordenado por KOLLER (2001), as frutas cítricas ultrapassam o volume de consumo anual per capita, comparativamente à banana, situando-se bem mais distante, em terceiro lugar, a maçã. Das 39 milhões de toneladas de frutas produzidas, aproximadamente 45% são de laranja (18,3 milhões de toneladas). Em segundo lugar, tem-se a banana, que alcança a marca de 6,5 milhões de toneladas. A produção de laranja e banana atinge, 24 milhões de toneladas, correspondente a praticamente 60% da produção brasileira de frutas (IBGE, 2006).
14 14 A baixa qualidade das mudas cítricas, juntamente com o pouco conhecimento técnico de viveiristas, agricultores e agentes de difusão tecnológica, representam os principais fatores responsáveis pelos insucessos ocorridos na citricultura, resultando no fato de que 70% dos frutos consumidos in natura continuem sendo importados (IBGE, 2006). Figura 01 Frutos contaminados com o vírus da xiloporose. Fonte: Mudas cítricas produzidas de acordo com as normas do RENASEM - Registro Nacional de Sementes e Mudas - para produção de mudas certificadas são isentas de: viroses como sorose, exocorte, estirpes fortes de tristeza (figura 02) e xiloporose (figura 01), que ainda estão presentes em alguns clones cítricos cultivados; doenças causadas por bactérias, como clorose variegada dos citros, cancro cítrico e greening; doenças causadas por fungos, como a gomose causada por Phytophthora, um dos mais sérios problemas nos pomares na atualidade; plantas invasoras como tiririca e grama seda; um grande número de pragas e outras doenças de menor importância. Os prejuízos originados por doenças causadas por vírus na citricultura são muito significativos, necessitando-se de soluções práticas e viáveis para a eliminação dessas doenças dos pomares comerciais, como o manejo integrado de pragas e as técnicas aplicadas através da biotecnologia e do melhoramento genético vegetal (IBGE, 2006). O uso de material de multiplicação livre de doenças representa a forma mais econômica de controle dessas doenças na citricultura (ROISTACHER, 1994).
15 15 Figura 02 Fruto contaminado com o vírus da tristeza. Fonte: As leis de números (05/08/2003) e (23/07/2004) e respectivas atualizações, instituem e regulamentam o RENASEM, submetem e atribuem aos produtores de sementes, mudas e materiais de multiplicação (sementes, enxertos, estacas etc) a uma série de exigências e responsabilidades, não apenas quanto ao registro em si, mas, principalmente quanto à responsabilidade sobre a qualidade genética e sanitária (MAPA, 2009). Assim, a EPAGRI tem, por força das leis específicas, a obrigação de aperfeiçoar e melhorar cada vez mais a qualidade dos materiais de multiplicação vegetal fornecidos aos agricultores (ZAFFARI, 2009). As variedades cítricas são propagadas tanto sexuada quanto assexuadamente. Em geral, os porta-enxertos (rootstocks) são obtidos a partir de sementes, enquanto que a maioria das cultivares copa de interesse comercial é propagada por vários métodos assexuados. Com o emprego da multiplicação vegetativa a ocorrência de doenças causadas por vírus tem se agravado. No caso dos Citrus sabe-se há anos da existência de ao menos quinze espécies de vírus afetando as plantas (USDA, 1968), número este que vem aumentando com o passar dos anos (ZAFFARI, 2009). A micropropagação é um importante método de propagação assexuada que pode ser utilizada para a produção de plantas livres de vírus. O uso dessa técnica na produção de mudas livres de vírus constitui-se em estratégia importante para a multiplicação vegetativa de plantas matrizes. Durante os últimos anos, a limpeza clonal pela micropropagação tem sido utilizada para diversas espécies de plantas. A microenxertia em Citrus, técnica descrita por
16 16 NAVARRO et al. (1975), tem sido a alternativa utilizada há décadas pelos laboratórios de cultura de tecidos de plantas, como método para a limpeza de vírus. Embora a técnica tenha sofrido constantes aperfeiçoamentos ao longo do tempo, o processo é meticuloso e de baixo rendimento, devido a problemas de pegamento do microenxerto (ZAFFARI, 2009). Uma alternativa para aumentar o rendimento da produção de mudas livres de vírus em laboratório (objetivo final do presente trabalho, que apresenta a etapa inicial do projeto) é a técnica de regeneração de plantas pela organogênese direta ou indireta. Essa técnica consiste em utilizar o meristema apical caulinar para produzir plantas sem o processo de microenxertia. Os meristemas apicais têm a capacidade genética e fisiológica de manter a divisão e diferenciação celular gerando novos tecidos, órgãos e formar um indivíduo completo com as mesmas características. Quando a obtenção de plantas se dá pela organogênese direta, cada meristema produz apenas uma planta. Porém, quando esse meristema produz calo, pode-se gerar muitas plantas a partir de um único meristema (GEORGE et al., 2008). Dessa forma, a micropropagação de plantas cítricas livres de vírus através da organogênese indireta pode contribuir de forma significativa na produção de mudas cítricas de elevada qualidade genética e fitossanitária, estimulando novamente o desenvolvimento da cadeia produtiva (ZAFFARI, 2009). Além de produzir e fornecer material de multiplicação livre de vírus e outras doenças há necessidade de ampliar as informações disponíveis sobre o comportamento de diferentes variedades e clones nas condições edafoclimáticas locais, procurando-se também variedades mais precoces e mais tardias quanto à época de maturação dos frutos, para que se possa atender ao mercado por um maior número de meses durante o ano. Esse conhecimento permitirá priorizar a produção de mudas de cultivares que melhor atendam a essas necessidades, podendo, portanto, essas serem consideradas de melhor qualidade (ZAFFARI, 2009). Os agricultores e os agentes de extensão, quando conhecedores do que é e da importância de uma boa muda, qualidade genética, qualidade sanitária etc, passarão a exigir dos viveiristas essa melhor qualidade. Essa exigência por parte dos consumidores será o maior impulsionador para que os viveiristas venham a melhorar a qualidade das mudas que produzem (ZAFFARI, 2009).
17 17 4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 4.1 A Citricultura no Brasil A história da citricultura brasileira está intimamente ligada à própria história do país. Poucos anos após a descoberta do Brasil, entre 1530 e 1540, os portugueses introduziram as primeiras sementes de laranja doce nos estados da Bahia e São Paulo. Dadas às condições edafoclimáticas favoráveis, as plantas produziram satisfatoriamente, a ponto de os frutos da laranja Baía serem reconhecidos ainda no Brasil colonial como maiores, mais sucosos e de excelente qualidade do que os produzidos em Portugal. Mas, somente a partir dos anos 30 do século passado, a citricultura começou a ser implantada comercialmente nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, tendo apresentado maiores índices de crescimento nos estados do Sudeste e Sul (EMBRAPA, 2003). A citricultura brasileira apresenta números expressivos que traduzem a grande importância econômica e social que a atividade tem para a economia do país. Alguns desses números são mostrados concisamente: a área plantada está ao redor de um milhão de hectares e a produção de frutas supera dezenove milhões de toneladas, a maior no mundo há alguns anos. O país é o maior exportador de suco concentrado congelado de laranja cujo valor das exportações, juntamente com as de outros derivados, tem gerado cerca de 1,5 bilhão de dólares anuais. O setor citrícola brasileiro somente no Estado de São Paulo gera mais de 500 mil empregos diretos e indiretos (EMBRAPA, 2003). A Região Nordeste responde por 9% da produção nacional, constituindose na segunda maior região produtora do país, com mais de hectares cultivados e mais de 1,5 milhão de tonelada produzida. Dentre os estados produtores, o destaque fica com os estados Bahia e Sergipe, respectivamente segundo e terceiro produtores nacionais, que representam juntos 90% de toda área plantada no nordeste. A citricultura nordestina tem grande potencial para implementar seu crescimento sobretudo em função da ausência de doenças e pragas de grande importância que se encontram distribuídas no Sudeste, maior centro produtor. No que diz respeito ao incremento e geração de empregos, percebe-se que devido à instalação de muitas casas de embalagens (packinghouses) e aumento da exportação do limão tahiti para o Mercado Europeu,
18 18 muitos empregos diretos e indiretos têm sido oferecidos, na ordem de 100 mil (EMBRAPA, 2003). A grande meta do setor brasileiro é consolidar-se no mercado internacional não apenas como produtor de frutas tropicais, mas também de outras frutas de destaque econômico. Para isso é preciso capacitar o setor e expandir, significativamente, suas fronteiras agrícolas em valores absolutos e comparativamente aos grandes supridores internacionais, sem deixar de lado a imagem de confiabilidade, continuidade e diversidade de frutas para todo o mundo (PADFIN, 2006). As ações promocionais têm como alvo tanto os clientes/compradores em potencial como o consumidor final, estreitando o relacionamento com os agentes de mercado internacional e levando ao consumidor as informações corretas da fruticultura brasileira e seus produtos (PADFIN, 2006). O número de expositores brasileiros em eventos internacionais tem crescido a cada ano, assim como o volume de negócios realizados. Procura-se participar de eventos que possam gerar resultados. As feiras são importantes para rever clientes, consolidar contatos, conquistar novos mercados e conhecer as tendências mercadológicas atuais para tornar as marcas brasileiras mais competitivas (PADFIN, 2006). 4.2 A Variedade Cítrica Baía-Catarina Trata-se de uma variedade peculiar obtida pela EPAGRI com cruzamentos envolvendo a variedade comercial Baía. É também conhecida como laranja-de-umbigo por ter uma saliência na face inferior do fruto. Possui sabor adocicado, polpa muito suculenta e casca amarelo-gema. Fornece bastante suco, podendo ser consumida ao natural, em refrescos ou como ingrediente de pratos especiais. Por ser pouco ácida, seu suco pode ser misturado ao de outras variedades (como laranja-pêra e laranja-barão) com bons resultados. É o tipo de laranja que contém a maior quantidade de vitamina C (SIMÃO, 1971). Em geral a variedade Baía (figura 03) apresenta excelentes qualidades, boa consistência, maturação média, não apresentam sementes (mas pode haver polinização cruzada), resistência ao frio, porém sensíveis à seca (SIMÃO, 1971).
19 19 Figura 03 Variedade cítrica Baía. Fonte: Figura 04 Variedade Baía-Catarina. A flor desse grupo caracteriza-se por possuir um segundo verticilo carpelar além do principal, que ao se desenvolver, origina um segundo fruto, incluso na região estilar do principal, à semelhança de umbigo. Além dessa característica, os grãos de pólen se desintegram, ocorrendo a degradação do saco embrionário e, conseqüentemente, os frutos que se formam são partenocárpicos (SIMÃO, 1971). 4.3 Histórico da Cultura de Tecidos A propagação de plantas in vitro tem atraído a atenção dos pesquisadores desde o início do século XIX, mas evoluiu gradativamente a partir do século XX (TORRES et al., 1998). O botânico alemão VOCHTING, em 1878, ao pesquisar os fatores que tornam parte na formação de órgãos e na diferenciação em plantas, notou que em cada fragmento de planta permanecem os elementos a partir dos quais após seu isolamento e em condições apropriadas, pôde-se reconstruir todo o organismo. Em 1902 HABERLANDT confirmou tal premissa e previu que seria ainda possível o cultivo de embriões artificiais a partir de células vegetativas. Ele foi o primeiro a cultivar células de tecidos somáticos de várias espécies de plantas em soluções nutritivas. Naquele mesmo período, avanços também ocorriam na cultura de tecidos animais. Em 1922, KOTTE foi capaz de cultivar fragmentos de pontas de raiz de ervilha e milho utilizando um meio de cultura
20 20 baseado em matéria-prima de origem animal (extrato de carne de LIEBIG). Pouco mais tarde, demonstrou-se que o crescimento de fragmentos de raiz de milho podia ser mantido até por vinte semanas, em meio contendo extrato de levedura (MANTELL et al., 1994). Em 1904, HANNING foi o primeiro a cultivar in vitro embriões imaturos de crucíferas. Ele observou a necessidade de suplementação do meio mineral de diferentes fontes de nitrogênio sobre a sua morfologia. Posteriormente, KNUDSON (1922) cultivou embriões de orquídeas na ausência de micorrizas e observou que a sacarose era importante para o crescimento e desenvolvimento de embriões in vitro (TORRES et al., 1998). O marco histórico para o estabelecimento da cultura de tecidos de plantas aconteceu quando WHITE (1934) conseguiu cultivar indefinidamente raízes de tomate em um meio de cultura por ele definido. Simultaneamente HAUTHERET (1934) foi capaz de estabelecer cultura de calos a partir de regiões do câmbio (meristema) de três espécies de árvores (MANTELL et al., 1994). Entre 1935 e 1940, NOBECOURT passou a utilizar a auxina AIA nos meios de cultura e em 1939 GAUTHERET diagnosticou a importância da vitamina B₁ no desenvolvimento dos explantes. Em 1948, SKOOG descobriu que a adenina derivada dos ácidos nucléicos aumenta a proliferação celular e a formação de gemas nas culturas de calos. Já no ano de 1955, MILLER et al. descobriram que a citocinina promove a divisão celular (descoberta essencial no desenvolvimento vegetal in vitro). Como complemento de suas pesquisas, SKOOG & MILLER, em 1957, estabeleceram as funções da auxina e da citocinina na indução de brotos e raízes em culturas de calos de tabaco. Em 1958 REINERT desvendou a embriogênese somática para culturas de calos (MANTELL et al., 1994). De acordo com TORRES et al., 1998: A regeneração de plantas de Lupinus e Tropaeolum a partir de ápices caulinares começou com os trabalhos de BALL (1946). Posteriormente, SKOOG & TSUI (1948) observaram que a formação de parte aérea e raiz em calo de fumo era um processo regulado por fatores múltiplos: a adição de auxina ao meio inibia a formação de brotações, enquanto a inclusão de
21 21 adenina e alto nível de fosfato promovia a diferenciação de parte aérea mesmo em presença de ácido indolacético (AIA). A aplicação prática de cultura de tecidos iniciou-se quando MOREL & MARTIN (1952) recuperaram plantas de Dahlia sp. livres de vírus através da cultura de ápices caulinares. Posteriormente, MOREL (1960) utilizou essa metodologia para obtenção de plantas de orquídea livres de vírus. TORRES et al., 1998 ressaltam que MOREL empregou erroneamente a palavra meristema para se referir ao ápice caulinar e que mesmo atualmente pesquisadores confundem o uso desse termo (TORRES et al., 1998). MURASHIGE & SKOOG (1962) observaram que, ao adicionar extrato de folhas de fumo ao meio de cultura de calo, o crescimento desse tecido tornavase bastante avantajado ao ser comparado com o calo mantido em meio de WHITE. Eles comprovaram que a fração ativa do extrato era a inorgânica. Esse foi o ponto de partida para a elaboração do consagrado meio de cultura MS, atualmente o mais utilizado em trabalhos de cultura de tecidos (TORRES et al., 1998). Na década de noventa iniciou-se a comercialização de plantas obtidas através da engenharia genética. Naquela década, cerca de quinze produtos foram colocados no mercado para comercialização em larga escala (dentre eles Lycopersicon esculentum, espécies de Brassica, Solanum tuberosum, Glycine max e Gossypium hirsutum). Atualmente, as técnicas de biologia celular são amplamente estudadas e difundidas na engenharia genética de plantas (TORRES et al., 1998). 4.4 Cultura de Tecidos Não restam dúvidas de que atualmente (e futuramente), o desenvolvimento de técnicas de cultura de tecidos será uma das maiores contribuições científico-sociais dos cientistas contemporâneos. Através de pequenos fragmentos de tecido vivo (ditos explantes), isolados de um organismo e cultivados assepticamente por períodos indefinidos em um meio nutritivo semi-definido, pôde-se atingir objetivos dos mais diversos. O conceito de explantes envolve uma grande diversidade de material vegetal, tão pequenos quanto células isoladas e protoplastos ou tão maiores como
22 22 plântulas e órgãos (como ocorre nas culturas de óvulo ou de embrião). Os avanços nessa área têm aumentado as perspectivas de operações possíveis de serem utilizadas, em diversos campos da biotecnologia de plantas (MANTELL et al., 1994). Para MANTELL et al., (1994), o desenvolvimento de células individuais em complexos órgãos e tecidos multicelulares é um processo comum a todas as formas superiores de vida. Ou seja, o processo de diferenciação se constitui em uma série de processos coordenados e determinados geneticamente através dos quais os explantes, derivados de células individuais se desenvolvem em plantas inteiras. O genótipo da planta determina as vias de diferenciação envolvidas em sua maturação e a expressão dos genes é modulada por interações celulares e ambientais (MANTELL et al., 1994). Ainda de acordo com MANTELL et al., (1994), os padrões de desenvolvimento da planta são razoavelmente consistentes dentro de limites definíveis de genótipo, ou seja, grupos taxonômicos, de maneira que os constituintes genéticos da célula germinativa original, teoricamente, contém todos os elementos determinantes dos padrões de diferenciação. A partir dessa premissa, surgiu o conceito de totipotência, pois os tecidos somáticos de uma planta são os produtos de divisões mitóticas, onde cada célula do organismo é capaz de regenerar réplicas desse mesmo organismo, desde que condições apropriadas sejam fornecidas (MANTELL et al., 1994). Para WAREING (1982) apud MANTELL et al., (1994): Nas plantas, a maioria das divisões celulares coordenadas ocorrem em áreas concentradas conhecidas como meristemas e, esses estão distribuídos em vários pontos do organismo, durante o seu desenvolvimento. O funcionamento dos meristemas pode ser ativado ou suprimido, de acordo com os padrões de diferenciação ditados por mecanismos de controle genéticos e/ou ambientais. As células ditas indeterminadas (como as células meristemáticas) são aquelas capazes de mudar para diferentes vias metabólicas do desenvolvimento, dependendo das condições ambientais impostas a elas. Essas mesmas células também são capazes de se desdiferenciar rapidamente e se proliferar massivamente em um curto intervalo de tempo, produzindo massas celulares conhecidas como calos (MANTELL et al., 1994).
23 23 Figura 05 Principais métodos de micropropagação e as rotas de crescimento vegetal dos explantes. (Adaptado de MANTELL et al., 1994). Os métodos disponíveis para propagação de plantas in vitro são, na verdade, uma extensão daqueles desenvolvidos para a propagação convencional. Entretanto, a propagação in vitro apresenta diversas vantagens em relação à convencional, tais como (GEORGE et al., 2008): As culturas são iniciadas com segmentos bastante diminutos de plantas (ditos explantes). Com isso, o espaço físico necessário para a manutenção das plantas é diminuído e seu aproveitamento maximizado. A assepsia do material diminui perdas e, uma vez iniciada a cultura in vitro, as perdas ocasionadas por doenças são mínimas. Os métodos disponíveis são capazes de limpar plantas de vírus específicos que, após os testes de indexação, podem gerar mudas certificadas (livres dos vírus para os quais foram testadas). Maior número de variáveis que influenciam a regeneração vegetativa pode ser controlado, tais como: nutrientes e reguladores de crescimento,
24 24 luz e temperatura. A taxa de propagação é muito maior do que na macropropagação e um número muito maior de plantas pode ser produzido em um período. Isso viabiliza a seleção de novas variedades em um tempo reduzido. Clones de certas espécies vegetais, que de outra maneira seria um processo lento e difícil ou até mesmo impossível, podem ser produzidos. A produção pode ser contínua ao longo do ano, sendo assim mais independente das variações sazonais. O material vegetal, quando armazenado nas sub-culturas, demandam pouca mão-de-obra. Como desvantagens, os mesmos autores citam: mão-de-obra especializada, custo na aquisição dos reguladores de crescimento e outros componentes dos meios de cultura e a delicada aclimatação das plantas in vitro para ex vitro (sobretudo quanto à elevada perda de água e à insuficiência fotossintética, necessitando assim que o processo seja gradativo). 4.5 Totipotência Toda célula vegetal viva e nucleada tem o potencial de regenerar plantas, desde que submetidas a tratamentos adequados (reguladores de crescimento). Isso significa que as células são autônomas e totipotentes. Contudo, ainda há muitas espécies cuja capacidade regenerativa não foi ainda evidenciada na prática, permitindo concluir que o dogma da totipotencialidade não pode ser generalizado. As substâncias reguladoras de crescimento podem induzir uma considerável gama de respostas nos diferentes tecidos de uma planta, mas é preciso considerar as diferenças na ocorrência de diferenças na competência das células-alvo (WAREING, 1982 apud TORRES et al. 1999). Mesmo considerando-se que toda célula vegetal viva e nucleada é por si só totipotente, sabe-se que certos tecidos são mais favoráveis a regeneração de gemas, raízes e embriões somáticos do que outros. As diferenças celulares seriam estabelecidas e mantidas pelas influências mútuas das células e dos tecidos entre si (WAREING, 1982 apud TORRES et al. 1999).
25 Competência e Determinação Celular Nas últimas décadas, grandes avanços nas áreas de Fisiologia, Bioquímica e Genética foram possíveis devido à capacidade dos tecidos vegetais cultivados in vitro para formar gemas, raízes ou, até mesmo, embriões somáticos. No processo de diferenciação celular, há de se considerar: o fator genético estabelecido na fertilização, que incorpora as potencialidades que podem ser expressas durante o desenvolvimento e as características cuja expressão depende apenas do ambiente (TORRES et al., 1999). Durante o desenvolvimento de um organismo, o processo de diferenciação celular reflete o efeito de três grupos de fatores: o fator genético, as características originadas durante a ontogênese e as características cuja expressão depende apenas do ambiente. Por meio de técnicas imunológicas em Citrus, a presença de maiores concentrações de dada proteína foi detectada nos tecidos maduros (TORRES et al., 1999). A desdiferenciação inicial dos explantes resultava na formação de calos com células competentes (com capacidade de responder aos efeitos estimulatórios do meio de cultura para a formação de gemas). A transferência dessas células agora competentes para meios indutores de gemas tornava-as determinadas (comprometidas com uma nova rota específica de desenvolvimento). As células, a partir daí, diferenciavam-se em primórdios de gemas, mesmo se transferidas para meios não indutores. Além disso, nesse modelo experimental, a diferenciação das células determinadas levaria à formação de primórdios de gemas ou raízes, cuja estabilidade estrutural e funcional pode ser mantida durante a vida da planta (TORRES et al., 1999). Embora não se conheça ainda por que certos eventos regenerativos in vitro são mais facilmente induzidos em alguns tecidos do que em outros, admite-se que essas diferentes expressões morfogenéticas se reflitam na natureza e no grau de diferenciação desses tecidos. Assim, entende-se por diferenciação o processo através do qual as células tornam-se progressivamente especializadas tanto do ponto de vista estrutural quanto funcional, Além destes dois importantes aspectos do desenvolvimento, nessa definição, fica implícito que ocorre a maturação, a qual envolve também diferenças na estrutura e função celulares (TORRES et al., 1999).
26 26 Em relação ao indivíduo as caracterísitcas mais persistentes, mas não necessariamente permanentes, são mais rapidamente discerníveis e também mais fáceis de serem investigadas em plantas do que em animais. Um exemplo dessa situação é a mudança do estado juvenil vegetativo de uma planta arbórea para o estado maduro (mudança de fase) (BRINK, 1962 apud TORRES et al., 1999). Comparativamente aos animais, a maior facilidade de estudos oferecida pelas plantas decorre do fato de essas apresentarem um sistema de desenvolvimento aberto, ou seja, os órgãos são formados continuamente durante toda a vida, devido à atividade dos meristemas apicais. O termo determinação tem sido empregado para designar essa canalização progressiva, observada durante toda a organogênese em direção às vias particulares de desenvolvimento (TORRES et al., 1999). Apesar de as plantas apresentarem o padrão aberto de desenvolvimento, certos órgãos apresentam padrão fechado (como folhas, flores e frutos) sendo mais próximas às analogias com o desenvolvimento animal (TORRES et al., 1999). 4.7 Cultura de Meristemas e de Ápices Caulinares Há certa divergência quanto aos termos meristema e ápice caulinar. A título de esclarecimento, de acordo com TORRES et al., 1998: Considera-se meristema apical caulinar o tecido que se encontra distal ao mais novo primórdio foliar, tendo o aspecto de uma cúpula proeminente ou plataforma achatada, estando, algumas vezes embutido numa depressão (CUTTER, 1971). Seu tamanho não deve exceder a 0,1 mm. As células desse tecido têm a propriedade única de permanecerem na condição embrionária e, por meio de atividades morfogenéticas complexas, darão origem ao eixo vascular, folhas, gemas, órgãos reprodutivos e outras estruturas laterais. A capacidade de formação de órgão do meristema caulinar ocorre mediante dois processos fundamentais: a manutenção de um grupo de células indiferenciadas sem as quais a formação de novos órgãos não seria possível e o direcionamento apropriado das células não diferenciadas para a
27 27 formação de órgãos e eventual diferenciação (CLARK, 1997 apud TORRES et al., 1998). Desse modo, o meristema apical é uma estrutura dinâmica, constantemente em crescimento, com divisões celulares e formação de órgãos (TORRES et al., 1998). Figura 06 - Secção longitudinal do meristema apical do caule de Coleus sp. Seta grossa = gema axilar; seta fina = protoderme; cabeça de seta = procâmbio; MF = meristema fundamental; PM = promeristema. Barra = 500 mm. (APEZZATO, 2003). Por outro lado, o ápice caulinar consiste do meristema apical com dois primórdios foliares subjacentes. Seu tamanho pode varia de 0,2 a 20 mm, dependendo da espécie (TORRES et al., 1998). Nota-se que a cultura de ápices caulinares, erroneamente chamada cultura de meristemas, é utilizada para propagação de plantas in vitro, recuperação de plantas livres de vírus e conservação de germoplasma. Uma notável vantagem desse sistema é, na maioria dos casos, a manutenção do genótipo regenerado, em virtude de as células meristemáticas manterem de modo uniforme a sua estabilidade genética. O ápice caulinar é uma estrutura organizada, que pode desenvolver-se diretamente em parte aérea, em meio de cultura adequado, havendo a opção de não passar pela fase de calo (TORRES et al., 1998).
28 28 Analisando experimentos anteriores, realizados por diversos cientistas, TORRES et al. (1998) constataram: Esta técnica foi utilizada pela primeira vez por BALL (1946), para regenerar plantas de T. majus e L. albus a partir da cultura de ápice com 2 ou 3 primórdios foliares. As exigências de meio de cultura para ápices caulinares são mais simples que aquelas para meristemas isolados. BALL (1960) mostrou que meristemas de L. albus, em cultura, apenas desenvolviam algumas folhas e o caule apresentava pequeno alongamento. Entretanto, meristemas de T. majus e Lycopersicon esculentum não se desenvolviam in vitro, sugerindo que esses explantes tinham perdido a habilidade de sintetizar compostos necessários ao seu crescimento. Hoje se sabe que os primórdios foliares em desenvolvimento são fontes de substâncias orgânicas essenciais que favorecem o crescimento dos ápices caulinares em cultura (TORRES et al., 1998). Figura 07 Ápices caulinares microscopia e figura ilustrativa. Fonte: Para TERMIGNONI, R. R. (2005): Os meristemas e os ápices caulinares são escolhidos por terem características superiores e/ou quando há dificuldade na propagação vegetativa pelos métodos convencionais (como estaquia e enxertia). Contrariando as definições de TORRES et al. (1998), para HU & WANG (1983) apud TERMIGNONI, R. R. (2005), meristemas são as estruturas apicais, incluindo o domo apical e os dois primórdios foliares que
29 29 se situam neste extremo ápice da planta, ao passo que ápices são os dois últimos centímetros do eixo caulinar e segmentos caulinares, incluindo o ápice caulinar com as gemas axilares que se situam junto às folhas. Uma importante característica acerca dos meristemas é que nesse tecido ainda não estão formados os feixes vasculares, portanto são utilizados na obtenção de indivíduos livres de viroses (TERMIGNONI, R. R., 2005). O uso de ápices caulinares tem sido bastante difundido entre os micropropagadores pela facilidade de obtenção, pelo número inicial de explantes isolados da planta-mãe, pela viabilidade in vitro e pelo rápido crescimento (TERMIGNONI, R. R., 2005). 4.8 Estabilidade dos Meristemas Apicais A divisão das plantas superiores em caule e raiz representa um dos aspectos mais notáveis da diferenciação celular, a qual é mantida com grande estabilidade durante toda a vida. Essa separação começa no embrião, com estabelecimento da polaridade e a iniciação dos meristemas apicais da raiz e do caule (TERMIGNONI, R. R., 2005). A estabilidade de ambos os ápices pode ser considerada sob duas hipóteses alternativas. Segundo uma delas, os ápices meristemáticos - caulinares e radiculares - seriam constituídos por células não comprometidas com rotas específicas de desenvolvimento, sendo o controle realizado por células maduras, parcial ou completamente diferenciadas. Contrariamente a essa hipótese, a outra interpretação é de que as células meristemáticas seriam hereditariamente programadas como células de caules ou raízes, em conseqüência de serem consideradas células comprometidas. De acordo com esse ponto de vista, os ápices meristemáticos seriam constituídos por células verdadeiramente especializadas. Não há até o momento evidências consistentes que permitam comprovar essas duas hipóteses (TERMIGNONI, R. R., 2005). Aparentemente, a maneira mais direta de se verificar se células dos meristemas serão intrinsecamente determinadas ou não, seria mediante o emprego da cultura in vitro de promeristemas de ápices caulinares e radiculares. Em certas orquídeas, segmentos de ápices radiculares, medindo entre 0,2 e 2,0 cm de comprimento quando cultivados em meios relativamente
30 30 simples, originaram diretamente embriões somáticos. Esse parece ser um dos poucos exemplos de conversão verdadeira de ápices radiculares (TERMIGNONI, R. R., 2005). 4.9 Meios Nutritivos Para que se obtenha êxito na cultura de células, tecidos e órgãos de plantas, os meios nutritivos utilizados são de vital importância, fornecendo as substâncias essenciais para o crescimento dos tecidos e controlando o padrão de desenvolvimento in vitro (TORRES et al., 1998). Para TORRES et al., (1998): As mesmas vias bioquímicas e metabólicas básicas que funcionam nas plantas são conservadas nas células cultivadas, embora alguns processos, como fotossíntese, possam ser inativados pelas condições de cultivo e pelo estado de diferenciação das células. Por isso, os meios nutritivos se baseiam nas exigências das plantas quanto aos nutrientes minerais, com algumas modificações para atender às necessidades específicas in vitro. Complementando as substâncias biossintetizadas pelas células, vários compostos orgânicos são adicionados ao meio para suprirem as necessidades metabólicas, energéticas e estruturais das células. Com o passar dos anos, passos importantes foram dados, no desenvolvimento de formulações nutritivas e nos estudos de nutrição mineral de plantas que, há tempos, culminaram na solução nutritiva de KNOP. Nessa solução, GAUTHERET (1934) se baseou para formular os macronutrientes de seu meio nutritivo. WHITE, na década de 1930 desenvolveu diversas soluções nutritivas, baseado no trabalho de pesquisadores anteriores. Os primeiros meios apresentavam em sua composição metais exóticos (como níquel, titânio e berílio). Os minerais incluídos na maior parte dos meios atualmente utilizados foram definidos por WHITE, na década de Seu meio continha ainda vitaminas e sacarose como suplementos orgânicos. Dos reguladores de crescimento, apenas o ácido 3-indolacético (uma auxina) era conhecido. A ênfase desses primeiros trabalhos era a identificação dos compostos essenciais para o crescimento de células ou órgãos isolados das demais partes da planta (TORRES et al., 1998).
31 31 O meio de WHITE foi utilizado como meio básico em diversas espécies e a mudança de padrão de meio ocorreu na tentativa de otimizar o crescimento de calo in vitro. Tais modificações envolveram o aumento das concentrações dos sais em geral, uma diminuição na concentração de sódio e o acréscimo de nitrogênio na forma de amônio para complementar o nitrato (MURASHIGE & SKOOG, 1962 apud TORRES et al., 1998). Atualmente, o meio MS (as letras iniciais de MURASHIGE & SKOOG) é utilizado na cultura de tecidos da grande maioria das espécies. Algumas alterações na composição desse meio são executadas, em casos específicos Componentes de Meios Nutritivos Água Trata-se do componente mais abundante nos meios de cultura. Portanto, é uma potencial fonte de impurezas que podem afetar o desenvolvimento vegetal in vitro. Em geral, a água destilada (e às vezes também deionizada) é utilizada. Caso a água seja obtida de poços, alguns contaminantes e minerais podem permanecer em sua composição mesmo após a destilação. Para contornar esse problema, recomenda-se a purificação desse componente com um sistema de filtração por filtros de carvão ativado, colunas de troca iônica e filtros de acetato de celulose (TORRES et al., 1998) Macronutrientes De acordo com TORRES et al., (1998): Os elementos minerais exigidos em maiores quantidades para o crescimento de plantas inteiras são incluídos nos meios nutritivos na forma de sais inorgânicos, podendo o nitrogênio e o enxofre ser adicionados também como componentes de suplementos orgânicos. Diferentemente dos demais macronutrientes, o nitrogênio se apresenta na forma de cátion (amônio) e ânion (nitrito e nitrato). Essa diferença química é marcante no crescimento de culturas de tecidos. O nitrato sustenta uma boa taxa de crescimento em diversas espécies. Por outro lado, há espécies que não crescem bem com nitrato no meio. A enzima redutase do nitrato (que o reduz a nitrito e em seguida à amônia através da redutase do nitrito) determina sua utilização pelas células. A concentração de sacarose no meio de cultura
32 32 pode ser um fator limitante para a atividade da redutase de nitrato (TORRES et al., 1998). O macronutriente fósforo é absorvido pelas plantas na forma do íon H₂PO₄, sendo desse modo acrescentado aos meios de cultura. O meio MS, por exemplo, utiliza o fosfato de potássio monobásico (KH₂PO₄) como fonte de fósforo, na concentração de 1,25 µm. Para algumas espécies essa concentração é considerada baixa, exigindo ajustes na composição do meio de cultura (TORRES et al., 1998). O potássio é absorvido como íon acompanhante do nitrato (KNO₃ no meio MS), fosfato ou cloreto. O íon exerce suas funções metabólicas e bioquímicas na planta, e nas células in vitro como íon livre, sem incorporação em compostos orgânicos, tornando seu metabolismo muito simples (TORRES et al., 1998). Quanto ao cálcio, para que ocorra sua translocação pela planta, é preciso que a planta transpire para que ocorra seu transporte no xilema. As condições de alta umidade do ar (como no cultivo in vitro) podem induzir deficiência de cálcio em partes aéreas em micropropagação. Contudo, esse não é o caso na cultura de ápices caulinares, tecidos bastante diminutos (TORRES et al., 1998). O magnésio é um componente importante de vias metabólicas que utilizam ATP. De acordo com HELLER (1965) apud TORRES et al. (1998), ocorrem interações entre alguns componentes dos meios, especificamente um antagonismo entre o magnésio e o cálcio. Geralmente o magnésio é adicionado na forma de sulfato de magnésio (MgSO₄), como ocorre no meio MS, fornecendo também o enxofre. Para TORRES et al. (1998): O ferro pertence a uma faixa intermediária entre os macronutrientes e os micronutrientes, pois normalmente é exigido em concentrações menores que as dos macronutrientes, mas superiores as dos micronutrientes. Sofre uma distinção também: é o único elemento mineral essencial que não é absorvido como íon livre do meio.
33 Micronutrientes Todos os elementos minerais aceitos atualmente como essenciais para as plantas fazem parte da composição do meio MS (1962), tais como: manganês, zinco, boro, cobre, cloro e molibdênio, cobalto e iodo (TORRES et al., 1998). Outros elementos, como o sódio, podem fazer parte da composição de meios nutritivos, em concentrações das mais diversas, dependendo da espécie e do explante em estudo (TORRES et al., 1998) Carboidratos Um aspecto fundamental a ressaltar é o fato de as células cultivadas in vitro não encontrarem condições adequadas de iluminação e concentração de CO₂, não apresentando teores de clorofila suficientes para realizar fotossíntese que sustente o crescimento. Dessa forma, os meios de cultura necessitam de uma fonte de carbono em sua composição para suprir as necessidades vegetais (TORRES et al., 1998). A sacarose é o carboidrato mais utilizado nos meios, sendo que esse açúcar suporta as mais altas taxas de crescimento na maior parte das espécies, sendo adicionada ao meio MS na concentração de 30 mg/l (TORRES et al., 1998) Vitaminas Os primeiros estudos realizados com cultura de raízes (BONNER, 1937) definiram a mistura básica de vitaminas utilizadas atualmente. Tal mistura consiste de tiamina (vitamina B₁), ácido nicotínico (niacina) e piridoxina (vitamina B₆), à qual normalmente se adiciona o aminoácido glicina. As concentrações de vitaminas no meio MS são muitas vezes alteradas, dependendo da espécie em estudo (TORRES et al., 1998) Mio-Inositol Esta substância, um hexitol ou composto cíclico com grupos OH em todos os seus seis carbonos, é outro componente testado desde o início dos estudos com a cultura de tecidos de plantas. Possui um efeito estimulador no
34 34 crescimento de calo em fumo e outras espécies e está presente tanto no meio MS quanto na maioria dos meios de cultura (TORRES et al., 1998). De acordo com TORRES et al. (1998): Sabe-se hoje, que o inositol é incorporado às moléculas de fosfolipídios que compõem a estrutura da membrana plasmática de outras membranas celulares Ágar-ágar Utilizado nos meios nutritivos sólidos, o ágar-ágar (ou simplesmente ágar) é um polissacarídeo extraído de algas marinhas. O ágar é dissolvido em água fervente e gelificado na presença de cátions quando esfriado. Caso seja esterilizado num ph abaixo de 4,5, ocorre a hidrólise do ágar que o impede de polimerizar-se ao esfriar. A concentração de ágar utilizada definirá a consistência do meio. Altas concentrações de ágar (resultando em meios muito consistentes) podem limitar a difusão de nutrientes até o explante (ROMBERGER & TABOR, 1971 apud TORRES et al., 1998) O ph e Outras Características dos Meios O ácido clorídrico (HCl) e o hidróxido de sódio (NaOH) são comumente utilizados na correção do ph dos meios de cultura. Em geral, o ph é ajustado para valores entre 5 e 6. Os efeitos do ph podem ser diretos ou indiretos. Ele influi na utilização do amônio como fonte de nitrogênio nas células vegetais, onde valores de ph mais baixos (ácidos) dificultam a utilização do amônio ao passo que valores mais altos de ph diminuem a utilização do nitrato. Durante o crescimento das células, o ph do meio se altera à medida que diferentes íons são absorvidos pelas células e os produtos metabólicos são excretados para o meio. O processo de esterilização em autoclave em si altera o ph dos meios nutritivos, fazendo-o baixar ligeiramente (TORRES et al., 1998) Fitormônios e Reguladores de Crescimento Os fitormônios são sintetizados em partes específicas da planta e então translocados para outras partes, onde, em pequenas concentrações causam resposta fisiológica que pode ser tanto de promoção quanto de inibição dos processos de crescimento e diferenciação. Por outro lado, os reguladores de crescimento são substâncias sintéticas que ao serem aplicados nas plantas,
35 35 produzem efeitos semelhantes aos dos hormônios. Desse modo, os reguladores de crescimento podem ou não serem análogos químicos dos fitormônios (TOMBOLATO, A. F. C. & COSTA, A. M. M., 1998). De acordo com TERMIGNONI, R. R., 2005: Como fitormônios caracterizam-se todos os compostos sintetizados em pequenas quantidades (nanogramas) em um determinado tecido da planta, que atuarão nas células-alvo, onde será exercida sua atividade biológica, causando resposta fisiológica que alterará os padrões de desenvolvimento da planta. Os hormônios são uma classe de compostos químicos endógenos facilmente transportados pelas células responsivas, onde estão diretamente envolvidos com o controle da atividade gênica na transcrição e na tradução em um grande número de processos. Supõe-se que as células responsivas possuam receptores (a maior parte de origem protéica) que ao ligarem-se aos hormônios iniciam a resposta na célula resultando em eventos bioquímicos e fisiológicos (TORRES et al., 1999). De acordo com TOMBOLATO, A. F. C. & COSTA, A. M. M., 1998, o efeito de cada hormônio no processo de crescimento e desenvolvimento da planta depende da espécie de planta utilizada, da parte da planta em que é aplicado, do estágio de desenvolvimento da planta, do estágio de desenvolvimento do tecido, da concentração hormonal utilizada, da interação entre os hormônios e de diversos fatores ambientais. A sensibilidade diferencial do tecido e a concentração hormonal utilizada interferem diretamente no mecanismo de ação do hormônio. Para que ocorra, de fato, alguma resposta fisiológica, o hormônio deve estar presente na célula correta, além de reconhecer e se ligar ao grupo de células que respondem ao mesmo (receptores protéicos) e ainda tal ligação (hormônio-receptor protéico) deve desencadear mudanças metabólicas que amplifiquem o sinal do hormônio. Desse modo, diferentes partes das plantas podem responder diferentemente a um determinado hormônio (TOMBOLATO, A. F. C. & COSTA, A. M. M., 1998).
36 36 Nos meios de cultura utilizados nos cultivos in vitro, os componentes fundamentais, na maioria dos casos, são os reguladores de crescimento. O tecido utilizado como explante e a espécie em estudo definirão a concentração e o(s) tipo(s) de regulador(es) de crescimento a ser(em) utilizado(s). É preciso ressaltar que em cada etapa do cultivo in vitro (explante, calo, broto ou raiz), é necessário um meio de cultura com concentração hormonal diferenciada (TOMBOLATO, A. F. C. & COSTA, A. M. M., 1998). Para TOMBOLATO, A. F. C. & COSTA, A. M. M., 1998: A atividade do fitormônio vai depender da sua concentração e estabilidade no meio de cultura durante a preparação e esterilização do meio e, também, da translocação e metabolismo dos fitormônios nos tecidos durante o período de cultivo. In vitro, o balanço hormonal do meio de cultura é determinante para o sucesso no processo de regeneração de plantas. Os reguladores de crescimento, portanto, são análogos sintéticos dos fitormônios (ou seja, possuem a mesma função), entretanto, são sintetizados em laboratório e não pela planta (TERMIGNONI, R. R., 2005). A composição e concentração de hormônios no meio são fatores determinantes no crescimento e no padrão de desenvolvimento na maioria dos sistemas de cultura de tecidos (TORRES et al., 1999). YEOMAN (1970) apud TORRES et al. (1999) considerou que o crescimento de calo em diferentes espécies pode ser independente de auxina e citocinina, dependente de auxina ou de citocinina ou ainda dependente de ambas. Desse modo, certos tecidos mostram uma dependência total da presença de reguladores exógenos no meio, enquanto outros sintetizam as quantidades que necessitam Auxinas As auxinas promovem, geralmente em combinação com as citocininas, o crescimento de calos, suspensões celulares e órgãos além de regular a morfogênese. A palavra auxina tem origem grega e significa alargamento ou crescimento. A nível celular, as auxinas controlam processos básicos como a divisão e o alongamento celulares. Como são capazes de iniciar a divisão e o alongamento celulares, estão envolvidas na formação do tecido meristemático.
37 37 Também estão envolvidas, em tecidos organizados, no estabelecimento e na manutenção da polaridade e na maioria das espécies na manutenção da dominância apical. A escolha da concentração de auxina a ser utilizada depende: do tipo de crescimento e/ou desenvolvimento desejado, do transporte da auxina utilizada até o tecido alvo, da taxa de inativação da auxina no meio de cultura e no explante, do nível natural de auxina presente no explante, da sensibilidade do explante à auxina e da interação entre as auxinas e os demais hormônios vegetais presentes no meio de cultura (GEORGE et al., 2008). Trata-se de um grupo hormonal sintetizado nas plantas em regiões de crescimento ativo (como o meristema apical, as gemas axilares e as folhas jovens), sendo, posteriormente, translocado para diferentes órgãos, onde atuam no mecanismo interno que controla o crescimento. As auxinas promovem crescimento do caule, folhas e raízes, além de serem responsáveis pela dominância apical, importante condição a ser considerada nos cultivos in vitro. Esse grupo hormonal também promove o desenvolvimento de raízes adventícias no caule. Por isso são utilizadas na prática de reprodução assexuada de muitas espécies, pois desse modo as características genéticas de interesse comercial são mantidas. Para estimular a multiplicação em meio de cultura, a auxina mais utilizada é o ácido alfa-naftaleno acético (ANA), seguido do AIB (ácido indol-3-butírico) e do AIA (ácido 3-indol acético). As concentrações utilizadas de ANA e AIB são geralmente abaixo de 0,5 mg/l (em relação ao volume do meio de cultura) ao passo que as concentrações de AIA, por ser menos estável em cultura tendem a ser superiores. Concentrações altas de auxina podem estimular o enraizamento e a formação de calos em detrimento da multiplicação (TOMBOLATO, A. F. C. & COSTA, A. M. M., 1998). O 2,4-D (2,4-diclorofenoxiacético) é uma auxina comumente utilizada para a indução de calos. Em muitas espécies, a expressão da totipotência das células competentes inicia-se ao se cultivar o explante em meios de cultura com concentrações relativamente elevadas de 2,4-D (TORRES et al., 1999). As várias auxinas utilizadas nos cultivos in vitro (tais como AIA, AIB, 2,4- D, dentre outras) resultam em respostas diferentes. O AIA, por exemplo, é considerado uma auxina instável, que se degrada facilmente pela luz ou pela atividade microbiana, que o transforma em triptofano. Essa instabilidade o torna uma auxina relativamente fraca quando comparada ao 2,4-D (TORRES et al.,
38 ). REINERT & WHITE (1956) apud TORRES et al. (1999) observaram maior crescimento de calo normal e tumoroso em meio suplementado com 2,4- D (na concentração de 0,05 mg/l) do que com ANA (na mesma concentração) Citocininas Este grupo hormonal é formado por substâncias reguladoras de crescimento que causam divisão celular nas plantas. As citocininas promovem divisão, alongamento e diferenciação celular, retardam a senescência das plantas, promovem a quebra da dominância apical (enquanto as auxinas induzem à dominância apical) e causam a proliferação de gemas axilares. As citocininas são fundamentais para a multiplicação da parte aérea e para a indução de gemas adventícias. A concentração e o tipo de citocinina são os fatores que mais influenciam a multiplicação in vitro. A benzilaminopurina, conhecida como BAP, é a citocinina mais utilizada, seguida da cinetina (KIN). Essas citocininas têm sido empregadas na maioria dos experimentos, mas para determinadas espécies de plantas, outras citocininas podem ser mais eficientes. Para multiplicação em meio de cultura, as concentrações utilizadas variam, geralmente, de 0,1 a 5,0 mg/l (TOMBOLATO, A. F. C. & COSTA, A. M. M., 1998). Um fator de vital importância quando se trata do cultivo in vitro é o balanço hormonal entre citocinina e auxina no controle da morfogênese e formação de órgãos. Na ausência de raízes adventícias, por exemplo, deve-se aumentar a concentração de auxina e diminuir a de citocinina. Por outro lado, se o objetivo for aumentar a formação de parte aérea, deve-se aumentar a concentração de citocinina e diminuir a de auxina. Entretanto, se o objetivo for a formação de parte aérea e de raízes, deve-se investigar o melhor balanço entre esses dois hormônios. Tal balanço varia de acordo com a espécie e para seu conhecimento, experimentos são necessários para o desenvolvimento do protocolo correto. Contudo, deve-se estar atento às concentrações utilizadas, pois o excesso de citocinina pode causar vitrificação nas plantas cultivadas in vitro. Concentrações iguais promovem, em geral, a produção de calos (TOMBOLATO, A. F. C. & COSTA, A. M. M., 1998).
39 Giberelinas Tratam-se de substâncias promotoras de crescimento, cujos efeitos podem ou não ser semelhantes aos da auxina. Contudo, uma das principais diferenças entre esses dois grupos de hormônios é que as giberelinas possuem maior efeito quando aplicadas em plantas intactas ao passo que as auxinas têm efeito maior quando aplicadas em segmentos de plantas. Além dos fatores citados, as giberelinas promovem a germinação e a quebra de dormência de diversas espécies. O GA₃ (ácido giberélico) tem sido utilizado in vitro para estimular o alongamento da parte aérea da planta, contudo sua eficiência tem sido baixa. A concentração hormonal utilizada, nesse caso, é em torno de 0,1 mg/l. Dezenas de tipos de giberelinas são conhecidas atualmente, havendo uma grande especificidade entre o hormônio utilizado e a espécie vegetal em estudo. Dessa forma, é necessário conhecer a efetividade de cada tipo de giberelina para cada espécie de planta (TOMBOLATO, A. F. C. & COSTA, A. M. M., 1998). São conhecidos mais de cem tipos de giberelinas e aparentemente nenhuma planta possui todos esses tipos. As giberelinas estão envolvidas em diversas respostas de crescimento, dentre elas: promoção do alongamento celular e da atividade meristemática. Em algumas plantas, os hormônios desse grupo controlam o processo germinativo, a determinação sexual, o desenvolvimento dos frutos e o controle juvenil. O ácido giberélico (em baixas concentrações) pode se tornar um ingrediente indispensável nos meios de cultura, dependendo da espécie vegetal em estudo. Quando adicionado a um meio de cultura, freqüentemente produz efeitos similares aos das auxinas. Embora o GA₃ iniba a formação de raízes adventícias e de meristemas a partir de calos, pode favorecer o crescimento e desenvolvimento de tecidos meristemáticos previamente formados. Uma baixa concentração de GA₃ é geralmente adicionada aos meios de cultura destinados ao desenvolvimento meristemático. Pode nem sempre ser benéfico e há resultados contraditórios (GEORGE et al., 2008).
40 Ácido Abscísico O Ácido Abscísico (ABA) é o fitormônio que freqüentemente promove respostas fisiológicas que ajudam a proteger as plantas de condições de estresse (seja ele hídrico, salino ou devido a baixas temperaturas). Também inibe o crescimento, estando associado à dormência de gemas e órgãos subterrâneos. Induz o fechamento estomático, conferindo proteção contra o déficit hídrico. Possui ainda efeito indireto na abscisão de folhas, flores e frutos (TOMBOLATO, A. F. C. & COSTA, A. M. M., 1998) Recuperação de Plantas Livres de Vírus As doenças de natureza vegetal são causadas por fungos, bactérias e vírus (ou ainda por nematóides). Medidas efetivas de controle químico são aplicadas para a maior parte das doenças, exceto para aquelas causadas por vírus. Em geral, esses patógenos não são transmitidos pela semente, mas tendem a se acumular nas plantas propagadas vegetativamente. Diante da falta de um produto químico (defensivo) capas de erradicar vírus de plantas infectadas, a cultura de ápices caulinares vem sendo utilizada desde 1952 a fim de obter material de multiplicação com alta qualidade fitossanitária (MOREL & MARTIN, 1952 apud TORRES et al., 1998). De acordo com KARTHA (1984) apud TORRES et al. (1998): O sucesso na eliminação de vírus por meio da cultura de ápices caulinares depende do tipo de vírus, da relação vírus-hospedeira e, principalmente, do tamanho do ápice excisado. Em trabalho realizado por KARTHA & GAMBORG (1975) apud TORRES et al. (1998), foi verificado que 60% dos explantes de mandioca (Manihot esculenta) menores que 0,4 mm produziram plantas sadias, mas nenhuma planta sadia foi obtida quando os explantes tinham tamanho superior a 0,4 mm. Há ainda a possibilidade de, paralelamente à cultura de meristemas, realizar a termoterapia (tratamento por calor), aumentando a possibilidade de eliminação de vírus (TORRES et al., 1998). Alguns autores, como QUAK (1961) apud TORRES et al. (1998) sugerem que as citocininas (como o BAP) e outros reguladores de crescimento podem suprimir vírus de tecidos cultivados in vitro. Por outro lado, MILO & SRIVASTAVA (1969) apud TORRES et al. (1998) notaram estímulo a
41 41 multiplicação viral na presença das citocininas, de modo que diversos estudos envolvendo espécies vegetais de interesse comercial são necessários para a obtenção de conclusões precisas. Conforme afirmação de TERMIGNONI, R. R. (2005), nos meristemas os feixes vasculares ainda não estão formados e por conta disso, os vírus não conseguem chegar a esses tecidos. Sabe-se que para ocorrer uma infecção viral sistêmica, os vírus têm que ter acesso livre ao sistema vascular da planta. Há várias evidências a favor da hipótese de que o floema funciona como o veículo de transporte do vírus através da planta, ao passo que o transporte intercelular ocorre via microcanais com cerca de 3 nm de diâmetro, conhecidos como plasmodesmatas (NONO- WOMDIM et al., 1993 apud TORRES et al., 1998). Desse modo, o ácido nucléico do vírus é demasiadamente grande para passar por esses microcanais, consistindo uma barreira física para a infestação. Contudo, hoje se sabe que muitos vírus de plantas desenvolveram mecanismos para contornar essa situação visando atingir o sistema vascular da planta. Tais vírus codificam proteínas de movimento com a capacidade de aumentar o tamanho molecular dos plasmodesmatas (GILBERTSON & LUCAS, 1996 apud TORRES et al., 1998). Para QUAK (1997) apud TORRES et al. (1998): Provavelmente todas as espécies propagadas vegetativamente estão infectadas com um ou mais vírus, principalmente os latentes que são difíceis de serem detectados pela sintomatologia visual. O controle químico desses agentes de infecção é praticamente impossível. Assim, a cultura de ápices caulinares é uma estratégia para o estabelecimento de estoques de plantas matrizes livres de vírus, considerandose que a concentração desse patógeno distribui-se de modo desuniforme na planta infectada e é mínima ou nula nos meristemas e ápices caulinares (TORRES et al., 1998). A estratégia consiste em reproduzir, in vitro, plantas a partir de tecidos supostamente livres de vírus (MURASHIGE, 1974 apud TORRES et al., 1998). De acordo com STONE (1978) apud TORRES et al. (1998):
42 42 Basicamente, a metodologia consiste na excisão da cúpula meristemática apical com um ou dois primórdios foliares (onde ainda não se observa conexão vascular com os tecidos da planta), podendo ser cultivada em meio nutritivo adequado para diferenciação e desenvolvimento dos sistemas caulinar e radicular. Várias hipóteses foram utilizadas para explicar a eliminação de vírus via cultura de ápices caulinares. Provavelmente, há um ou mais mecanismos de inativação operando nas células meristemáticas em cultura, os quais eliminam vírus dos tecidos infectados. Também tem sido sugerido que eliminação do vírus é decorrente da modificação metabólica que ocorre diante da injúria causada aos tecidos no processo de excisão do explante (MELLOR & STACE-SMITH, 1977 apud TORRES et al., 1998). Dentre os fatores importantes na recuperação de plantas livres de vírus, destacam-se: as condições de desenvolvimento da planta-matriz, o tipo e o tamanho do explante, o estiolamento (ocorre quando a planta desenvolvida no escuro não forma clorofila, permanecendo as folhas pequenas e rudimentares, com grande alongamento do ápice, de modo que a replicação ou movimentação viral não acompanha tal alongamento), a quebra da dominância apical (a dominância apical inibe o crescimento de gemas laterais e sua remoção favorece o desenvolvimento de tais gemas que, ao serem utilizadas como explantes, conferem maior probabilidade de se obter propágulos livres de vírus), a influência sazonal, a execução ou não de tratamentos físicos ou químicos (tais como a termoterapia ou a quimioterapia), o meio de cultura e as condições de cultura (TORRES et al., 1998). Na tentativa de obter plantas livres de patógenos (sobretudo os vírus), a micropropagação especializou-se e adaptou os procedimentos gerais de cultura com assepsia e técnicas de cultura de meristema apical e broto apical. Não há dúvidas de que plantas cultivadas infectadas por patógenos diversos apresentam menor produção, qualidade e vigor quando comparadas a plantas sadias. Os vírus são patógenos peculiares porque sua grande maioria infecta as plantas de maneira sistêmica. Desse modo, métodos mais especializados para se conseguir a eliminação das infecções virais são necessários. Tais
43 43 métodos constituem-se na regeneração de plantas a partir de culturas de pequenos brotos apicais em desenvolvimento, como os meristemas apicais, menores ou iguais a 0,2 mm contendo de um a três primórdios foliares (MANTELL et al., 1994). Depois de realizadas as etapas iniciais, o teste de patogenicidade é um componente essencial para a produção de plantas livres de vírus. Como esses patógenos são observáveis apenas à microscopia eletrônica, o aperfeiçoamento de técnicas, como o teste ELISA, tornaram possível a detecção precoce e sensível de infecções causadas por vírus. Plantas indexadoras (que respondem fisiologicamente quando infectadas com vírus de plantas de interesse comercial) também vêm sendo utilizadas, mas o alto grau de especificidade exigido reduz o uso dessa técnica (MANTELL et al., 1994). De acordo com WALKEY (1978) apud MANTELL et al., (1994): A cultura de meristema apical, com ou sem tratamento pelo calor, foi usada para a eliminação de vírus para cerca de trinta espécies e os benefícios da mesma são bem reconhecidos. Para PINTO & LAMEIRA (2001): Os meristemas formam a única parte da planta não infectada por vírus. Assim sendo a cultura do meristema propriamente dito, acompanhado de dois primórdios foliares, permite a regeneração de plantas isentas de viroses. Por conta desse aspecto, a cultura de meristemas é a principal aplicação da cultura de tecidos em plantas, no caso daquelas que se propagam vegetativamente e, que a cada geração de propagação vegetativa há um agravamento das viroses, culminando em acentuada redução na produtividade. O morango e a batata são os exemplos mais notáveis do uso da cultura de meristemas, onde o morango apresentou uma produtividade de quatro a sete vezes maior, apenas com o uso dessa técnica, que também viabilizou tubérculos de batata isentos de viroses. No caso específico de Citrus, algumas viroses têm sido eliminadas procedendo-se à microenxertia (PINTO & LAMEIRA, 2001). De acordo com QUAK (1961) apud TORRES et al., 1998: Desde que os hormônios vegetais começaram a fazer parte dos meios nutritivos, tem sido sugerido que citocininas e outros reguladores de crescimento podem suprimir vírus de tecidos cultivados in vitro. Por outro lado, outros estudos verificaram
44 44 estímulo à multiplicação virótica na presença dos reguladores de crescimento utilizados no cultivo in vitro (TORRES et al., 1998). Na citricultura, especificamente, a microenxertia tem sido utilizada para eliminação de alguns vírus. Essa técnica combina o método padrão de enxertia com a cultura de meristemas e tem eliminado diversos vírus como exocorte, tristeza, sorose e xiliporose de plantas cítricas contaminadas (NAVARRO et al., 1975 apud TORRES et al., 1998). O sucesso da cultura de meristema apical depende de vários fatores. Um dos mais importantes é a distribuição relativa dos vírus no ápice em desenvolvimento das plantas doadoras. O fato de alguns vírus serem mais resistentes do que outros remete às suas taxas relativas de duplicação em tecidos com atividades de crescimento e nos quais ocorre uma alta atividade meristemática. Alguns vírus encontram-se presentes na extremidade de um broto em crescimento, dificultando ou impedindo seu isolamento. Portanto, o tipo de infecção viral determinará o tamanho do meristema que deve ser usado, antes que uma erradicação completa do vírus seja possível (MANTELL et al., 1994) Microenxertia A técnica da microenxertia consiste em microenxertar (em condições assépticas) um ápice caulinar, contendo de dois a três primórdios foliares, excisado de uma planta matriz, sobre um porta-enxerto estabelecido in vitro (a partir da semente da planta-mãe). Em seguida, decapta-se o porta-enxerto e faz-se uma excisão em T invertido em seu topo, onde é introduzido o microenxerto (TORRES et al., 1998). Trata-se de uma técnica descrita pela primeira vez por MURASHIGE et al. (1972), recuperando plantas cítricas livres de exocorte e mantendo as suas características adultas, fator essencial do ponto de vista comercial. Através de inúmeros experimentos, essa técnica foi aperfeiçoada e tornou-se eficiente na obtenção de plantas cítricas livres de vírus (NAVARRO et al., 1975 apud TORRES et al., 1998). Todavia, diversos profissionais da área consideram essa técnica inviável na produção em ampla escala de mudas cítricas, pois consideram o índice de pega da enxertia demasiadamente baixo.
45 45 A microenxertia envolve quatro etapas principais, sendo essas: a obtenção do porta-enxerto, a preparação e a obtenção do enxerto, a microenxertia propriamente dita e o transplante da plântula microenxertada (TORRES et al., 1998). Os pesquisadores têm obtido grande sucesso na utilização da técnica da microenxertia em diversas espécies herbáceas. Contudo, no caso das frutíferas essa metodologia possui limitações, pois geralmente essas espécies apresentam dificuldade de regeneração a partir de ápices caulinares. (HUANG et al., 1990 apud TORRES et al., 1998). De acordo com TORRES et al., 1998: O sucesso na utilização da microenxertia para obtenção de material propagativo livre de doenças depende de uma série de fatores, dentre os quais os mais importantes são: Condições de incubação do microporta-enxerto A incubação no escuro é indispensável para obtenção do tecido tenro e estiolado, de modo que facilite as etapas subseqüentes; Idade do microporta-enxerto Com quinze dias de idade os microportaenxertos propiciam uma taxa de pegamento de 50%. Outro fator essencial no sucesso da microenxertia (bem como na cultura de meristemas) é o tamanho do explante. Para TORRES et al., 1998: O sucesso da microenxertia é altamente dependente do tamanho do explante. O ápice caulinar excisado com o tamanho de 0,05 mm apresenta uma taxa de sucesso relativamente baixa, cerca de 2%, ao passo que o ápice caulinar, com seis primórdios foliares, apresenta uma taxa de sucesso mais elevada, em torno de 50%. Contudo, quanto maior o tamanho do explante, menor será a taxa de obtenção de plântulas livres de vírus. Dessa forma, o ápice caulinar acompanhado de dois primórdios foliares, medindo aproximadamente 0,15 mm, é o ideal para a obtenção de plantas microenxertadas livres de vírus.
46 46 Ressalta-se ainda que a habilidade manual do profissional que realiza tanto a excisão em T invertido quanto o corte do ápice caulinar (em geral sob lupa ou microscópio) deve ser precisa e ágil, para facilitar a aderência e evitar o ressecamento dos tecidos (TORRES et al., 1998). Depois de realizada a microenxertia e obtida a planta dela resultante, é necessário que seja implementado um sistema de indexação que permita identificar os vírus presentes na planta matriz através do uso de plantas indicadoras (TORRES et al., 1998). 5 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA O presente trabalho é parte de um projeto maior que envolve desde a coleta, isolamento, assepsia e inoculação dos ápices caulinares em diversos meios de cultura para que enfim se obtenha a limpeza de vírus em plantas cítricas e que investiga e questiona se: A taxa de sobrevivência e o desenvolvimento dos ápices caulinares são os mesmos para os diferentes meios de cultura (com reguladores de crescimento distintos e em concentrações diversas)? Considerando-se a etapa que envolve a organogênese indireta, o desenvolvimento de calo é igual dentre os diferentes meios de cultura? 6 HIPÓTESE Acredita-se, com base na revisão bibliográfica realizada que os ápices caulinares responderão de maneira distinta, de acordo com os reguladores de crescimento utilizados. A interação entre os fito-reguladores e a concentração dos mesmos nos meios de cultura pode prejudicar, favorecer ou até mesmo não interferir no desenvolvimento e na sobrevivência dos explantes (ápices caulinares). Da mesma maneira, acredita-se que o desenvolvimento de calos deverá apresentar diferentes respostas morfogenéticas, conforme a composição do meio de cultura.
47 47 7. DESCRIÇÃO DA EMPRESA A EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A foi criada em 1991, no bojo de uma profunda reforma administrativa promovida pelo governo estadual no Serviço Público Agrícola, que fundiu e incorporou numa só instituição os serviços de pesquisa agropecuária até então desenvolvidos pela EMPASC Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária S.A., de extensão rural pela ACARESC Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina, de extensão pesqueira pela ACARPESC - Associação de Crédito e Assistência Pesqueira de Santa Catarina, além do serviço de fomento apícola, à cargo do IASC Instituto de Apicultura de Santa Catarina. Em 22 de junho de 2005, a EPAGRI incorporou o Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina - Instituto Cepa/SC. Na mesma data, a Assembléia de Acionistas aprovou a transformação da EPAGRI em empresa pública. A empresa tem como missão difundir o conhecimento, a tecnologia e a extensão para o desenvolvimento sustentável do meio rural, em benefício da sociedade. Procura ainda promover a preservação, recuperação, conservação e utilização sustentável dos recursos naturais, buscar a competitividade da agricultura catarinense frente a mercados globalizados, adequando os produtos às exigências dos consumidores e promover a melhoria da qualidade de vida do meio rural e pesqueiro. Quanto à Estação Experimental de Itajaí EEI (figuras 08 e 09), local onde foi realizado o estágio de conclusão de curso, suas bases foram lançadas em 1975, antes mesmo de ser oficialmente criada a EMPASC. Em 16 de maio de 1975, o Eng. Agr. José Oscar Kurtz, representando a EMBRAPA, nomeou a comissão que se encarregaria de estudar e propor possíveis áreas (na Região do Vale do Itajaí) para a instalação de uma Unidade Executiva de Pesquisa de Âmbito Estadual, destinada ao estudo das culturas de arroz, cana-de-açúcar, mandioca, forrageiras e fruticultura de clima tropical.
48 48 Fig. 08 Portão principal da EEI. Fig. 09 Lab. de Biotecnologia da EEI. Após a aquisição de uma área de 121,57 ha, as margens da Rodovia Antônio Heil km 6 (Latitude s Sul, Longitude s, altitude 2m), foi nomeado como primeiro chefe da Estação o Eng. Agr. Sylvio Ferraz de Araujo (Portaria EMPASC n 5A de 1/4/1976). Em 1976, a chefia e administração da EEI localizavam-se numa casa na Rua Lauro Müller 1067, em Itajaí (SC), enquanto as atividades de pesquisa eram desenvolvidas já na área da EEI. Em 16/11/1979 deu-se início as atividades de construção da atual sede da EEI, que seria concluída em Fevereiro de 1981, comportando administração, escritórios dos pesquisadores, biblioteca, laboratórios e auditório. Em 1991, após a incorporação da ACARESC, EMPASC, ACARPESC e IASC pela EMPASC, a EEI manteve suas funções de pesquisa e geração de tecnologia na nova instituição (EPAGRI), porém suas dependências passaram também doravante a abrigar técnicos e pessoal administrativo ligado à extensão rural. Atualmente a EEI conta com um corpo técnico composto por 35 pesquisadores (17 doutores, 17 mestres e 01 graduado), 46 funcionários de apoio operacional e 12 funcionários de apoio técnico. As atividades de pesquisa da EEI têm gerado centenas de publicações técnicas e científicas, sendo reconhecida nacional e internacionalmente a excelência desta unidade da EPAGRI. Desenvolvem-se na EEI atividades de pesquisa, difusão de tecnologia, e formação de recursos humanos. Atualmente a estação executa um terço das atividades de pesquisa científica da EPAGRI.
49 49 As atividades da estação não se limitam às circunvizinhanças do Vale do Itajaí, mas estendem-se principalmente desde o sul do Estado, até o litoral Norte e Alto Vale do Itajaí. Vinculado à EEI existe também o CEPC (Campo Experimental de Piscicultura Camboriú - SC), que desenvolve trabalhos de pesquisa com piscicultura. Ressalta-se que além do aspecto inerente à Pesquisa Agropecuária, o corpo técnico da EEI tem se empenhado na difusão de tecnologia, ministrando cursos profissionalizantes e palestras a agricultores e estudantes. Importante papel também é desempenhado pelos técnicos da estação no ensino (formação de estudantes do ensino fundamental, médio e superior), seja pela visita de mais de mil alunos anualmente, seja por propiciar ambiente altamente favorável ao desenvolvimento de estágios e trabalhos de pesquisa para acadêmicos de diversos cursos superiores. A EEI mantém estreito vínculo de trabalho com diversas instituições, empresas e universidades do setor público e privado com as quais desenvolve projetos e trabalhos conjuntos. A Estação Experimental de Itajaí possui uma série de laboratórios que servem de apoio à pesquisa e também atual na prestação de serviços: Laboratório de biologia molecular Laboratório de Beauveria Laboratório de plantas bioativas Laboratório de biotecnologia Laboratório de análise de água Laboratório de cultura de tecidos vegetais (LCTV) Laboratório de entomologia Laboratório de fitopatologia Laboratório de sementes florestais Laboratório de piscicultura
50 50 8. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS As atividades desenvolvidas sob a supervisão do Dr. Gilmar Roberto Zaffari foram: Apresentação da EEI ao estagiário; Palestra sobre cultura de tecidos vegetais com o supervisor do estágio; Preparo de meio de cultura; Coleta - preparo e assepsia dos explantes de espécies de interesse econômico; Técnicas de cultivo in vitro de meristemas, ápices caulinares, gemas, segmentos nodais, raízes e folhas; Repicagem de material in vitro; Instalação de experimento e avaliação Melhoria genética e sanitária das mudas cítricas produzidas em Santa Catarina - limpeza de vírus em cultivar cítrica de interesse comercial (Baía-Catarina); Conservação de germoplasma in vitro; Limpeza clonal de material vegetal (viroses); Aclimatização - transferência de plântulas in vitro para ex vitro (solo); Preparo de substrato e cuidados com as mudas em telado; Discussão geral sobre cultura de tecidos vegetais e sobre o estágio; Revisão de literatura. 8.1 ATIVIDADES INICIAIS Durante o período de estágio foram acompanhadas as atividades realizadas pelos técnicos do Laboratório de Biotecnologia com vistas à ambientação e conhecimento sobre os procedimentos e protocolos padrões. No dia 01/09/2010 pôde-se acompanhar a obtenção de explantes de Anthurium sp., bem como a assepsia do material, lavado com água e detergente (Tween ), seguido de assepsia com etanol e hipoclorito de sódio 0,5%. O objetivo desse experimento era o de estabelecer o protocolo ideal para assepsia do material. Para isso, diferentes concentrações de hipoclorito de sódio foram utilizadas e o tempo no qual o material foi mantido nessas soluções de hipoclorito também foi uma das variáveis avaliadas.
51 51 Sob câmara de fluxo laminar (CFL) o material foi inoculado em meio de cultura MS, respeitando-se a polaridade na qual o explante foliar encontrava-se originalmente. Um procedimento notável adotado pelo laboratório é a utilização, como base para preparo do material a ser inoculado, de papéis reaproveitados e esterilizados na autoclave dentro de placas metálicas, ao passo que a maior parte dos laboratórios utiliza placas de petri esterilizadas ou esteriliza uma superfície de vidro com o auxílio de etanol e fogo. Esse procedimento mostrouse bastante prático e eficiente. Fig. 10 Técnicos do laboratório de biotecnologia da EPAGRI realizando assepsia do material vegetal sob a câmara de fluxo laminar. Nesse mesmo dia foi observada a reciclagem do álcool 90% para álcool 70% e o correto descarte do material, sendo o álcool e o mercúrio armazenados em recipientes distintos e em seguida levados a uma universidade local para correto descarte. Foi observada a maneira com que os técnicos repicaram Manihot esculenta, espécie com grande capacidade de multiplicação, cultivadas via organogênese direta. Também houve repicagem de capim-limão e de Dyckia encholirioides. Pôde-se ainda acompanhar os técnicos do laboratório realizando a avaliação das espécies mantidas na sala de crescimento. Os frascos contendo o material vegetal são fotografados e os resultados observados anotados em uma planilha.
52 52 No dia 03/09/2010 houve continuação na repicagem de Anthurium e foram acompanhados procedimentos rotineiros do laboratório de biotecnologia, tais como: lavagem da vidraria e esterilização do material a ser utilizado sob a CFL. Um procedimento importante acompanhado nesse dia foi o preparo inicial de Raphis (gênero de palmeira ornamental), onde o material vegetal foi coletado a campo e foram realizados diversos tratamentos, pois o objetivo era definir a assepsia mais eficiente a ser aplicada nos propágulos coletados (figura 10). Foram no total cinco tratamentos, com variação no tempo de exposição aos seguintes agentes químicos: etanol, hipoclorito de sódio e cloreto de mercúrio. Em seguida o material foi inoculado em meio de cultura MS. Também foi preparado nesse dia o meio de cultura Knudson com carvão ativado. Meios de cultura com carvão ativado favorecem o enraizamento de certas espécies devido à coloração escura. Fig. 11 Avaliação aos 14 dias dos ápices caulinares cítricos inoculados pela equipe do laboratório de biotecnologia. No dia 08/09/2010, após o feriado prolongado de 07/09/2010 foi assistida uma palestra ministrada pelo supervisor de estágio, Professor/Doutor Gilmar Roberto Zaffari, na qual abordou assuntos pertinentes à Cultura de Tecidos, Cultivo in vitro e fisiologia vegetal. No dia seguinte, ocorreu a avaliação dos ápices caulinares de Citrus (figura 11), inoculados pela equipe do laboratório na semana anterior. Além disso, foi acompanhado o preparo do meio de cultura Pierik 3 e manipulado material vegetal sob a CFL pela primeira
53 53 vez naquele laboratório, efetuando-se a repicagem de uma espécie de samambaia (mantida em meio de cultura sólido) e de Aechmea ornata (mantida em meio de cultura líquido). No dia 10/09/2010 a equipe do laboratório mobilizou-se a preparar meio de cultura MS 50% em grande quantidade, destinado a um projeto do setor de fruticultura da EPAGRI e em seguida dedicou-se à leitura de diversos artigos científicos fornecidos pelo supervisor de estágio. 8.2 INOCULAÇÃO SOB A CÂMARA DE FLUXO LAMINAR Na semana seguinte, do dia 13/09/2010 ao dia 17/09/2010 foi acompanhada a forma com que os técnicos efetuam a repicagem de Musa sp. (cultivar Grand Naine) sob a CFL e em seguida passou-se a efetuar a repicagem diariamente, orientado pelos técnicos e pelo supervisor de estágio. Todo o material repicado foi inoculado no meio de cultura MS 50% preparado na semana anterior. Já nos dias 20 e 21/09/2010 houve continuidade na repicagem de Musa sp., porém da cultivar IAC No dia seguinte houve o preparo do meio de cultura Knudson para inoculação da planta ornamental Alstroemeria spp. Na ausência dos rizomas da planta, utilizados como explantes, o laboratório visa induzir calos nas flores e folhas da planta para então induzir à formação dos rizomas. 8.3 PLANEJAMENTO DO EXPERIMENTO No dia 24/09/2010, a campo, na coleção de plantas cítricas da EEI (figura 12), buscou-se indivíduos que estivessem emitindo brotações foliares para isolamento dos ápices caulinares a fim de aprimorar suas técnicas para futuro isolamento do material a ser utilizado no experimento do Trabalho de Conclusão de Curso. Como nenhuma variedade comercial estava, naquele momento, emitindo brotações foliares, o estagiário coletou ápices caulinares da cerca viva do banco de germoplasma da EEI, a cultivar cítrica Flying Dragon (figura 13).
54 54 Fig. 12 Coleção de plantas cítricas da EEI. Fig. 13 Cerca viva da variedade Flying Dragon (coleção da EEI). Diversos ápices caulinares foram isolados à lupa com o auxílio de um bisturi com lâmina fina e de uma pinça. Na semana seguinte, precisamente no dia 27/09/2010, houve uma reunião com o Dr. Zaffari para planejar detalhadamente o experimento a ser realizado. Decidiu-se que o primeiro passo seria a definição dos meios de cultura a serem preparados e em seguida o preparo em si desses meios de cultura, pelo acadêmico. O supervisor de estágio definiu as seguintes concentrações (em mg/l) hormonais para os meios destinados à organogênese direta: BAP [0,0], [0,5], [1,0]; ANA [0,0], [0,5], [1,0] e GA₃ [0,0], [0,25], [0,5]. Para a organogênese indireta foram definidos os seguintes hormônios e
55 55 concentrações: 2,4-D [0,0], [0,5], [1,0], [2,0]; ANA [0,0], [1,0], [2,0] e BAP [1,0], [2,0]. Após uma análise combinatória, foram definidos 27 tipos de meio de cultura destinados à organogênese direta e 24 tipos de meio de cultura destinados à organogênese indireta (tabela 01). A base de todos os meios de cultura foi o meio MS. Tabela 01 Meios de cultura preparados e seus respectivos constituintes. Código ORGANOGÊNESE DIRETA COMPOSIÇÃO DO MEIO (mg/l) Código ORGANOGÊNESE INDIRETA COMPOSIÇÃO DO MEIO (mg/l) 1 MS 28 MS + [1,00] BAP 2 MS + [0,25] GA3 29 MS + [2,00] BAP 3 MS + [0,50] GA3 30 MS + [1,00] ANA + [1,00] BAP 4 MS + [0,50] ANA 31 MS + [1,00] ANA + [2,00] BAP 5 MS + [0,50] ANA + [0,25] GA3 32 MS + [2,00] ANA + [1,00] BAP 6 MS + [0,50] ANA + [0,50] GA3 33 MS + [2,00] ANA + [2,00] BAP 7 MS + [1,00] ANA 34 MS + [0,5] 2,4-D + [1,00] BAP 8 MS + [1,00] ANA + [0,25] GA3 35 MS + [0,5] 2,4-D + [2,00] BAP 9 MS + [1,00] ANA + [0,50] GA3 36 MS + [0,5] 2,4-D + [1,00] ANA + [1,00] BAP 10 MS + [0,50] BAP 37 MS + [0,5] 2,4-D + [1,00] ANA + [2,00] BAP 11 MS + [0,50] BAP + [0,25] GA3 38 MS + [0,5] 2,4-D + [2,00] ANA + [1,00] BAP 12 MS + [0,50] BAP + [0,50] GA3 39 MS + [0,5] 2,4-D + [2,00] ANA + [2,00] BAP 13 MS + [0,50] BAP + [0,50] ANA 40 MS + [1,00] 2,4-D + [1,00] BAP 14 MS + [0,50] BAP + [0,50] ANA + [0,25] GA3 41 MS + [1,00] 2,4-D + [2,00] BAP 15 MS + [0,50] BAP + [0,50] ANA + [0,50] GA3 42 MS + [1,00] 2,4-D + [1,00] ANA + [1,00] BAP 16 MS + [0,50] BAP + [1,00] ANA 43 MS + [1,00] 2,4-D + [1,00] ANA + [2,00] BAP 17 MS + [0,50] BAP + [1,00] ANA + [0,25] GA3 44 MS + [1,00] 2,4-D + [2,00] ANA + [1,00] BAP 18 MS + [0,50] BAP + [1,00] ANA + [0,50] GA3 45 MS + [1,00] 2,4-D + [2,00] ANA + [2,00] BAP 19 MS + [1,00] BAP 46 MS + [2,00] 2,4-D + [1,00] BAP 20 MS + [1,00] BAP + [0,25] GA3 47 MS + [2,00] 2,4-D + [2,00] BAP 21 MS + [1,00] BAP + [0,50] GA3 48 MS + [2,00] 2,4-D + [1,00] ANA + [1,00] BAP 22 MS + [1,00] BAP + [0,50] ANA 49 MS + [2,00] 2,4-D + [1,00] ANA + [2,00] BAP 23 MS + [1,00] BAP + [0,50] ANA + [0,25] GA3 50 MS + [2,00] 2,4-D + [2,00] ANA + [1,00] BAP 24 MS + [1,00] BAP + [0,50] ANA + [0,50] GA3 51 MS + [2,00] 2,4-D + [2,00] ANA + [2,00] BAP 25 MS + [1,00] BAP + [1,00] ANA 26 MS + [1,00] BAP + [1,00] ANA + [0,25] GA3 27 MS + [1,00] BAP + [1,00] ANA + [0,50] GA3 8.4 PREPARO DOS MEIOS DE CULTURA No dia 28/09/2010 iniciou-se o preparo dos meios de cultura (figuras 14 a 18) para o experimento realizado, procedimento realizado até o dia 04/10/2010. No dia 06/10/2010 houve o planejamento da segunda etapa do experimento juntamente ao Dr. Zaffari e ao Engº Quím. do laboratório, Dilnei Souza Medeiros. Entretanto, apenas no dia 08/10/2010, a campo com o Dr. Zaffari, o Engº Quím. Dilnei Souza Medeiros e o Dr. Osvino Leonardo Koller
56 56 (responsável pela citricultura da EEI) verificou-se que as plantas encontravamse no estádio fenológico de floração/frutificação, não emitindo brotações foliares, portanto. Diante disso, três procedimentos foram adotados na tentativa de forçar as plantas de interesse comercial a emitirem brotações foliares: adubação nitrogenada (com 600 g de uréia por planta), poda de ramos, raleio químico com a pulverização de uma solução contendo ANA (ácido naftalenoacético) na concentração de 0,5 mg/l, dissolvido em água com o auxílio de NaOH (1 M). Fig. 14 Estagiário regulando o ph do meio de cultura. Fig. 15 Regulagem do ph do meio de cultura 40. Fig. 16 Material utilizado no preparo dos meios de cultura.
57 57 Fig. 17 Soluções utilizadas no meio MS. Fig. 18 Reguladores de crescimento utilizados. 8.5 COLETA, ISOLAMENTO, ASSEPSIA E INOCULAÇÃO DOS ÁPICES CAULINARES Fig. 19 Laranjeiras da variedade Baía-Catarina. Fig. 20 Ápices caulinares em brotações novas. Fig. 21 Ápices caulinares da variedade cítrica Baía-Catarina.
58 58 Após os procedimentos acima mencionados, somente no dia 18/10/2010 as três plantas cítricas da variedade Baía-Catarina responderam à poda emitindo diversas brotações foliares, sendo que o raleio químico não apresentou resultados e a adubação nitrogenada provavelmente foi pouco significativa, pois a maior parte do nitrogênio contido na uréia tende a evaporar, devido à sua volatilidade. Desse modo, nesse mesmo dia ocorreu a coleta, o isolamento à lupa, a assepsia sob a CFL e a inoculação (também sob a CFL) dos ápices caulinares (com tamanho médio de 0,2 mm) daquela variedade nos meios de cultura 01, 02 e 03. Até o dia 03/11/2010 houve continuidade na coleta, isolamento, assepsia e inoculação dos ápices caulinares da variedade Baía-Catarina em todos os tipos de meio de cultura preparados (tanto para a organogênese direta quanto para a indireta). Os ápices caulinares inoculados nos meios de cultura destinados à organogênese direta foram mantidos em sala de crescimento à temperatura de 28 C, umidade relativa do ar de 60% e expostos à luz branca de intensidade de 50 µmol.m²/s. Por sua vez, os ápices caulinares destinados à organogênese indireta foram mantidos na mesma sala de crescimento, porém sob ausência de luz (figuras 22 e 23). Fig. 22 Sala de crescimento (organogênese direta) Fig. 23 Sala de crescimento. (organogênese indireta)
59 59 Fig. 24 Ápice caulinar. Fig. 25 Ápice caulinar com 2 mm isolado à lupa. Fig. 26 Acadêmico isolando ápices caulinares à lupa. Fig. 27 Inoculação dos ápices caulinares sob a CFL. Fig. 28 Ápices caulinares mantidos em peneira esterilizada sob a CFL. 8.6 AVALIAÇÃO DO MATERIAL INOCULADO Depois de concluída a montagem do experimento em si, passou-se a avaliar o material inoculado - com 15 dias e com dias após a inoculação (figuras 29 a 32). Nos três primeiros meios de cultura onde houve a
60 60 inoculação dos ápices caulinares houve alta taxa de contaminação por fungos dentro dos frascos (figuras 29 e 30), o que não ocorreu nas inoculações seguintes. Fig. 29 Frascos apresentando meios de cultura contaminados por fungos. Fig. 30 Contaminação por fungos. Fig. 31 Frascos contendo cultura aos 15 dias. Fig. 32 Ápice caulinar em desenvolvimento. Posteriormente houve o acompanhamento e a auxílio aos laboratoristas nos projetos em andamento no laboratório de biotecnologia. Dentre esses projetos, o próprio Projeto Citrus, aprovado pela FAPESC, o qual o presente realizou apenas uma das etapas iniciais, com uma variedade cítrica ao passo que o projeto em sua forma integral envolve seis variedades cítricas de interesse comercial, um número maior de repetições e um grande volume de meio de cultura a ser preparado. 9. RESULTADOS Houve a avaliação completa (aos 15 e aos dias após a inoculação) dos ápices caulinares inoculados nos meios de cultura destinados à organogênese direta (tabelas 02 e 03) e a avaliação aos 15 dias dos ápices caulinares inoculados nos meios de cultura destinados à organogênese
61 61 indireta. A avaliação foi qualitativa, observando-se os ápices caulinares que se mantiveram verdes, com potencial de desenvolvimento (tabelas 02, 03 e 04). Tabela 02 Material avaliado aos 15 dias após a inoculação (organogênese direta). Data de Id. do Meio de Ápices viáveis Ápices vivos Aspecto Inoculação Cultura 18/10/ Oxidados 18/10/ Oxidados 18/10/ Oxidados 20/10/ Oxidados 20/10/ Oxidados 20/10/ Oxidados 20/10/ Oxidados 20/10/ Oxidados 22/10/ Oxidados 22/10/ Oxidados 22/10/ Oxidados 22/10/ Oxidados 22/10/ Oxidados 22/10/ Verdes* 22/10/ Verdes* 22/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados
62 62 Tabela 03 Material avaliado aos dias após a inoculação (organogênese direta). Data de Id. do Meio de Ápices viáveis Ápices vivos Aspecto Inoculação Cultura 18/10/ Oxidados 18/10/ Oxidados 18/10/ Oxidados 20/10/ Oxidados 20/10/ Oxidados 20/10/ Oxidados 20/10/ Oxidados 20/10/ Oxidados 22/10/ Oxidados 22/10/ Oxidados 22/10/ Oxidados 22/10/ Oxidados 22/10/ Oxidados 22/10/ Verdes* 22/10/ Verdes* 22/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados 27/10/ Oxidados Tabela 04 Avaliação aos 15 dias para organogênese indireta. Inoculação Meio Nº explantes 1ª avaliação (15 dias) 1ª avaliação (vivos): 1ª avaliação (aspecto): 27/10/ /11/ vivos, oxidados (sem calo) 28/10/ /11/ vivos, oxidados (1)/vivos, verdes (5) 28/10/ /11/ vivos, oxidados (1)/vivos, verdes (5) 28/10/ /11/ vivos, oxidados (2)/vivos, verdes (4) 28/10/ /11/ vivos, verdes 28/10/ /11/ vivos, verdes 28/10/ /11/ vivos, verdes, sem calo 28/10/ /11/ vivos, verdes, sem calo 03/11/ /11/ vivos, verdes, sem calo 03/11/ /11/ vivos, verdes, sem calo 03/11/ /11/ vivos, verdes, sem calo 03/11/ /11/ vivos, verdes, sem calo 03/11/ /11/ vivos, verdes, sem calo 03/11/ /11/ vivos, verdes, sem calo 03/11/ /11/ vivos, verdes, sem calo 03/11/ /11/ vivos, verdes, sem calo 04/11/ /11/ vivos, verdes, sem calo 04/11/ /11/ vivos, verdes, sem calo 04/11/ /11/ vivos, oxidados (1)/vivos, verdes (5) 04/11/ /11/ vivos, oxidados 04/11/ /11/ vivos, oxidados (1)/vivos, verdes (5) 04/11/ /11/ vivos, oxidados (1)/vivos, verdes (5) 04/11/ /11/ vivos, oxidados (1)/vivos, verdes (5) 04/11/ /11/2010 vivos, oxidados (4)/vivos, verdes (2)
63 DISCUSSÃO Observando-se as tabelas 01, 02 e 03, pode-se notar, com base na revisão bibliográfica, que para a organogênese direta - os meios de cultura contendo os três reguladores de crescimento (BAP, ANA e GA₃) em baixas concentrações favorecem a sobrevivência e o desenvolvimento dos ápices caulinares. Isso pode ser inferido porque nos meios 14 e 15, onde os três reguladores estão presentes, todos os ápices inoculados sobreviveram e mantiveram-se verdes, com elevado potencial de desenvolvimento (figuras 33 e 34), ao passo que o material inoculado nos outros meios ou oxidaram-se por completo ou apenas metade manteve-se verde e ainda havendo casos em que a maior parte do material oxidou-se (ver anexos 01 e 02). Fig.33 Ápice caulinar em desenvolvimento no meio de cultura n 14. Fig. 34 Ápice caulinar em desenvolvimento no meio de cultura n 15.
64 64 Fig. 35 Ápice caulinar oxidado no meio de cultura n 12. Já para a organogênese indireta, não se pode concluir qual(is) meio(s) favorece(m) o desenvolvimento dos ápices caulinares, pois os resultados observados foram semelhantes e não houve a formação de calos, nem mesmo nos meios contendo o regulador de crescimento 2,4-D, que induz o desenvolvimento dessas estruturas. A análise aos trinta dias será necessária, pois poderá ocorrer o desenvolvimento de calos nos ápices caulinares inoculados. Nota-se firmemente que o material vegetal mantido no escuro (característica da organogênse indireta) tem sua oxidação retardada, pela ausência de luz. 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS Com base na revisão bibliográfica e no conteúdo aprendido na prática durante o estágio de conclusão de curso no laboratório de biotecnologia da EPAGRI-Itajaí, pode-se concluir que a cultura de ápices caulinares, sobretudo via organogênese indireta, onde várias plantas podem ser obtidas através de um único ápice, corresponde a um conjunto de técnicas promissoras na obtenção de plantas matrizes livres de viroses. Trata-se ainda de uma maneira mais eficaz de se obter tais plantas matrizes do que a microenxertia, onde o pegamento dos microenxertos é baixo. Entretanto, a cultura de ápices caulinares envolve técnicas que precisam ser aprimoradas, exigindo mão-deobra altamente qualificada e recursos por parte dos fundos de pesquisa.
AF060 Biotecnologia Vegetal
 AF060 Biotecnologia Vegetal Professores responsáveis: Prof. Dr. Luiz Antônio Biasi Prof. Dr. João Carlos Bespalhok Filho Profa Dra Renata Faier Calegario Mestranda: Laudiane Zanella Tópicos Cultura detecidos
AF060 Biotecnologia Vegetal Professores responsáveis: Prof. Dr. Luiz Antônio Biasi Prof. Dr. João Carlos Bespalhok Filho Profa Dra Renata Faier Calegario Mestranda: Laudiane Zanella Tópicos Cultura detecidos
Propagação in vitro de helicônia (Heliconia spp.) a partir de embriões zigóticos e embriogênese somática
 Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Agronomia Programa de Pós-Graduação em Agronomia Melhoramento Genético de Plantas Propagação in vitro de helicônia (Heliconia spp.) a partir de
Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Agronomia Programa de Pós-Graduação em Agronomia Melhoramento Genético de Plantas Propagação in vitro de helicônia (Heliconia spp.) a partir de
MICROPROPAGAÇÃO E ACLIMATAÇÃO DE PLÂNTULAS DE MORANGUEIRO. Palavras chaves: Micropropagação. Isolamento de meristema. Explante. Mudas sadias.
 MICROPROPAGAÇÃO E ACLIMATAÇÃO DE PLÂNTULAS DE MORANGUEIRO Tamires Oviedo 1, Fabiana Raquel Mühl 2, Neuri Antonio Feldmann 3, Anderson Rhoden 3 Palavras chaves: Micropropagação. Isolamento de meristema.
MICROPROPAGAÇÃO E ACLIMATAÇÃO DE PLÂNTULAS DE MORANGUEIRO Tamires Oviedo 1, Fabiana Raquel Mühl 2, Neuri Antonio Feldmann 3, Anderson Rhoden 3 Palavras chaves: Micropropagação. Isolamento de meristema.
Cultivo in vitro e suas aplicações:
 Cultivo in vitro e suas aplicações: Histórico: princípios da totipotência no século XIX Haberlandt (1902): cultivo de tecidos somáticos de Hannig (1904): cultivo embriões imaturos de crucíferas Knudson
Cultivo in vitro e suas aplicações: Histórico: princípios da totipotência no século XIX Haberlandt (1902): cultivo de tecidos somáticos de Hannig (1904): cultivo embriões imaturos de crucíferas Knudson
O controle do crescimento e do desenvolvimento de um vegetal depende de alguns fatores:
 O controle do crescimento e do desenvolvimento de um vegetal depende de alguns fatores: Disponibilidade de luz Disponibilidade de água Nutrientes minerais Temperatura Um outro fator que regula o crescimento
O controle do crescimento e do desenvolvimento de um vegetal depende de alguns fatores: Disponibilidade de luz Disponibilidade de água Nutrientes minerais Temperatura Um outro fator que regula o crescimento
INFLUÊNCIA DOS MEIOS DE CULTURA NA TAXA DE MULTIPLICAÇÃO DE EXPLANTES DE Gypsophila cv. Golan
 INFLUÊNCIA DOS MEIOS DE CULTURA NA TAXA DE MULTIPLICAÇÃO DE EXPLANTES DE Gypsophila cv. Golan Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: (X ) Resumo ( ) Relato de Caso AUTOR PRINCIPAL: Chirlene
INFLUÊNCIA DOS MEIOS DE CULTURA NA TAXA DE MULTIPLICAÇÃO DE EXPLANTES DE Gypsophila cv. Golan Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: (X ) Resumo ( ) Relato de Caso AUTOR PRINCIPAL: Chirlene
Cultura de tecidos aplicada ao melhoramento genético de plantas Jonny Everson Scherwinski-Pereira
 Simpósio de melhoramento de plantas 2016 Cultura de tecidos aplicada ao melhoramento genético de plantas Jonny Everson Scherwinski-Pereira jonny.pereira@embrapa.br A cultura de tecidos de plantas teve
Simpósio de melhoramento de plantas 2016 Cultura de tecidos aplicada ao melhoramento genético de plantas Jonny Everson Scherwinski-Pereira jonny.pereira@embrapa.br A cultura de tecidos de plantas teve
PROPAGAÇÃO VEGETATIVA
 PROPAGAÇÃO VEGETATIVA Propagação vegetativa em espécies florestais: Enxertia Estaquia Microestaquia Enxertia União de partes de uma planta em outra, de forma que as duas partes de plantas diferentes passem
PROPAGAÇÃO VEGETATIVA Propagação vegetativa em espécies florestais: Enxertia Estaquia Microestaquia Enxertia União de partes de uma planta em outra, de forma que as duas partes de plantas diferentes passem
V ENCONTRO NACIONAL SOBRE SUBSTRATO PARA PLANTAS Irrigação e Fertirrigação em ambientes protegidos Ilhéus,Bahia,12 a 15 de setembro de 2006
 V ENCONTRO NACIONAL SOBRE SUBSTRATO PARA PLANTAS Irrigação e Fertirrigação em ambientes protegidos Ilhéus,Bahia,12 a 15 de setembro de 2006 PRODUÇÃO DE MUDAS CITRICAS EM SUBSTRATO NO ESTADO DE SP: Um exemplo
V ENCONTRO NACIONAL SOBRE SUBSTRATO PARA PLANTAS Irrigação e Fertirrigação em ambientes protegidos Ilhéus,Bahia,12 a 15 de setembro de 2006 PRODUÇÃO DE MUDAS CITRICAS EM SUBSTRATO NO ESTADO DE SP: Um exemplo
BV581 - Fisiologia Vegetal Básica - Desenvolvimento. Aula 12b: Propagação Vegetativa
 BV581 - Fisiologia Vegetal Básica - Desenvolvimento Prof. Marcelo C. Dornelas Aula 12b: Propagação Vegetativa A propagação vegetativa como um processo de manutenção da diversidade Ao contrário da reprodução
BV581 - Fisiologia Vegetal Básica - Desenvolvimento Prof. Marcelo C. Dornelas Aula 12b: Propagação Vegetativa A propagação vegetativa como um processo de manutenção da diversidade Ao contrário da reprodução
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE IMERSÃO TEMPORÁRIA (SIT) NA MICROPROPAGAÇÃO DA BATATA-DOCE
 UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE IMERSÃO TEMPORÁRIA (SIT) NA MICROPROPAGAÇÃO DA BATATA-DOCE Palestrante: Manoel Urbano Ferreira Júnior Engº Agrônomo MSc Fisiologia Vegetal IPA - 80 anos semeando conhecimento CULTURA
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE IMERSÃO TEMPORÁRIA (SIT) NA MICROPROPAGAÇÃO DA BATATA-DOCE Palestrante: Manoel Urbano Ferreira Júnior Engº Agrônomo MSc Fisiologia Vegetal IPA - 80 anos semeando conhecimento CULTURA
Princípios de propagação de fruteiras
 Universidade Federal de Rondônia Curso de Agronomia Fruticultura I Princípios de propagação de fruteiras Emanuel Maia emanuel@unir.br www.emanuel.acagea.net Multiplicação das plantas Estruturas especializadas
Universidade Federal de Rondônia Curso de Agronomia Fruticultura I Princípios de propagação de fruteiras Emanuel Maia emanuel@unir.br www.emanuel.acagea.net Multiplicação das plantas Estruturas especializadas
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Embrapa Belém, PA 2014 COMBINAÇÕES DE CITOCININAS NA PROLIFERAÇÃO IN VITRO DE BROTOS
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Embrapa Belém, PA 2014 COMBINAÇÕES DE CITOCININAS NA PROLIFERAÇÃO IN VITRO DE BROTOS
TÉCNICAS DE CULTURA DE TECIDOS DE PLANTAS
 TÉCNICAS DE CULTURA DE TECIDOS DE PLANTAS 1.MICROPROPAGAÇÃO 2.MICRO-ENXERTIA 3.RESGATE DE EMBRIÕES 4.CULTURA E FUSÃO DE PROTOPLASTOS 5.CULTURA DE CELULAS EM SUSPENSAO 6.CULTURA DE ANTERAS Prof. Dr. Luiz
TÉCNICAS DE CULTURA DE TECIDOS DE PLANTAS 1.MICROPROPAGAÇÃO 2.MICRO-ENXERTIA 3.RESGATE DE EMBRIÕES 4.CULTURA E FUSÃO DE PROTOPLASTOS 5.CULTURA DE CELULAS EM SUSPENSAO 6.CULTURA DE ANTERAS Prof. Dr. Luiz
PRODUÇÃO DE MUDAS DE MAMONEIRA
 PRODUÇÃO DE MUDAS DE MAMONEIRA (Ricinus communis L.) A PARTIR DA ESTIMULAÇÃO DE ESTACAS PELO ÁCIDO 3-INDOLACÉTICO (AIA) E PELO ÁCIDO INDOL BUTÍRICO (AIB) Francynês C. O. Macedo 1 ; Máira Milani 2 ; Julita
PRODUÇÃO DE MUDAS DE MAMONEIRA (Ricinus communis L.) A PARTIR DA ESTIMULAÇÃO DE ESTACAS PELO ÁCIDO 3-INDOLACÉTICO (AIA) E PELO ÁCIDO INDOL BUTÍRICO (AIB) Francynês C. O. Macedo 1 ; Máira Milani 2 ; Julita
ENRAIZAMENTO IN VITRO E ACLIMATIZAÇAO EM VERMICULITA DE PIMENTA- DO-REINO (Piper nigrum L.)
 ENRAIZAMENTO IN VITRO E ACLIMATIZAÇAO EM VERMICULITA DE PIMENTA- DO-REINO (Piper nigrum L.) AMARAL, Leila Márcia Souza ; LEMOS, Oriel Filgueira de ; MELO, Elane Cristina Amoras, ALVES, Sérgio Augusto Oliveira,
ENRAIZAMENTO IN VITRO E ACLIMATIZAÇAO EM VERMICULITA DE PIMENTA- DO-REINO (Piper nigrum L.) AMARAL, Leila Márcia Souza ; LEMOS, Oriel Filgueira de ; MELO, Elane Cristina Amoras, ALVES, Sérgio Augusto Oliveira,
Valter Francisco Hulshof Eng. Agrônomo
 REGULADORES DE CRESCIMENTO MAIS QUATRO FITORMÔNIOS DE DESTAQUE Valter Francisco Hulshof Eng. Agrônomo Holambra - SP GIBERELINAS Descobertas por cientistas japoneses na segunda metade do séc. XX que estudavam
REGULADORES DE CRESCIMENTO MAIS QUATRO FITORMÔNIOS DE DESTAQUE Valter Francisco Hulshof Eng. Agrônomo Holambra - SP GIBERELINAS Descobertas por cientistas japoneses na segunda metade do séc. XX que estudavam
Propagação da Videira. Profª. Paula Iaschitzki Ferreira Instituto Federal de Santa Catarina
 Propagação da Videira Profª. Paula Iaschitzki Ferreira Instituto Federal de Santa Catarina Definição Propagação é a multiplicação dirigida de plantas pela via sexual ou pela vegetativa. Como ocorre? Dois
Propagação da Videira Profª. Paula Iaschitzki Ferreira Instituto Federal de Santa Catarina Definição Propagação é a multiplicação dirigida de plantas pela via sexual ou pela vegetativa. Como ocorre? Dois
Hormônios vegetais Prof.: Eduardo
 Prof.: Eduardo Fitormônios: É um composto orgânico sintetizado em alguma parte do vegetal que pode ser transportado para outra parte e assim em concentrações muito baixas causar uma resposta fisiológica
Prof.: Eduardo Fitormônios: É um composto orgânico sintetizado em alguma parte do vegetal que pode ser transportado para outra parte e assim em concentrações muito baixas causar uma resposta fisiológica
1. Nitrato de potássio para uma nutrição vegetal eficiente
 Nitrato de potássio é uma fonte única de potássio devido ao seu valor nutricional e a sua contribuição para a sanidade e a produtividade das plantas. O nitrato de potássio possui desejáveis características
Nitrato de potássio é uma fonte única de potássio devido ao seu valor nutricional e a sua contribuição para a sanidade e a produtividade das plantas. O nitrato de potássio possui desejáveis características
AVALIAÇÃO DE DIFERENTES EXPLANTES E COMBINAÇÕES DE REGULADORES VEGETAIS (BAP E ANA) NO CULTIVO IN VITRO DE Physalis pubences L.
 AVALIAÇÃO DE DIFERENTES EXPLANTES E COMBINAÇÕES DE REGULADORES VEGETAIS (BAP E ANA) NO CULTIVO IN VITRO DE Physalis pubences L. Douglas Junior Bertoncelli 1 *,2, Marisa de Cacia Oliveira 1 1 Universidade
AVALIAÇÃO DE DIFERENTES EXPLANTES E COMBINAÇÕES DE REGULADORES VEGETAIS (BAP E ANA) NO CULTIVO IN VITRO DE Physalis pubences L. Douglas Junior Bertoncelli 1 *,2, Marisa de Cacia Oliveira 1 1 Universidade
SINTOMAS DE DEFICIÊNCIA DE MICRONUTRIENTES EM PLANTAS
 Micronutrientes Nutrição Mineral de Plantas SINTOMAS DE DEFICIÊNCIA DE MICRONUTRIENTES EM PLANTAS Prof. Volnei Pauletti Departamento de Solos e Engenharia Agrícola vpauletti@ufpr.br Micronutrientes Nutrição
Micronutrientes Nutrição Mineral de Plantas SINTOMAS DE DEFICIÊNCIA DE MICRONUTRIENTES EM PLANTAS Prof. Volnei Pauletti Departamento de Solos e Engenharia Agrícola vpauletti@ufpr.br Micronutrientes Nutrição
EFEITO DA BENZILAMINOPURINA (BAP) NA MICROPROPAGAÇÃO DA VARIEDADE CURIMENZINHA (BGM 611) DE MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz)
 EFEITO DA BENZILAMINOPURINA (BAP) NA MICROPROPAGAÇÃO DA VARIEDADE CURIMENZINHA (BGM 611) DE MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) Mariane de Jesus da Silva de Carvalho 1, Antônio da Silva Souza 2, Karen
EFEITO DA BENZILAMINOPURINA (BAP) NA MICROPROPAGAÇÃO DA VARIEDADE CURIMENZINHA (BGM 611) DE MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) Mariane de Jesus da Silva de Carvalho 1, Antônio da Silva Souza 2, Karen
Biologia Professor Leandro Gurgel de Medeiros
 Biologia Professor Leandro Gurgel de Medeiros Fisiologia Vegetal 1. Conceito: Ramo da botânica destinado a estudar as funções vitais das plantas. Absorção; Transpiração; Condução; Fotossíntese; Fotoperíodos;
Biologia Professor Leandro Gurgel de Medeiros Fisiologia Vegetal 1. Conceito: Ramo da botânica destinado a estudar as funções vitais das plantas. Absorção; Transpiração; Condução; Fotossíntese; Fotoperíodos;
Soluções nutritivas e experimentos. Pergentino L. De Bortoli Neto
 Nutrição Mineral de Plantas Soluções nutritivas e experimentos Pergentino L. De Bortoli Neto Solução Nutritiva Sistema homogêneo onde os elementos necessários ao desenvolvimento das plantas estão dispersos
Nutrição Mineral de Plantas Soluções nutritivas e experimentos Pergentino L. De Bortoli Neto Solução Nutritiva Sistema homogêneo onde os elementos necessários ao desenvolvimento das plantas estão dispersos
CLONAGEM IN VITRO VIA CULTIVO DE MERISTEMA DE PIMENTEIRA-DO-REINO: ASSEPSIA E ESTABELECIMENTO DE CULTURA
 Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da UFRA e 13º Seminário de Iniciação Científica da EMBRAPA 01 a 04 de dezembro de 2009 CLONAGEM IN VITRO VIA CULTIVO DE MERISTEMA DE PIMENTEIRA-DO-REINO: ASSEPSIA
Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da UFRA e 13º Seminário de Iniciação Científica da EMBRAPA 01 a 04 de dezembro de 2009 CLONAGEM IN VITRO VIA CULTIVO DE MERISTEMA DE PIMENTEIRA-DO-REINO: ASSEPSIA
Que modificações têm ocorrido no cultivo de plantas?
 Cruzamento de plantas Que modificações têm ocorrido no cultivo de plantas? A engenharia biológica nasceu com o homem do neolítico, quando se iniciou a reprodução selectiva. Reprodução selectiva Revolução
Cruzamento de plantas Que modificações têm ocorrido no cultivo de plantas? A engenharia biológica nasceu com o homem do neolítico, quando se iniciou a reprodução selectiva. Reprodução selectiva Revolução
Franca, Mariana Almeida Micropropagação de cana-de-açúcar cultivar RB Mariana Almeida Franca. Curitiba: f. il.
 F814 Franca, Mariana Almeida Micropropagação de cana-de-açúcar cultivar RB966928. Mariana Almeida Franca. Curitiba: 2016. 64 f. il. Orientador: João Carlos Bespalhok Filho Dissertação (Mestrado) Universidade
F814 Franca, Mariana Almeida Micropropagação de cana-de-açúcar cultivar RB966928. Mariana Almeida Franca. Curitiba: 2016. 64 f. il. Orientador: João Carlos Bespalhok Filho Dissertação (Mestrado) Universidade
Analista da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Caixa Postal 007, , Cruz das Almas, BA. 2
 ANÁLISE COMPORTAMENTAL DE UM ACESSO DE MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) EM RELAÇÃO A DOIS TIPOS DE MEIO DE CULTURA E DOSES DE UM FERTILIZANTE SOLÚVEL COMERCIAL Karen Cristina Fialho dos Santos 1, Antônio
ANÁLISE COMPORTAMENTAL DE UM ACESSO DE MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) EM RELAÇÃO A DOIS TIPOS DE MEIO DE CULTURA E DOSES DE UM FERTILIZANTE SOLÚVEL COMERCIAL Karen Cristina Fialho dos Santos 1, Antônio
ENXERTIA DE PLANTAS FRUTÍFERAS
 ENXERTIA DE PLANTAS FRUTÍFERAS Prof. Angelo P. Jacomino Fruticultura - LPV 0448 2017 1 - Introdução Multiplicação Sexuada X Assexuada SEXUADA: - Facilidade; - Baixo custo. ASSEXUADA: - Características
ENXERTIA DE PLANTAS FRUTÍFERAS Prof. Angelo P. Jacomino Fruticultura - LPV 0448 2017 1 - Introdução Multiplicação Sexuada X Assexuada SEXUADA: - Facilidade; - Baixo custo. ASSEXUADA: - Características
Aspectos teóricos da propagação de plantas (parte 2) e Estaquia
 Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz ESALQ/USP LPV 0448 - Fruticultura Nas plantas propagadas podem ocorrer variações Aspectos teóricos da propagação de plantas (parte
Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz ESALQ/USP LPV 0448 - Fruticultura Nas plantas propagadas podem ocorrer variações Aspectos teóricos da propagação de plantas (parte
Hormônios Vegetais Regulação do crescimento
 Hormônios Vegetais Regulação do crescimento Interações de fatores no desenvolvimento vegetal Genoma da planta Codificação de enzimas catalisadoras de reações bioquímicas de desenvolvimento Estímulos ambientais
Hormônios Vegetais Regulação do crescimento Interações de fatores no desenvolvimento vegetal Genoma da planta Codificação de enzimas catalisadoras de reações bioquímicas de desenvolvimento Estímulos ambientais
MERISTEMAS E DESENVOLVIMENTO. Prof. Dra. Eny Floh Prof. Dra. Veronica Angyalossy
 MERISTEMAS E DESENVOLVIMENTO Prof. Dra. Eny Floh Prof. Dra. Veronica Angyalossy Tópicos a serem abordados: Desenvolvimento Meristemas - Célula vegetal Crescimento Alongamento Divisão celular Diferenciação
MERISTEMAS E DESENVOLVIMENTO Prof. Dra. Eny Floh Prof. Dra. Veronica Angyalossy Tópicos a serem abordados: Desenvolvimento Meristemas - Célula vegetal Crescimento Alongamento Divisão celular Diferenciação
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Embrapa Belém, PA 2014 CONTROLE DA OXIDAÇÃO E INDUÇÃO DE BROTOS in vitro EM ÁPICES
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Embrapa Belém, PA 2014 CONTROLE DA OXIDAÇÃO E INDUÇÃO DE BROTOS in vitro EM ÁPICES
Dinâmica de nutrientes: solo e planta. Rosana Alves Gonçalves
 Dinâmica de nutrientes: solo e planta Rosana Alves Gonçalves Índice Introdução: - Composição elementar das plantas; - Classificação dos elementos. Absorção, transporte e redistribuição dos nutrientes;
Dinâmica de nutrientes: solo e planta Rosana Alves Gonçalves Índice Introdução: - Composição elementar das plantas; - Classificação dos elementos. Absorção, transporte e redistribuição dos nutrientes;
Unidade 4 jcmorais 2012
 Unidade 4 jcmorais 2012 Qual é a importância da Biotecnologia na resolução dos problemas de alimentação? A produção de maiores quantidades de alimentos dependerá do desenvolvimento de novas técnicas e
Unidade 4 jcmorais 2012 Qual é a importância da Biotecnologia na resolução dos problemas de alimentação? A produção de maiores quantidades de alimentos dependerá do desenvolvimento de novas técnicas e
MERISTEMAS E DESENVOLVIMENTO. Forma e função nas plantas vasculares : BIB 140
 MERISTEMAS E DESENVOLVIMENTO Forma e função nas plantas vasculares : BIB 140 Tópicos a serem abordados: Desenvolvimento Meristemas Célula vegetal Crescimento Alongamento Divisão celular Diferenciação celular
MERISTEMAS E DESENVOLVIMENTO Forma e função nas plantas vasculares : BIB 140 Tópicos a serem abordados: Desenvolvimento Meristemas Célula vegetal Crescimento Alongamento Divisão celular Diferenciação celular
LISTA RECUPERAÇÃO FINAL - BIOLOGIA 3ª SÉRIE (fisiologia vegetal e hormônios vegetais) PROFESSOR: WELLINGTON
 1. Analise as imagens de uma mesma planta sob as mesmas condições de luminosidade e sob condições hídricas distintas. Os estômatos desta planta estão a) abertos na condição 1, pois há intenso bombeamento
1. Analise as imagens de uma mesma planta sob as mesmas condições de luminosidade e sob condições hídricas distintas. Os estômatos desta planta estão a) abertos na condição 1, pois há intenso bombeamento
Micropropagação de Aechmea tocantina Baker (Bromeliaceae) Fernanda de Paula Ribeiro Fernandes 1, Sérgio Tadeu Sibov 2
 Micropropagação de Aechmea tocantina Baker (Bromeliaceae) Fernanda de Paula Ribeiro Fernandes 1, Sérgio Tadeu Sibov 2 Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO nandapr_fernandes@hotmail.com,
Micropropagação de Aechmea tocantina Baker (Bromeliaceae) Fernanda de Paula Ribeiro Fernandes 1, Sérgio Tadeu Sibov 2 Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO nandapr_fernandes@hotmail.com,
CULTIVO in vitro DE EMBRIÕES DE CAFEEIRO: concentrações de meio MS e polpa de banana RESUMO
 CULTIVO in vitro DE EMBRIÕES DE CAFEEIRO: concentrações de meio MS e polpa de banana Mauro César Araújo LOPES 1 ; Anna Lygia de Rezende MACIEL 2 ; Jéssica Azevedo BATISTA 3 ; Priscila Pereira BOTREL 4
CULTIVO in vitro DE EMBRIÕES DE CAFEEIRO: concentrações de meio MS e polpa de banana Mauro César Araújo LOPES 1 ; Anna Lygia de Rezende MACIEL 2 ; Jéssica Azevedo BATISTA 3 ; Priscila Pereira BOTREL 4
INDUÇÃO DE MÚLTIPLOS BROTOS DA CULTIVAR DE ALGODÃO BRS-VERDE. *
 INDUÇÃO DE MÚLTIPLOS BROTOS DA CULTIVAR DE ALGODÃO BRS-VERDE. * Julita Maria Frota Chagas Carvalho (Embrapa Algodão / julita@cnpa.embrapa.br), Nara Wanderley Pimentel (UEPB), Lívia Wanderley Pimentel (UFPB),
INDUÇÃO DE MÚLTIPLOS BROTOS DA CULTIVAR DE ALGODÃO BRS-VERDE. * Julita Maria Frota Chagas Carvalho (Embrapa Algodão / julita@cnpa.embrapa.br), Nara Wanderley Pimentel (UEPB), Lívia Wanderley Pimentel (UFPB),
PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS I
 PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS I Fertilizantes ou adubos são compostos químicos que visam suprir as deficiências em substâncias vitais à sobrevivência dos vegetais. São aplicados na agricultura com o intuito
PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS I Fertilizantes ou adubos são compostos químicos que visam suprir as deficiências em substâncias vitais à sobrevivência dos vegetais. São aplicados na agricultura com o intuito
BV581 - Fisiologia Vegetal Básica - Desenvolvimento
 BV581 - Fisiologia Vegetal Básica - Desenvolvimento Prof. Marcelo C. Dornelas ula 3: uxinas (Parte II) Funções biológicas das auxinas Devido ao transporte polar das auxinas, gerado pelo posicionamento
BV581 - Fisiologia Vegetal Básica - Desenvolvimento Prof. Marcelo C. Dornelas ula 3: uxinas (Parte II) Funções biológicas das auxinas Devido ao transporte polar das auxinas, gerado pelo posicionamento
Métodos de propagação de plantas: Cultura de tecidos e in vitro. Luana Maria da Silva, Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga,
 Métodos de propagação de plantas: Cultura de tecidos e in vitro Luana Maria da Silva, Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga, l.manoel@outlook.com Área Temática: Agropecuária, Meio-Ambiente e Desenvolvimento
Métodos de propagação de plantas: Cultura de tecidos e in vitro Luana Maria da Silva, Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga, l.manoel@outlook.com Área Temática: Agropecuária, Meio-Ambiente e Desenvolvimento
17/10/2014 MOLECULAR DOS VEGETAIS. Introdução QUÍMICA DA VIDA. Quais são os elementos químicos encontrados nos Seres Vivos? Elementos Essenciais
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE CURSO DE BACHARELADO EM FARMÁCIA QUÍMICA DA VIDA Introdução COMPOSIÇÃO MOLECULAR DOS VEGETAIS Quais são os elementos químicos encontrados
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE CURSO DE BACHARELADO EM FARMÁCIA QUÍMICA DA VIDA Introdução COMPOSIÇÃO MOLECULAR DOS VEGETAIS Quais são os elementos químicos encontrados
FISIOLOGIA VEGETAL 24/10/2012. Crescimento e desenvolvimento. Crescimento e desenvolvimento. Onde tudo começa? Crescimento e desenvolvimento
 FISIOLOGIA VEGETAL Crescimento e desenvolvimento Pombal PB Crescimento e desenvolvimento Onde tudo começa? Crescimento e desenvolvimento Polinização: transferência do grão de pólen da antera ao estigma
FISIOLOGIA VEGETAL Crescimento e desenvolvimento Pombal PB Crescimento e desenvolvimento Onde tudo começa? Crescimento e desenvolvimento Polinização: transferência do grão de pólen da antera ao estigma
Tecnologias para produção de mudas de pequenas frutas e frutas nativas. Márcia Wulff Schuch Prof Titular Fruticultura FAEM/UFPel P PP
 Tecnologias para produção de mudas de pequenas frutas e frutas nativas Márcia Wulff Schuch Prof Titular Fruticultura FAEM/UFPel P PP Introdução o Pequenas frutas e Frutas nativas Alto potencial econômico
Tecnologias para produção de mudas de pequenas frutas e frutas nativas Márcia Wulff Schuch Prof Titular Fruticultura FAEM/UFPel P PP Introdução o Pequenas frutas e Frutas nativas Alto potencial econômico
Autores... v. Apresentação... xvii. Prefácio... xix. Introdução... xxi. Capítulo 1 Profissão: agrônomo... 1
 Sumário Autores... v Apresentação... xvii Prefácio... xix Introdução... xxi Capítulo 1 Profissão: agrônomo... 1 1.1 Uma profissão eclética... 3 1.2 As (velhas e novas) atribuições do engenheiro agrônomo...
Sumário Autores... v Apresentação... xvii Prefácio... xix Introdução... xxi Capítulo 1 Profissão: agrônomo... 1 1.1 Uma profissão eclética... 3 1.2 As (velhas e novas) atribuições do engenheiro agrônomo...
PLANO DE AULA Nutrição das Plantas Autores: Ana Paula Farias Waltrick, Stephanie Caroline Schubert;
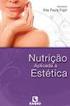 PLANO DE AULA Nutrição das Plantas Autores: Ana Paula Farias Waltrick, Stephanie Caroline Schubert; 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO Nível de Ensino: Ensino Médio Ano/Série: 1º ano Disciplina: Biologia 2. TEMA
PLANO DE AULA Nutrição das Plantas Autores: Ana Paula Farias Waltrick, Stephanie Caroline Schubert; 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO Nível de Ensino: Ensino Médio Ano/Série: 1º ano Disciplina: Biologia 2. TEMA
DominiSolo. Empresa. A importância dos aminoácidos na agricultura. Matérias-primas DominiSolo para os fabricantes de fertilizantes
 DominiSolo Empresa A DominiSolo é uma empresa dedicada à pesquisa, industrialização e comercialização de inovações no mercado de fertilizantes. Está localizada no norte do Estado do Paraná, no município
DominiSolo Empresa A DominiSolo é uma empresa dedicada à pesquisa, industrialização e comercialização de inovações no mercado de fertilizantes. Está localizada no norte do Estado do Paraná, no município
Tipos de propagação de plantas. Propagação de plantas. Propagação sexuada ou seminífera. Agricultura geral. Vantagens da propagação sexuada
 Agricultura geral Propagação de plantas UFCG Campus Pombal Tipos de propagação de plantas Sexuada ou seminífera Sistema de propagação de plantas que envolve a união de gametas, gerando a semente que é
Agricultura geral Propagação de plantas UFCG Campus Pombal Tipos de propagação de plantas Sexuada ou seminífera Sistema de propagação de plantas que envolve a união de gametas, gerando a semente que é
BIOLOGIA - 3 o ANO MÓDULO 59 FISIOLOGIA VEGETAL
 BIOLOGIA - 3 o ANO MÓDULO 59 FISIOLOGIA VEGETAL Como pode cair no enem (ENEM) Na transpiração, as plantas perdem água na forma de vapor através dos estômatos. Quando os estômatos estão fechados,
BIOLOGIA - 3 o ANO MÓDULO 59 FISIOLOGIA VEGETAL Como pode cair no enem (ENEM) Na transpiração, as plantas perdem água na forma de vapor através dos estômatos. Quando os estômatos estão fechados,
DESENVOLVIMENTO DA PLÂNTULA: eventos pós-germinativos. Helenice Mercier Laboratório de Fisiologia Vegetal Ano 2008
 DESENVOLVIMENTO DA PLÂNTULA: eventos pós-germinativos Helenice Mercier Laboratório de Fisiologia Vegetal Ano 2008 eixo embrionário radícula tegumento cotilédones cotilédones gancho raiz primária endosperma
DESENVOLVIMENTO DA PLÂNTULA: eventos pós-germinativos Helenice Mercier Laboratório de Fisiologia Vegetal Ano 2008 eixo embrionário radícula tegumento cotilédones cotilédones gancho raiz primária endosperma
Parede primária e secundária. Lomandraceae, Monocotiledônea
 Parede primária e secundária Lomandraceae, Monocotiledônea Lamela média Cordia trichotoma Corte transversal caule Parede primária e secundária Parede primária Constituição 65% de água 25% celulose 25%
Parede primária e secundária Lomandraceae, Monocotiledônea Lamela média Cordia trichotoma Corte transversal caule Parede primária e secundária Parede primária Constituição 65% de água 25% celulose 25%
Morfologia e Fisiologia das Plantas Frutíferas
 Morfologia e Fisiologia das Plantas Frutíferas Sistema Radicular: Raízes Pêlos absorventes Parte Aérea: Tronco Ramos Gemas Folhas Flores Frutas Estrutura Sistema Radicular a) Fixação da planta no solo;
Morfologia e Fisiologia das Plantas Frutíferas Sistema Radicular: Raízes Pêlos absorventes Parte Aérea: Tronco Ramos Gemas Folhas Flores Frutas Estrutura Sistema Radicular a) Fixação da planta no solo;
Meios de cultura: componentes e tipos de meio
 Meios de cultura: componentes e tipos de meio Prof. Paulo Hercílio Viegas Rodrigues CEN001 Meios de Cultivo Meios de cultura consistem da associação qualitativa e quantitativa de substâncias que fornecem
Meios de cultura: componentes e tipos de meio Prof. Paulo Hercílio Viegas Rodrigues CEN001 Meios de Cultivo Meios de cultura consistem da associação qualitativa e quantitativa de substâncias que fornecem
Insumos Agropecuários: Fertilizantes. Cadeias Produtivas Agrícolas
 Insumos Agropecuários: Fertilizantes Cadeias Produtivas Agrícolas Insumos Agropecuários Segundo dados da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, o mercado distribuidor
Insumos Agropecuários: Fertilizantes Cadeias Produtivas Agrícolas Insumos Agropecuários Segundo dados da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, o mercado distribuidor
Série tecnológica cafeicultura. Deficiências nutricionais Micronutrientes
 Série tecnológica cafeicultura Deficiências nutricionais Micronutrientes SÉRIE TECNOLÓGICA CAFEICULTURA DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS MICRONUTRIENTES ZINCO O zinco é um dos micronutrientes que mais podem limitar
Série tecnológica cafeicultura Deficiências nutricionais Micronutrientes SÉRIE TECNOLÓGICA CAFEICULTURA DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS MICRONUTRIENTES ZINCO O zinco é um dos micronutrientes que mais podem limitar
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Campus Experimental de Dracena Curso de Zootecnia MICRO UTRIE TES. Prof. Dr.
 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Campus Experimental de Dracena Curso de Zootecnia MICRO UTRIE TES Disciplina: Fertilidade do solo e fertilizantes Prof. Dr. Reges Heinrichs Dracena
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Campus Experimental de Dracena Curso de Zootecnia MICRO UTRIE TES Disciplina: Fertilidade do solo e fertilizantes Prof. Dr. Reges Heinrichs Dracena
ESTABELECIMENTO IN VITRO
 ESTABELECIMENTO IN VITRO DE CANA-DE-AÇÚCAR. Paulo Sérgio Gomes da Rocha 1 ; Antonio Sergio do Amaral 1 ; Amito José Teixeira 1, Mayara Luana Coser Zonin 2 ; Sergio Delmar dos Anjos 3. INTRODUÇÃO O estabelecimento
ESTABELECIMENTO IN VITRO DE CANA-DE-AÇÚCAR. Paulo Sérgio Gomes da Rocha 1 ; Antonio Sergio do Amaral 1 ; Amito José Teixeira 1, Mayara Luana Coser Zonin 2 ; Sergio Delmar dos Anjos 3. INTRODUÇÃO O estabelecimento
Efeito do BAP na Indução de Brotações Adventícias em Catingueira
 IV Seminário de Iniciação Científica e Pós-Graduação da Embrapa Tabuleiros Costeiros 183 Efeito do BAP na Indução de Brotações Adventícias em Catingueira Annie Carolina Araújo de Oliveira 1, Adrielle Naiana
IV Seminário de Iniciação Científica e Pós-Graduação da Embrapa Tabuleiros Costeiros 183 Efeito do BAP na Indução de Brotações Adventícias em Catingueira Annie Carolina Araújo de Oliveira 1, Adrielle Naiana
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Embrapa Belém, PA 2014 ÁCIDO NAFTALENOACÉTICO PROMOVEM ENRAIZAMENTO IN VITRO DE
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Embrapa Belém, PA 2014 ÁCIDO NAFTALENOACÉTICO PROMOVEM ENRAIZAMENTO IN VITRO DE
O SOLO COMO F0RNECEDOR DE NUTRIENTES
 O SOLO COMO F0RNECEDOR DE NUTRIENTES LIQUIDA (SOLUÇÃO DO SOLO) ÍONS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS/MICROPOROS SÓLIDA - RESERVATORIO DE NUTRIENTES - SUPERFÍCIE QUE REGULA A CONCENTRAÇÃO DOS ELEMENTOS NA SOLUÇÃO
O SOLO COMO F0RNECEDOR DE NUTRIENTES LIQUIDA (SOLUÇÃO DO SOLO) ÍONS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS/MICROPOROS SÓLIDA - RESERVATORIO DE NUTRIENTES - SUPERFÍCIE QUE REGULA A CONCENTRAÇÃO DOS ELEMENTOS NA SOLUÇÃO
ABSORÇÃO. - A absorção de água e sais minerais acontece principalmente pela raiz, na região dos pêlos absorventes;
 FISIOLOGIA VEGETAL - É o estudo dos mecanismos responsáveis por manter o equilíbrio das funções da planta. - São a absorção de nutrientes e água, o transporte das seivas, fatores reguladores do crescimento
FISIOLOGIA VEGETAL - É o estudo dos mecanismos responsáveis por manter o equilíbrio das funções da planta. - São a absorção de nutrientes e água, o transporte das seivas, fatores reguladores do crescimento
PREPARO DE SOLUÇÕES NUTRITIVAS. Prof. Dr. Osmar Souza dos Santos UFSM
 PREPARO DE SOLUÇÕES NUTRITIVAS Prof. Dr. Osmar Souza dos Santos UFSM DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE Quantidade de litros por planta Método de cultivo NFT: 0,5 a 8,0; DWC: 30 a 50. Espécie vegetal Alface: 0,5
PREPARO DE SOLUÇÕES NUTRITIVAS Prof. Dr. Osmar Souza dos Santos UFSM DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE Quantidade de litros por planta Método de cultivo NFT: 0,5 a 8,0; DWC: 30 a 50. Espécie vegetal Alface: 0,5
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E ZOOTECNIA FRUTICULTURA. Prof. Daniel M. Tapia T. Eng.
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E ZOOTECNIA FRUTICULTURA Prof. Daniel M. Tapia T. Eng. Agrônomo MSc PROPAGAÇÃO Sexual ou gâmica Vegetativa ou assexuada REPRODUÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E ZOOTECNIA FRUTICULTURA Prof. Daniel M. Tapia T. Eng. Agrônomo MSc PROPAGAÇÃO Sexual ou gâmica Vegetativa ou assexuada REPRODUÇÃO
Mecanismo Hidroativo = Depende da quantidade de água disponível
 TRANSPIRAÇÃO: PERDA DE ÁGUA NA FORMA DE VAPOR - 90% da água absorvida nas raízes é perdida nas folhas pela transpiração. - A TRANSPIRAÇÃO CUTICULAR é um processo físico que não é regulado pela planta e
TRANSPIRAÇÃO: PERDA DE ÁGUA NA FORMA DE VAPOR - 90% da água absorvida nas raízes é perdida nas folhas pela transpiração. - A TRANSPIRAÇÃO CUTICULAR é um processo físico que não é regulado pela planta e
TRABALHO DE BIOLOGIA QUÍMICA DA VIDA
 TRABALHO DE BIOLOGIA QUÍMICA DA VIDA Água Sais minerais Vitaminas Carboidratos Lipídios Proteínas Enzimas Ácidos Núcleos Arthur Renan Doebber, Eduardo Grehs Água A água é uma substância química composta
TRABALHO DE BIOLOGIA QUÍMICA DA VIDA Água Sais minerais Vitaminas Carboidratos Lipídios Proteínas Enzimas Ácidos Núcleos Arthur Renan Doebber, Eduardo Grehs Água A água é uma substância química composta
UERJ 2016 e Hormônios Vegetais
 UERJ 2016 e Hormônios Vegetais Material de Apoio para Monitoria 1. O ciclo de Krebs, que ocorre no interior das mitocôndrias, é um conjunto de reações químicas aeróbias fundamental no processo de produção
UERJ 2016 e Hormônios Vegetais Material de Apoio para Monitoria 1. O ciclo de Krebs, que ocorre no interior das mitocôndrias, é um conjunto de reações químicas aeróbias fundamental no processo de produção
Nutrição bacteriana: macronutrientes; micronutrientes; fatores de crescimento; necessidades nutricionais;
 Nutrição bacteriana: macronutrientes; micronutrientes; fatores de crescimento; necessidades nutricionais; Classificação dos microrganismos quanto à nutrição, crescimento e metabolismo microbiano. Nutrientes
Nutrição bacteriana: macronutrientes; micronutrientes; fatores de crescimento; necessidades nutricionais; Classificação dos microrganismos quanto à nutrição, crescimento e metabolismo microbiano. Nutrientes
FERTILIDADE E MANEJO DE SOLOS. Prof. Iane Barroncas Gomes Engenheira Florestal
 FERTILIDADE E MANEJO DE SOLOS Prof. Iane Barroncas Gomes Engenheira Florestal HORÁRIO: SEGUNDAS 08:00 ÀS 10:20 TERÇAS 08:00 ÀS 10:20 METODOLOGIA: Aulas expositivas Indicação de bibliografia relativa ao
FERTILIDADE E MANEJO DE SOLOS Prof. Iane Barroncas Gomes Engenheira Florestal HORÁRIO: SEGUNDAS 08:00 ÀS 10:20 TERÇAS 08:00 ÀS 10:20 METODOLOGIA: Aulas expositivas Indicação de bibliografia relativa ao
GERMINAÇÃO DE GRÃO DE PÓLEN DE TRÊS VARIEDADES DE CITROS EM DIFERENTES PERÍODOS DE TEMPO E EMISSÃO DO TUBO POLÍNICO RESUMO
 GERMINAÇÃO DE GRÃO DE PÓLEN DE TRÊS VARIEDADES DE CITROS EM DIFERENTES PERÍODOS DE TEMPO E EMISSÃO DO TUBO POLÍNICO Paulyene V. NOGUEIRA 1 ; Renata A. MOREIRA 2 ; Paula A. NASCIMENTO 3 ; Deniete S. MAGALHÃES
GERMINAÇÃO DE GRÃO DE PÓLEN DE TRÊS VARIEDADES DE CITROS EM DIFERENTES PERÍODOS DE TEMPO E EMISSÃO DO TUBO POLÍNICO Paulyene V. NOGUEIRA 1 ; Renata A. MOREIRA 2 ; Paula A. NASCIMENTO 3 ; Deniete S. MAGALHÃES
Sintomas de deficiência de alguns nutrientes na cultura do milho
 Sintomas de deficiência de alguns nutrientes na cultura do milho Prof. Luiz Duarte Silva Júnior Os nutrientes são elementos importantes no desenvolvimento das plantas para que elas possam completar o ciclo
Sintomas de deficiência de alguns nutrientes na cultura do milho Prof. Luiz Duarte Silva Júnior Os nutrientes são elementos importantes no desenvolvimento das plantas para que elas possam completar o ciclo
Produção de Mudas de Abacaxizeiro Pérola Utilizando a Técnica do Estiolamento In Vitro
 61 Produção de Mudas de Abacaxizeiro Pérola Utilizando a Técnica do Estiolamento In Vitro Aparecida Gomes de Araujo¹, Milena M. de J. Ribeiro 2, Zilna B. de R. Quirino 3, Ana da S. Lédo 4, Jaci L. Vilanova-Neta
61 Produção de Mudas de Abacaxizeiro Pérola Utilizando a Técnica do Estiolamento In Vitro Aparecida Gomes de Araujo¹, Milena M. de J. Ribeiro 2, Zilna B. de R. Quirino 3, Ana da S. Lédo 4, Jaci L. Vilanova-Neta
CONFINAMENTO. Tecnologias, Núcleos e Fator P.
 CONFINAMENTO Tecnologias, Núcleos e Fator P. NUTRINDO OS CICLOS DA VIDA Se tivéssemos que escolher uma palavra para definir o que há de fundamental a todas as espécies vivas sobre aterra, qual seria? Abrigo,
CONFINAMENTO Tecnologias, Núcleos e Fator P. NUTRINDO OS CICLOS DA VIDA Se tivéssemos que escolher uma palavra para definir o que há de fundamental a todas as espécies vivas sobre aterra, qual seria? Abrigo,
NUTRIÇÃO MINERAL. Katia Christina Zuffellato-Ribas
 NUTRIÇÃO MINERAL Katia Christina Zuffellato-Ribas COMPOSIÇÃO MOLECULAR DAS CÉLULAS VEGETAIS ELEMENTOS: SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PODEM SER QUEBRADAS EM OUTRAS PELOS MEIOS COMUNS 112 ELEMENTOS QUÍMICOS (91 DE
NUTRIÇÃO MINERAL Katia Christina Zuffellato-Ribas COMPOSIÇÃO MOLECULAR DAS CÉLULAS VEGETAIS ELEMENTOS: SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PODEM SER QUEBRADAS EM OUTRAS PELOS MEIOS COMUNS 112 ELEMENTOS QUÍMICOS (91 DE
MICROPROPAGAÇÃO DE MINI-TÚBERCULOS DE BATATA SEMENTE
 MICROPROPAGAÇÃO DE MINI-TÚBERCULOS DE BATATA SEMENTE Chrislaine Yonara Schoenhals Ritter 1 ; Emanuele Carolina Barichello 1 ; Marcos Dhein 1 ; Fabiana Raquel Muhl 2 ; Marciano Balbinot 3 ; Neuri Antônio
MICROPROPAGAÇÃO DE MINI-TÚBERCULOS DE BATATA SEMENTE Chrislaine Yonara Schoenhals Ritter 1 ; Emanuele Carolina Barichello 1 ; Marcos Dhein 1 ; Fabiana Raquel Muhl 2 ; Marciano Balbinot 3 ; Neuri Antônio
REGENERAÇÃO IN VITRO DE SEMENTES DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE MAMONA
 REGENERAÇÃO IN VITRO DE SEMENTES DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE MAMONA Silvany de Sousa Araújo 2, Julita Maria Frota Chagas de Carvalho 1, Máira Milani 1 1Embrapa Algodão, julita@cnpa.embrapa.br, maira@cnpa.embrapa.br,
REGENERAÇÃO IN VITRO DE SEMENTES DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE MAMONA Silvany de Sousa Araújo 2, Julita Maria Frota Chagas de Carvalho 1, Máira Milani 1 1Embrapa Algodão, julita@cnpa.embrapa.br, maira@cnpa.embrapa.br,
Substâncias orgânicas produzidas pelo vegetal que atuam em pequenas doses e em diferentes órgãos das plantas.
 Fitormônios Fitormônios Substâncias orgânicas produzidas pelo vegetal que atuam em pequenas doses e em diferentes órgãos das plantas. Auxina Giberelina Citocinina Ácido abscísico Etileno Locais de produção:
Fitormônios Fitormônios Substâncias orgânicas produzidas pelo vegetal que atuam em pequenas doses e em diferentes órgãos das plantas. Auxina Giberelina Citocinina Ácido abscísico Etileno Locais de produção:
A bioquímica celular é o ramo da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos.
 1) Introdução A bioquímica celular é o ramo da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. 2) Elementos químicos da matéria viva Existem 96 elementos químicos que ocorrem
1) Introdução A bioquímica celular é o ramo da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. 2) Elementos químicos da matéria viva Existem 96 elementos químicos que ocorrem
Principais funções dos sais minerais:
 A Química da Vida Água Água mineral é a água que tem origem em fontes naturais ou artificiais e que possui componentes químicos adicionados, como sais, compostos de enxofre e gases que já vêm dissolvidas
A Química da Vida Água Água mineral é a água que tem origem em fontes naturais ou artificiais e que possui componentes químicos adicionados, como sais, compostos de enxofre e gases que já vêm dissolvidas
Nanopartículas em plantas, nano o quê? Milena Camargo de Paula * ; Rosana Marta Kolb
 13 Nanopartículas em plantas, nano o quê? Milena Camargo de Paula * ; Rosana Marta Kolb Departamento de Ciências Biológicas. Faculdade de Ciências e Letras. Univ Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho,
13 Nanopartículas em plantas, nano o quê? Milena Camargo de Paula * ; Rosana Marta Kolb Departamento de Ciências Biológicas. Faculdade de Ciências e Letras. Univ Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho,
Adubação de Plantas Ornamentais. Professora Juliana Ferrari
 Adubação de Plantas Ornamentais Professora Juliana Ferrari Indícios que a planta pode precisar de nutrientes O crescimento se torna lento; Adubação É o método de corrigir as deficiências de nutrientes
Adubação de Plantas Ornamentais Professora Juliana Ferrari Indícios que a planta pode precisar de nutrientes O crescimento se torna lento; Adubação É o método de corrigir as deficiências de nutrientes
Regulação do crescimento e desenvolvimento vegetal:
 Regulação do crescimento e desenvolvimento vegetal: Fatores internos de controle LCE SLC0622- Biologia 3 2016 Hormônios Vegetais ou Fitormônios: fatores internos de controle Regulam o desenvolvimento e
Regulação do crescimento e desenvolvimento vegetal: Fatores internos de controle LCE SLC0622- Biologia 3 2016 Hormônios Vegetais ou Fitormônios: fatores internos de controle Regulam o desenvolvimento e
GERMINAÇÃO in vitro DE Coffea canephora cv. Tropical EM DIFERENTES MEIOS DE CULTURA E AMBIENTES DE CULTIVO
 GERMINAÇÃO in vitro DE Coffea canephora cv. Tropical EM DIFERENTES MEIOS DE CULTURA E AMBIENTES DE CULTIVO Renata A. MOREIRA 1 ; Jéssica A. BATISTA 2 ; Priscila P. BOTREL 3 ; Felipe C. FIGUEIREDO 4 ; Leidiane
GERMINAÇÃO in vitro DE Coffea canephora cv. Tropical EM DIFERENTES MEIOS DE CULTURA E AMBIENTES DE CULTIVO Renata A. MOREIRA 1 ; Jéssica A. BATISTA 2 ; Priscila P. BOTREL 3 ; Felipe C. FIGUEIREDO 4 ; Leidiane
MEIOS DE CULTURA TIPOS DE MEIOS DE CULTURA
 MEIOS DE CULTURA INTRODUÇÃO Meios de cultura consistem da associação qualitativa e quantitativa de substâncias que fornecem os nutrientes necessários ao desenvolvimento (cultivo) de microrganismos fora
MEIOS DE CULTURA INTRODUÇÃO Meios de cultura consistem da associação qualitativa e quantitativa de substâncias que fornecem os nutrientes necessários ao desenvolvimento (cultivo) de microrganismos fora
Nutrição bacteriana. José Gregório Cabrera Gomez
 Nutrição bacteriana José Gregório Cabrera Gomez jgcgomez@usp.br Nutrição microbiana Quais os compostos químicos que constituem uma célula? 5 Nutrição microbiana De onde as bactérias captam estes elementos?
Nutrição bacteriana José Gregório Cabrera Gomez jgcgomez@usp.br Nutrição microbiana Quais os compostos químicos que constituem uma célula? 5 Nutrição microbiana De onde as bactérias captam estes elementos?
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE DISCIPLINA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE DISCIPLINA DEPARTAMENTO: BIOLOGIA IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: CÓDIGO NOME ( T - P ) BLG 1036 FISIOLOGIA VEGETAL (4-2) OBJETIVOS - ao término da disciplina
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE DISCIPLINA DEPARTAMENTO: BIOLOGIA IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: CÓDIGO NOME ( T - P ) BLG 1036 FISIOLOGIA VEGETAL (4-2) OBJETIVOS - ao término da disciplina
NATUREZA E TIPOS DE SOLOS ACH-1085
 NATUREZA E TIPOS DE SOLOS ACH-1085 FUNÇÕES ECOLÓGICAS DO SOLO 1 conteúdo 1. O solo no globo terrestre 2. Formação do solo 3. Necessidades do vegetais 4. Funções ecológicas do solo 5. Leis ecológicas 2
NATUREZA E TIPOS DE SOLOS ACH-1085 FUNÇÕES ECOLÓGICAS DO SOLO 1 conteúdo 1. O solo no globo terrestre 2. Formação do solo 3. Necessidades do vegetais 4. Funções ecológicas do solo 5. Leis ecológicas 2
Síntese: meristemas, sementes, raízes e brotos foliares; Transporte: xilema; Atuam estimulando o crescimento de caules e folhas (pouco efeito sobre
 Síntese: meristemas, sementes, raízes e brotos foliares; Transporte: xilema; Atuam estimulando o crescimento de caules e folhas (pouco efeito sobre raízes); Elongação celular: estimula a entrada de água
Síntese: meristemas, sementes, raízes e brotos foliares; Transporte: xilema; Atuam estimulando o crescimento de caules e folhas (pouco efeito sobre raízes); Elongação celular: estimula a entrada de água
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Embrapa Amazônia Oriental Belém, PA 2015 ENRAIZAMENTO IN VITRO DA PATAQUEIRA Marly
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Amazônia Oriental Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Embrapa Amazônia Oriental Belém, PA 2015 ENRAIZAMENTO IN VITRO DA PATAQUEIRA Marly
21 o Seminário de Iniciação Científica da Embrapa Amazônia Oriental 20 a 22 de setembro de 2017 Belém - Pará
 CONTROLE DA OXIDAÇÃO DE MERISTEMA DE PIMENTEIRA-DO REINO (PIPER NIGRUM L.) EM CULTIVO IN VITRO SOB BAIXAS TEMPERATURAS Danielle Pereira Mendonça 1, Oriel Filgueira de Lemos 2, Gleyce Kelly Sousa Ramos
CONTROLE DA OXIDAÇÃO DE MERISTEMA DE PIMENTEIRA-DO REINO (PIPER NIGRUM L.) EM CULTIVO IN VITRO SOB BAIXAS TEMPERATURAS Danielle Pereira Mendonça 1, Oriel Filgueira de Lemos 2, Gleyce Kelly Sousa Ramos
Biotecnologia Melhoramento Genético
 5 Biotecnologia e Melhoramento Genético Fábio Gelape Faleiro Nilton Tadeu Vilela Junqueira Eder Jorge de Oliveira Onildo Nunes de Jesus 71 O que é biotecnologia e quais as principais aplicações na cultura
5 Biotecnologia e Melhoramento Genético Fábio Gelape Faleiro Nilton Tadeu Vilela Junqueira Eder Jorge de Oliveira Onildo Nunes de Jesus 71 O que é biotecnologia e quais as principais aplicações na cultura
INFLUÊNCIA DA INTERAÇÃO DE ACESSOS E MEIOS DE CULTURA NA MICROPROPAGAÇÃO DA MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz)
 INFLUÊNCIA DA INTERAÇÃO DE ACESSOS E MEIOS DE CULTURA NA MICROPROPAGAÇÃO DA MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) Emanuela Barbosa Santos¹, Karen Cristina Fialho dos Santos 2, Antônio da Silva Souza 3, Honorato
INFLUÊNCIA DA INTERAÇÃO DE ACESSOS E MEIOS DE CULTURA NA MICROPROPAGAÇÃO DA MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) Emanuela Barbosa Santos¹, Karen Cristina Fialho dos Santos 2, Antônio da Silva Souza 3, Honorato
CULTURA DE TECIDOS: HISTÓRICO, CONCEITOS, APLICAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DO LABORATÓRIO AF073 BIOTECNOLOGIA VEGETAL
 CULTURA DE TECIDOS: HISTÓRICO, CONCEITOS, APLICAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DO LABORATÓRIO AF073 BIOTECNOLOGIA VEGETAL Prof. Dr. Luiz Antonio Biasi CULTURA DE TECIDOS DE PLANTAS 1.HISTÓRICO 2.CONCEITOS 3.APLICAÇÕES
CULTURA DE TECIDOS: HISTÓRICO, CONCEITOS, APLICAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DO LABORATÓRIO AF073 BIOTECNOLOGIA VEGETAL Prof. Dr. Luiz Antonio Biasi CULTURA DE TECIDOS DE PLANTAS 1.HISTÓRICO 2.CONCEITOS 3.APLICAÇÕES
AS RELAÇÕES ENTRE MACRONUTRIENTES E MICRONUTRIENTES E A FERTILIDADE DO SOLO Pedro Lopes Ferlini Salles Orientadora: Marisa Falco Fonseca Garcia
 AS RELAÇÕES ENTRE MACRONUTRIENTES E MICRONUTRIENTES E A FERTILIDADE DO SOLO Pedro Lopes Ferlini Salles Orientadora: Marisa Falco Fonseca Garcia Coorientador: Flávio Ferlini Salles RELEVÂNCIA O solo é importante
AS RELAÇÕES ENTRE MACRONUTRIENTES E MICRONUTRIENTES E A FERTILIDADE DO SOLO Pedro Lopes Ferlini Salles Orientadora: Marisa Falco Fonseca Garcia Coorientador: Flávio Ferlini Salles RELEVÂNCIA O solo é importante
Fisiologia e Crescimento Bacteriano
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA Fisiologia e Crescimento Bacteriano Professora: Vânia Silva Composição macromolecular de uma célula procariótica
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA Fisiologia e Crescimento Bacteriano Professora: Vânia Silva Composição macromolecular de uma célula procariótica
CÉLULAS E TECIDOS VEGETAIS. Profa. Ana Paula Biologia III
 CÉLULAS E TECIDOS VEGETAIS 2016 Profa. Ana Paula Biologia III CÉLULAS E TECIDOS VEGETAIS Quais as diferenças entre a célula vegetal e animal?? Basicamente: parede celular; vacúolo; cloroplastos. Parede
CÉLULAS E TECIDOS VEGETAIS 2016 Profa. Ana Paula Biologia III CÉLULAS E TECIDOS VEGETAIS Quais as diferenças entre a célula vegetal e animal?? Basicamente: parede celular; vacúolo; cloroplastos. Parede
Estiolamento e Regeneração in vitro de Abacaxizeiro Pérola
 30 Estiolamento e Regeneração in vitro de Abacaxizeiro Pérola Aparecida Gomes de Araujo 1, Camila Santos Almeida 2, José Edmário dos Santos 3, Ana da Silva Lédo 4, Milena Mascarenhas de Jesus Ribeiro 5
30 Estiolamento e Regeneração in vitro de Abacaxizeiro Pérola Aparecida Gomes de Araujo 1, Camila Santos Almeida 2, José Edmário dos Santos 3, Ana da Silva Lédo 4, Milena Mascarenhas de Jesus Ribeiro 5
Multiplicação de plantas. Aspectos teóricos da propagação de plantas PARTE 1. Multiplicação de plantas. Ciclo sexuado. Composição da semente
 Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz ESALQ/USP LPV 0448 - Fruticultura Multiplicação de plantas Para se perpetuarem as espécies se multiplicam: Aspectos teóricos da
Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz ESALQ/USP LPV 0448 - Fruticultura Multiplicação de plantas Para se perpetuarem as espécies se multiplicam: Aspectos teóricos da
