Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
|
|
|
- Herman Amado
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 CONCORDÂNCIA VERBAL NO 9º ANO: QUE FATORES LINGUÍSTICOS E EXTRALINGUÍSTICOS A IMPULSIONAM? Elenita Alves Barbosa (UESB) nitajord@hotmail.com Valéria Viana Sousa (UFPB/UESB) valeriavianasousa@gmail.com Jorge Augusto Alves da Silva (UFBA/UESB) adavgvstvm@gmail.com RESUMO A concordância verbal é um dos conteúdos em que são aplicados os conceitos apreendidos com o estudo da sintaxe, da semântica e da morfologia. Nos livros didáticos e nas gramáticas pedagógicas, na sua maioria, é apresentada a relação intrínseca entre sujeito-predicado como se fosse algo natural e facilmente perceptível. Tal situação poderia se afigurar como uma simples questão de lógica; no entanto, para aqueles que possuem, como vernáculo, o português popular, configura-se em um entrave na percepção da dita relação intrínseca. Nossa pesquisa, através de atividades didáticopedagógicas monitoradas, procurou descortinar que fatores linguísticos (natureza e posição do sujeito, saliência fônica) e extralinguísticos (sexo, escolaridade da mãe) condicionam a aplicação da regra de concordância nos textos escritos de alunos do 9º ano de uma escola municipal, de uma comunidade quilombola rural, no município de Vitória da Conquista-Bahia. Este estudo é de grande relevância para o ensino de língua portuguesa, vez que aponta caminhos aos docentes que, diante de tantas discussões acerca do que deve e do que não deve ser ensinado, entraram em um conflito pedagógico e se perderam nos caminhos do ensinar; e, aos discentes, que poderão refletir, em sala de aula, as regras da língua (vernáculo) que realmente usam. Para a realização deste trabalho de natureza sociolinguística, apoiamo-nos, sobretudo, na teoria da tradição gramatical, em: Cegalla (2005); Cunha & Cintra (2008); e na teoria da tradição linguística em: Silva (2003 e 2005); Hora (2004); Neves (2013). Palavras-chave: Gramática. Variação. Concordância verbal. 1. Introdução Em muitos momentos, nas produções textuais dos alunos, observamos que a concordância verbal é muito mais valorizada pelos professores do que o conteúdo presente nos textos escritos. Ao trazer à tona essa realidade, não estamos afirmando que um texto não necessite da concordância, nominal e/ou verbal, e que, havendo a concordância, esse texto se tornará sem importância, mas estamos afirmando, sobretudo, que o conteúdo esboçado pelo aluno em uma produção textual deve ser levado mais em conta do que a forma como ele harmoniza os termos entre si. 698 Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2015.
2 Também não queremos dizer com isso que a concordância não deva ser ensinada nas escolas, pois, a nosso ver, o aluno precisa compreender que existem muitas formas de se dizer algo e entender que a forma escrita segue regras gerais para facilitar a comunicação. Contudo, caso ele escreva sem o uso da concordância exigida pela gramática tradicional, a mensagem será, muitas vezes, passada e, possivelmente, entendida da mesma forma. A avaliação de quem lê, entanto, poderá ser negativa, já que a concordância está associada a um dos valores linguísticos preconizados pela cultura letrada. Conforme já mencionado anteriormente, há muitas formas de se dizer algo, e essa variação também se aplica às regras de concordância. Tal variação é condicionada, muitas vezes, por fatores estruturais (realização do sujeito, sua posição na estrutura oracional, a percepção da diferença entre singular e plural, a natureza do verbo se transitivo, se inacusativo) e sociais (situação econômica, faixa etária, geográfica etc.). No imaginário coletivo, percebemos que as aulas de língua portuguesa estão relacionadas à noção de o que se deve e o que não se deve dizer/escrever e, com essa postura, enraizada na dicotomia certo/errado, os professores têm restringido a sua prática, muitas vezes mecânica, de apontar falhas no texto do aluno. Na prática cotidiana, percebemos que o ensino tal qual está sendo realizado acaba por ficar no espaço escolar. Os alunos não dão notoriedade ao uso das regras prescritas na gramática normativa, estabelecendo uma dicotomia entre a língua que se aprende na escola e a língua falada por ele fora desse espaço. Em suas convivências extraescolares, geralmente os alunos não fazem uso dessas regras e não conseguem estabelecer essa relação, vez que passaram a vida convivendo com essas realizações sem a devida concordância verbal e, muitas vezes, estudaram essa concordância em situações artificiais de uso da língua. Logo, estabelecer um paralelo para essas duas realidades torna-se difícil para o discente. Ademais, ele poderá ser rejeitado por sua comunidade de fala caso apresente uma forma diferente da corriqueira falada até ali, aquela forma que esboça a identidade dialetal da sua comunidade; em termos labovianos, seu vernáculo. Para não correr esse risco, esse falante opta pela forma com a qual está acostumado, esquecendo ou não sendo capaz de aplicar o que aprendeu das regras de concordância em seus textos escritos. A partir de nossas leituras, elaboramos a seguinte hipótese geral Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez
3 de nosso estudo: a concordância verbal de 3ª pessoa do plural, conforme prescrita pela gramática normativa, está condicionada a fatores linguísticos e extralinguísticos. Acreditando que uma nova postura pedagógica, aliada a atividades que conduzam os discentes à reflexão, seja necessária e determinante para uma mudança de atitude na escrita, apresentamos, neste artigo, uma pesquisa realizada a partir de textos produzidos por alunos do 9º de uma escola rural quilombola do município de Vitória da Conquista (BA), embasados, na teoria da tradição gramatical, em: Cegalla (2005); Cunha e Cintra (2008); e na teoria da tradição linguística em: Silva (2003 e 2005); Hora (2004); Neves (2013). Nos dias atuais são suscitadas diversas discussões no que diz respeito ao ensino da gramática normativa, quer seja entre gramáticos, linguistas e professores, quer seja entre comunidade, pais e alunos. Muitas são os eventos (conferências, seminários, workshops, congressos) realizados na tentativa de dirimir algumas questões envolvendo esse ensino, mas ainda não se conseguiu atingir o foco do problema que, a nosso ver, está no fazer pedagógico 81. A nosso juízo, muitos professores da área de letras não alcançaram a percepção do cerne da problemática que envolve as aulas de língua portuguesa, pois ainda é muito visível o desconforto que o ensino de língua portuguesa, especialmente o que tange ao ensino da gramática, seja ela normativa, descritiva ou internalizada, causa aos alunos. Na verdade, ainda não se conseguiu definir, talvez, a questão primordial: que gramática se deve ensinar e como ensiná-la na escola, ou seja, o modus operandi 82. É suficientemente difícil delimitar esse estudo, vez que são muitas as vertentes que permeiam tal ensino e que os livros didáticos, também, não dão conta dessa orientação; além de, em muitos deles, os autores fazerem vistas grossas à diversidade linguística. Algo sentido, especialmente, neste momento em que por meio da Sociolinguística é posto em evidência o mito da homogeneidade da língua e são expostas as diversas possibilidades de dizer, dentro das normas do sistema. 81 Referimo-nos ao fazer pedagógico no sentido de que os professores recebem uma gama de informações, muitas vezes truncadas e embaraçosas, que, ao invés de ajudarem, acabam por confundir a cabeça dos docentes. Isso traz sérias consequências para a prática cotidiana na sala de aula. 82 Expressão em latim que significa "modo de operação". Utilizada para designar uma maneira de agir, operar ou executar uma atividade. 700 Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2015.
4 Além do mais, podemos perceber que não é comum os professores trabalharem no ambiente da sala de aula com as variações tão presentes nas falas dos alunos. Estes, por conseguinte, embora tenham consciência de que aquele ensino se trata da sua língua, veem-se diante de um trabalho, ou de um conhecimento, que os torna incapazes de estabelecer uma relação entre o que se ensina na escola e a língua falada por eles. O ensino, então, tornase mecânico e artificial e vai, cada vez mais, se distanciando de sua realidade, o que acarreta uma dicotomia entre a língua ensinada na escola e a língua já usada naturalmente pelo aluno, gerando, por vezes, um bloqueio na aprendizagem. Por sua vez, os pais e a comunidade, dado o distanciamento com o fazer pedagógico no ambiente escolar e talvez carregados do ranço trazido de seu tempo escolar em que inúmeras regras tinham que ser decoradas e recitadas em sala, não conseguem compreender como se processa o ensino da gramática; o que, obviamente dificulta o discernimento da serventia do ensino de gramática para seus filhos. Dessa forma, tal ensino parece obsoleto, já que, além do exposto, é bastante comum, ainda, se ensinar gramática normativa na escola através de regras enfadonhas, exercícios cansativos que visam muito mais a que o aluno decore conceitos do que compreenda a aplicação, como bem assevera Neves (2013): À força de virmos repetindo lições de gramática em que apenas se busca que os alunos saibam os nomes das categorias e das funções, e a subclassificação delas, vamos tendo como certo que aprender tais noções é aprender gramática, o que leva à conclusão límpida e irrefutável, de toda a comunidade, de que estudar gramática é desnecessário, pois tal estudo não leva a nada, e, mais que isso, é prejudicial, já que cria falsas noções e falsos pressupostos. (NE- VES, 2013, p. 81) A rigor, as aulas de língua portuguesa ainda são centradas no ensino da gramática tradicional e a conceituação permanece muito presente nessas aulas. Tal realidade corrobora com a manutenção das grandes dificuldades para professores e alunos: para estes, o conflito se dá pelo fato de não conseguirem fazer um elo entre o que se estuda e a língua falada por eles; para aqueles, a gama de informações acerca de o que ensinar, como ensinar e por que (não) ensinar gramática na escola causa uma desordem que reflete na metodologia e até na escolha dos conteúdos a serem ensinados. Nesse sentido, podemos dizer que a concepção de gramática ainda é mantida entrelaçada a uma prática pedagógica tradicional lotada de regras e, consequentemente, de opressão. Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez
5 Partindo desse arrazoado, percebemos que muitos questionamentos são levantados na tentativa de buscar possibilidade de reverter a realidade dos espaços escolares: Ainda deve-se ensinar gramática nas escolas? A quem esse ensino deve servir? Qual gramática deve ser trabalhada? Em um país marcado pela diversidade linguística, como é o caso do Brasil, como trabalhar esses modos de fala na sala de aula? E, envoltos a essas questões, perguntamo-nos: Como trabalhar com nossos alunos a concordância verbal quando seus contatos extraescolares são com pessoas que também não realizam a concordância verbal com base nas prescrições presentes na gramática normativa? Sabemos que nenhum sistema linguístico é unitário e que a língua possui várias formas de se realizar, muitas vezes fugindo às regras dos compêndios da tradição gramatical nos quais imperam as regras para um suposto bem falar. Essas variedades linguísticas podem ser de ordem geográfica, étnica, etária, social e até de cunho individual. De forma alguma, prejudicam a unidade superior da língua, dada que essas diferenças não quebram as regras de estrutura, ou seja, são incorporadas ao sistema. Nas palavras de Tarallo (1997), cabe a nós, na condição de pesquisadores da língua, o desafio de tentar processar, analisar e sistematizar as variações que, por vezes, são consideradas como um universo caótico na língua. Assim, para o modelo variacionista, não há falante ideal, cada um segue um estilo próprio, peculiar de fala e, consequentemente, não há comunidade linguística homogênea; a língua é uma estrutura heterogênea ordenada, segundo assevera Hora (2004). O que nos parece mais evidente é que há uma avaliação de certo ou errado muito mais social do que gramatical e é isso que gera preconceito linguístico. A sociedade em geral ainda julga como errado, feio, estereotipado e sem valor quando ouve a fala de um utente de uma variante de menor prestígio, ou uma fala que é considerada como diferente. As falas que obedecem às regras de maior prestígio recebem mais atenção e valoração, especialmente daqueles que acreditam, ainda, que a língua precisa ser pura e que procuram seguir as regras impostas pela gramática tradicional. Tal fato leva os que falam diferente a se convencerem de que não sabem falar e a valorizar as formas prestigiadas. É necessário e urgente que todos tomem consciência de que a língua está atrelada a uma cultura e é dela que surgem as variedades de fala e, assim, não cabe fazer juízo de valor acerca do que é certo ou errado, ou 702 Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2015.
6 seja, das normas. É devido a esse preconceito ainda bastante arraigado que é fácil notar o estereótipo criado em torno dos falares nordestinos e dos diversos interiores do país, especialmente os mais voltados para as regiões rurais. É como se as grandes cidades fossem o foco da verdadeira língua e a zona rural e interior o foco dos que falam diferente e, consequentemente, errado. Ora, é óbvio que toda fala está intrínseca a uma língua. Assim sendo, qualquer um que fala uma dada língua, sabe sua gramática, aplica com exatidão as regras estruturais dessa língua. A língua é que serve ao falante e não o contrário. Possenti (1996, p. 30), a esse respeito, diz que saber uma gramática não significa saber de cor algumas regras que se aprende na escola, ou saber fazer algumas análises morfológicas e sintáticas. Mais profundo do que esse conhecimento é o conhecimento [ ] necessário para falar efetivamente a língua (POSSENTI, 1996, p. 30). Vale lembrar que nenhum falar é superior ao outro. Não há certo e errado quando nos referimos às diversas formas de fala, mas o que há são diversas formas de falar a mesma coisa. O que nos importa, então, é que haja uma interação social adequada aos requisitos do contexto e da situação. É evidente que algumas dessas formas acabam por influenciar a escrita, o que cabe ao professor de língua portuguesa mostrar aos seus alunos que há uma forma de escrita que segue um padrão estabelecido, apesar de, com certo louvor, a rigidez da gramática normativa já não ser mais tão exigida como antes, mas é necessário utilizar esse padrão para a compreensão geral daquilo que está escrito. A fala, por sua vez, é mais natural e espontânea, pois permite esclarecimentos e interação imediatos. Não obstante, é bom lembrar que da variação pode ocasionar a mudança linguística, conforme mencionado anteriormente. Embora nem toda variação resulte em mudança, toda mudança é resultado de uma variação. Duas formas variantes podem permanecer em uma comunidade por um determinado espaço de tempo, fenômeno denominado de variação estável, ou, com o tempo, uma pode se tornar obsoleta e prevalecer a outra, o que é chamado pelos linguistas variacionistas de mudança em progresso ou em curso. Consideramos para fins de nosso estudo a concepção de gramática descritiva e a concepção de língua heterogênea, conforme postulado pela teoria da variação, reconhecemos normas e variação como elementos intrínsecos à língua, logo, assumimos que o fenômeno de concordância Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez
7 verbal na terceira pessoa do plural caracteriza-se como uma variação estável. 2. Concordância verbal: as diversas abordagens A ideia de concordância, como solidariedade entre o sujeito e o núcleo do predicado, ainda que esteja apresentada pela tradição gramatical de forma contundente, na própria tradição são apresentadas situações em que a regra vai ser posta de lado para favorecer o sentido. Assim sendo, apresentamos a seguir algumas abordagens da concordância verbal Concordância verbal: abordagem normativa No prestígio social e na gramática ensinada na escola é determinado que os falantes devam seguir à risca todas as regras de concordância verbal segundo a tradição gramatical, materializada na gramática normativa e corporificada na gramática pedagógica, emblema das aulas de língua portuguesa. Nesse sentido, o nosso percurso na análise da concordância pelo viés normativo pautou-se em duas vertentes: análise dos pressupostos na gramática normativa bem como interpretação do discurso da gramática pedagógica. Mormente, faz-se necessário que, antes de qualquer coisa, conceituemos verbo com base em Cunha e Cintra (2008, p. 393) que dizem que verbo é uma palavra de forma variável que exprime o que se passa, isto é, um acontecimento representado pelo tempo. Além disso, acrescentam os autores citados que o VERBO apresenta as variações de NÚ- MERO, de PESSOA, de MODO, de TEMPO, de ASPECTO e de VOZ (p. 393). A partir dessa definição, percebemos que a concordância verbal está intimamente ligada às categorias de número e pessoa. Logo, Cunha e Cintra (2008, p. 510) definem a concordância como sendo a solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância, isto é, na variabilidade do verbo para conformar-se ao número e à pessoa do sujeito. Para esses autores, a concordância evita a repetição do sujeito, que pode ser indicada pela flexão verbal a ele ajustada. (CUNHA & CINTRA, 2008, p. 510) Como podemos ver, na tradição gramatical, são apresentas situações típicas em que o falante deve aplicar a regra geral, observando estruturações condicionantes. Nesse sentido, a relação de solidariedade 704 Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2015.
8 entre o sujeito e o predicado estaria condicionada ao entorno linguístico bem como à constituição do sujeito, chegando até as estruturas que vão além da noção canônica de sujeito. Esse mesmo raciocínio pode ser visto em Vieira (2013, p. 87) para quem os dois últimos casos de concordância verbal demonstram: [...] a inconsistência do tratamento tradicional que, pouco criteriosamente, privilegia ora os aspectos sintáticos ou morfológicos, ora semânticos, e chega a admitir que o verbo concorde com outros termos da oração que não o sujeito. Por outro lado, tais casos denotam a expressiva variabilidade que envolve a concordância verbal, legitimada pelas gramáticas normativas, embora de forma não explícita. (VIEIRA, 2013, p. 87) Nesse sentido, a expressiva variabilidade afigura-se como uma realidade inquestionável no cânone gramatical da língua portuguesa, já que Cunha e Cintra (no âmbito de nosso estudo tomado como um dos vários exemplos que poderiam ser arrolados) esmeram-se por demonstrar que existem regras gerais e regras especiais. Essas, certamente, determinadas por outros elementos que vão além da relação biunívoca da solidariedade expressa pelo sujeito núcleo do predicado verbal. Como exemplar da gramática pedagógica, aquela que corporifica o ensino de língua portuguesa, trazemos a Gramática de Cegalla (2005), obra, a rigor, tomada como modelo para as aulas de Português. O autor, de forma simplificada e metódica, apresenta as regras em relação à concordância verbal em duas vertentes: as regras gerais e os casos especiais de concordância verbal. Que situações devem ser enquadradas nas regras gerais? a) o caso do sujeito simples, b) o caso do sujeito composto e anteposto e c) o caso do sujeito composto por pessoas gramáticodiscursivas diferentes. Para justificar os empregos que não podem se encaixar nas regras primeiramente elaboradas, Cegalla (2005) lança mão do recurso de deixar no alvitre do utente a intenção do emprego de uma forma ou de outra: é lícito, mas não é obrigatório (CEGALLA, 2005, p. 450). A título de exemplo, tomemos o caso do sujeito composto cujo núcleo é formado por duas palavras em gradação: A decência e a honestidade ainda reinava. Para essa situação, o singular justifica-se pelo fato de decência e honestidade, segundo o autor, estarem em grau hierárquico de gradação, logo a honestidade abarcaria a decência o que levaria a uma concordância ad sensum 83. Tais usos poderiam ser vistos em autores diversos, demons- 83 Expressão latina que significa pelo sentido. Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez
9 trando a vernaculidade do emprego. Ao lidar com as regras especiais, Cegalla (2005) aponta que a matéria estudada é complexa e controversa, pois está sujeita a soluções divergentes. Diz, ainda, que as regras traçadas têm, muitas vezes, valor relativo, justificando que a opção por esta ou aquela concordância depende do contexto, da situação e do clima emocional que envolvem o falante ou o escrevente. Surpreendentemente, o autor lista 37 casos especiais, indo desde os núcleos de sujeito ligados por ou (conjunção alternativa), bem como os casos de uso da preposição com, de percentual e do emprego de qual de nós/quais de nós. Observando as regras gerais apresentadas nos compêndios gramaticais, não julgaríamos que os discentes apresentassem maiores dificuldades em estudar a concordância. No entanto, diante do número de exceções, os discentes percebem a inconsistência da formulação das regras e consideram que a língua portuguesa é difícil por ter muitas regras e muitas exceções. Cunha e Cintra (2008) e Cegalla (2005) representam o pensamento da tradição gramatical a respeito de concordância verbal e, por isso, as prescrições desses autores foram aqui citadas. Além do mais, julgamos desnecessário trazer mais autores, vez que, no tocante ao tema em estudo em uma perspectiva apresentada na tradição gramatical, sentimo-nos contemplados Concordância verbal: abordagem variacionista Analisando a concordância verbal pelo viés da sociolinguística variacionista, notamos que as regras impostas pela tradição gramatical não se afinam com as realidades linguísticas encontradas no português do Brasil. Diversos estudos de cunho variacionista 84 estão direcionados para uma nova configuração no paradigma verbal do português do Brasil, o que levaria ao surgimento de outros padrões de concordância, muitas vezes deveras discordante daquele prescrito pela tradição gramatical. 84 Com base em Santos e Silva (2014), podemos listar diversos estudos tais como: Lemle & Naro (1977), Naro (1981), Guy (1981), Rodrigues (1987), Graciosa (1991), Vieira (1995), Espínola (1999), Naro & Scherre (2003), Silva (2003; 2005), Oliveira (2005), Souza (2009) e mais recentemente Araújo (2014). 706 Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2015.
10 É interessante dizer que esses novos padrões perpassam por todos os segmentos sociais, variando, obviamente, conforme o acesso que esses grupos têm às normas que regem sua fala. Qualquer falante erudito demonstra apreciar formas mais requintadas, e até as utiliza cotidianamente, porém não o faz em todos os momentos, assim também podemos afirmar acerca dos menos alfabetizados que nutrem sentimento de apreciação pela boa forma de falar (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 14). Há uma valorização pelas formas mais elaboradas, embora, a nosso ver, essa valorização seja questionável por salientar a desigualdade social. O bom mesmo é permitir que os utentes façam sua opção por esta ou aquela forma sem considerar prestígio social, sem estratificar grupos. No que tange ao uso das regras de concordância, percebemos que, em algumas falas menos monitoradas, apenas a primeira pessoa é flexionada diferente das demais que seguem o mesmo padrão de uso, ou seja, a primeira pessoa tem seu padrão próprio estabelecido naturalmente, as demais seguem a concordância em 3ª pessoa, indistintamente. É importante destacar que há entre os dois polos rurais/rurbanos vs urbanos um continuum de variação bem descrito por Bortoni-Ricardo (2005), cujos trabalhos, desde então, apontam para diversas normas coexistentes no Português do Brasil. Nesse sentido, Bagno (2011) assevera que a concordância entre o sujeito e o verbo não poderia se dar em certas variedades do Português, já que para alguns falantes o paradigma verbal estaria distante daquele previsto pela tradição com a forma de expressão da língua. Haveria, portanto, variedades de menor prestígio social e variedade de maior prestígio social e tais variedades espelhariam nova configuração do paradigma verbal do Português do Brasil. Santos (2013), em sua pesquisa sociolinguística, apresenta alguns fatores que condicionam os falantes a usarem e, consequentemente, a não usarem a norma de prestígio. Para esse autor, seriam os seguintes fatores condicionantes: a) realização e posição do sujeito; b) concordância nominal no sujeito entre os elementos formadores do sintagma nominal; c) caracterização semântica do sujeito (maior ou menor animacidade); d) forma de indicação do plural do sujeito (lexical, pronominal); e) saliência verbal; e f) tempo do verbo e tipo de verbo. Como o autor lida com falantes do português popular do Brasil, nos dados por ele obtidos é revelado um percurso que deve ser seguido no ensino da norma de prestígio àqueles que têm como vernáculo o Por- Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez
11 tuguês popular e chegam à escola para apreender uma variedade que lhe facilitará, via de regra, a inserção no mercado de trabalho, cada vez mais exigente no que tange ao uso das regras da gramática tradicional. A esse respeito, como uma espécie de reforço, ressaltamos que é comum hoje programas educativos e jornalísticos apresentarem quadros em que se ensinam as regras de comportamento para os que buscam novas colocações profissionais, incorporando a essas as regras que regem a boa fala, como se fosse possível ensinar a língua dessa forma, muitas vezes, descontextualizada Influência de aspectos escolares no uso das regras de concordância Silva (2003) e Mollica (2003) reafirmam que a variação da concordância verbal é um dos fenômenos do português do Brasil que são avaliados pelos ditames da cultura letrada. Vejamos a fala de Silva (2003): A concordância verbal pode ser vista como um diferenciador das classes sociais. Essa realidade manifesta-se no ambiente escolar e fora dele no momento em que um dos falantes do português em situação formal não aplica a regra e sofre a sanção dos que o ouvem. Além disso, o nível de aplicação da regra de concordância não é o mesmo se tomarmos o português popular e o português culto. (SILVA, 2003, p. 1). Podemos afirmar, então, que o enfrentamento da aprendizagem da norma padrão ou de prestígio tem que ser uma das tarefas da escola e não a tarefa da escola. Nesse sentido, o ambiente escolar deve ser adequado, também, para a criação das condições que levem ao aprendizado sem fomentar as diferenças de classes sociais. Assim, a pesquisa linguística e a sociolinguística apresentam ferramentas seguras para as práticas pedagógicas, no momento em que servem para popularizar o saber científico, divulgando-o. É importante considerar que as camadas populares, no Brasil, têm estado distantes das vantagens oriundas do progresso da ciência. Portanto, podemos dizer que a escola brasileira não é eficiente e que a evasão escolar atinge índices espantosos. Assim, estamos nos referindo às escolas populares (públicas ou não) que, além de sofrerem outras privações, não têm beneficiado ou têm beneficiado pouquíssimo das novas formulações da linguística. Os alunos de classe média, a rigor, não evadem da instituição escolar, são bem alfabetizados, sua escola é eficaz, pelo me- 708 Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2015.
12 nos desse ponto de vista. O que pretendemos por meio dessas considerações, é explicitar a influência do nível de escolaridade e da qualidade do ensino na aplicação das regras de concordância. É necessário que o aluno tenha consciência das estruturas linguísticas que lhe permitem reconhecer as relações que envolvem o sujeito e o núcleo do predicado. O que fará a diferença, na verdade, é como essa consciência será formada e que estratégias o professor usará para levar o aluno a compreender essa harmonia sujeitoverbo a ser estabelecida. Na escola, não se pode ignorar as divergências sociolinguísticas existentes e comumente apresentadas na sala de aula. Com base em Perini (2007, p. 186), podemos afirmar, ainda, que a concordância verbal é um sistema de condições de harmonização entre o sujeito e o núcleo do predicado das orações. Contudo, sabemos que a língua portuguesa possui redundâncias quanto à concordância, que a concordância verbal traz consigo vários mecanismos para tal fim e que muitas dessas adequações já são aceitas e referendadas. Obviamente, caberá à escola apresentar a regra e trabalhá-la consignada aos diversos usos apresentados pelos alunos para despertar nesse discente sentimento de segurança e, assim, nas palavras de Vieira (2013), O que nos parece imprescindível é que as propostas de ensino da concordância decorram de uma forma realista de encarar a diversidade, traço inerente de qualquer língua, e se baseiam na observação sistemática do comportamento de dados concretos (VIEIRA, 2013, p. 97). É bom que se diga, também, que as variações existem e não podem ser relegadas ao senso comum do erro, mas devem ser vistas como mais uma forma de funcionamento da língua, formas que facilitam a comunicação. É papel da escola também trabalhar a aceitação e reconhecimento dessas formas. O aluno quando chega à escola traz consigo uma gramática internalizada, conforme tratamos na seção anterior, constituída por meio das relações estabelecidas ao longo de sua trajetória, e esse conhecimento não pode ser simplesmente descartado, tem que ser respeitado e valorizado sem negar-lhe o direito de conhecer e aprender as variantes de prestígio. É importante que no material de suporte, a exemplo do livro didático, sejam trazidas abordagens não só baseadas na gramática tradicional, mas também sejam apresentados modelos de variação/mudança corriqueiramente utilizados. Os alunos precisam tomar conhecimento de que a língua tem várias nuances de fala que devem ser reconhecidas. O ensino, Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez
13 nesse sentido, tem que ser bidialetal. Realizada a abordagem inicial sobre concordância verbal, na subseção que segue, faremos uma breve análise de como a variação linguística é tratada em dois modelos de livros didáticos apresentados pelo MEC, no ano de Concordância verbal: abordagem a partir do livro didático Nos livros didáticos, são trazidas definições com base na gramática tradicional, mas muito poucas são as abordagens das possibilidades de variação presentes no cotidiano de falantes de classes diversas, quando muito é abordada a variação de forma sucinta e superficial. Ao analisar esse aspecto da abordagem da variação nos livros didáticos, é necessário observar: (i) como é apresentada a questão da variação linguística e (ii) se o livro didático é coerente quando trata sobre variação e se, ao mostrar fenômenos linguísticos altamente estigmatizados (especificamente, a concordância verbal), há considerações sobre a variabilidade desses fenômenos. Para este estudo, utilizamos como referência dois exemplares didáticos, recomendados pelo MEC, em 2014, para o 9º ano. Tais livros têm a chancela ministerial e são distribuídos às escolas do país, e foram escolhidos para essa análise por serem os livros adotados pela Escola Municipal Francisco Antônio de Vasconcelos. Buscamos, então, ler os sumários dos livros que foram analisados para percebermos em quais capítulos é tratada a concordância verbal, objeto desta pesquisa. No primeiro livro, intitulado Português: Projeto Terális, existem dois momentos para tratar a concordância verbal. Na primeira abordagem de concordância verbal, presente na página 224, na seção Língua: usos e reflexão, capítulo 7, a questão da variação é tratada apenas como informação baseada em uma música de Patativa do Assaré, uma linguagem mais musicada, poética, literária e tida como regional. No entanto, não há exploração de outras formas de expressão da língua. Nesse sentido, não são apresentadas outras possibilidades de uso das variações nas formas de concordância tão presentes no cotidiano do aluno, embora a composição de Patativa do Assaré permita tal abordagem. Os exercícios são todos voltados para a gramática tradicional. Fica em nós a impressão de que um uso que foge às regras tradicionais serve para a literatura, para as músicas que retratam a linguagem 710 Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2015.
14 mais característica e que se configuram como textos que possuem a conhecida licença poética, mas não serve para estabelecer a comunicação entre as pessoas. Caso seja usada, será vista como erro. No segundo momento, seção Língua: usos e reflexão do capítulo 8, página 256, a abordagem é sobre a concordância na voz passiva com pronome apassivador se, o verbo acompanhado de pronome se, indicador de indeterminação do sujeito, verbos impessoais, verbo ser e silepse. Nessa abordagem, também, não há nenhuma atividade que direcione o aluno a refletir sobre as diversas possibilidades de uso da concordância. No livro Vontade de saber português, há, mais do que no primeiro, um posicionamento unilateral sobre a concordância verbal, baseado exclusivamente na gramática tradicional. Na página 200, seção A língua em estudo, da unidade 5, inicia-se o assunto com uma tirinha de Hagar e seus companheiros vikings com apenas um quadrinho em que o narrador flexiona o verbo na 3ª pessoa do plural. Tavares e Conselvan (2012, p. 200), autoras dessa coleção didática, seguem a atividade apresentando uma interpretação em conformidade com o estudo das regras de concordância verbal e informam que há concordância verbal quando o verbo concorda em número (singular/plural) e pessoa (1ª, 2ª e 3ª) com o sujeito a que se refere (p. 200) e dão continuidade especificando os casos de concordância, incluindo os verbos seguidos da partícula se. Os exercícios sugeridos nesse exemplar têm como base a gramática tradicional e, nestes, não é apresentada nenhuma questão envolvendo outras formas de uso da concordância. Interessante observar que tais abordagens gramaticais são realizadas em seções intituladas língua: usos e reflexão e a língua em estudo. Se, nas seções, estivesse configurado o que é sugerido nos títulos, certamente, a análise estaria próxima ao que propomos em nosso estudo. Com essa observação mais acurada em duas coleções de livros didáticos de língua portuguesa, podemos afirmar que, nos livros didáticos em análise, não é abordada com precisão a questão da variação tão presente nos falares com reflexos tão comuns nos textos escritos. Dessa forma, a gramática que impera nesse espaço é a prescritiva e não a descritiva, conforme discutimos em seção anterior. É importante ressaltar que, na escola, o compromisso é ensinar a norma culta, mas isso não significa eliminar ou ignorar a forma de fala trazida pelo aluno. Ao contrário disso, defendemos que os diversos falares estejam presentes não Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez
15 apenas nas conversas na sala de aula, mas, também, nas reflexões teóricas sobre a língua. Os professores, por sua vez, além dessas questões que permeiam o livro didático, encontram imensas dificuldades para trabalhar o conteúdo, por não conseguirem outros suportes substanciais para tal trabalho, pois ainda está bastante arraigada a ideia de que, na escola, deve-se apresentar aos alunos apenas a modalidade das regras da norma culta, ratificando o que é certo e o que é errado, impondo uma padronização que já não cabe mais. Quanto a isso, é importante ressaltar que trabalhar com o ensino de língua portuguesa é muito mais do que relacionar o que é certo e o que é errado: é compreender seu funcionamento hoje, e no passado, em um processo dinâmico de capacitação dos alunos para a produção de textos orais e escritos os mais variados. (BARBOSA, 2013, p. 31) Particularizando em relação à terceira pessoa do plural (eles/elas), caracterizada como indicador da pessoa de quem se fala no discurso, é importante apontarmos que o uso da forma não padrão vem permeada de censura da cultura letrada, pois, segundo Mollica (2003, p. 68), são fenômenos que se sujeitam fortemente à avaliação social positiva ou negativa, dependendo do uso standard ou não standard da variante. 3. Análise e discussão de dados Evidenciamos os resultados obtidos na análise dos dados apresentados pelos discentes do 9º ano da Escola Municipal Francisco Antônio Vasconcelos. Apresentamos a análise e discussão dos resultados referentes às variáveis linguísticas e sociais levando em conta a caracterização feita e as hipóteses levantadas para as variáveis. Levantamos e codificamos todas as ocorrências de P6, excluindo todas as que não se encaixavam nos critérios estabelecidos. Os resultados que tivemos foram os seguintes: em 20 textos, foram encontradas 402 ocorrências de uso do verbo em 3ª pessoa do plural, usadas como base de dados desta pesquisa. Vale salientar que, nesse total, houve 74,9% de aplicação da variante padrão e 25,1% de aplicação da variante não-padrão. Assim, nossa análise foi realizada a partir dos seguintes fatores linguísticos: i) Realização e posição do sujeito; ii) Concordância nominal do sujeito; iii) Indicação do plural no sintagma nominal sujeito; iv) Caracterização semântica do sujeito; v) Tipos de verbo; vi) Saliência fônica e vii) Forma do último constituinte do sintagma nominal sujeito que está antes do verbo. Quanto aos fatores extralinguísticos, baseamo-nos em: i) 712 Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2015.
16 Sexo; ii) Escolaridade da mãe; iii) Quantidade de livros lidos por ano e iv) Acesso à internet. Apresentaremos, a seguir, as variáveis na ordem de importância apontado pelo programa Goldvarb No fator de concordância nominal do sujeito, nossa hipótese se baseia no princípio de que se o utente faz concordância no sintagma nominal, ele a fará também com o verbo. Pudemos verificar nas ocorrências realizadas pelos nossos informantes que isso está comprovado, vez que, das 118 ocorrências, apenas 6 não foram realizadas com a concordância seguindo as regras gramaticais normativas. No fator indicação do plural no sintagma nominal sujeito, nossa hipótese é a de que a constituição e formação do plural são fatores condicionantes da aplicação da regra que diz que o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral concordam com o substantivo a que se referem em gênero e número. Segundo os dados que coletamos, o que mais favorece a aplicação do plural no verbo é a concordância mórfica que aparece em 198 realizações, com apenas 42 sem realização de concordância segundo a gramática normativa. Há muito que a realização e posição do sujeito são investigadas no tratamento da concordância verbal. Por isso, torna-se salutar que percebamos a realização do sujeito e a posição deste na frase, analisando a sua proximidade entre o núcleo do sintagma nominal e o núcleo do verbo. A nossa hipótese era que a proximidade do sujeito ao verbo favorecesse a realização da concordância verbal. Isso foi comprovado através de nossa pesquisa, cujos dados mostram que quanto mais próximos sujeito e verbo, maior a possibilidade de realização da concordância verbal. Contudo, a anteposição do sujeito favorece consideravelmente essa realização. A saliência fônica tem sido bastante recorrida para explicação das tendências de realização da concordância verbal. Silva (2005, p. 256) afirma que tal princípio não só conjuga elementos fonéticos, mas também mórficos na caracterização dos níveis de relevância ou saliência. Prossegue na sua análise dizendo que além disso, a saliência inclui a tonicidade da estrutura linguística que marca a flexão verbal. Assim, considerando nossa hipótese de que quanto mais material fônico-morfológico for usado para marcar a diferença singular/plural, mais haverá tendência de marcação de plural, podemos afirmar que o nível que mais apresentou uso da concordância verbal foi o que a saliência fônica foi mais perceptível, ou seja, o nível em que há acréscimo de segmento com supressão da semivogal do singular ou mudança de tonicidade. Julgamos Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez
17 procedente juntar estes casos com as ocorrências de ditongação ou mudança de qualidade, visto que apresentam semelhanças consideráveis. Quando analisamos a caracterização semântica do sujeito sob a hipótese de que a animacidade vai determinar uma tendência de maior aplicação ou não da regra de concordância, observamos que é fato o predomínio de realização da concordância. O traço [+ humano] aumenta a frequência de concordância verbal. No que tange ao tipo de verbo, baseamos na hipótese de que o tipo de verbo, a sua transitividade e a natureza vão condicionar a aplicação ou não da regra de concordância. Verificamos que a maior ocorrência de aplicação da regra, em percentuais, foi apresentada no verbo transitivo com 85% de frequência, seguido dos verbos transitivos (76% de frequência); o de menor índice foi o verbo auxiliar com 66,7% de frequência. Os nossos dados coincidem com os dados apresentados por Batista (2015) apenas na influência dos verbos intransitivos, transitivos e locativos. A menor influência apontada nos estudos da pesquisadora é dos verbos de ligação. A última variável linguística selecionada pelo programa foi a forma do último constituinte do sintagma nominal sujeito que está antes do verbo, cuja hipótese que nos orienta é a de que a presença de marca de plural pode influenciar a realização da regra. O que são apresentados nos dados é que, a maior realização de concordância verbal se deu nas construções em que o núcleo do sujeito apresenta marca de plural. Fazendo uma retomada das variáveis influenciadoras da aplicação das regras de concordância, concluímos, então, que a realização do sujeito na oração é determinante para a realização da concordância verbal. A realização fonética do sujeito imediatamente antes do verbo também colabora de forma salutar com a concordância verbal. Além do mais, pudemos firmar que o traço semântico [+humano] é influenciador da realização da concordância verbal e o [-humano] desfavorece a realização das regras de concordância. No que tange à saliência fônica, foi observado que a oposição singular/plural é mais evidenciada nas realizações em que a oposição se dá pelo acréscimo de segmento com supressão da semivogal do singular ou mudança de tonicidade. Os fatores extralinguísticos analisados por nós, conforme salientamos anteriormente, foram o sexo dos informantes, a escolaridade da mãe, a quantidade de livros lidos por ano e o acesso à internet. A primeira variável, sexo dos informantes, apresenta-nos algo interessante que 714 Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2015.
18 contrapõe estudos anteriores: o sexo feminino não realiza, em nossa amostra de análise, mais as regras de concordância do que o sexo masculino. O que tem levado o sexo masculino a realizar mais concordância? Segundo Silva (2005, p. 277), os homens, a depender do contexto rural ou urbano, tendem a adquirir as formas prestigiadas mais cedo do que as mulheres. Na variável escolaridade da mãe fica evidenciado que a formação escolar da genitora influencia na realização da concordância verbal dos alunos; já a quantidade de livros lidos por ano, parece-nos que é condicionante para o uso das regras de concordância; o acesso à internet também tem marca relevante nessa influência, pois os dados nos oferecem informação de que dos 378 informantes que usam a ferramenta apenas 25,9% não realizam as regras de concordância. Concluímos, enfim, que as variáveis sociais são fortes influenciadoras para a realização das regras de concordância verbal nos textos escritos. Os homens empregam mais a concordância verbal segundo a gramática normativa por terem maior inserção em outros ambientes extra- -familiares; a escolaridade da mãe, com quem o informante tem maior contato dentro da família, é importante para o desenvolvimento da criança; há também um alto indicativo de que o acesso à internet tem influência relevante, jogando por terra o senso comum de que a internet prejudica a leitura e escrita. 4. Conclusão A concordância verbal, submetida a tantas regras na gramática normativa, é regida por diversos fatores que podem influenciar na sua realização ou não. Conforme vimos nesta pesquisa, há fatores que influenciam de forma mais incisiva, do ponto de vista linguístico, a exemplo da posição anteposta do sujeito, do plural do sintagma nominal sujeito, a concordância nominal no sujeito, a caracterização do sujeito, o tipo de verbo, a saliência fônica e a forma do último constituinte do sintagma nominal sujeito antes do verbo. E há fatores que influenciam, do ponto de vista extralinguístico, como o entorno social do utente, fator que, também, produz variáveis importantes para a realização ou não das regras de concordância. Esta pesquisa tem a sua importância à medida que direciona os professores a conhecerem as influências que seus alunos possuem para a realização da concordância verbal nas suas construções, assim como reconhecerem que a ausência de aplicação de regras nem sempre atrapalha Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez
19 a comunicação, exceto em casos mais gritantes. Assim, este profissional poderá trabalhar com mais segurança e perceber em que situações e de que formas poderá e deverá intervir. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BAGNO, Marcos. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola, BARBOSA, Afrânio Gonçalves. Saberes gramaticais na escola. In: VI- EIRA, Silvia Rodrigues; BRANDÃO, Sílvia Figueiredo. (Orgs.). Ensino de gramática: descrição e uso. São Paulo: Contexto, 2013, p BORGATTO, Ana Maria Trinconi; BERTIN, Terezinha Costa Hashimoto; MARCHEZI, Vera Lúcia de Carvalho. Projeto Teláris: português. São Paulo: Ática, BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Nós chegamu na escola, e agora? Sociolinguística & educação. São Paulo: Parábola, CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46. ed. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, HORA, Dermeval da (Org.). Teoria da variação: trajetória de uma proposta. In:. Estudos sociolinguísticos: perfil de uma comunidade. João Pessoa: UFPB, 2004, p MOLLICA, Maria Cecília. Da linguagem coloquial à escrita padrão. Rio de Janeiro: 7 Letras, NEVES, Maria Helena de Moura. Que gramática estudar na escola? 4. ed. 1ª reimpr. São Paulo: Contexto, PERINI, Mário A. Gramática descritiva do português. 4. ed. São Paulo: Ática, POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado de Letras/Associação de Leitura do Brasil, SANTOS, Danilo da Silva. A concordância verbal no português popular do Brasil: aspectos empírico-teóricos da concordância verbal na terceira pessoa do plural ou P6 na comunidade de Vitória da Conquista BA. 716 Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez.2015.
20 2013. Dissertação (de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Linguística), UESB, Vitória da Conquista. SILVA, Jorge Augusto Alves da. A concordância verbal no português afro-brasileiro: um estudo sociolinguístico de três comunidades rurais da Bahia. Dissertação (Mestrado em Letras). Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, Salvador, A concordância verbal de terceira pessoa do plural no português popular do Brasil: um panorama sociolinguístico de três comunidades do interior do Estado da Bahia Tese (Doutorado em Letras). Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, Salvador. TARALLO, Fernando. A pesquisa sociolinguística. 5. ed. São Paulo: Ática, TAVARES, Rosemeire Aparecida Alves; CONSELVAN, Tatiane Brugnerotto. Vontade de saber português, 9º ano. São Paulo: FTD, VIEIRA, Silvia Rodrigues. Concordância verbal. In: VIEIRA, Silvia Rodrigues; BRANDÃO, Silvia Figueiredo. (Orgs.). Ensino de gramática: descrição e uso. São Paulo: Contexto, 2013, p Revista Philologus, Ano 21, N 63 Supl.: Anais da X CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, set./dez
A CONCORDÂNCIA VERBAL DE TERCEIRA PESSOA DO PLURAL NO PORTUGUÊS POPULAR DA COMUNIDADE RURAL DE RIO DAS RÃS - BA
 Página 57 de 510 A CONCORDÂNCIA VERBAL DE TERCEIRA PESSOA DO PLURAL NO PORTUGUÊS POPULAR DA COMUNIDADE RURAL DE RIO DAS RÃS - BA Juscimaura Lima Cangirana (UESB) Elisângela Gonçalves (UESB) RESUMO Procura-se,
Página 57 de 510 A CONCORDÂNCIA VERBAL DE TERCEIRA PESSOA DO PLURAL NO PORTUGUÊS POPULAR DA COMUNIDADE RURAL DE RIO DAS RÃS - BA Juscimaura Lima Cangirana (UESB) Elisângela Gonçalves (UESB) RESUMO Procura-se,
XI COLÓQUIO DO MUSEU PEDAGÓGICO 14 a 16 de outubro de Elenita Alves Barbosa ****** (UESB) Valéria Viana Sousa (UESB)
 FATORES LINGUÍSTICOS E EXTRALINGUÍSTICOS QUE IMPULSIONAM A CONCORDÂNCIA VERBAL EM ALUNOS DO 9º ANO Elenita Alves Barbosa ****** (UESB) Valéria Viana Sousa (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva (UESB) RESUMO
FATORES LINGUÍSTICOS E EXTRALINGUÍSTICOS QUE IMPULSIONAM A CONCORDÂNCIA VERBAL EM ALUNOS DO 9º ANO Elenita Alves Barbosa ****** (UESB) Valéria Viana Sousa (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva (UESB) RESUMO
UMA ANÁLISE SOCIOFUNCIONALISTA DA DUPLA NEGAÇÃO NO SERTÃO DA RESSACA
 Página 143 de 511 UMA ANÁLISE SOCIOFUNCIONALISTA DA DUPLA NEGAÇÃO NO SERTÃO DA RESSACA Savanna Souza de Castro Julinara Silva Vieira Valéria Viana Sousa Jorge Augusto Alves Silva RESUMO A negação é um
Página 143 de 511 UMA ANÁLISE SOCIOFUNCIONALISTA DA DUPLA NEGAÇÃO NO SERTÃO DA RESSACA Savanna Souza de Castro Julinara Silva Vieira Valéria Viana Sousa Jorge Augusto Alves Silva RESUMO A negação é um
GRAMATICALIZAÇÃO DO PRONOME PESSOAL DE TERCEIRA PESSOA NA FUNÇÃO ACUSATIVA
 Página 133 de 511 GRAMATICALIZAÇÃO DO PRONOME PESSOAL DE TERCEIRA PESSOA NA FUNÇÃO ACUSATIVA Elizane de Souza Teles Silva Jodalmara Oliveira Rocha Teixeira Jorge Augusto Alves da Silva Valéria Viana Sousa
Página 133 de 511 GRAMATICALIZAÇÃO DO PRONOME PESSOAL DE TERCEIRA PESSOA NA FUNÇÃO ACUSATIVA Elizane de Souza Teles Silva Jodalmara Oliveira Rocha Teixeira Jorge Augusto Alves da Silva Valéria Viana Sousa
A REALIZAÇÃO DO SUJEITO PRONOMINAL DE REFERÊNCIA ARBITRÁRIA NA COMUNIDADE LINGUÍSTICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA *
 249 de 298 A REALIZAÇÃO DO SUJEITO PRONOMINAL DE REFERÊNCIA ARBITRÁRIA NA COMUNIDADE LINGUÍSTICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA * Daiane Gomes Bahia ** Elisângela Gonçalves *** Paula Barreto Silva **** RESUMO
249 de 298 A REALIZAÇÃO DO SUJEITO PRONOMINAL DE REFERÊNCIA ARBITRÁRIA NA COMUNIDADE LINGUÍSTICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA * Daiane Gomes Bahia ** Elisângela Gonçalves *** Paula Barreto Silva **** RESUMO
A VARIAÇÃO NÓS/ A GENTE NO PORTUGUÊS FALADO DE FEIRA DE SANTANA: COMPARAÇÃO ENTRE FALARES DO PB
 Página 63 de 510 A VARIAÇÃO NÓS/ A GENTE NO PORTUGUÊS FALADO DE FEIRA DE SANTANA: COMPARAÇÃO ENTRE FALARES DO PB Josany Maria de Jesus Silva (CAPES/UESB/PPGLin) Cristiane Namiuti Temponi (UESB/PPGLin)
Página 63 de 510 A VARIAÇÃO NÓS/ A GENTE NO PORTUGUÊS FALADO DE FEIRA DE SANTANA: COMPARAÇÃO ENTRE FALARES DO PB Josany Maria de Jesus Silva (CAPES/UESB/PPGLin) Cristiane Namiuti Temponi (UESB/PPGLin)
CRENÇAS QUE ALUNOS DE LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS MANIFESTAM A RESPEITO DO PAPEL DA GRAMÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
 CRENÇAS QUE ALUNOS DE LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS MANIFESTAM A RESPEITO DO PAPEL DA GRAMÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Maria Avelino de Araujo (BIC/ARAUCÁRIA), Letícia Fraga (Orientadora), e- mail: leticiafraga@gmail.com
CRENÇAS QUE ALUNOS DE LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS MANIFESTAM A RESPEITO DO PAPEL DA GRAMÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Maria Avelino de Araujo (BIC/ARAUCÁRIA), Letícia Fraga (Orientadora), e- mail: leticiafraga@gmail.com
A VARIAÇÃO DO MODO SUBJUNTIVO: UMA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE EXPRESSÃO DE MODALIDADES
 477 de 663 A VARIAÇÃO DO MODO SUBJUNTIVO: UMA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE EXPRESSÃO DE MODALIDADES Vânia Raquel Santos Amorim 148 (UESB) Valéria Viana Sousa 149 (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva 150 (UESB)
477 de 663 A VARIAÇÃO DO MODO SUBJUNTIVO: UMA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE EXPRESSÃO DE MODALIDADES Vânia Raquel Santos Amorim 148 (UESB) Valéria Viana Sousa 149 (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva 150 (UESB)
OS DIFERENTES CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE PALAVRAS EM GRAMÁTICAS ESCOLARES
 OS DIFERENTES CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE PALAVRAS EM GRAMÁTICAS ESCOLARES Maria Luiza Casado Silva casadoluiza01@gmail.com Luana Lima Cabral da Silva luannnalima78@gmail.com Universidade
OS DIFERENTES CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE PALAVRAS EM GRAMÁTICAS ESCOLARES Maria Luiza Casado Silva casadoluiza01@gmail.com Luana Lima Cabral da Silva luannnalima78@gmail.com Universidade
A CONCORDÂNCIA VERBAL: A RELEVÂNCIA DAS VARIÁVEIS LINGÜÍSTICAS E NÃO LINGÜÍSTICAS
 543 A CONCORDÂNCIA VERBAL: A RELEVÂNCIA DAS VARIÁVEIS LINGÜÍSTICAS E NÃO LINGÜÍSTICAS Constância Maria Borges de Souza * Introdução Os estudos da Concordância Verbal têm demonstrado que os falantes de
543 A CONCORDÂNCIA VERBAL: A RELEVÂNCIA DAS VARIÁVEIS LINGÜÍSTICAS E NÃO LINGÜÍSTICAS Constância Maria Borges de Souza * Introdução Os estudos da Concordância Verbal têm demonstrado que os falantes de
Apresentação Conceitos básicos Gramática, variação e normas Saberes gramaticais na escola... 31
 Sumário Apresentação... 9 Conceitos básicos... 11 Gramática, variação e normas... 13 Dinah Callou A propósito de gramática e norma... 15 O ensino e a constituição de normas no Brasil... 21 A propósito
Sumário Apresentação... 9 Conceitos básicos... 11 Gramática, variação e normas... 13 Dinah Callou A propósito de gramática e norma... 15 O ensino e a constituição de normas no Brasil... 21 A propósito
REFLEXÕES SOBRE A FUNÇÃO SINTÁTICA DE ATRIBUTO Antônio Sérgio Cavalcante da Cunha (UERJ; UNESA)
 DEPARTAMENTO DE LETRAS REFLEXÕES SOBRE A FUNÇÃO SINTÁTICA DE ATRIBUTO Antônio Sérgio Cavalcante da Cunha (UERJ; UNESA) sergio03@ism.com.br INTRODUÇÃO O presente artigo pretende fazer uma reflexão sobre
DEPARTAMENTO DE LETRAS REFLEXÕES SOBRE A FUNÇÃO SINTÁTICA DE ATRIBUTO Antônio Sérgio Cavalcante da Cunha (UERJ; UNESA) sergio03@ism.com.br INTRODUÇÃO O presente artigo pretende fazer uma reflexão sobre
BREVE REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DA CONCORDÂNCIA VERBAL EM UM LIVRO DIDÁTICO
 BREVE REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DA CONCORDÂNCIA VERBAL EM UM LIVRO DIDÁTICO Levi Rosa de Campos 1 1 Universidade Federal de Minas Gerais / Profletras / Faculdade de Letras Resumo: O presente trabalho tem
BREVE REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DA CONCORDÂNCIA VERBAL EM UM LIVRO DIDÁTICO Levi Rosa de Campos 1 1 Universidade Federal de Minas Gerais / Profletras / Faculdade de Letras Resumo: O presente trabalho tem
CRIAÇÃO LEXICAL: O USO DE NEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS FALADO EM DOURADOS
 CRIAÇÃO LEXICAL: O USO DE NEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS FALADO EM DOURADOS Paulo Gerson Rodrigues Stefanello ¹; Elza Sabino da Silva Bueno². ¹Aluno do 4º ano do Curso de Letras Português/Espanhol. Bolsista
CRIAÇÃO LEXICAL: O USO DE NEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS FALADO EM DOURADOS Paulo Gerson Rodrigues Stefanello ¹; Elza Sabino da Silva Bueno². ¹Aluno do 4º ano do Curso de Letras Português/Espanhol. Bolsista
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
 A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: PARTE INTEGRANTE DA LÍNGUA Patricia Damasceno Fernandes (UEMS) damasceno75@gmail.com Natalina Sierra Assêncio Costa (UEMS) nattysierra2011@hotmail.com RESUMO O presente trabalho
A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: PARTE INTEGRANTE DA LÍNGUA Patricia Damasceno Fernandes (UEMS) damasceno75@gmail.com Natalina Sierra Assêncio Costa (UEMS) nattysierra2011@hotmail.com RESUMO O presente trabalho
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA SALA DE AULA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA SALA DE AULA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA Ana Paula de Souza Fernandes Universidade Estadual da Paraíba. E-mail: Aplins-@hotmail.com Beatriz Viera de
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA SALA DE AULA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA Ana Paula de Souza Fernandes Universidade Estadual da Paraíba. E-mail: Aplins-@hotmail.com Beatriz Viera de
Raquel Pereira Maciel PG/UFMS. Justificativa
 NEOLOGIA LEXICAL: ESTUDO DOS SUFIXOS VERBAIS AR E IZAR NA FORMAÇÃO DE NOVOS LÉXICOS DO CAMPO SEMÂNTICO DA ALIMENTAÇÃO NO PORTUGUÊS FALADO EM PONTA PORÃ/BRASIL PEDRO JUAN CABALLERO/PARAGUAI Raquel Pereira
NEOLOGIA LEXICAL: ESTUDO DOS SUFIXOS VERBAIS AR E IZAR NA FORMAÇÃO DE NOVOS LÉXICOS DO CAMPO SEMÂNTICO DA ALIMENTAÇÃO NO PORTUGUÊS FALADO EM PONTA PORÃ/BRASIL PEDRO JUAN CABALLERO/PARAGUAI Raquel Pereira
ENSINO DE GRAMÁTICA: A PRÁXIS DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
 ENSINO DE GRAMÁTICA: A PRÁXIS DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA Sueilton Junior Braz de Lima Graduando da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) Josefa Lidianne de Paiva
ENSINO DE GRAMÁTICA: A PRÁXIS DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA Sueilton Junior Braz de Lima Graduando da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) Josefa Lidianne de Paiva
PROBLEMAS LINGUÍSTICOS - A SINTAXE DE CONCORDÂNCIA. Profª Ms. Marina Miotto Negrão
 PROBLEMAS LINGUÍSTICOS - A SINTAXE DE CONCORDÂNCIA Profª Ms. Marina Miotto Negrão Introdução O ser humano compreendeu que a comunicação é essencial para a vida e, para que ela ocorra de forma completa,
PROBLEMAS LINGUÍSTICOS - A SINTAXE DE CONCORDÂNCIA Profª Ms. Marina Miotto Negrão Introdução O ser humano compreendeu que a comunicação é essencial para a vida e, para que ela ocorra de forma completa,
A FLEXÃO PORTUGUESA: ELEMENTOS QUE DESMISTIFICAM O CONCEITO DE QUE FLEXÃO E CONCORDÂNCIA SÃO CATEGORIAS SINTÁTICAS DEPENDENTES 27
 Página 75 de 315 A FLEXÃO PORTUGUESA: ELEMENTOS QUE DESMISTIFICAM O CONCEITO DE QUE FLEXÃO E CONCORDÂNCIA SÃO CATEGORIAS SINTÁTICAS DEPENDENTES 27 Iany França Pereira 28 (UESB) Cristiane Namiuti Temponi
Página 75 de 315 A FLEXÃO PORTUGUESA: ELEMENTOS QUE DESMISTIFICAM O CONCEITO DE QUE FLEXÃO E CONCORDÂNCIA SÃO CATEGORIAS SINTÁTICAS DEPENDENTES 27 Iany França Pereira 28 (UESB) Cristiane Namiuti Temponi
A SOCIOLINGUÍSTICA E O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA: UMA PROPOSTA BASEADA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS
 A SOCIOLINGUÍSTICA E O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA: UMA PROPOSTA BASEADA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS Fabiana Gonçalves de Lima Universidade Federal da Paraíba fabianalima1304@gmail.com INTRODUÇÃO
A SOCIOLINGUÍSTICA E O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA: UMA PROPOSTA BASEADA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS Fabiana Gonçalves de Lima Universidade Federal da Paraíba fabianalima1304@gmail.com INTRODUÇÃO
USO DO FUTURO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO EM BLOG JORNALÍSTICO: UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A GRAMATICALIZAÇÃO DO ITEM IR
 463 de 663 USO DO FUTURO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO EM BLOG JORNALÍSTICO: UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A GRAMATICALIZAÇÃO DO ITEM IR Milca Cerqueira Etinger Silva 142 (UESB) Gilsileide Cristina Barros Lima
463 de 663 USO DO FUTURO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO EM BLOG JORNALÍSTICO: UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A GRAMATICALIZAÇÃO DO ITEM IR Milca Cerqueira Etinger Silva 142 (UESB) Gilsileide Cristina Barros Lima
GENEROS TEXTUAIS E O LIVRO DIDÁTICO: DESAFIOS DO TRABALHO
 GENEROS TEXTUAIS E O LIVRO DIDÁTICO: DESAFIOS DO TRABALHO Fernanda Félix da Costa Batista 1 INTRODUÇÃO O trabalho com gêneros textuais é um grande desafio que a escola tenta vencer, para isso os livros
GENEROS TEXTUAIS E O LIVRO DIDÁTICO: DESAFIOS DO TRABALHO Fernanda Félix da Costa Batista 1 INTRODUÇÃO O trabalho com gêneros textuais é um grande desafio que a escola tenta vencer, para isso os livros
INFLUÊNCIAS PROSÓDICAS, ACÚSTICAS E GRAMATICAIS SOBRE A PONTUAÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS
 Página 21 de 315 INFLUÊNCIAS PROSÓDICAS, ACÚSTICAS E GRAMATICAIS SOBRE A PONTUAÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS José Júnior Dias da Silva 5 (UESB) Vera Pacheco 6 (UESB) RESUMO O presente trabalho visa analisar redações
Página 21 de 315 INFLUÊNCIAS PROSÓDICAS, ACÚSTICAS E GRAMATICAIS SOBRE A PONTUAÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS José Júnior Dias da Silva 5 (UESB) Vera Pacheco 6 (UESB) RESUMO O presente trabalho visa analisar redações
A IMPORTÂNCIA DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE GÊNEROS
 A IMPORTÂNCIA DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE GÊNEROS Autora: Maria Karolina Regis da Silva Universidade Federal da Paraíba UFPB karolina0715@hotmail.com Resumo: A ideia de apresentar diversos
A IMPORTÂNCIA DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE GÊNEROS Autora: Maria Karolina Regis da Silva Universidade Federal da Paraíba UFPB karolina0715@hotmail.com Resumo: A ideia de apresentar diversos
Plano de ensino: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
 Plano de ensino: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Título Contextualização Ementa Objetivos gerais CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA A língua portuguesa,
Plano de ensino: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Título Contextualização Ementa Objetivos gerais CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA A língua portuguesa,
VARIAÇÃO NO USO DAS PREPOSIÇÕES EM E PARA/A COM VERBOS DE MOVIMENTO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
 Página 93 de 510 VARIAÇÃO NO USO DAS PREPOSIÇÕES EM E PARA/A COM VERBOS DE MOVIMENTO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO Rodrigo Barreto de Sousa (UESB) Elisângela Gonçalves (PPGLin/UESB) RESUMO É previsto que, no
Página 93 de 510 VARIAÇÃO NO USO DAS PREPOSIÇÕES EM E PARA/A COM VERBOS DE MOVIMENTO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO Rodrigo Barreto de Sousa (UESB) Elisângela Gonçalves (PPGLin/UESB) RESUMO É previsto que, no
O PROFESOR DE LÍNGUA MATERNA: UM LINGUISTA EM SALA DE AULA
 O PROFESOR DE LÍNGUA MATERNA: UM LINGUISTA EM SALA DE AULA Camila Gomes Chung Nin 1 INTRODUÇÃO Este artigo se propõe a fazer uma breve discussão sobre o papel do professor de Língua Portuguesa nas escolas
O PROFESOR DE LÍNGUA MATERNA: UM LINGUISTA EM SALA DE AULA Camila Gomes Chung Nin 1 INTRODUÇÃO Este artigo se propõe a fazer uma breve discussão sobre o papel do professor de Língua Portuguesa nas escolas
A ORALIDADE E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
 A ORALIDADE E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Maria de Fátima de Souza Aquino (UEPB) 1. Introdução Nas últimas décadas os estudos sobre a oralidade têm avançado significativamente,
A ORALIDADE E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Maria de Fátima de Souza Aquino (UEPB) 1. Introdução Nas últimas décadas os estudos sobre a oralidade têm avançado significativamente,
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA CONCURSO PÚBLICO DE SÃO MATEUS RESPOSTA AO RECURSO DA PROVA OBJETIVA
 CONCURSO PÚBLICO DE SÃO MATEUS CARGO: Fonoaudiólogo S 43 QUESTÃO NÚMERO: 03 Embora a candidata não tenha apresentado fundamentação teórica, para dar origem ao presente recurso, esta Banca informa que a
CONCURSO PÚBLICO DE SÃO MATEUS CARGO: Fonoaudiólogo S 43 QUESTÃO NÚMERO: 03 Embora a candidata não tenha apresentado fundamentação teórica, para dar origem ao presente recurso, esta Banca informa que a
PORTUGUÊS III Semestre
 Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras Colegio de Letras Modernas Letras Portuguesas PORTUGUÊS III Semestre 2019-1 Profa. Cristina Díaz Padilla Horário: segunda a sexta
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras Colegio de Letras Modernas Letras Portuguesas PORTUGUÊS III Semestre 2019-1 Profa. Cristina Díaz Padilla Horário: segunda a sexta
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
 O FENÔMENO DA VARIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA VERBAL DE 3ª PESSOA DO PLURAL EM REDAÇÕES DE ALUNOS DE UMA TURMA DE 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Eliane Gonçalves da Silva de Azevedo (UESB) elinana2177@yahoo.com.br
O FENÔMENO DA VARIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA VERBAL DE 3ª PESSOA DO PLURAL EM REDAÇÕES DE ALUNOS DE UMA TURMA DE 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Eliane Gonçalves da Silva de Azevedo (UESB) elinana2177@yahoo.com.br
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: UM ESTUDO COM BASE NA ESCRITA E NA FALA DOS ALUNOS DAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA CIDADE DE ANASTÁCIO Roberto Mota da Silva (UEMS) motta.beto@gmail.com
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: UM ESTUDO COM BASE NA ESCRITA E NA FALA DOS ALUNOS DAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA CIDADE DE ANASTÁCIO Roberto Mota da Silva (UEMS) motta.beto@gmail.com
LHEÍSMO NO PORTUGÛES BRASILEIRO: EXAMINANDO O PORTUGÛES FALADO EM FEIRA DE SANTANA Deyse Edberg 1 ; Norma Lucia Almeida 2
 359 LHEÍSMO NO PORTUGÛES BRASILEIRO: EXAMINANDO O PORTUGÛES FALADO EM FEIRA DE SANTANA Deyse Edberg 1 ; Norma Lucia Almeida 2 1. Bolsista FAPESB, Graduanda em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual
359 LHEÍSMO NO PORTUGÛES BRASILEIRO: EXAMINANDO O PORTUGÛES FALADO EM FEIRA DE SANTANA Deyse Edberg 1 ; Norma Lucia Almeida 2 1. Bolsista FAPESB, Graduanda em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual
O TRATAMENTO DA VARIEDADE LINGUÍSTICA E LIVRO DIDÁTICO: REFLEXÃO SOBRE A DIVERSIDADE OU MERA EXIGÊNCIA DO MEC?
 91 de 368 O TRATAMENTO DA VARIEDADE LINGUÍSTICA E LIVRO DIDÁTICO: REFLEXÃO SOBRE A DIVERSIDADE OU MERA EXIGÊNCIA DO MEC? Eliara Rodrigues Duarte * (Uesb) Valéria Viana Sousa ** (Uesb) RESUMO O presente
91 de 368 O TRATAMENTO DA VARIEDADE LINGUÍSTICA E LIVRO DIDÁTICO: REFLEXÃO SOBRE A DIVERSIDADE OU MERA EXIGÊNCIA DO MEC? Eliara Rodrigues Duarte * (Uesb) Valéria Viana Sousa ** (Uesb) RESUMO O presente
1 Introdução. 1 Tal denominação da variante da Língua Portuguesa foi retirada da dissertação de Mestrado
 15 1 Introdução O presente trabalho tem como tema o uso de modalidades expressas pelo subjuntivo e pelo infinitivo em orações completivas no português padrão distenso falado no Brasil, ou seja, no português
15 1 Introdução O presente trabalho tem como tema o uso de modalidades expressas pelo subjuntivo e pelo infinitivo em orações completivas no português padrão distenso falado no Brasil, ou seja, no português
A VARIAÇÃO/ESTRATIFICAÇÃO DO SUBJUNTIVO EM ORAÇÕES PARENTÉTICAS
 Página 109 de 511 A VARIAÇÃO/ESTRATIFICAÇÃO DO SUBJUNTIVO EM ORAÇÕES PARENTÉTICAS Vânia Raquel Santos Amorim (UESB) Valéria Viana Sousa (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva (UESB) RESUMO Neste trabalho,
Página 109 de 511 A VARIAÇÃO/ESTRATIFICAÇÃO DO SUBJUNTIVO EM ORAÇÕES PARENTÉTICAS Vânia Raquel Santos Amorim (UESB) Valéria Viana Sousa (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva (UESB) RESUMO Neste trabalho,
ESTUDO SOCIOFUNCIONALISTA DE ESTRUTURAS COM O CLÍTICO SE NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
 Página 115 de 511 ESTUDO SOCIOFUNCIONALISTA DE ESTRUTURAS COM O CLÍTICO SE NO PORTUGUÊS BRASILEIRO Jodalmara Oliveira Rocha Teixeira Elizane de Souza Teles Silva (UESB Jorge Augusto Alves da Silva Valéria
Página 115 de 511 ESTUDO SOCIOFUNCIONALISTA DE ESTRUTURAS COM O CLÍTICO SE NO PORTUGUÊS BRASILEIRO Jodalmara Oliveira Rocha Teixeira Elizane de Souza Teles Silva (UESB Jorge Augusto Alves da Silva Valéria
1 Introdução. 1 CÂMARA JR., J.M, Estrutura da língua portuguesa, p Ibid. p. 88.
 1 Introdução A categoria tempo é um dos pontos mais complexos dos estudos em língua portuguesa. Por se tratar de um campo que envolve, sobretudo, conceitos igualmente complexos como semântica e interpretação
1 Introdução A categoria tempo é um dos pontos mais complexos dos estudos em língua portuguesa. Por se tratar de um campo que envolve, sobretudo, conceitos igualmente complexos como semântica e interpretação
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
 A AUSÊNCIA DO FATOR LINGUÍSTICO CONCORDÂNCIA VERBAL NA FALA DE INDIVÍDUOS COM BAIXA OU NULA ESCOLARIDADE Ana Claudia Rocha Amaral Figueiredo (UEMS) anaamaralfigueiredo@hotmail.com Natalina Sierra Assencio
A AUSÊNCIA DO FATOR LINGUÍSTICO CONCORDÂNCIA VERBAL NA FALA DE INDIVÍDUOS COM BAIXA OU NULA ESCOLARIDADE Ana Claudia Rocha Amaral Figueiredo (UEMS) anaamaralfigueiredo@hotmail.com Natalina Sierra Assencio
PLANEJAMENTO ANUAL 2016
 PLANEJAMENTO ANUAL 2016 Professor Joabe Bernardo dos Santos Língua Portuguesa 9º ano Colégio Nossa Senhora da Piedade Referências: -SAE, 9º ano: Língua Portuguesa. Livro do professor: livro 1 / IESDE BRASIL
PLANEJAMENTO ANUAL 2016 Professor Joabe Bernardo dos Santos Língua Portuguesa 9º ano Colégio Nossa Senhora da Piedade Referências: -SAE, 9º ano: Língua Portuguesa. Livro do professor: livro 1 / IESDE BRASIL
UMA ABORDAGEM AVALITATIVA DO LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
 UMA ABORDAGEM AVALITATIVA DO LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Autor: Joaquim Gomes Caboclo; Co-autor: Aline Oliveira da Silva; Co-autor: Paula Rhanna de Miranda Lima; Orientador: Clara Regina
UMA ABORDAGEM AVALITATIVA DO LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Autor: Joaquim Gomes Caboclo; Co-autor: Aline Oliveira da Silva; Co-autor: Paula Rhanna de Miranda Lima; Orientador: Clara Regina
ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: ABORDAGENS DA PROBLEMÁTICA ATUAL
 ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: ABORDAGENS DA PROBLEMÁTICA ATUAL Autora: DINIZ, Ana Maria C. Almeida Universidade Estadual da Paraíba UEPB e-mail: ana_diniz_4@hotmail.com 1 RESUMO O presente artigo objetiva
ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: ABORDAGENS DA PROBLEMÁTICA ATUAL Autora: DINIZ, Ana Maria C. Almeida Universidade Estadual da Paraíba UEPB e-mail: ana_diniz_4@hotmail.com 1 RESUMO O presente artigo objetiva
TRABALHO COM OS GÊNEROS / ENSINO DA LÍNGUA PADRÃO
 TRABALHO COM OS GÊNEROS / ENSINO DA LÍNGUA PADRÃO META Problematizar o trabalho com gêneros nas aulas de língua materna, diante do desafi o de apresentar aos alunos a variante padrão, conforme descrita
TRABALHO COM OS GÊNEROS / ENSINO DA LÍNGUA PADRÃO META Problematizar o trabalho com gêneros nas aulas de língua materna, diante do desafi o de apresentar aos alunos a variante padrão, conforme descrita
6. PLANOS DE DISCIPLINAS
 6. PLANOS DE DISCIPLINAS DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR Nome: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio Série: 1 Ano Carga Horária: 100 h (120
6. PLANOS DE DISCIPLINAS DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR Nome: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio Série: 1 Ano Carga Horária: 100 h (120
Concordância verbal, variação e ensino
 Concordância verbal, variação e ensino RENATA LÍVIA DE ARAÚJO SANTOS Doutoranda em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Alagoas. Resumo: Este trabalho
Concordância verbal, variação e ensino RENATA LÍVIA DE ARAÚJO SANTOS Doutoranda em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Alagoas. Resumo: Este trabalho
LIVRO DIDÁTICO X VARIAÇÃO LINGUÍSTICA
 LIVRO DIDÁTICO X VARIAÇÃO LINGUÍSTICA RESUMO Cristiane Agnes Stolet Correia- orientadora Márcia Cosma de Souza Silva Sirleide Marinheiro da Silva A variação linguística é algo natural de todas as línguas,
LIVRO DIDÁTICO X VARIAÇÃO LINGUÍSTICA RESUMO Cristiane Agnes Stolet Correia- orientadora Márcia Cosma de Souza Silva Sirleide Marinheiro da Silva A variação linguística é algo natural de todas as línguas,
1 Introdução. (1) a. A placa dos automóveis está amassada. b. O álbum das fotos ficou rasgado.
 17 1 Introdução A concordância, nas mais diversas línguas, é um fenômeno pesquisado em várias áreas, desde diferentes áreas de análise que envolvem o estudo da linguagem, tais como: morfologia, sintaxe,
17 1 Introdução A concordância, nas mais diversas línguas, é um fenômeno pesquisado em várias áreas, desde diferentes áreas de análise que envolvem o estudo da linguagem, tais como: morfologia, sintaxe,
P R O G R A M A EMENTA: OBJETIVOS:
 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA V PERÍODO: 90.1/97.2 EMENTA: Mecanismo lingüístico de coesão interacional. OBJETIVOS: 1) Incutir nos alunos um senso crítico em torno de algumas posições assumidas pela gramática
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA V PERÍODO: 90.1/97.2 EMENTA: Mecanismo lingüístico de coesão interacional. OBJETIVOS: 1) Incutir nos alunos um senso crítico em torno de algumas posições assumidas pela gramática
1 Introdução. 1 Nesta dissertação, as siglas PL2E, PL2 e PLE estão sendo utilizadas, indistintamente, para se
 16 1 Introdução O interesse pelo tema deste trabalho, o uso de estruturas alternativas às construções hipotéticas com se e com o futuro simples do subjuntivo, surgiu da experiência da autora ensinando
16 1 Introdução O interesse pelo tema deste trabalho, o uso de estruturas alternativas às construções hipotéticas com se e com o futuro simples do subjuntivo, surgiu da experiência da autora ensinando
O USO CORRENTE DA VARIEDADE NÃO-PADRÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA: UM ESTUDO DE CASO DA COMUNIDADE DA DERRADEIRA MUNICÍPIO DE VALENÇA
 73 de 368 O USO CORRENTE DA VARIEDADE NÃO-PADRÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA: UM ESTUDO DE CASO DA COMUNIDADE DA DERRADEIRA MUNICÍPIO DE VALENÇA Taylane Santos do Nascimento * (Uneb) RESUMO Este artigo tece considerações
73 de 368 O USO CORRENTE DA VARIEDADE NÃO-PADRÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA: UM ESTUDO DE CASO DA COMUNIDADE DA DERRADEIRA MUNICÍPIO DE VALENÇA Taylane Santos do Nascimento * (Uneb) RESUMO Este artigo tece considerações
CURSO ANO LETIVO PERIODO/ANO Departamento de Letras º CÓDIGO DISCIPLINA CARGA HORÁRIA Introdução aos estudos de língua materna
 CURSO ANO LETIVO PERIODO/ANO Departamento de Letras 2017 5º CÓDIGO DISCIPLINA CARGA HORÁRIA Introdução aos estudos de língua materna 04h/a xxx xxx 60 h/a xxx xxx EMENTA Iniciação ao estudo de problemas
CURSO ANO LETIVO PERIODO/ANO Departamento de Letras 2017 5º CÓDIGO DISCIPLINA CARGA HORÁRIA Introdução aos estudos de língua materna 04h/a xxx xxx 60 h/a xxx xxx EMENTA Iniciação ao estudo de problemas
ISSN: INTRODUÇÃO
 PERFIL SOCIAL DA APLICAÇÃO DA REGRA DE CONCORDÂNCIA VERBAL (P6), NO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR CPM ERALDO TINOCO NA ANÁLISE QUALITATIVA Renné da Glória Andrade Marques Batista (UESB) Valéria Viana Sousa
PERFIL SOCIAL DA APLICAÇÃO DA REGRA DE CONCORDÂNCIA VERBAL (P6), NO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR CPM ERALDO TINOCO NA ANÁLISE QUALITATIVA Renné da Glória Andrade Marques Batista (UESB) Valéria Viana Sousa
6LET062 LINGUAGEM E SEUS USOS A linguagem verbal como forma de circulação de conhecimentos. Normatividade e usos da linguagem.
 HABILITAÇÃO: BACHARELADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS 1ª Série 6LET063 LINGUAGEM COMO MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA Linguagem como manifestação artística, considerando os procedimentos sócio-históricos e culturais.
HABILITAÇÃO: BACHARELADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS 1ª Série 6LET063 LINGUAGEM COMO MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA Linguagem como manifestação artística, considerando os procedimentos sócio-históricos e culturais.
AULA DE LITERATURA NAS ESCOLAS PÚBLICAS: UM DESAFIO A SER SUPERADO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 AULA DE LITERATURA NAS ESCOLAS PÚBLICAS: UM DESAFIO A SER SUPERADO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA Jobson Soares da Silva (UEPB) jobsonsoares@live.com Auricélia Fernandes de Brito (UEPB) auriceliafernandes@outlook.com
AULA DE LITERATURA NAS ESCOLAS PÚBLICAS: UM DESAFIO A SER SUPERADO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA Jobson Soares da Silva (UEPB) jobsonsoares@live.com Auricélia Fernandes de Brito (UEPB) auriceliafernandes@outlook.com
Por que o dicionário é importante na escola?
 Introdução Por que o dicionário é importante na escola? O dicionário é uma obra didática e, como tal, serve para ensinar. Ensina o significado das palavras, sua origem, seu uso, sua grafia. É uma obra
Introdução Por que o dicionário é importante na escola? O dicionário é uma obra didática e, como tal, serve para ensinar. Ensina o significado das palavras, sua origem, seu uso, sua grafia. É uma obra
6LET062 LINGUAGEM E SEUS USOS A linguagem verbal como forma de circulação de conhecimentos. Normatividade e usos da linguagem.
 1ª Série 6LET063 LINGUAGEM COMO MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA Linguagem como manifestação artística, considerando os procedimentos sócio-históricos e culturais. A linguagem artística, suas funções, mecanismos
1ª Série 6LET063 LINGUAGEM COMO MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA Linguagem como manifestação artística, considerando os procedimentos sócio-históricos e culturais. A linguagem artística, suas funções, mecanismos
Workshops and games on linguistic variation
 Oficinas e jogos de variação linguística Workshops and games on linguistic variation Monique Débora Alves de Oliveira, mestranda, FAPERJ/UFRJ/SME, mnqdbr@gmail.com. Resumo Este trabalho tem a preocupação
Oficinas e jogos de variação linguística Workshops and games on linguistic variation Monique Débora Alves de Oliveira, mestranda, FAPERJ/UFRJ/SME, mnqdbr@gmail.com. Resumo Este trabalho tem a preocupação
GRAMÁTICA: NORMAS, DIVERGÊNCIAS E ENSINO (PARTÍCULA SE: INDICE DE INDETERMINAÇÃO OU DE ORAÇÃO SEM SUJEITO?)
 GRAMÁTICA: NORMAS, DIVERGÊNCIAS E ENSINO (PARTÍCULA SE: INDICE DE INDETERMINAÇÃO OU DE ORAÇÃO SEM SUJEITO?) Fernanda Félix da Costa Batista - UEPB Fernanda_p1@hotmail.com Joseilma Pereira Barros - UEPB
GRAMÁTICA: NORMAS, DIVERGÊNCIAS E ENSINO (PARTÍCULA SE: INDICE DE INDETERMINAÇÃO OU DE ORAÇÃO SEM SUJEITO?) Fernanda Félix da Costa Batista - UEPB Fernanda_p1@hotmail.com Joseilma Pereira Barros - UEPB
ANÁLISE DESCRITIVA DOS ASPECTOS SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS QUE PREJUDICAM A INTERCOMPREENSÃO DOS ALUNOS TIMORENSES DA UNILAB
 ANÁLISE DESCRITIVA DOS ASPECTOS SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS QUE PREJUDICAM A INTERCOMPREENSÃO DOS ALUNOS TIMORENSES DA UNILAB Marlene Arminda Quaresma JosÉ 1, Claúdia Ramos Carioca 2 RESUMO A maioria dos estudantes
ANÁLISE DESCRITIVA DOS ASPECTOS SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS QUE PREJUDICAM A INTERCOMPREENSÃO DOS ALUNOS TIMORENSES DA UNILAB Marlene Arminda Quaresma JosÉ 1, Claúdia Ramos Carioca 2 RESUMO A maioria dos estudantes
ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE ARTIGOS DEFINIDOS DIANTE DE POSSESSIVOS PRÉ-NOMINAIS E ANTROPÔNIMOS EM DADOS DE FALA* 1
 ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE ARTIGOS DEFINIDOS DIANTE DE POSSESSIVOS PRÉ-NOMINAIS E ANTROPÔNIMOS EM DADOS DE FALA* 1 Alane Luma Santana Siqueira (UFRPE/UAST) alane.siqueira@gmail.com 1. Introdução O Português
ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE ARTIGOS DEFINIDOS DIANTE DE POSSESSIVOS PRÉ-NOMINAIS E ANTROPÔNIMOS EM DADOS DE FALA* 1 Alane Luma Santana Siqueira (UFRPE/UAST) alane.siqueira@gmail.com 1. Introdução O Português
A LINGUAGEM NO TEXTO ARGUMENTATIVO PROFESSOR EDUARDO BELMONTE 9 ANO E. FUNDAMENTAL II C. CURRICULAR REDAÇÃO
 A LINGUAGEM NO TEXTO ARGUMENTATIVO PROFESSOR EDUARDO BELMONTE 9 ANO E. FUNDAMENTAL II C. CURRICULAR REDAÇÃO Formal X Informal O falante de uma língua é, de certa forma, um poliglota, porque usa-a em diversas
A LINGUAGEM NO TEXTO ARGUMENTATIVO PROFESSOR EDUARDO BELMONTE 9 ANO E. FUNDAMENTAL II C. CURRICULAR REDAÇÃO Formal X Informal O falante de uma língua é, de certa forma, um poliglota, porque usa-a em diversas
(2) A rápida publicação deste livro pela editora foi um bom negócio.
 1 Introdução Esta dissertação tem o objetivo geral de investigar as formas nominalizadas deverbais no que tange ao seu aspecto polissêmico e multifuncional. O objetivo específico consiste em verificar,
1 Introdução Esta dissertação tem o objetivo geral de investigar as formas nominalizadas deverbais no que tange ao seu aspecto polissêmico e multifuncional. O objetivo específico consiste em verificar,
LÍNGUA, LINGUAGEM E VARIAÇÃO. Professor Marlos Pires Gonçalves
 LÍNGUA, LINGUAGEM E VARIAÇÃO Professor Marlos Pires Gonçalves 1 É O TIPO DE CÓDIGO FORMADO POR PALAVRAS E LEIS COMBINATÓRIAS POR MEIO DO QUAL AS PESSOAS SE COMUNICAM E INTERAGEM ENTRE SI. É A REPRESENTAÇÃO
LÍNGUA, LINGUAGEM E VARIAÇÃO Professor Marlos Pires Gonçalves 1 É O TIPO DE CÓDIGO FORMADO POR PALAVRAS E LEIS COMBINATÓRIAS POR MEIO DO QUAL AS PESSOAS SE COMUNICAM E INTERAGEM ENTRE SI. É A REPRESENTAÇÃO
Letras Língua Portuguesa
 Letras Língua Portuguesa Leitura e Produção de Texto I 30h Ementa: Ocupa-se das estratégias de leitura e produção de textos orais e escritos considerando os aspectos formal e estilístico e sua relação
Letras Língua Portuguesa Leitura e Produção de Texto I 30h Ementa: Ocupa-se das estratégias de leitura e produção de textos orais e escritos considerando os aspectos formal e estilístico e sua relação
PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA PLANIFICAÇÃO A MÉDIO PRAZO. Ano Letivo 2012/2013. Disciplina de Língua Portuguesa-8ºano-Turma 1
 PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA PLANIFICAÇÃO A MÉDIO PRAZO Ano Letivo 2012/2013 Disciplina de Língua Portuguesa-8ºano-Turma 1 C UNIDADE: TEXTOS NARRATIVOS DOMÍNIOS OUVIR/FALAR: Participar em situações
PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA PLANIFICAÇÃO A MÉDIO PRAZO Ano Letivo 2012/2013 Disciplina de Língua Portuguesa-8ºano-Turma 1 C UNIDADE: TEXTOS NARRATIVOS DOMÍNIOS OUVIR/FALAR: Participar em situações
1ª Série. 2LET020 LITERATURA BRASILEIRA I Estudo das produções literárias durante a época colonial: Quinhentismo, Barroco e Neoclassicismo.
 1ª Série 2LET039 DEBATES E SEMINÁRIOS EM TEMAS CONTEMPORÂNEOS Produção oral sobre temas da contemporaneidade: direitos humanos, educação ambiental, as diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa,
1ª Série 2LET039 DEBATES E SEMINÁRIOS EM TEMAS CONTEMPORÂNEOS Produção oral sobre temas da contemporaneidade: direitos humanos, educação ambiental, as diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa,
Anexo B Relação de Assuntos Pré-Requisitos à Matrícula
 Anexo B Relação de Assuntos Pré-Requisitos à Matrícula MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL 6º ANO Ensino
Anexo B Relação de Assuntos Pré-Requisitos à Matrícula MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL 6º ANO Ensino
A ELISÃO DA VOGAL /o/ EM FLORIANÓPOLIS-SC RESULTADOS PRELIMINARES
 A ELISÃO DA VOGAL /o/ EM FLORIANÓPOLIS-SC RESULTADOS PRELIMINARES Letícia Cotosck Vargas (PUCRS/PIBIC- CNPq 1 ) 1. INTRODUÇÃO Esta pesquisa tem por objetivo examinar um dos processos de sândi externo verificados
A ELISÃO DA VOGAL /o/ EM FLORIANÓPOLIS-SC RESULTADOS PRELIMINARES Letícia Cotosck Vargas (PUCRS/PIBIC- CNPq 1 ) 1. INTRODUÇÃO Esta pesquisa tem por objetivo examinar um dos processos de sândi externo verificados
1 Introdução. 1.1 O que motivou a pesquisa e objetivos
 1 Introdução 1.1 O que motivou a pesquisa e objetivos Os conceitos de transitividade verbal e de complementação verbal são de fundamental importância para o estudo da sintaxe na língua portuguesa. Entretanto,
1 Introdução 1.1 O que motivou a pesquisa e objetivos Os conceitos de transitividade verbal e de complementação verbal são de fundamental importância para o estudo da sintaxe na língua portuguesa. Entretanto,
Aula10 OUTRAS ESTRUTURAS ORACIONAIS POR SUBORDINAÇÃO
 Aula10 OUTRAS ESTRUTURAS ORACIONAIS POR SUBORDINAÇÃO META Apresentar construções oracionais subordinadas por infinitivo, gerúndio, subjuntivo e indicativo. OBJETIVOS Ao final desta aula, o aluno deverá:
Aula10 OUTRAS ESTRUTURAS ORACIONAIS POR SUBORDINAÇÃO META Apresentar construções oracionais subordinadas por infinitivo, gerúndio, subjuntivo e indicativo. OBJETIVOS Ao final desta aula, o aluno deverá:
DO ANTIGO AO NOVO: DA MUDANÇA DA TEORIA LINGUÍSTICA À MUDANÇA DA LÍNGUA
 471 de 663 DO ANTIGO AO NOVO: DA MUDANÇA DA TEORIA LINGUÍSTICA À MUDANÇA DA LÍNGUA Sivonei Ribeiro Rocha 146 (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva 147 (UESB) RESUMO Este trabalho compara o conceito de mudança
471 de 663 DO ANTIGO AO NOVO: DA MUDANÇA DA TEORIA LINGUÍSTICA À MUDANÇA DA LÍNGUA Sivonei Ribeiro Rocha 146 (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva 147 (UESB) RESUMO Este trabalho compara o conceito de mudança
ENSINO DE HISTÓRIA: UM ESTUDO DESCRITIVO DA LEITURA E DA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
 ENSINO DE HISTÓRIA: UM ESTUDO DESCRITIVO DA LEITURA E DA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL Isabel Rodrigues Diniz Graduanda em História pelo PARFOR da E-mail: eldinhasoares@hotmail.com José
ENSINO DE HISTÓRIA: UM ESTUDO DESCRITIVO DA LEITURA E DA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL Isabel Rodrigues Diniz Graduanda em História pelo PARFOR da E-mail: eldinhasoares@hotmail.com José
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COORDENADORIA DE CONCURSOS CCV
 Língua Portuguesa I Questão 15 A questão 15 aborda compreensão leitora. É correta a alternativa (A). O texto opõe o instinto da águia ao instinto da tartaruga, apresentando-os como ligados a esses animais
Língua Portuguesa I Questão 15 A questão 15 aborda compreensão leitora. É correta a alternativa (A). O texto opõe o instinto da águia ao instinto da tartaruga, apresentando-os como ligados a esses animais
A CATEGORIA VERBAL DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS- LIBRAS
 195 de 667 A CATEGORIA VERBAL DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS- LIBRAS Ione Barbosa de Oliveira Silva (UESB) 51 Adriana Stella Cardoso Lessa-de-Oliveira (UESB) 52 RESUMO Apresentamos resultados parciais
195 de 667 A CATEGORIA VERBAL DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS- LIBRAS Ione Barbosa de Oliveira Silva (UESB) 51 Adriana Stella Cardoso Lessa-de-Oliveira (UESB) 52 RESUMO Apresentamos resultados parciais
ANAIS 2010 ISSN LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE GRAMÁTICA
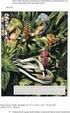 LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE GRMÁTIC rnaldo Nogari Júnior G-CLC-UENP/ CJ) arnaldo_nogarijr@hotmail.com Layane Suellen Miguel G-CLC-UENP/ CJ) lala.wordshipper@hotmail.com Michelle ndressa Vieira G-CLC-UENP/
LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE GRMÁTIC rnaldo Nogari Júnior G-CLC-UENP/ CJ) arnaldo_nogarijr@hotmail.com Layane Suellen Miguel G-CLC-UENP/ CJ) lala.wordshipper@hotmail.com Michelle ndressa Vieira G-CLC-UENP/
TÍTULO: REVISITANDO A TRANSITIVIDADE VERBAL EM CORPORAS ESCRITOS: A GRAMÁTICA E O USO
 16 TÍTULO: REVISITANDO A TRANSITIVIDADE VERBAL EM CORPORAS ESCRITOS: A GRAMÁTICA E O USO CATEGORIA: CONCLUÍDO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: LETRAS INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ
16 TÍTULO: REVISITANDO A TRANSITIVIDADE VERBAL EM CORPORAS ESCRITOS: A GRAMÁTICA E O USO CATEGORIA: CONCLUÍDO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: LETRAS INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ
O OBJETO DIRETO ANAFÓRICO E SUAS MÚLTIPLAS REALIZAÇÕES NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
 239 de 298 O OBJETO DIRETO ANAFÓRICO E SUAS MÚLTIPLAS REALIZAÇÕES NO PORTUGUÊS BRASILEIRO Daiane Gomes Amorim 62 (UESB) Telma Moreira Vianna Magalhães ** (UESB) RESUMO O presente trabalho apresenta um
239 de 298 O OBJETO DIRETO ANAFÓRICO E SUAS MÚLTIPLAS REALIZAÇÕES NO PORTUGUÊS BRASILEIRO Daiane Gomes Amorim 62 (UESB) Telma Moreira Vianna Magalhães ** (UESB) RESUMO O presente trabalho apresenta um
XI COLÓQUIO DO MUSEU PEDAGÓGICO 14 a 16 de outubro de Maria Zélia Alves Nogueira (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva (UESB)
 CONCORDÂNCIA VERBAL EM P6 NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA: DUAS NORMAS EM DEBATE Maria Zélia Alves Nogueira (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva (UESB) Valéria Viana Sousa ********************* (UESB) RESUMO
CONCORDÂNCIA VERBAL EM P6 NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA: DUAS NORMAS EM DEBATE Maria Zélia Alves Nogueira (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva (UESB) Valéria Viana Sousa ********************* (UESB) RESUMO
LEITURA, APRENDIZAGEM E CIDADANIA: LEITURA NA ÁREA DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA COMO DE PROMOÇÃO DE APRENDIZADO DO CONTEÚDO E FORMAÇÃO DE CIDADÃOS CRÍTICOS
 LEITURA, APRENDIZAGEM E CIDADANIA: LEITURA NA ÁREA DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA COMO DE PROMOÇÃO DE APRENDIZADO DO CONTEÚDO E FORMAÇÃO DE CIDADÃOS CRÍTICOS Rosilda Cajaiba Barbosa 1 Lucas Santos Campos 2 INTRODUÇÃO
LEITURA, APRENDIZAGEM E CIDADANIA: LEITURA NA ÁREA DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA COMO DE PROMOÇÃO DE APRENDIZADO DO CONTEÚDO E FORMAÇÃO DE CIDADÃOS CRÍTICOS Rosilda Cajaiba Barbosa 1 Lucas Santos Campos 2 INTRODUÇÃO
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL 6º ANO Ensino Fundamental Língua Portuguesa 2) Inferir o sentido
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL 6º ANO Ensino Fundamental Língua Portuguesa 2) Inferir o sentido
HÁ PRECONCEITO LINGUÍSTICO EM SEU ENTORNO SOCIAL?
 HÁ PRECONCEITO LINGUÍSTICO EM SEU ENTORNO SOCIAL? Elaine Helena Nascimento dos Santos 1 Luiz Carlos Carvalho de Castro² Instituto Federal de Pernambuco³ Resumo Este trabalho tem a finalidade de abordar
HÁ PRECONCEITO LINGUÍSTICO EM SEU ENTORNO SOCIAL? Elaine Helena Nascimento dos Santos 1 Luiz Carlos Carvalho de Castro² Instituto Federal de Pernambuco³ Resumo Este trabalho tem a finalidade de abordar
Apresentação 11 Lista de abreviações 13. Parte I: NATUREZA, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA LINGUAGEM
 Sumário Apresentação 11 Lista de abreviações 13 Parte I: NATUREZA, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA LINGUAGEM O homem, a linguagem e o conhecimento ( 1-6) O processo da comunicação humana ( 7-11) Funções da
Sumário Apresentação 11 Lista de abreviações 13 Parte I: NATUREZA, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA LINGUAGEM O homem, a linguagem e o conhecimento ( 1-6) O processo da comunicação humana ( 7-11) Funções da
O TRABALHO DO PROFESSOR COMO AGENTE LETRADOR EM TURMAS DO 6 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 O TRABALHO DO PROFESSOR COMO AGENTE LETRADOR EM TURMAS DO 6 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Flávia Campos Cardozo (UFRRJ) Marli Hermenegilda Pereira (UFRRJ) Thatiana do Santos Nascimento Imenes (UFRRJ) RESUMO
O TRABALHO DO PROFESSOR COMO AGENTE LETRADOR EM TURMAS DO 6 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Flávia Campos Cardozo (UFRRJ) Marli Hermenegilda Pereira (UFRRJ) Thatiana do Santos Nascimento Imenes (UFRRJ) RESUMO
COLÉGIO SANTA TERESINHA
 PROFESSORA: Christiane Miranda Buthers de Almeida TURMA: 6º Ano PERÍODO DA ETAPA: 05/02/2018 a 18/05/2018 DISCIPLINA: Língua Portuguesa 1- QUE SERÃO TRABALHADOS DURANTE A ETAPA: 1. Gêneros: 1.1 Romance
PROFESSORA: Christiane Miranda Buthers de Almeida TURMA: 6º Ano PERÍODO DA ETAPA: 05/02/2018 a 18/05/2018 DISCIPLINA: Língua Portuguesa 1- QUE SERÃO TRABALHADOS DURANTE A ETAPA: 1. Gêneros: 1.1 Romance
Quando dividimos uma oração em partes para estudar as diferentes funções que as palavras podem desempenhar na oração e entre as orações de um texto, e
 MORFOSSINTAXE Quando analisamos a que classe gramatical pertencem as palavras de determinada frase, estamos realizando sua análise morfológica. A morfologia é a parte da gramática que estuda a classificação,
MORFOSSINTAXE Quando analisamos a que classe gramatical pertencem as palavras de determinada frase, estamos realizando sua análise morfológica. A morfologia é a parte da gramática que estuda a classificação,
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
 ASPECTOS DE ORALIDADE NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS BRASILEIRAS. Elane Marques de Jesus (UESB) elane_tokinho@hotmail.com Claudiane Silva Piropo (UESB) kku_ltras@hotmail.com RESUMO Este trabalho objetiva
ASPECTOS DE ORALIDADE NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS BRASILEIRAS. Elane Marques de Jesus (UESB) elane_tokinho@hotmail.com Claudiane Silva Piropo (UESB) kku_ltras@hotmail.com RESUMO Este trabalho objetiva
Estado da Arte: Na Prática Aula 1
 Estado da Arte: Na Prática Aula 1 Então se você ainda não viu o vídeo em que eu explico o que é essa ferramenta, não se esqueça de conferir. YouTube Video Com essa sequência eu vou mostrar, passo a passo,
Estado da Arte: Na Prática Aula 1 Então se você ainda não viu o vídeo em que eu explico o que é essa ferramenta, não se esqueça de conferir. YouTube Video Com essa sequência eu vou mostrar, passo a passo,
Plano de Trabalho Docente 2011
 Plano de Trabalho Docente 2011 Ensino Técnico ETEC SANTA ISABEL Código: 219 Município: Santa Isabel Área Profissional: Informação e Comunicação Habilitação Profissional: Técnico em Informática para Internet
Plano de Trabalho Docente 2011 Ensino Técnico ETEC SANTA ISABEL Código: 219 Município: Santa Isabel Área Profissional: Informação e Comunicação Habilitação Profissional: Técnico em Informática para Internet
Componentes Curriculares: Letras Português. 1º Período CÓDIGO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA P R O G R A M A
 Componentes Curriculares: Letras Português 1º Período DISCIPLINA: Teoria Literária I H113384 Introdução aos estudos literários. Conceitos e funções da literatura. Relações entre a literatura, a sociedade
Componentes Curriculares: Letras Português 1º Período DISCIPLINA: Teoria Literária I H113384 Introdução aos estudos literários. Conceitos e funções da literatura. Relações entre a literatura, a sociedade
PLANO DE ENSINO. Dados de Identificação. Ementa. Objetivos
 PLANO DE ENSINO Dados de Identificação Campus: Jaguarão Curso: Letras - Português Componente Curricular: JLEAD004 - Estudos Gramaticais I Código: 41094 Pré-requisito(s): Não se aplica Docentes: Denise
PLANO DE ENSINO Dados de Identificação Campus: Jaguarão Curso: Letras - Português Componente Curricular: JLEAD004 - Estudos Gramaticais I Código: 41094 Pré-requisito(s): Não se aplica Docentes: Denise
PALAVRAS-CHAVE Inglês como Língua Franca. World English. Ensino/Aprendizagem.
 14. CONEX Apresentação Oral Resumo Expandido - ISSN 2238-9113 1 ISSN 2238-9113 ÁREA TEMÁTICA: ( ) COMUNICAÇÃO ( ) CULTURA ( ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA ( x ) EDUCAÇÃO ( ) MEIO AMBIENTE ( ) SAÚDE ( ) TRABALHO
14. CONEX Apresentação Oral Resumo Expandido - ISSN 2238-9113 1 ISSN 2238-9113 ÁREA TEMÁTICA: ( ) COMUNICAÇÃO ( ) CULTURA ( ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA ( x ) EDUCAÇÃO ( ) MEIO AMBIENTE ( ) SAÚDE ( ) TRABALHO
PÔSTER/BANNER - ANÁLISE LINGUÍSTICA: UM NOVO OLHAR, UM OUTRO OBJETO. HÁ PRECONCEITO LINGUÍSTICO EM SEU ENTORNO SOCIAL?
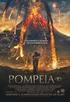 PÔSTER/BANNER - ANÁLISE LINGUÍSTICA: UM NOVO OLHAR, UM OUTRO OBJETO. HÁ PRECONCEITO LINGUÍSTICO EM SEU ENTORNO SOCIAL? ELAINE HELENA NASCIMENTO DOS SANTOS O objetivo deste trabalho é discutir sobre o preconceito
PÔSTER/BANNER - ANÁLISE LINGUÍSTICA: UM NOVO OLHAR, UM OUTRO OBJETO. HÁ PRECONCEITO LINGUÍSTICO EM SEU ENTORNO SOCIAL? ELAINE HELENA NASCIMENTO DOS SANTOS O objetivo deste trabalho é discutir sobre o preconceito
Resenhado por Katiele Naiara Hirsch Universidade de Santa Cruz do Sul
 SOUSA, Lucilene Bender de; GABRIEL, Rosângela. Aprendendo palavras através da leitura. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. Resenhado por Katiele Naiara Hirsch Universidade de Santa Cruz do Sul Em Aprendendo
SOUSA, Lucilene Bender de; GABRIEL, Rosângela. Aprendendo palavras através da leitura. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. Resenhado por Katiele Naiara Hirsch Universidade de Santa Cruz do Sul Em Aprendendo
O ENSINO SISTEMÁTICO DA VÍRGULA ASSOCIADO AO ENSINO DA SINTAXE
 Página 33 de 507 O ENSINO SISTEMÁTICO DA VÍRGULA ASSOCIADO AO ENSINO DA SINTAXE Geisa Gomes Vieira Araújo (ProfLetras/CNPq/UESB) Vera Pacheco (ProfLetras/PPGLin/UESB) Marian Oliveira (ProfLetras/PPGLin/UESB)
Página 33 de 507 O ENSINO SISTEMÁTICO DA VÍRGULA ASSOCIADO AO ENSINO DA SINTAXE Geisa Gomes Vieira Araújo (ProfLetras/CNPq/UESB) Vera Pacheco (ProfLetras/PPGLin/UESB) Marian Oliveira (ProfLetras/PPGLin/UESB)
USO DE ADJETIVOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS DE REVISTAS
 USO DE ADJETIVOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS DE REVISTAS SARA CARVALHO DE LIMA FALCÃO (UFPE) sc.falcao@hotmail.com RESUMO A pesquisa aqui apresentada abordará o uso de adjetivos em propagandas de revistas,
USO DE ADJETIVOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS DE REVISTAS SARA CARVALHO DE LIMA FALCÃO (UFPE) sc.falcao@hotmail.com RESUMO A pesquisa aqui apresentada abordará o uso de adjetivos em propagandas de revistas,
SUMÁRIO APRESENTAÇÃO...7. NORMA: TECENDO CONCEITOS...11 Objetivos gerais do capítulo Leituras complementares...74 Exercícios...
 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO...7 NORMA: TECENDO CONCEITOS...11 Objetivos gerais do capítulo...11 1. Conceitos de norma...12 2. Um breve histórico...26 3. O conceito de língua não é estritamente linguístico...29
SUMÁRIO APRESENTAÇÃO...7 NORMA: TECENDO CONCEITOS...11 Objetivos gerais do capítulo...11 1. Conceitos de norma...12 2. Um breve histórico...26 3. O conceito de língua não é estritamente linguístico...29
CURSO DE ENFERMAGEM Reconhecido pela Portaria nº 270 de 13/12/12 DOU Nº 242 de 17/12/12 Seção 1. Pág. 20
 CURSO DE ENFERMAGEM Reconhecido pela Portaria nº 270 de 13/12/12 DOU Nº 242 de 17/12/12 Seção 1. Pág. 20 Componente Curricular: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL Código: ENF - 302 Pré-requisito: Nenhum Período Letivo:
CURSO DE ENFERMAGEM Reconhecido pela Portaria nº 270 de 13/12/12 DOU Nº 242 de 17/12/12 Seção 1. Pág. 20 Componente Curricular: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL Código: ENF - 302 Pré-requisito: Nenhum Período Letivo:
Funções gramaticais: Sujeito e predicado. Luiz Arthur Pagani (UFPR)
 Funções gramaticais: Sujeito e predicado (UFPR) 1 1 Tradição gramatical termos essenciais: São termos essenciais da oração o sujeito e o predicado. [2, p. 119] As orações de estrutura favorita em português
Funções gramaticais: Sujeito e predicado (UFPR) 1 1 Tradição gramatical termos essenciais: São termos essenciais da oração o sujeito e o predicado. [2, p. 119] As orações de estrutura favorita em português
Aula 00. Professor: Décio Terror DEMO
 Aula 00 Professor: Décio Terror Olá, pessoal! O concurso do TCM RJ está chegando, por isso preparamos um resumão de Língua Portuguesa em vídeo para você revisar tudo o que pode cair na prova!! Sou o professor
Aula 00 Professor: Décio Terror Olá, pessoal! O concurso do TCM RJ está chegando, por isso preparamos um resumão de Língua Portuguesa em vídeo para você revisar tudo o que pode cair na prova!! Sou o professor
