Crueldade e Psicanálise: uma leitura de Derrida sobre o saber sem álibi *
|
|
|
- Margarida Palha Ferretti
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Crueldade e Psicanálise: uma leitura de Derrida sobre o saber sem álibi * Joel Birman Professor titular no Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Adjunto no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa. Diretor de Estudos em Ciências Humanas, Universidade Paris VII. joel.birman@pq.cnpq.br Resumo: O propósito deste ensaio é realizar um comentário do ensaio de Derrida États d âme de la psychanalyse, para colocar em destaque os conceitos de crueldade e soberania em suas relações com o discurso psicanalítico. Palavras-chave: crueldade, soberania, pulsão de morte. Abstract: This paper aims to accomplish a commentary of the Derrida s essay États d âme de la psychanalyse, for emphasizing the concepts of cruelty and sovereignty, in their relationships with the psychoanalytical speech. Key-words: cruelty, sovereignty, death s instinct. 1. Preâmbulo A intenção deste ensaio é realizar uma leitura do texto de Derrida intitulado Estados de alma da psicanálise (Derrida, 2000). O título do texto reenvia ao evento que está na sua origem, já que os * Este texto foi escrito a partir das notas que me orientaram na conferência realizada no III Encontro Nacional de Filosofia e Psicanálise, no Rio de Janeiro, organizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal Fluminense, ocorrido entre 24 e 27 de novembro de
2 Joel Birman estados de alma da psicanálise remetem diretamente aos Estados Gerais da Psicanálise. Com efeito, o texto em questão resultou da conferência empreendida por Derrida nesse evento, que ocorreu em Paris, em O nosso propósito é continuar a realizar o comentário dos ensaios de Derrida nos quais a psicanálise se inscreve como o seu tema fundamental. Assim, trabalhei inicialmente sobre o ensaio inaugural sobre a psicanálise, intitulado Freud e a cena da escrita, que foi publicado no livro A escrita e a diferença (Derrida, 1962) e reeditado em 1967 (Birman, 2007). Em seguida, realizei a leitura de Mal de arquivo (Derrida, 1995), que foi republicado em 1995 (Birman, 2008). Porém, se evoco isso aqui e agora, neste preâmbulo, é para destacar que esse texto se inscreve num conjunto maior de referência e num percurso teórico mais abrangente, no qual procuro delinear as diversas incursões de Derrida sobre a psicanálise. Esta nova incursão se justifica não apenas porque o texto sobre os Estados de alma da psicanálise é um outro ensaio de Derrida sobre a psicanálise, que foi escrito num outro tempo de seu pensamento, mas também porque as questões aqui colocadas são de ordem diferente das que foram recenseadas pelo autor em suas incursões anteriores. Isso implica dizer que Derrida ampliou o seu âmbito de leitura sobre a psicanálise. Portanto, o que foi destacado nesse momento de seu percurso é diferente do que foi enunciado anteriormente, evidenciando a presença de algumas descontinuidades. Contudo, não se pode perder de vista a evidência de certas linhas de continuidade entre esses diferentes ensaios sobre a psicanálise, não obstante as evidentes descontinuidades. É justamente a presença dessa tensão entre as linhas de continuidade e as de descontinuidade que revela a construção efetiva de uma obra em Derrida, no que concerne especificamente a sua leitura da psicanálise, e que se inscreve no campo de seu discurso filosófico. 56
3 2. Escrita e arquivo Assim, no tempo inaugural de seu discurso teórico, o que estava em pauta para Derrida era a inscrição da psicanálise na crítica do filosofema da presença, pela sustentação do enunciado de que o inconsciente se inscreveria no registro da escrita e não no da voz (Derrida, 1967). Nesse contexto, o aparelho psíquico concebido pelo discurso freudiano foi delineado, no final de seu percurso, como uma máquina de escrever (Derrida, 1967). Com efeito, na tensão permanente existente entre os registros da máquina e da escrita, que teria atravessado de fio a pavio o discurso freudiano desde o Projeto de uma psicologia científica (Freud, 1895/ 1973) até as Notas sobre o bloco mágico (Freud, 1925/1985), Freud teria finalmente encontrado a metáfora maquínica adequada para o inconsciente escriturário, com a concepção do aparelho psíquico como máquina de escrever, em Notas sobre o bloco mágico. Derrida percorreu nesse ensaio os textos mais densos e rigorosos de Freud, isto é, os ensaios metapsicológicos. Porém, a sua proposta teórica não foi realizar uma leitura metapsicológica da psicanálise. Pelo contrário, sua intenção seria empreender a crítica do filosofema da presença, pelo enunciado dos conceitos de ausência, do diferir e da diferença, com o propósito de delinear o que denominou o registro da arquiescrita como fundante do inconsciente. Contudo, em Mal de arquivo, Derrida retomou o filosofema da escrita para trabalhá-lo agora sob a forma da concepção de arquivo. Existe assim uma reversibilidade teórica entre as concepções de escrita e de arquivo, para destacar devidamente a linha de continuidade existente entre esses ensaios. Porém, para a elaboração do conceito de arquivo (Derrida, 1995), Derrida retomou fundamentalmente o ensaio de Freud sobre O homem Moisés e a religião monoteísta (Freud, 1938/1986). Debruçou-se, assim, sobre o exame de um outro registro textual do discurso freudiano, analisando um dos textos freudianos sobre a cultura. 57
4 Joel Birman O que lhe interessava aqui era pensar efetivamente na oposição estabelecida por Freud entre verdade histórica e verdade material, que exigiria uma outra concepção de arquivo. Por conta disso, estabeleceu uma polêmica com o historiador israelense Yerushalmi, para criticar a concepção clássica de arquivo nesse presente. Para este, com efeito, como para o campo do discurso da história, o arquivo se reduziria à dimensão patente do documento, referida exclusivamente ao tempo do passado, enquanto para Derrida o arquivo se articularia primordialmente com os tempos do presente e do futuro, estando a dimensão do tempo passado a estas referida necessariamente (Derrida, 1995). Nessa perspectiva, os registros da repetição e do trauma foram trabalhados por Derrida de maneira frontal, como conceitos fundamentais que seriam para a constituição da escrita do inconsciente. Além disso, a escrita e o arquivo foram concebidos como fundantes das ideias de genealogia e de tradição. O que existe de original nessa leitura de Derrida foi a sua interpretação do conceito freudiano de pulsão de morte, no qual este se formulou como mal de arquivo. Vale dizer, deveria existir no campo do arquivo um operador para o apagamento deste, como condição efetiva de possibilidade para que o arquivo pudesse se renovar e constituir assim novas inscrições. Seria por esse viés, enfim, que centrado sempre no presente o arquivo poderia se abrir para as outras temporalidades, voltadas tanto para o futuro quanto para o passado (Derrida, 1995). 3. Arquivos sobre o mal Porém, diferentemente da incursão inicial de Derrida na leitura de Freud, o ensaio sobre o Mal de arquivo é atravessado por preocupações de ordem ética e política. Assim, para a constituição do conceito de mal de arquivo, necessário foi a construção histórica, pelo Ocidente, de um 58
5 conjunto de signos que forjaram os diversos arquivos sobre o mal. Seriam estes a condição concreta de possibilidade para o enunciado do conceito de mal de arquivo (Birman, 2008). Na segunda metade do século XX, mais precisamente desde o final da Segunda Grande Guerra, tais arquivos sobre o mal foram escritos pela nossa tradição. Seria esse o real forjado pelo campo histórico que possibilitou a reflexão sobre o mal de arquivo. Com efeito, desde os efeitos do holocausto judaico e da constituição da literatura do testemunho, passando pela organização do Tribunal Penal Internacional e o enunciado dos crimes contra a humanidade, até a proposição de Estados fora da lei (Birman, 2008), os arquivos sobre o mal encontraram a matéria-prima para serem escritos. Foi pela referência a esses arquivos que Derrida empreendeu uma série de reflexões e constituiu novos conceitos no final de seu percurso teórico. Com efeito, a constituição das problemáticas da hospitalidade (Derrida, 1997b), da promessa (Derrida, 1997b), da amizade (Derrida, 1994) e do cosmopolitismo (Derrida, 1997a), assim como as suas preocupações com a pena de morte e os Estados fora da lei (Derrida, 2003), remetem efetivamente a esses arquivos sobre o mal. Enfim, seria nesse conjunto que se inscreveria o conceito de mal de arquivo, de fato e de direito. Foi no campo delineado por essa preocupação maior, ao mesmo tempo teórica, ética e política, que o ensaio sobre os Estados de alma da psicanálise foi concebido. Estaria aqui a linha de continuidade existente entre os dois últimos ensaios de Derrida sobre a psicanálise. 4. Crueldade e soberania Seria justamente pela pregnância assumida pela problemática dos arquivos sobre o mal no percurso final de Derrida que a questão da crueldade teria assumido uma posição crucial no ensaio sobre os Estados 59
6 Joel Birman de alma da psicanálise. Com efeito, da primeira à última linha desse texto é a questão da crueldade que está sempre em pauta. Além disso, foi por essa trilha discursiva que a psicanálise foi novamente interpelada por Derrida, na medida em que não existiria qualquer possibilidade de fazer uma meditação efetiva sobre essa questão sem a participação do discurso psicanalítico (Derrida, 2000, pp ). Antes de mais nada, isso implica dizer, que, na estratégia discursiva de Derrida, os arquivos sobre o mal revelariam os signos insofismáveis da crueldade na tradição ocidental. Vale dizer, a crueldade seria o operador por excelência para a produção do mal. Retomando, assim, a referência filosófica de Kant, Derrida pôde então afirmar que a crueldade seria o mal radical (Derrida, 2000, p. 13). Em seguida, isso evidenciaria ainda que o processo atual de mundialização estaria lançando os dados do destino no que concerne à crueldade (Derrida, 2000, pp ). Vale dizer, se a crueldade foi uma das marcas decisivas que permeou a histórica do Ocidente, as modalidades de sua existência e as suas formas de apresentação se transformaram ao longo da história (Derrida, 2000, pp ). Portanto, seria preciso considerar a crueldade não de maneira trans-histórica, mas sublinhar as suas diversas transformações e modulações. Enfim, da mesma forma que a psicanálise seria uma construção histórica e finita (Derrida, 2000, pp ), a crueldade seria também marcada pela historicidade. No que concerne a isso, duas dimensões cruciais foram enfatizadas ao longo do ensaio de Derrida. Se a primeira se refere ao conceito moderno e contemporâneo da crueldade, a segunda procura enunciar as relações desta com a problemática do poder. Vejamos, assim, como Derrida delineia essa dupla dimensão da questão da crueldade. Assim, no registro do conceito a crueldade não se reduz, como na tradição romana, ao crime de sangue, seja este a criminalidade, seja este a ação política e militar (Derrida, 2000, pp ). Ultrapassando bastante os limites estritos da crueldade sangrenta (cruor, crudus, crudelitas), 60
7 a crueldade implicaria também os crimes sem sangue. Com efeito, sob as formas de o sujeito fazer mal ao outro, de o sujeito se deixar fazer mal e até mesmo de o sujeito se fazer mal, o campo da crueldade assume uma extensão bem mais ampla, no qual o registro psíquico estaria também em causa (Derrida, 2000, pp. 9-12). Seria pelo viés dessa marca não sangrenta da questão que a psicanálise seria um discurso incontornável em qualquer reflexão sobre a crueldade (Derrida, 2000, pp ). Portanto, entre o sujeito se deixar sofrer e o fazer sofrer, a crueldade assume uma outra escala de existência, podendo englobar a quase totalidade das ações humanas e dos laços sociais (Derrida, 2000, pp. 9-12). Contudo, entre os pólos do se deixar sofrer e o do fazer sofrer, a crueldade, seja sob as formas sangrenta e não sangrenta, implicaria necessariamente a problemática do poder político, sob a forma da soberania (Derrida, 2000, pp ). Vale dizer, não seria possível pensar na questão da crueldade como uma invariante histórica, sem que se enfatize, em contrapartida, a sua articulação orgânica com o poder soberano. Como detentor legítimo que é do uso da força, o Estado seria aquele que empreenderia, de maneira direta e indireta, o exercício da crueldade (Derrida, 2000, pp ). Seria em decorrência disso que a mundialização nos colocaria diante de um cenário novo que poderia nos entreabrir outras possibilidades éticas e políticas, historicamente falando. Isso porque a mundialização poderia colocar em questão a soberania do Estadonação, rompendo assim com a legitimidade do uso da força e do seu poder (Derrida, 2000, pp ). Seria por esse viés que um cosmopolitismo efetivo, portanto, poderia se constituir na tradição do Ocidente (Derrida, 2000, pp ). Derrida pensa aqui nos avanços efetivos e substanciais que ocorreram para a construção política da União Europeia, que transcendem bastante os limites da Comunidade Econômica Europeia, cujos diversos Estados membros cederam uma parcela de suas soberanias políticas a 61
8 Joel Birman instâncias transnacionais. Com isso, o deslocamento do registro estritamente econômico para o político se realizou efetivamente e ainda estaria se processando historicamente. Contudo, se isso já estaria ocorrendo na Europa, o mesmo não seria o caso nas demais comunidades regionais, seja da América do Norte, seja da América do Sul ou da Ásia, nas quais a associação entre as nações se fundaria apenas no registro estritamente econômico, e a soberania política não estaria sendo colocada efetivamente em questão. Existiria, portanto, a possibilidade real de questionamento da crueldade pelas novas condições histórica e política de superação da soberania. Essa modalidade de reflexão evidencia, no entanto, que a desconstrução não seria um voluntarismo filosófico, mas um método inscrito no discurso filosófico que seria marcado pelas possibilidades reais entreabertas pela história. Daí, aliás, as diferentes problemáticas que foram trabalhadas no período final do pensamento de Derrida, a que já nos referimos acima, que seriam decorrentes da desconstrução dos arquivos sobre o mal. Pode-se depreender disso que Derrida procurou estabelecer a diferença teórica existente entre a mundialização e o internacionalismo, no que concerne ao critério distintivo da soberania. Com efeito, enquanto este seria marcado pelo imperativo da soberania, que regularia as relações entre os diversos Estados, aquela não mais seria regulada pela soberania, indicando assim a possibilidade de superação efetiva da soberania. Enfim, se a mundialização implicaria o cosmopolitismo, a internacionalização não construiria jamais um mundo cosmopolita. Por essa trilha a psicanálise poderia ser efetivamente interpelada. A indagação que se colocaria aqui enfaticamente é se a psicanálise pretende se manter como uma organização internacional ou, ao contrário, almeja se transformar num movimento cosmopolita. Seria justamente esse o desafio maior colocado para os Estados Gerais da Psicanálise, no cenário do qual Derrida proferiu a sua conferência sobre os Estados de alma da psicanálise. 62
9 5. Saber sem álibi Seria em decorrência disso, antes de tudo, que a psicanálise estaria implicada na desconstrução da crueldade, seja para o bem seja para o mal. Pode-se sustentar essa proposição não apenas porque o discurso freudiano trabalhou efetivamente essa problemática, nos registros teórico e clínico, como veremos adiante, mas também porque a psicanálise constituiu as suas instâncias de soberania e colaborou então com o exercício efetivo da crueldade (Derrida, 2000, pp ). Com efeito, as diferentes organizações internacionais de psicanálise seja a Associação Internacional de Psicanálise, seja as diversas associações lacanianas e as das demais escolas de psicanálise, constituíram campos diferentes de soberania, nas quais a crueldade encontrou o seu canteiro de obras para ser exercida e se disseminar. No que concerne a isso, não se pode confundir a internacionalização do movimento psicanalítico com a sua possível mundialização cosmopolita, na medida em que naquela o exercício do poder soberano e da crueldade estariam presentes, enquanto nesta poderia se delinear efetivamente um outro horizonte de futuro, sem evidenciar a presença de tais marcas características. Seria essa perspectiva de um outro vir-a-ser do movimento psicanalítico, enfim, o que estaria efetivamente em foco na leitura proposta por Derrida. Assim, Freud constituiu a internacionalização da psicanálise, na primeira década do século passado, com a organização da Associação Internacional de Psicanálise. Desde então, congregou diversas associações em diferentes países, disseminando a psicanálise no campo internacional. A estrutura soberana do poder foi instituída, porém, tanto em nível geral quanto em nível local. A criação de um Comitê Secreto, marcado pela estrita fidelidade a Freud, selou a ordem soberana em questão, num pacto eloquente (Derrida, 2000, pp ). As demais organizações internacionais psicanalíticas reproduziram fundamentalmente a mesma estrutura de poder, não obstante as suas diferenças aparentes e superficiais. 63
10 Joel Birman Por isso mesmo, a constituição dos Estados Gerais da Psicanálise, em 2000, interessou vivamente a Derrida e delineou o cenário para a sua conferência sobre os Estados de alma da psicanálise. Com efeito, os Estados Gerais da Psicanálise seriam uma oportunidade crucial para se colocar em questão a ordem soberana instituída na comunidade psicanalítica e o seu correlato, qual seja o exercício da crueldade (Derrida, 2000, pp ). Para isso, no entanto, o movimento psicanalítico deveria se deslocar decisivamente do registro da internacionalização para o do cosmopolitismo. Nessa perspectiva, os Estados Gerais da Psicanálise não poderiam pretender a salvação da psicanálise (Derrida, 2000, pp ). Numa comparação com a Revolução Francesa, que foi precedida pela constituição dos Estados Gerais convocados pelo rei, não se poderia constituir um Comitê de Salvação Pública, que seria o cenário instituinte de uma nova soberania no campo psicanalítico (Derrida, 2000). É preciso destacar aqui, com toda a ênfase necessária, o que significa o enunciado de salvação da psicanálise, formulado por Derrida de maneira contundente. Algumas indagações se impõem aqui, de maneira prévia, para que se possa responder devidamente a essa questão. Antes de tudo, quem convocou os Estados Gerais da Psicanálise? Em seguida, o que pretendem os ditos Estados Gerais nos seus debates e desdobramentos, isto é, quais seriam as suas estratégias e as suas táticas? (Derrida, 2000, pp ). Os Estados Gerais da Psicanálise foram convocados por um amplo Comitê Internacional, que não foi regulado, para a escolha de seus nomes e nas suas temáticas, por nenhuma das diversas organizações psicanalíticas internacionais. Portanto, ocorreu na sua convocação uma ruptura efetiva com as soberanias constituintes e instituintes do movimento psicanalítico internacional. Ao lado disso, os diversos participantes dos Estados Gerais aderiram a ele em nome próprio e não por fazerem parte de alguma instituição psicanalítica existente. Portanto, a adesão e a participação foram marcadas 64
11 pela singularização de seus participantes. Enfim, as diversas temáticas do debate procuraram colocar em pauta os impasses presentes nos diversos discursos teóricos e nas modalidades de organização social da psicanálise. Além disso, Derrida evocou a presença de um mal-estar na psicanálise, em decorrência da perda de seu prestígio simbólico e social. Com efeito, a disseminação do discurso teórico das neurociências na contemporaneidade acossaria efetivamente a psicanálise e colocaria em cena a sua possibilidade efetiva de sobrevivência no futuro (Derrida, 2000, pp ). O que se impõe, portanto, é a interrogação crucial de como é que a psicanálise irá se defrontar efetivamente com os novos discursos científico e técnico que a interpelam hoje. Se Freud nunca evitou tal debate, segundo Derrida, é preciso saber como a psicanálise na contemporaneidade irá se posicionar em face dos novos discursos científico e técnico. Assim, promover efetivamente uma outra modalidade de Estados Gerais da Psicanálise implicaria que esta, de fato e de direito, pudesse romper efetivamente com os seus compromissos com as instâncias da soberania e do exercício da crueldade. Portanto, não transformar os ditos Estados Gerais numa salvação da psicanálise seria romper com tais modalidades de organização soberana, que assumem hoje feições marcadamente fundamentalistas. Isso porque os supostos discursos teóricos de tais organizações soberanas indicam as suas relações com o registro teológico-político, que se materializam nas suas formas de soberania institucional. Enfim, o risco presente nos Estados Gerais, ao querer salvar a psicanálise, seria constituir uma nova internacional psicanalítica e um outro campo político de soberania, tendo como seu correlato a experiência do terror, tal como ocorreu num segundo momento da Revolução Francesa. Para isso, no entanto, a ruptura com a soberania e com a crueldade implicaria o deslocamento decisivo da internacionalização da psicanálise para a sua efetiva mundialização. Se esta pressupõe o cosmopolitismo concretamente (Derrida, 1994), isso implicaria a constituição de laços sociais fundados na amizade, que relançaria o 65
12 Joel Birman movimento psicanalítico numa outra perspectiva ética e política, como Derrida delineou na sua obra Políticas da amizade (Derrida, 1994). Enfim, o cultivo dos laços de amizade, na comunidade psicanalítica, iria na direção oposta à da soberania e da crueldade. Porém, para que isso possa acontecer efetivamente, é necessário que a psicanálise possa se deslocar de sua posição de pretensa neutralidade em relação ao registro político que teria marcado a sua história desde os seus primórdios (Derrida, 2000, pp e pp ). Com efeito, é preciso que a psicanálise possa assumir seus compromissos com a política, sem os quais continuará a manter inequivocamente os seus álibis com os registros da teologia, da moral, do poder e da soberania (Derrida, 2000, pp ). Isso porque, com tais álibis, a psicanálise estaria perpetrando um crime contra os seus próprios pressupostos, produzindo em relação ao seu discurso efeitos autoimunitários, que a conduzirão infalivelmente à sua efetiva dissolução histórica (Derrida, 2000, pp ). Enfim, não se pode esquecer, em relação a isso, que a psicanálise é um discurso teórico finito porque histórico, conforme Derrida sublinhou desde o início do seu ensaio (Derrida, 2000, pp ). Foi nesse contexto, aliás, que Derrida formulou uma das melhores definições, ao mesmo tempo ética e política, da psicanálise, qual seja a de que esta seria e deveria ser um saber sem álibi (Derrida, 2000, p. 88). Formular que a psicanálise seria um saber sem álibi implica enunciar que ela não poderia estabelecer qualquer relação de compromisso com a crueldade e com a soberania, sob o risco de promover efeitos autoimunes que a conduziriam à sua própria dissolução. Derrida enuncia, portanto, que no registro psíquico do inconsciente não poderiam existir álibis, mas se a comunidade psicanalítica procura tecer laços com a crueldade e a soberania, a psicanálise caminharia inevitavelmente em direção à sua dissolução autoimunitária. Estaria aqui, nesse paradoxo, o impasse maior da psicanálise na atualidade. 66
13 No entanto, para se manter à altura de ser discurso e ter a envergadura ética de ser um saber sem álibi, a psicanálise teria que se defrontar ainda com a problemática da crueldade em outros registros, tanto teórico quanto clínico e ético. Estaria aqui a outra dimensão da questão colocada por Derrida. Isso porque é preciso evocar que a crueldade sempre esteve no horizonte do discurso psicanalítico desde os primórdios de sua história e, por isso mesmo, qualquer confrontação efetiva na atualidade com a problemática da crueldade passaria necessariamente pela psicanálise. Se outros saberes estariam também aqui envolvidos, enfim, a psicanálise ocuparia uma posição crucial nessa interpelação (Derrida, 2000, pp ). Porém, é preciso sublinhar devidamente que se a soberania e a crueldade resistem à psicanálise, por um lado, a psicanálise sempre resistiu também à soberania e à crueldade (Derrida, 2000, pp e pp ). O que está em pauta aqui para Derrida é o próprio conceito psicanalítico de resistência (Derrida, 2000, p. 20). O qual implica dizer que a psicanálise enquanto tal resiste também à psicanálise, produzindo efeitos autoimunes em relação a si própria. Ou, dito de outra maneira, o movimento psicanalítico resiste igualmente à psicanálise e ao inconsciente, caracterizados que estes seriam pela dimensão ética do imperativo do sem álibi. Estaria aqui o paradoxo crucial enunciado por Derrida no que concerne à relação da comunidade psicanalítica com a psicanálise e com o registro psíquico do inconsciente. As sombras da psicologização, da psiquiatrização e da medicalização do discurso psicanalítico se enunciam aqui com toda a eloquência possível. Portanto, para que se possa caminhar devidamente pelo fio da navalha desse paradoxo, mantendo o imperativo ético da psicanálise de pretender ser um saber sem álibi, o que se coloca para nós agora é interpelar como o discurso freudiano trabalhou a problemática da crueldade. 67
14 Joel Birman 6. Signos da crueldade De que maneira se enunciou a problemática da crueldade no discurso freudiano? Quais signos evidenciam neste um trabalho teórico efetivo sobre a dita problemática? Certamente, foi pela formulação do conceito de pulsão de morte, enunciado no ensaio Além do princípio do prazer e publicado em 1920 (Freud, 1920/1981), que o discurso freudiano colocou em destaque o registro do aparelho psíquico onde se enraizaria a crueldade. Com efeito, foi pela mediação do conceito de pulsão de morte que Freud formulou a existência da pulsão de destruição como sendo um de seus desdobramentos cruciais, ao lado da compulsão à repetição. Portanto, foi pelo viés de sua mitologia das pulsões, como Derrida se referiu repetidamente a isso em seu texto, desde o seu início (Derrida, 2000, p. 14), que o discurso freudiano colocou em evidência a problemática da crueldade. No entanto, a inscrição dessa problemática na psicanálise se realizou no discurso freudiano desde os seus primórdios, mas sob a forma de outros enunciados. Com efeito, desde os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, publicado em 1905, Freud já destacara a existência de uma pulsão de domínio no aparelho psíquico, na qual dita pulsão se articularia com os imperativos do poder e da soberania (Freud, 1905/1962). A pulsão de domínio teria como alvo o controle e a captura do objeto, como condição fundamental para a produção do prazer. Portanto, pela mediação da pulsão de domínio seria já pela dita mitologia da pulsão que a crueldade estaria em causa para Freud. Ao lado disso, o sadismo e o masoquismo, como pulsões primordiais do psiquismo, se inscreveram também no discurso freudiano desde os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (Freud, 1905/1962), compondo o campo da crueldade. Assim, desde os seus primórdios essa problemática se inscreveu no discurso freudiano pela polaridade estabelecida entre o fazer sofrer e o se deixar sofrer, modalidades que seriam da produção do 68
15 prazer. Enfim, seria ainda por esse viés que a dita mitologia das pulsões estaria em pauta na elucidação da economia da crueldade. Assim, pelo enunciado de diferentes conceitos Freud inscreveu a problemática da crueldade no campo da psicanálise, de fato e de direito. Além disso, todos esses conceitos se articulariam sempre no registro da pulsão de diferentes maneiras. Por isso mesmo, a psicanálise seria um saber crucial, ao lado de outros, em qualquer reflexão rigorosa sobre a crueldade. Para Derrida, a legitimidade do discurso freudiano, no que concerne a isso, seria indiscutível. É preciso indagar agora, contudo, como Freud trabalhou essa problemática ao enunciar os diferentes conceitos acima destacados. Para responder devidamente a isso, é preciso indicar alguns campos teóricos, no discurso freudiano, por meio dos quais a dita problemática foi se impondo para Freud de maneira irrefutável em sua leitura do psiquismo. Vamos colocar em evidência a descontinuidade presente no discurso freudiano no que concerne a isso, indicando ao mesmo tempo as articulações presentes nesse discurso entre as problemáticas da crueldade e da soberania. 7. Soberania e injustiça, entre destruição e domínio Assim, apesar de ter enunciado o conceito de pulsão de domínio desde os primórdios da psicanálise, o discurso freudiano não conferiu a ela o atributo de ser uma pulsão de destruição. Somente posteriormente essa inflexão decisiva foi realizada no dito discurso, em decorrência da transformação da teoria das pulsões ocorrida com o enunciado do conceito de pulsão de morte. Nos primórdios do discurso freudiano, a pulsão de domínio estaria imediatamente ligada ao sadismo primário, pelo qual, no campo da sexualidade perverso-polimorfa, o infante procuraria dominar o objeto 69
16 Joel Birman com a finalidade da obtenção do prazer, mas sem ter, em contrapartida, o propósito de provocar dor (Freud, 1905/1962). Seria a constatação efetiva do dano produzido no objeto, em contrapartida, o que conduziria o infante à reversão da direção da pulsão, infletindo-a então do registro do sadismo para o do masoquismo, isto é, reconfigurando-a do polo do fazer mal para o do se deixar fazer mal (Freud, 1905/1962). Seria a culpa, enfim, o que produziria a reversão da direção da pulsão no aparelho psíquico, conduzindo-a para um outro destino (Freud, 1905/1962). Nesse contexto teórico, portanto, a constituição do psiquismo seria fundamentalmente marcada pelo masoquismo, na medida em que o movimento do fazer mal (sadismo) se transformaria no movimento do se fazer mal (masoquismo), na inflexão daquele produzido pela culpa. Em sua primeira genealogia do mal-estar na modernidade, publicada em 1908 sob o título de A moral sexual civilizada e a doença nervosa dos tempos modernos, com efeito, Freud indicou o conjunto de operações de interdição e de práticas institucionais (ordem familiar e casamento monogâmico) que seriam as condições social e histórica de possibilidade para a dita reversão masoquista. A resultante maior disso seria o masoquismo, como matéria-prima primordial das doenças nervosas dos tempos modernos (Freud, 1908/1973), isto é, das diversas perturbações psíquicas recenseadas pelo discurso psiquiátrico. Nessa perspectiva, a pretensão da experiência psicanalítica seria promover a cura do dito mal-estar pela suspensão do movimento masoquista do sujeito. Para isso, contudo, este teria que compreender que pretender dominar o objeto para a obtenção do prazer não implicaria necessariamente produzir qualquer dano nesse objeto. Vale dizer, o sujeito seria concebido aqui como naturalmente bom, mas as formas pelas quais as práticas institucionais de socialização teriam promovido as suas interdições o teriam conduzido infalivelmente à certeza de que seria mau, advindo daí as ditas perturbações psíquicas disso decorrentes. Enfim, a transformação da pulsão 70
17 de domínio em masoquismo, pela mediação da culpa, seria a fonte inesgotável do mal-estar na modernidade. É preciso evocar, no que tange a isso, que o discurso freudiano se inscrevia aqui na matriz teórica da filosofia política de Rousseau que, no Discurso sobre a desigualdade entre os homens (Rousseau, 1973), formulara que seria pela operação da piedade que o indivíduo abriria mão do exercício da violência sobre o outro e da rivalidade mortífera, constituindo assim as condições de possibilidade para a harmonia e o contrato social, numa efetiva comunhão coletiva. Seria por esse viés, enfim, que o mundo se deslocaria do registro pré-político para o político, instaurando assim a soberania do Estado. A descrição freudiana foi moldada nas mesmas linhas de força da interpretação de Rousseau, na qual a violência primordial enunciada por este seria similar à pulsão de domínio daquele. Além disso, a operação da piedade seria similar à interdição produzida pela culpa. O que estaria teoricamente em pauta para ambos, em campos discursivos bastante diferentes, seria a passagem decisiva do registro da natureza para os da ordem social, política e civilizatória, que implicariam a constituição do sujeito no registro ético. Porém, em Totem e tabu, a descrição freudiana das relações de força e de poder entre os indivíduos já evidenciava novas questões, na medida em que o domínio do soberano sobre o outro já revelava a sua dimensão destrutiva e sangrenta. Assim, na leitura do mito da horda primitiva de Darwin, o discurso freudiano colocou em destaque a dominação feroz e a destruição realizadas pela figura do pai originário sobre os filhos, caso estes colocassem em questão o monopólio do gozo pretendido por aquele (Freud, 1913/1975). Além disso, quando os filhos se rebelaram contra o pai posteriormente, associando as suas frágeis forças para se contraporem à onipotência daquele, a resultante disso foi o parricídio (Freud, 1913/1975). A crueldade sangrenta, em toda a sua 71
18 Joel Birman eloquência, enfim, se inscreveu agora no discurso freudiano nos seus menores detalhes. Contudo, se a figura do pai morto se forjou assim como o mito fundante das ordens social e política, pela associação tecida pelos irmãos, a culpa se delineou aqui, em contrapartida, como um imperativo para impedir que os filhos pudessem exercer no futuro a força sangrenta e o exercício onipotente do poder. Ao lado disso, a ameaça da repetição da morte violenta se colocou também em cena como um espectro. Com efeito, a figura do pai onipotente, representado que foi pelo totem, seria a evocação permanente para que ninguém ousasse exercer o poder onipotente daquele, sob o risco de ter o mesmo destino, qual seja, a morte pelo assassinato (Freud, 1913/1975). Pode-se depreender disso que Freud não esboça aqui, na sua leitura do mito da horda primitiva, a constituição das ordens social e política em geral, mas a emergência da modernidade, pela qual os filhos/ cidadãos forjaram uma sociedade igualitária e fraternal com a realização da Revolução Francesa. A liberdade daquelas resultante seria decorrência da interdição e da ameaça de morte de qualquer um que pretendesse realizar o exercício onipotente do poder. No entanto, a piedade estaria ainda aqui presente nessa descrição, mas de maneira agora oblíqua, não obstante o exercício da crueldade sangrenta e a afirmação eloquente de que no fundamento da ordem política estaria o crime. Porém, se este provoca culpa nos seus realizadores, isso evidencia de forma patente a compaixão dos vivos para com os mortos e a sombra da piedade como virtude moral. Seria a presença da piedade e da culpa, na regulação possível das relações e dos laços sociais, enfim, o que faria o discurso freudiano apostar na ordem republicana e na democracia modernas. Contudo, logo em seguida, em 1915, Freud se confrontou diretamente com a impossibilidade da existência de qualquer soberania sem violência. Em Considerações atuais sobre a guerra e a morte, o 72
19 discurso freudiano expressou sua surpresa pela violência sangrenta e a crueldade que se faziam presentes nos campos de batalha da Primeira Grande Guerra, no confronto bestial entre as diferentes tradições iluministas europeias, isto é, a Alemanha, a França e a Inglaterra (Freud, 1915/1981). O que Freud colocou em questão aqui foi o paradigma dominante da filosofia política de então, qual seja, o Estado como representante legítimo do uso da força e da violência. Isso porque esse paradigma, que condensava a concepção de soberania, indicava agora as suas consequências cruéis, sem qualquer disfarce, de maneira eloquente (Freud, 1915/1981). Com efeito, numa inflexão decisiva de seu pensamento, Freud pôde assim formular que a soberania do Estado seria a condensação efetiva da injustiça (Freud, 1915/1981). Assim, o Estado e o direito evidenciariam a crueldade presente na regulação dos laços sociais, e seria essa crueldade o que fundaria a soberania. Vale dizer, o Estado, o direito e a soberania seriam os representantes da injustiça e não da justiça propriamente dita. É preciso evocar aqui que Benjamin, logo após a Primeira Grande Guerra, formulou uma tese bastante próxima daquela enunciada por Freud. Com efeito, no seu ensaio Crítica da violência, publicado em 1921, Benjamin sublinhou a diferença existente entre os registros do direito e da justiça, indicando que a ordem do direito não se pautava pelo imperativo da justiça, mas, ao contrário, pela exigência do poder (Benjamin, 1921/ 2000). Foi pela mediação da crítica da soberania, na articulação desta com a injustiça e a crueldade, que o discurso freudiano se desdobrou numa outra teoria das pulsões, em Nesse contexto, o conceito de pulsão de morte, sob as formas da pulsão de destruição e da pulsão de dominação, foi enunciado em Além do princípio do prazer (Freud, 1920/1981). Além disso, foi apenas nesse contexto que a pulsão de dominação passou a assumir efetivamente a marca da crueldade, pela qual o sujeito 73
20 Joel Birman pretenderia efetivamente gozar pelo exercício do mal e do fazer o outro sofrer. Em seguida, no ensaio Psicologia das massas e análise do eu, publicado em 1921, Freud retomou a metáfora do porco-espinho enunciada por Schopenhauer, pela qual, como esse animal, a figura do homem não poderia se aproximar demais dos outros, sob o risco de se eriçar e de conflitar inevitavelmente com eles (Freud, 1921/1981). Assim, uma certa distância teria que ser mantida entre os indivíduos, caso contrário a violência se imporia inevitavelmente entre eles, o que implicaria enunciar que o homem seria efetivamente um animal de horda e não um animal de massa, ou seja, seria marcado pela heterogeneidade, sendo daí decorrente a pretensão do sujeito para a violência e para o fazer mal (Freud, 1921/1981). Vale dizer, não obstante a morte do pai onipotente da horda primitiva e da culpa totêmica dos filhos/cidadãos, o sujeito continuaria a se fundar na animalidade da horda, exercendo assim a crueldade e a violência sangrentas em qualquer eventualidade perigosa que se colocasse para si. Seria a singularidade do sujeito, correlato que seria de sua heterogeneidade, que o conduziria inapelavelmente em direção ao mal. Assim, o discurso freudiano passou a se inscrever decididamente numa outra tradição da filosofia política clássica, afastando-se da concepção teórica de Rousseau e se aproximando do modelo teórico de Hobbes, formulado de maneira sistemática no Leviatan (Hobbes, 1651/1972). Com efeito, em Mal-estar na civilização, publicado em 1930, Freud enunciou repetidamente que o homem é o lobo do homem (Freud, 1930/1971), uma das formulações fundamentais de Hobbes em sua filosofia política. Porém, se no discurso teórico de Hobbes a violência e a crueldade humanas justificariam a constituição legítima da soberania do Estado como a única instância efetiva para o uso legítimo da força, representado no seu paradoxo pelo monstro bíblico Leviatan, no discurso tardio de Freud isso não se justificaria mais. Isso porque, como no discurso teórico de Benjamin, 74
21 o Estado seria o representante da injustiça e da força, fonte da dominação e do mal. Assim, no final do discurso freudiano, o Estado e a soberania política não seriam mais as instâncias políticas que garantiriam a concórdia e a harmonia sociais, isto é, a fraternidade, a igualdade e a liberdade entre os cidadãos, mas revelariam no seu interior as divisões e as fragmentações presentes no espaço social. Portanto, seria a guerra de todos contra todos o que atravessaria o espaço social de maneira contínua, insistente e permanente. Com efeito, o homem seria indubitavelmente o lobo do homem, como formulara corretamente Hobbes, mas com a diferença agora de que não existiria mais qualquer instância transcendente que pudesse proteger os homens da guerra permanente que estes estabeleceriam no espaço social. Enquanto representação da injustiça, enfim, o Estado não poderia mais transcender as relações de força, de enfrentamento e de guerra que estariam sempre presentes nas relações entre os indivíduos. Em O problema econômico do masoquismo, publicado em 1924, Freud destacou como o sujeito seria conduzido inevitavelmente para a violência na tentativa de domínio da pulsão de morte pela pulsão de vida. Com efeito, se na expulsão originária da pulsão de morte pela mediação da pulsão de vida, o psiquismo pretendia assim se proteger da destruição produzida pela pulsão de morte em estado livre, acabaria por promover assim pela violência a constituição da pulsão de destruição (Freud, 1924/1973). Se a pulsão de destruição indicaria o exercício da crueldade em face do outro, sob a forma eloquente do fazer sofrer, por um lado, a pulsão de morte não eliminada pela expulsão permaneceria como resto e como fonte inesgotável do se fazer sofrer pelo outro. Enfim, os polos do fazer sofrer e o do se fazer sofrer se ordenariam ao mesmo tempo e num mesmo movimento psíquico, regulados pelo confronto sempre recomeçado entre a pulsão de morte e a pulsão de vida. 75
22 Joel Birman 8. Freud, Einstein e a guerra Pode-se depreender desse percurso como a tese de Derrida, que procurara articular as problemáticas da crueldade e da soberania, se sustenta efetivamente no corpo teórico do discurso freudiano. No que concerne a isso, não existe qualquer dissonância entre as leituras de Derrida e de Freud. Ao longo de seu ensaio sobre os Estados de alma da psicanálise, Derrida procurou fundamentar ainda a sua leitura nos comentários que realizou dos textos de Freud e de Einstein intitulados Por que a guerra?, publicados em 1932, sob os auspícios da Sociedade das Nações (Derrida, 2000, pp e pp ; Einstein & Freud, 1932/1979, pp ). A problemática da soberania está amplamente presente nesse debate, desde o início do texto de Einstein, que iniciou essa conversação, como condição de possibilidade que seria da guerra entre as nações e fonte matricial da crueldade sangrenta (Einstein & Freud, 1932/1979, pp ). Isso porque não existiria qualquer instância que transcendesse as nações nos seus embates que pudesse regular as suas relações de maneira pacífica. A Sociedade das Nações, forjada que foi após o fim da Primeira Grande Guerra, não pôde realizar essa função efetivamente e soçobrou com o início da Segunda Grande Guerra, em Porém, a indagação fundamental de Einstein a Freud, após a constatação do estado de guerra presente entre as nações no plano internacional, é se não existiria na condição humana esse movimento em direção ao confronto, à violência e à guerra, que estaria no fundamento da impossibilidade de regulação pacífica das relações entre as nações (Einstein & Freud, 1932/1979, pp ). Foi nesse contexto que Freud respondeu precisamente com a sua segunda teoria das pulsões, enfatizando o conflito permanente e insistente existente entre as pulsões de vida e as pulsões de morte que marcariam os sujeitos, com todas as consequências éticas que procuramos 76
23 esboçar acima de maneira sistemática (Einstein & Freud, 1932/1979, pp ). Vale dizer, em sua resposta a Einstein, Freud condensou no fundamental a inflexão decisiva realizada no seu discurso teórico depois do ensaio Considerações atuais sobre a guerra e a morte (Freud, 1915/ 1981), que o conduziu inapelavelmente à formulação da sua teoria da pulsão de morte. Foi nesse contexto que Derrida procurou comentar o discurso teórico de Freud, considerando a sua similaridade e suas diferenças em face de outros discursos teóricos inscritos na tradição filosófica, no que concerne à problemática da crueldade, dando especial destaque ao pensamento de Nietzsche. É o que veremos a seguir. 9. Guerra, política e crueldade Assim, para Nietzsche, a crueldade seria constitutiva do vivente, sendo, pois, ineliminável de seu ser. Isso porque aquela se insere no registro da luta pela vida, sendo uma das dimensões pelas quais a vida seria afirmada (Nietzsche, 1971; Derrida, 2000, pp e 72). Essa concepção teórica e ética de Nietzsche remete a Schopenhauer, que no seu discurso filosófico enunciou a relação entre o vivente, a luta pela vida e a afirmação vital do ser (Schopenhauer, 1966). Pode-se afirmar, no que concerne a isso, que essa concepção é estritamente moderna, não estando presente nem na filosofia antiga e tampouco na filosofia medieval. Com efeito, para Aristóteles (Aristote, 1965) e Sêneca (Sénèque, 1980) a crueldade evidenciaria uma animalização do homem, que perderia assim a sua especificidade. Nos séculos XVI e XVIII, com Maquiavel (Machiavel, 1513/ 1952) e Hobbes (1972), a violência e a crueldade foram reconhecidas como dimensão aceitável da condição humana, no que tange especificamente ao campo da política e das relações de poder. Vale dizer, 77
24 Joel Birman com a constituição do discurso da soberania, a crueldade foi reconhecida como legítima, mas se restringindo ao registro estritamente político, o que confirma, aliás, a leitura de Derrida sobre as relações entre crueldade e soberania, enunciadas ao longo do ensaio sobre os Estados de alma da psicanálise, assim como a leitura de Freud. Foi apenas com Sade que a crueldade se deslocou do registro estritamente político e passou a se inscrever como marca constitutiva do ser (Sade, 1972). Desde então se produziu uma descontinuidade no pensamento ocidental, pela qual a crueldade foi trabalhada como traço inconfundível do ser, com Schopenhauer e Nietzsche. Por conta disso, Freud se inscreveu nessa nova tradição teórica, com as características que foram acima destacadas. Da mesma forma, Artaud incorporou essa marca da crueldade no seu discurso, na sua concepção do teatro da crueldade (Artaud, 1978). No entanto, se a modernidade da concepção da crueldade fica assim teoricamente sustentada, as teorizações sobre essa problemática não foram as mesmas em Nietzsche e Freud. Com efeito, se para aquele a crueldade não teria um oposto que pudesse se contrapor ao mal, em Freud esse oposto existiria sob a forma da pulsão de vida (Derrida, 2000, pp ). Com efeito, ao se opor à pulsão de morte, a pulsão de vida poderia regular os efeitos da pulsão de destruição e da pulsão de domínio. Seria pela produção do diferir e pelo engendramento insistente da diferença que a pulsão de vida poderia regular os efeitos da destruição e da crueldade promovida pela pulsão de morte (Derrida, 2000, pp ). O que não implica dizer, bem entendido, que a pulsão de vida vencerá efetivamente os seus embates com a pulsão de morte. Porém, trata-se de uma aposta levantada concretamente pelo discurso freudiano no final do seu percurso, com toda a dimensão de indecidibilidade que isso comportaria como possibilidade. Enfim, o diferir, como operação engendrada pela ligação da pulsão de vida com a pulsão de morte, abriria uma possibilidade na regulação da crueldade e da pulsão de destruição. 78
25 Em decorrência disso, Freud enfatizou, em Análise com fim e análise sem fim (Freud, 1937/1988), os impasses dessa questão no registro estrito da experiência analítica, concebida que foi esta agora como um campo delineado pela metáfora da guerra. Com efeito, no confronto entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, vencerá a guerra quem contar com os batalhões mais fortes. Vale dizer, a soberania, como figura da governabilidade e da política, se apaga agora em face do imperativo da guerra, num resultado agora indecidível no embate estabelecido entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Por isso mesmo, continuando com a mesma metáfora da guerra, em oposição à da política, o discurso freudiano pôde enunciar ainda no mesmo ensaio que existiriam três práticas sociais impossíveis, quais sejam ensinar, governar e psicanalisar (Freud, 1937/1988). Com isso, a psicanálise se aproximaria da política como prática situada no limite do impossível, em decorrência dos impasses no domínio da pulsão de vida sobre a pulsão de morte, tanto no espaço psicanalítico quanto no espaço social. Enfim, no confronto insistente e permanente entre essas forças, a guerra estaria permanentemente presente nas relações entre os sujeitos. 10. Incondicional impossível Contudo, o ensaio de Derrida termina com uma outra aposta e com um outro lance de dados, lançados que foram estes na roleta do destino, afirmando a sua diferença fundamental para com Freud. Essa aposta é definida como um incondicional impossível, pelo qual a crueldade poderia ser dominada e superada. Para que a psicanálise pudesse participar desse projeto, no entanto, teria que ser concebida num além do princípio do prazer e do princípio da realidade, isto é, num além do além, parodiando Derrida criticamente agora o título do texto célebre de Freud sobre a pulsão de morte. Vale dizer, a psicanálise teria que ser concebida num 79
26 Joel Birman outro registro, sem se fundar nesses principados, isto é, nessas soberanias delineadas pelos tais princípios do prazer e da realidade (Derrida, 2000, pp ). Enfim, seria preciso caminhar decididamente em direção ao além do além, residindo aqui a rota para o imperativo do incondicional impossível. Derrida retoma aqui a crítica à psicanálise, já enunciada anteriormente em A carta postal, obra publicada em 1980 pela qual tais princípios e soberanias seriam obstáculos fundamentais para o discurso psicanalítico (Derrida, 1980). Por isso mesmo, seria preciso ultrapassá-los e superá-los, para que a psicanálise pudesse se defrontar efetivamente com a problemática da crueldade, de maneira decisiva. Para Derrida, enfim, tais princípios provocariam efeitos autoimunes no discurso psicanalítico, conduzindo-o à sua dissolução efetiva. Seria pela superação dessas soberanias, ainda presente no seu discurso, que a psicanálise poderia se confrontar com esse incondicional impossível, de forma a poder ultrapassar assim as relações da problemática da crueldade com a da soberania. A questão que isso coloca para a psicanálise, no entanto, é se em sua leitura do aparelho psíquico, tal como foi concebida desde o discurso freudiano, a psicanálise poderia abrir mão da dimensão econômica da metapsicologia. Isso porque os princípios destacados por Derrida, o do prazer e o da realidade, estariam no fundamento da dita dimensão econômica do psiquismo. Seria possível conceber o aparelho psíquico sem a dimensão da economia pulsional? Seria esse o preço que o discurso psicanalítico teria que pagar para superar os seus impasses em face da crueldade? Além disso, se os registros da força e do sentido estariam necessariamente articulados, tanto para Freud quanto para Derrida (1967), o que se impôs para o primeiro, diferentemente do segundo, foi a crescente autonomia do registro da força (pulsão) em face do sentido. A divergência 80
Psicologia USP ISSN: Instituto de Psicologia Brasil
 Psicologia USP ISSN: 0103-6564 revpsico@usp.br Instituto de Psicologia Brasil Birman, Joel Governabilidade, força e sublimação. Freud e a filosofia política Psicologia USP, vol. 21, núm. 3, septiembre,
Psicologia USP ISSN: 0103-6564 revpsico@usp.br Instituto de Psicologia Brasil Birman, Joel Governabilidade, força e sublimação. Freud e a filosofia política Psicologia USP, vol. 21, núm. 3, septiembre,
O MASOQUISMO E O PROBLEMA ECONÔMICO EM FREUD. Esse trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado, vinculada ao Programa de
 O MASOQUISMO E O PROBLEMA ECONÔMICO EM FREUD Mariana Rocha Lima Sonia Leite Esse trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado, vinculada ao Programa de Pós Graduação em Psicanálise da UERJ, cujo objetivo
O MASOQUISMO E O PROBLEMA ECONÔMICO EM FREUD Mariana Rocha Lima Sonia Leite Esse trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado, vinculada ao Programa de Pós Graduação em Psicanálise da UERJ, cujo objetivo
POSSÍVEIS DIMENSÕES DO LUGAR DO ANALISTA NA TÉCNICA FREUDIANA
 Estados Gerais da Psicanálise: Segundo Encontro Mundial, Rio de Janeiro 2003 Tema 3: A experiência psicanalítica e a cultura contemporânea. Sub-tema 3.b.: A questão da resistência e da negatividade na
Estados Gerais da Psicanálise: Segundo Encontro Mundial, Rio de Janeiro 2003 Tema 3: A experiência psicanalítica e a cultura contemporânea. Sub-tema 3.b.: A questão da resistência e da negatividade na
1 Introdução. 1 Foucault, M. O sujeito e o poder. In: Dreyfus, e Rabinow, P. Michel Foucault. Uma trajetória
 1 Introdução Pretende-se, neste estudo, demonstrar a coerência interna do percurso filosófico de Michel Foucault, quando considerado desde o ponto de vista utilizado pelo filósofo, ao definir toda a sua
1 Introdução Pretende-se, neste estudo, demonstrar a coerência interna do percurso filosófico de Michel Foucault, quando considerado desde o ponto de vista utilizado pelo filósofo, ao definir toda a sua
A leitura freudiana da política
 A leitura freudiana da política ISSN 0103-5665 55 A leitura freudiana da política THE FREUDIAN READING OF THE POLITICS LA LECTURA FREUDIANA DE LA POLÍTICA Joel Birman* RESUMO A intenção deste ensaio é
A leitura freudiana da política ISSN 0103-5665 55 A leitura freudiana da política THE FREUDIAN READING OF THE POLITICS LA LECTURA FREUDIANA DE LA POLÍTICA Joel Birman* RESUMO A intenção deste ensaio é
A teoria das pulsões e a biologia. A descrição das origens da pulsão em Freud
 www.franklingoldgrub.com Édipo 3 x 4 - franklin goldgrub 6º Capítulo - (texto parcial) A teoria das pulsões e a biologia A descrição das origens da pulsão em Freud Ao empreender sua reflexão sobre a origem
www.franklingoldgrub.com Édipo 3 x 4 - franklin goldgrub 6º Capítulo - (texto parcial) A teoria das pulsões e a biologia A descrição das origens da pulsão em Freud Ao empreender sua reflexão sobre a origem
A Interdição do Crime do Parricídio e a Constituição da Subjetividade Débora Patrícia Nemer Pinheiro Universidade Positivo
 1 A Interdição do Crime do Parricídio e a Constituição da Subjetividade Débora Patrícia Nemer Pinheiro Universidade Positivo A psicanálise freudiana fundamenta a constituição da subjetividade humana e
1 A Interdição do Crime do Parricídio e a Constituição da Subjetividade Débora Patrícia Nemer Pinheiro Universidade Positivo A psicanálise freudiana fundamenta a constituição da subjetividade humana e
FREUD E LACAN NA CLÍNICA DE 2009
 FREUD E LACAN NA CLÍNICA DE 2009 APRESENTAÇÃO O Corpo de Formação em Psicanálise do Instituto da Psicanálise Lacaniana- IPLA trabalhará neste ano de 2009 a atualidade clínica dos quatro conceitos fundamentais
FREUD E LACAN NA CLÍNICA DE 2009 APRESENTAÇÃO O Corpo de Formação em Psicanálise do Instituto da Psicanálise Lacaniana- IPLA trabalhará neste ano de 2009 a atualidade clínica dos quatro conceitos fundamentais
Quando dar à castração outra articulação que não a anedótica? 1
 Quando dar à castração outra articulação que não a anedótica? 1 Maria Isabel Fernandez Este título extraí do seminário...ou pior, livro 19, de Jacques Lacan, especificamente do capítulo III, intitulado
Quando dar à castração outra articulação que não a anedótica? 1 Maria Isabel Fernandez Este título extraí do seminário...ou pior, livro 19, de Jacques Lacan, especificamente do capítulo III, intitulado
EMENTÁRIO MATRIZ CURRICULAR 2014 PRIMEIRO SEMESTRE
 EMENTÁRIO MATRIZ CURRICULAR 2014 PRIMEIRO SEMESTRE História Antiga 04 Análise da Historiografia relativa à Antiguidade Clássica, incluindo as diferentes apropriações contemporâneas. Constituição da noção
EMENTÁRIO MATRIZ CURRICULAR 2014 PRIMEIRO SEMESTRE História Antiga 04 Análise da Historiografia relativa à Antiguidade Clássica, incluindo as diferentes apropriações contemporâneas. Constituição da noção
O Efeito Depressivo Eduardo Mendes Ribeiro
 O Efeito Depressivo Eduardo Mendes Ribeiro As estatísticas médicas e farmacêuticas indicam que vivemos em tempos de depressão. Nada de novo nesta constatação. Entretanto, chama a atenção o fato de outras
O Efeito Depressivo Eduardo Mendes Ribeiro As estatísticas médicas e farmacêuticas indicam que vivemos em tempos de depressão. Nada de novo nesta constatação. Entretanto, chama a atenção o fato de outras
Nome da disciplina: Formação de grupos sociais diálogos entre sociologia e psicanálise Créditos (T-P-I): (2-0-2) Carga horária: 24 horas
 Caracterização da disciplina Código da disciplina: BC- 0011 Nome da disciplina: Formação de grupos sociais diálogos entre sociologia e psicanálise Créditos (T-P-I): (2-0-2) Carga horária: 24 horas Aula
Caracterização da disciplina Código da disciplina: BC- 0011 Nome da disciplina: Formação de grupos sociais diálogos entre sociologia e psicanálise Créditos (T-P-I): (2-0-2) Carga horária: 24 horas Aula
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIA PSICANALÍTICA Deptº de Psicologia / Fafich - UFMG
 1 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIA PSICANALÍTICA Deptº de Psicologia / Fafich - UFMG Disciplina: Conceitos Fundamentais A 1º sem. 2018 Ementa: O curso tem como principal objetivo o estudo de conceitos
1 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIA PSICANALÍTICA Deptº de Psicologia / Fafich - UFMG Disciplina: Conceitos Fundamentais A 1º sem. 2018 Ementa: O curso tem como principal objetivo o estudo de conceitos
PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA CONTEMPORANEIDADE: UMA VISÃO PSICANALÍTICA
 O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA CONTEMPORANEIDADE: UMA VISÃO PSICANALÍTICA Flávia Angelo Verceze (Discente do Curso de Pós Graduação em Clínica Psicanalítica da UEL, Londrina PR, Brasil; Silvia Nogueira
O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA CONTEMPORANEIDADE: UMA VISÃO PSICANALÍTICA Flávia Angelo Verceze (Discente do Curso de Pós Graduação em Clínica Psicanalítica da UEL, Londrina PR, Brasil; Silvia Nogueira
A resistência como potência
 A resistência como potência Arthur Figer O fenômeno da resistência na teoria e clínica psicanalíticas é marcado por diferentes conceitos e interpretações, muitas vezes ambíguos e contraditórios. Ao mesmo
A resistência como potência Arthur Figer O fenômeno da resistência na teoria e clínica psicanalíticas é marcado por diferentes conceitos e interpretações, muitas vezes ambíguos e contraditórios. Ao mesmo
Entrevista com Taciana Mafra Revista Antígona, Na sua opinião, como se dá a formação de um psicanalista?
 Entrevista com Taciana Mafra Taciana de Melo Mafra - Psicanalista, membro fundadora do Toro de Psicanálise em Maceió, editora da Revista Antígona, autora dos livros Um Percurso em Psicanálise com Lacan,
Entrevista com Taciana Mafra Taciana de Melo Mafra - Psicanalista, membro fundadora do Toro de Psicanálise em Maceió, editora da Revista Antígona, autora dos livros Um Percurso em Psicanálise com Lacan,
DACEX CTCOM Disciplina: Análise do Discurso. Profa. Dr. Carolina Mandaji
 DACEX CTCOM Disciplina: Análise do Discurso cfernandes@utfpr.edu.br Profa. Dr. Carolina Mandaji Análise do Discurso Fernanda Mussalim Objetivos da aula DISCURSO IDEOLOGIA SUJEITO SENTIDO Teoria da Análise
DACEX CTCOM Disciplina: Análise do Discurso cfernandes@utfpr.edu.br Profa. Dr. Carolina Mandaji Análise do Discurso Fernanda Mussalim Objetivos da aula DISCURSO IDEOLOGIA SUJEITO SENTIDO Teoria da Análise
José Antonio Pereira da Silva (Organizador)
 MODALIDADES DO GOZO José Antonio Pereira da Silva (Organizador) MODALIDADES DO GOZO Novembro de 2007 Salvador - Bahia 2007, Associação Científica Campo Psicanalítico Todos os direitos reservados. Nenhuma
MODALIDADES DO GOZO José Antonio Pereira da Silva (Organizador) MODALIDADES DO GOZO Novembro de 2007 Salvador - Bahia 2007, Associação Científica Campo Psicanalítico Todos os direitos reservados. Nenhuma
A ESCRAVIDÃO. O DISCURSO DA LIBERDADE É MÍTICO
 A ESCRAVIDÃO. O DISCURSO DA LIBERDADE É MÍTICO Rachel Rangel Bastos 1 Pretendemos aqui discutir a questão da dominação e servidão, independência e dependência, como noções que vinculam o desejo ao desejo
A ESCRAVIDÃO. O DISCURSO DA LIBERDADE É MÍTICO Rachel Rangel Bastos 1 Pretendemos aqui discutir a questão da dominação e servidão, independência e dependência, como noções que vinculam o desejo ao desejo
O gozo, o sentido e o signo de amor
 O gozo, o sentido e o signo de amor Palavras-chave: signo, significante, sentido, gozo Simone Oliveira Souto O blá-blá-blá Na análise, não se faz mais do que falar. O analisante fala e, embora o que ele
O gozo, o sentido e o signo de amor Palavras-chave: signo, significante, sentido, gozo Simone Oliveira Souto O blá-blá-blá Na análise, não se faz mais do que falar. O analisante fala e, embora o que ele
CLÍNICA, TRANSFERÊNCIA E O DESEJO DO ANALISTA 1 CLINIC, TRANSFERENCE AND DESIRE OF THE ANALYST. Fernanda Correa 2
 CLÍNICA, TRANSFERÊNCIA E O DESEJO DO ANALISTA 1 CLINIC, TRANSFERENCE AND DESIRE OF THE ANALYST Fernanda Correa 2 1 Monografia de Conclusão do Curso de Graduação em Psicologia 2 Aluna do Curso de Graduação
CLÍNICA, TRANSFERÊNCIA E O DESEJO DO ANALISTA 1 CLINIC, TRANSFERENCE AND DESIRE OF THE ANALYST Fernanda Correa 2 1 Monografia de Conclusão do Curso de Graduação em Psicologia 2 Aluna do Curso de Graduação
FILOSOFIA. DISCIPLINA: História da Filosofia Antiga
 EMENTA FILOSOFIA DISCIPLINA: Iniciação filosófica EMENTA: Este curso pretende iniciar o aluno nos principais temas da filosofia, a partir da reflexão de seu núcleo histórico-sistemático, considerando seus
EMENTA FILOSOFIA DISCIPLINA: Iniciação filosófica EMENTA: Este curso pretende iniciar o aluno nos principais temas da filosofia, a partir da reflexão de seu núcleo histórico-sistemático, considerando seus
Michel Foucault. Uma trajetória filosófica. Para além do estruturalismo e da hermenêutica, p. 262.
 6 Conclusão Procurou-se, ao longo deste estudo, demonstrar a coerência interna do percurso filosófico de Michel Foucault, quando considerado do ponto de vista da problematização empreendida, pelo filósofo,
6 Conclusão Procurou-se, ao longo deste estudo, demonstrar a coerência interna do percurso filosófico de Michel Foucault, quando considerado do ponto de vista da problematização empreendida, pelo filósofo,
» As palavras têm uma história e fazem a história. O peso e o significado das palavras são influenciados pela história
 Denis Hendrick » As palavras têm uma história e fazem a história. O peso e o significado das palavras são influenciados pela história» A palavra cultura não tem equivalente na maioria das línguas orais.
Denis Hendrick » As palavras têm uma história e fazem a história. O peso e o significado das palavras são influenciados pela história» A palavra cultura não tem equivalente na maioria das línguas orais.
O Fenômeno Psicossomático (FPS) não é o signo do amor 1
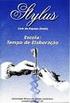 O Fenômeno Psicossomático (FPS) não é o signo do amor 1 Joseane Garcia de S. Moraes 2 Na abertura do seminário 20, mais ainda, cujo título em francês é encore, que faz homofonia com en corps, em corpo,
O Fenômeno Psicossomático (FPS) não é o signo do amor 1 Joseane Garcia de S. Moraes 2 Na abertura do seminário 20, mais ainda, cujo título em francês é encore, que faz homofonia com en corps, em corpo,
França: séc. XX Período entre guerras
 Michel Foucault França: séc. XX Período entre guerras Nasce 15/10/1926 Morre 02/06/1984 École Normale Supérieure nunca se destacou academicamente Seus estudos iam da psicologia à filosofia Influenciado
Michel Foucault França: séc. XX Período entre guerras Nasce 15/10/1926 Morre 02/06/1984 École Normale Supérieure nunca se destacou academicamente Seus estudos iam da psicologia à filosofia Influenciado
1 Introdução. question. Paris: Flammarion, DERRIDA, J. Estados-da-alma da psicanálise, traduzido por Antonio Romane e Isabel Kahn
 1 Introdução Esta tese surgiu de uma provocação ocorrida ao término de um curso de especialização em filosofia contemporânea, na PUC-RJ, quando fui apresentada ao pensamento de Jacques Derrida, através
1 Introdução Esta tese surgiu de uma provocação ocorrida ao término de um curso de especialização em filosofia contemporânea, na PUC-RJ, quando fui apresentada ao pensamento de Jacques Derrida, através
marginalmente o campo dos interesses e das reflexões pedagógicas.
 Introdução Que relação a psicanálise pode manter com a educação? Questão inaugurada por Freud como o primeiro exercício de um projeto de extensão da psicanálise a outros campos do conhecimento, obteve
Introdução Que relação a psicanálise pode manter com a educação? Questão inaugurada por Freud como o primeiro exercício de um projeto de extensão da psicanálise a outros campos do conhecimento, obteve
Prova de Filosofia - Contratualismo de J. J. Rousseau
 PROFESSOR: RICARDO EVANGELISTA BRANDÃO DISCIPLINA FILOSOFIA II ESTUDANTE: EMANUEL ISAQUE CORDEIRO DA SILVA ASSUNTO: FILOSOFIA POLÍTICA/CONTRATUALISMO DE ROUSSEAU 1 ) Na primeira parte do Discurso Sobre
PROFESSOR: RICARDO EVANGELISTA BRANDÃO DISCIPLINA FILOSOFIA II ESTUDANTE: EMANUEL ISAQUE CORDEIRO DA SILVA ASSUNTO: FILOSOFIA POLÍTICA/CONTRATUALISMO DE ROUSSEAU 1 ) Na primeira parte do Discurso Sobre
Roberto Machado NIETZSCHE E A VERDADE. 3ª edição Edição revista
 Roberto Machado NIETZSCHE E A VERDADE 3ª edição Edição revista São Paulo / Rio de Janeiro 2017 Sumário Introdução 7 Esclarecimento 19 I Arte e ciência 1 A arte trágica e a apologia da aparência 23 2 Metafísica
Roberto Machado NIETZSCHE E A VERDADE 3ª edição Edição revista São Paulo / Rio de Janeiro 2017 Sumário Introdução 7 Esclarecimento 19 I Arte e ciência 1 A arte trágica e a apologia da aparência 23 2 Metafísica
Estado: conceito e evolução do Estado moderno. Santana do Livramento
 Estado: conceito e evolução do Estado moderno Santana do Livramento Objetivos da Aula Objetivo Geral Estudar o significado do Estado, sua concepção e evolução para os modelos do Estado Moderno, para a
Estado: conceito e evolução do Estado moderno Santana do Livramento Objetivos da Aula Objetivo Geral Estudar o significado do Estado, sua concepção e evolução para os modelos do Estado Moderno, para a
Ética e política da subjetividade: hermenêutica do sujeito e parrhesía em Michel Foucault.
 Ética e política da subjetividade: hermenêutica do sujeito e parrhesía em Michel Foucault. André Pereira Almeida Os últimos cursos e trabalhos de Foucault acerca da constituição do sujeito ético e político
Ética e política da subjetividade: hermenêutica do sujeito e parrhesía em Michel Foucault. André Pereira Almeida Os últimos cursos e trabalhos de Foucault acerca da constituição do sujeito ético e político
Prova de Filosofia - Maquiavel e Thomas Hobbes
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS BELO JARDIM Avaliação da Terceira Unidade 2 ano B, Disciplina: Filosofia II Prova Sobre os Pensamentos de Maquiavel e Hobbes Professor:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS BELO JARDIM Avaliação da Terceira Unidade 2 ano B, Disciplina: Filosofia II Prova Sobre os Pensamentos de Maquiavel e Hobbes Professor:
O Contratualismo - Thomas Hobbes
 O Contratualismo - Thomas Hobbes 1. Sem leis e sem Estado, você poderia fazer o que quisesse. Os outros também poderiam fazer com você o que quisessem. Esse é o estado de natureza descrito por Thomas Hobbes,
O Contratualismo - Thomas Hobbes 1. Sem leis e sem Estado, você poderia fazer o que quisesse. Os outros também poderiam fazer com você o que quisessem. Esse é o estado de natureza descrito por Thomas Hobbes,
Os paradigmas em psicanálise são comparáveis? Sobre o mal-estar, a biopolítica e os jogos de verdade
 Paradigmas Joel Birmanem psicanálise são comparáveis? ISSN 0101-4838 147 Os paradigmas em psicanálise são comparáveis? Sobre o mal-estar, a biopolítica e os jogos de verdade Joel Birman* RESUMO A intenção
Paradigmas Joel Birmanem psicanálise são comparáveis? ISSN 0101-4838 147 Os paradigmas em psicanálise são comparáveis? Sobre o mal-estar, a biopolítica e os jogos de verdade Joel Birman* RESUMO A intenção
MICHEL FOUCAULT ( ) ( VIGIAR E PUNIR )
 AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. RUBENS Todo RAMIRO exemplo JR (TODOS citado
AVISO: O conteúdo e o contexto das aulas referem-se aos pensamentos emitidos pelos próprios autores que foram interpretados por estudiosos dos temas expostos. RUBENS Todo RAMIRO exemplo JR (TODOS citado
TEMA: Ética, Responsabilidade e Consumo Sustentável: uma aproximação necessária
 TEMA: Ética, Responsabilidade e Consumo Sustentável: uma aproximação necessária No cenário dos debates e reflexões sobre a problemática ambiental hodierna, o consumo configura-se como uma perspectiva analítica
TEMA: Ética, Responsabilidade e Consumo Sustentável: uma aproximação necessária No cenário dos debates e reflexões sobre a problemática ambiental hodierna, o consumo configura-se como uma perspectiva analítica
CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS DOS CONCEITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM MATERIALIDADES LEGISLATIVAS. José Ricardo de Souza Rebouças Bulhões 1 INTRODUÇÃO
 CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS DOS CONCEITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM MATERIALIDADES LEGISLATIVAS José Ricardo de Souza Rebouças Bulhões 1 INTRODUÇÃO O presente resumo apresenta os resultados parciais de pesquisa
CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS DOS CONCEITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM MATERIALIDADES LEGISLATIVAS José Ricardo de Souza Rebouças Bulhões 1 INTRODUÇÃO O presente resumo apresenta os resultados parciais de pesquisa
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER
 RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
RESENHA A HISTÓRIA DAS IDÉIAS NA PERSPECTIVA DE QUENTIN SKINNER Vander Schulz Nöthling 1 SKINNER, Quentin. Meaning and Understand in the History of Ideas, in: Visions of Politics, Vol. 1, Cambridge: Cambridge
introdução repetição e arquivo
 introdução repetição e arquivo Este livro aborda a conjunção dos discursos de Sigmund Freud (1856 1939) e Sándor Ferenczi (1873 1933) sobre a experiência psicanalítica, assim como as ressonâncias dessa
introdução repetição e arquivo Este livro aborda a conjunção dos discursos de Sigmund Freud (1856 1939) e Sándor Ferenczi (1873 1933) sobre a experiência psicanalítica, assim como as ressonâncias dessa
Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais - Almanaque On-line n 20
 Entre a cruz e a espada: culpa e gozo em um caso de neurose obsessiva Rodrigo Almeida Resumo : O texto retoma o tema do masoquismo e as mudanças que Freud introduz ao longo da sua obra, evidenciando sua
Entre a cruz e a espada: culpa e gozo em um caso de neurose obsessiva Rodrigo Almeida Resumo : O texto retoma o tema do masoquismo e as mudanças que Freud introduz ao longo da sua obra, evidenciando sua
PETRI, R. Psicanálise e educação no tratamento da psicose infantil: quatro experiências institucionais. São Paulo, SP: Annablume, 2003
 PETRI, R. Psicanálise e educação no tratamento da psicose infantil: quatro experiências institucionais São Paulo, SP: Annablume, 2003 Marise Bartolozzi B astos Eis um trabalho que traz uma importante contribuição
PETRI, R. Psicanálise e educação no tratamento da psicose infantil: quatro experiências institucionais São Paulo, SP: Annablume, 2003 Marise Bartolozzi B astos Eis um trabalho que traz uma importante contribuição
O SONHO FOI PARA O DESERTO DO REAL
 O SONHO FOI PARA O DESERTO DO REAL Simone Perelson * Resenha do livro BIRMAN, Joel. O sujeito na contemporaneidade. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2012. A psicanálise, assim como a modernidade,
O SONHO FOI PARA O DESERTO DO REAL Simone Perelson * Resenha do livro BIRMAN, Joel. O sujeito na contemporaneidade. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2012. A psicanálise, assim como a modernidade,
Referências Bibliográficas
 98 Referências Bibliográficas ALBERTI, S. Esse Sujeito Adolescente. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 1999. APOLINÁRIO, C. Acting out e passagem ao ato: entre o ato e a enunciação. In: Revista Marraio.
98 Referências Bibliográficas ALBERTI, S. Esse Sujeito Adolescente. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 1999. APOLINÁRIO, C. Acting out e passagem ao ato: entre o ato e a enunciação. In: Revista Marraio.
ORIGEM DO ESTADO E FORMAS DE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA. Prof. Elson Junior Santo Antônio de Pádua, Junho de 2017
 ORIGEM DO ESTADO E FORMAS DE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA Prof. Elson Junior Santo Antônio de Pádua, Junho de 2017 CONCEPÇÕES DA ORIGEM DO ESTADO Existem cinco principais correntes que teorizam a este respeito:
ORIGEM DO ESTADO E FORMAS DE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA Prof. Elson Junior Santo Antônio de Pádua, Junho de 2017 CONCEPÇÕES DA ORIGEM DO ESTADO Existem cinco principais correntes que teorizam a este respeito:
Escola Secundária de Carregal do Sal
 Escola Secundária de Carregal do Sal Área de Projecto 2006\2007 Sigmund Freud 1 2 Sigmund Freud 1856-----------------Nasceu em Freiberg 1881-----------------Licenciatura em Medicina 1885-----------------Estuda
Escola Secundária de Carregal do Sal Área de Projecto 2006\2007 Sigmund Freud 1 2 Sigmund Freud 1856-----------------Nasceu em Freiberg 1881-----------------Licenciatura em Medicina 1885-----------------Estuda
Quando o inominável se manifesta no corpo: a psicossomática psicanalítica no contexto das relações objetais
 Apresentação em pôster Quando o inominável se manifesta no corpo: a psicossomática psicanalítica no contexto das relações objetais Bruno Quintino de Oliveira¹; Issa Damous²; 1.Discente-pesquisador do Deptº
Apresentação em pôster Quando o inominável se manifesta no corpo: a psicossomática psicanalítica no contexto das relações objetais Bruno Quintino de Oliveira¹; Issa Damous²; 1.Discente-pesquisador do Deptº
Formação de grupos sociais diálogos entre Sociologia e Psicanálise
 Formação de grupos sociais diálogos entre Sociologia e Psicanálise Tópicos Especiais em Planejamento e Gestão do Território Prof. Arilson Favareto Aula 1 21/Setembro/2015 Introdução à temática, antecedentes
Formação de grupos sociais diálogos entre Sociologia e Psicanálise Tópicos Especiais em Planejamento e Gestão do Território Prof. Arilson Favareto Aula 1 21/Setembro/2015 Introdução à temática, antecedentes
A HISTÓRIA SOCIAL DOS DIREITOS
 A HISTÓRIA SOCIAL DOS DIREITOS TEMÁTICA As As bases sócio-históricas da fundação dos Direitos Humanos na Sociedade Capitalista A construção dos Direitos A Era da Cultura do Bem Estar Os Direitos na Contemporaneidade
A HISTÓRIA SOCIAL DOS DIREITOS TEMÁTICA As As bases sócio-históricas da fundação dos Direitos Humanos na Sociedade Capitalista A construção dos Direitos A Era da Cultura do Bem Estar Os Direitos na Contemporaneidade
Título - Afeto: entre o conceito e a experiência psicanalítica. A proposta desta mesa redonda é a de levantar algumas questões com relação à
 MESA REDONDA 3.29 Título - Afeto: entre o conceito e a experiência psicanalítica Participantes: Regina Herzog Fernanda Canavêz de Magalhães Jô Gondar O pathos filosófico e a psicanálise Regina Herzog A
MESA REDONDA 3.29 Título - Afeto: entre o conceito e a experiência psicanalítica Participantes: Regina Herzog Fernanda Canavêz de Magalhães Jô Gondar O pathos filosófico e a psicanálise Regina Herzog A
SUPEREU: NOTAS SOBRE LEI E GOZO. Freud nomeou o supereu como herdeiro do complexo de Édipo, mas não deixou
 SUPEREU: NOTAS SOBRE LEI E GOZO Paula Issberner Legey Freud nomeou o supereu como herdeiro do complexo de Édipo, mas não deixou de notar que as coisas não se esgotavam nisso. Ao criar o termo em O eu e
SUPEREU: NOTAS SOBRE LEI E GOZO Paula Issberner Legey Freud nomeou o supereu como herdeiro do complexo de Édipo, mas não deixou de notar que as coisas não se esgotavam nisso. Ao criar o termo em O eu e
Tempos significantes na experiência com a psicanálise 1
 Tempos significantes na experiência com a psicanálise 1 Cássia Fontes Bahia O termo significante está sendo considerado aqui em relação ao desdobramento que pode tomar em um plano mais simples e primeiro
Tempos significantes na experiência com a psicanálise 1 Cássia Fontes Bahia O termo significante está sendo considerado aqui em relação ao desdobramento que pode tomar em um plano mais simples e primeiro
Universidade de Guadalajara 28 de novembro de 2018 O direito a ter direitos num mundo global
 Universidade de Guadalajara 28 de novembro de 2018 O direito a ter direitos num mundo global 1. Neste ano de 2018 assinalamos a passagem de sete décadas sobre o dia em que a Assembleia Geral da ONU adotou
Universidade de Guadalajara 28 de novembro de 2018 O direito a ter direitos num mundo global 1. Neste ano de 2018 assinalamos a passagem de sete décadas sobre o dia em que a Assembleia Geral da ONU adotou
A ETIOLOGIA DAS PSICONEUROSES NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE: UM ESTUDO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE HISTERIA E NEUROSE OBSESSIVA,
 A ETIOLOGIA DAS PSICONEUROSES NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE: UM ESTUDO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE HISTERIA E NEUROSE OBSESSIVA, 1886-1897. Isabelle Maurutto Schoffen (PIC/CNPq-UEM), Helio Honda
A ETIOLOGIA DAS PSICONEUROSES NOS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE: UM ESTUDO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE HISTERIA E NEUROSE OBSESSIVA, 1886-1897. Isabelle Maurutto Schoffen (PIC/CNPq-UEM), Helio Honda
Ítaca 27. Defesas Doutorado Doutorado
 Defesas Doutorado 2013 Doutorado 2013 242 Imaginação e Ideologia na Política de Spinoza Alexandre Arbex Valadares Esta tese propõe uma leitura da política de Spinoza a partir dos conceitos de corpo e imaginação.
Defesas Doutorado 2013 Doutorado 2013 242 Imaginação e Ideologia na Política de Spinoza Alexandre Arbex Valadares Esta tese propõe uma leitura da política de Spinoza a partir dos conceitos de corpo e imaginação.
Latusa Digital ano 1 N 8 agosto de 2004
 Latusa Digital ano 1 N 8 agosto de 2004 Sobre o incurável do sinthoma Ângela Batista * "O que não entendi até agora, não entenderei mais. Graciela Brodsky Este trabalho reúne algumas questões discutidas
Latusa Digital ano 1 N 8 agosto de 2004 Sobre o incurável do sinthoma Ângela Batista * "O que não entendi até agora, não entenderei mais. Graciela Brodsky Este trabalho reúne algumas questões discutidas
Conceito da Ética Destacando as teorias da formação dos conceitos, o objeto e o objetivo da Ética
 Conceito da Ética Destacando as teorias da formação dos conceitos, o objeto e o objetivo da Ética. Definições e Conceitos O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma pessoa). Ética
Conceito da Ética Destacando as teorias da formação dos conceitos, o objeto e o objetivo da Ética. Definições e Conceitos O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma pessoa). Ética
Estilo e Modernidade em Psicanálise
 Estilo e Modernidade em Psicanálise 1 2 Joel Birman Joel Birman ESTILO E MODERNIDADE EM PSICANÁLISE Estilo e Modernidade em Psicanálise 3 EDITORA 34 Distribuição pela Códice Comércio Distribuição e Casa
Estilo e Modernidade em Psicanálise 1 2 Joel Birman Joel Birman ESTILO E MODERNIDADE EM PSICANÁLISE Estilo e Modernidade em Psicanálise 3 EDITORA 34 Distribuição pela Códice Comércio Distribuição e Casa
Aula Véspera UFU Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Professor Uilson Fernandes Uberaba 16 Abril de 2015
 Aula Véspera UFU 2015 Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Professor Uilson Fernandes Uberaba 16 Abril de 2015 NORTE DA AVALIAÇÃO O papel da Filosofia é estimular o espírito crítico, portanto, ela não pode
Aula Véspera UFU 2015 Colégio Cenecista Dr. José Ferreira Professor Uilson Fernandes Uberaba 16 Abril de 2015 NORTE DA AVALIAÇÃO O papel da Filosofia é estimular o espírito crítico, portanto, ela não pode
O LUGAR DO ANALISTA NA CONTEMPORANEIDADE: TEMPO E FORMAÇÃO
 O LUGAR DO ANALISTA NA CONTEMPORANEIDADE: TEMPO E FORMAÇÃO Leilyane Oliveira Araújo Masson A retomada dos textos clássicos freudianos se justifica por considerar que seus argumentos tratam de questões
O LUGAR DO ANALISTA NA CONTEMPORANEIDADE: TEMPO E FORMAÇÃO Leilyane Oliveira Araújo Masson A retomada dos textos clássicos freudianos se justifica por considerar que seus argumentos tratam de questões
ENEM 2016 FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA
 ENEM 2016 FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA Luana Xavier 01. (ENEM 2015) A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestadamente
ENEM 2016 FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA Luana Xavier 01. (ENEM 2015) A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestadamente
Transformações sociais na Europa no século XVI. Revolução Francesa. Revolução Industrial. Revolução científica Reforma protestante
 Auguste Comte Transformações sociais na Europa no século XVI Revolução Francesa Revolução Industrial Revolução científica Reforma protestante Urbanização Formação de novas classes sociais (burguesia e
Auguste Comte Transformações sociais na Europa no século XVI Revolução Francesa Revolução Industrial Revolução científica Reforma protestante Urbanização Formação de novas classes sociais (burguesia e
CONCEPÇÕES ÉTICAS Mito, Tragédia e Filosofia
 CONCEPÇÕES ÉTICAS Mito, Tragédia e Filosofia O que caracteriza a consciência mítica é a aceitação do destino: Os costumes dos ancestrais têm raízes no sobrenatural; As ações humanas são determinadas pelos
CONCEPÇÕES ÉTICAS Mito, Tragédia e Filosofia O que caracteriza a consciência mítica é a aceitação do destino: Os costumes dos ancestrais têm raízes no sobrenatural; As ações humanas são determinadas pelos
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Relatório Perfil Curricular
 CICLO PROFISSIONAL OU TRONCO COMUM FL237 - ETICA OBRIGATÓRIO 3 60 0 60 4.0 PRESSUPOSTOS ANTROPOLÓGICOS DA ÉTICA. A ESTRUTURA DO AGIR MORAL: ESTRUTURA OBJETIVA E SUBJETIVA; A CONSISTÊNCIA MORAL; A LIBERDADE;
CICLO PROFISSIONAL OU TRONCO COMUM FL237 - ETICA OBRIGATÓRIO 3 60 0 60 4.0 PRESSUPOSTOS ANTROPOLÓGICOS DA ÉTICA. A ESTRUTURA DO AGIR MORAL: ESTRUTURA OBJETIVA E SUBJETIVA; A CONSISTÊNCIA MORAL; A LIBERDADE;
A abrangência da antropologia Mércio Gomes
 A abrangência da antropologia Mércio Gomes Antropologia - termo Anthropos = homem Logos = estudo, razão, lógica Estudo do homem Sociologia, Economia Ciência humana, Lógica do homem Filosofia, Lógica Características
A abrangência da antropologia Mércio Gomes Antropologia - termo Anthropos = homem Logos = estudo, razão, lógica Estudo do homem Sociologia, Economia Ciência humana, Lógica do homem Filosofia, Lógica Características
Metodologia do Trabalho Científico
 Metodologia do Trabalho Científico Teoria e Prática Científica Antônio Joaquim Severino Grupo de pesquisa: Educação e saúde /enfermagem: políticas, práticas, formação profissional e formação de professores
Metodologia do Trabalho Científico Teoria e Prática Científica Antônio Joaquim Severino Grupo de pesquisa: Educação e saúde /enfermagem: políticas, práticas, formação profissional e formação de professores
Conteúdo Programático Ciências Humanas e suas tecnologias
 Conteúdo Programático Ciências Humanas e suas tecnologias Filosofia 1. Mitologia e Pré-socráticos 2. Sócrates, sofistas 3. Platão 4. Aristóteles 5. Epistemologia racionalismo e empirismo 6. Ética aristotélica
Conteúdo Programático Ciências Humanas e suas tecnologias Filosofia 1. Mitologia e Pré-socráticos 2. Sócrates, sofistas 3. Platão 4. Aristóteles 5. Epistemologia racionalismo e empirismo 6. Ética aristotélica
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
 EMENTAS DO CURSO DE FILOSOFIA Currículo Novo (a partir de 2010/1) NÍVEL I HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA Reflexão acerca da transição do pensamento mítico ao filosófico. Estudo de problemas, conceitos e
EMENTAS DO CURSO DE FILOSOFIA Currículo Novo (a partir de 2010/1) NÍVEL I HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA Reflexão acerca da transição do pensamento mítico ao filosófico. Estudo de problemas, conceitos e
DISCURSO, PRAXIS E SABER DO DIREITO
 DISCURSO, PRAXIS E SABER DO DIREITO ELZA ANTONIA PEREIRA CUNHA MESTRANDA CPGD - UFSC A análise do discurso jurídico, proposta por nossa equipe, reside num quadro epistemológico geral com articulação de
DISCURSO, PRAXIS E SABER DO DIREITO ELZA ANTONIA PEREIRA CUNHA MESTRANDA CPGD - UFSC A análise do discurso jurídico, proposta por nossa equipe, reside num quadro epistemológico geral com articulação de
O real no tratamento analítico. Maria do Carmo Dias Batista Antonia Claudete A. L. Prado
 O real no tratamento analítico Maria do Carmo Dias Batista Antonia Claudete A. L. Prado Aula de 23 de novembro de 2009 Como conceber o gozo? Gozo: popularmente, é traduzido por: posse, usufruto, prazer,
O real no tratamento analítico Maria do Carmo Dias Batista Antonia Claudete A. L. Prado Aula de 23 de novembro de 2009 Como conceber o gozo? Gozo: popularmente, é traduzido por: posse, usufruto, prazer,
A SOCIEDADE POLÍTICA: ESTRUTURA E FUNÇÃO Fábio Konder Comparato
 A SOCIEDADE POLÍTICA: ESTRUTURA E FUNÇÃO Fábio Konder Comparato Estrutura I - O poder político A Conceito É a capacidade de mandar e ter obediência. Distingue-se da simples dominação, na qual prescinde-se
A SOCIEDADE POLÍTICA: ESTRUTURA E FUNÇÃO Fábio Konder Comparato Estrutura I - O poder político A Conceito É a capacidade de mandar e ter obediência. Distingue-se da simples dominação, na qual prescinde-se
Tema-problema: 2.1 Estrutura familiar e dinâmica social DURAÇÃO DE REFERÊNCIA (AULAS): 16 ( )
 MÓDULO 5 Área I A Pessoa Unidade Temática 2 O SUJEITO HISTÓRICO-SOCIAL Tema-problema: 2.1 Estrutura familiar e dinâmica social DURAÇÃO DE REFERÊNCIA (AULAS): 16 (14.09.2017 13.10.2017) APRESENTAÇÃO: Este
MÓDULO 5 Área I A Pessoa Unidade Temática 2 O SUJEITO HISTÓRICO-SOCIAL Tema-problema: 2.1 Estrutura familiar e dinâmica social DURAÇÃO DE REFERÊNCIA (AULAS): 16 (14.09.2017 13.10.2017) APRESENTAÇÃO: Este
ELEMENTOS PARA INTERROGAR UMA CLÍNICA POSSÍVEL NA UNIVERSIDADE: ALGUMAS REFLEXÕES A PARTIR DO TRABALHO DE SUPERVISÃO
 ELEMENTOS PARA INTERROGAR UMA CLÍNICA POSSÍVEL NA UNIVERSIDADE: ALGUMAS REFLEXÕES A PARTIR DO TRABALHO DE SUPERVISÃO Vinicius Anciães Darriba Nadja Nara Barbosa Pinheiro A despeito do fato da relação entre
ELEMENTOS PARA INTERROGAR UMA CLÍNICA POSSÍVEL NA UNIVERSIDADE: ALGUMAS REFLEXÕES A PARTIR DO TRABALHO DE SUPERVISÃO Vinicius Anciães Darriba Nadja Nara Barbosa Pinheiro A despeito do fato da relação entre
Universidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de Filosofia Programa de Pós-Graduação Área de Filosofia
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ÁREA DE FILOSOFIA FLF5154 TEORIA DAS CIÊNCIAS HUMANAS (Filosofia e Psicanálise: questões a respeito de uma teoria moral), PROF. VLADIMIR SAFATLE e PROF. JEFFREY BLOECHL (professor
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ÁREA DE FILOSOFIA FLF5154 TEORIA DAS CIÊNCIAS HUMANAS (Filosofia e Psicanálise: questões a respeito de uma teoria moral), PROF. VLADIMIR SAFATLE e PROF. JEFFREY BLOECHL (professor
1. O CONCEITO DE VIOLÊNCIA E SUAS IMPLICAÇÕES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Núcleo de Estudos da Violência CEPID-FAPESP Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, travessa 4, bloco 2 Tel. (55 11) 3091.4951/ Fax (55 11) 3091.4950 nev@usp.br FLS0608 Sociologia
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Núcleo de Estudos da Violência CEPID-FAPESP Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, travessa 4, bloco 2 Tel. (55 11) 3091.4951/ Fax (55 11) 3091.4950 nev@usp.br FLS0608 Sociologia
ANAIS DO II SEMINÁRIO SOBRE GÊNERO: Os 10 anos da lei Maria da Penha e os desafios das políticas públicas transversais
 DESIGUALDADE DE GÊNERO: UMA QUESTÃO DE NATUREZA IDEOLÓGICA Failon Mitinori Kinoshita (Acadêmico) failonpr2016@gmail.com Italo Batilani (Orientador), e-mail: batilani@hotmail.com Universidade Estadual do
DESIGUALDADE DE GÊNERO: UMA QUESTÃO DE NATUREZA IDEOLÓGICA Failon Mitinori Kinoshita (Acadêmico) failonpr2016@gmail.com Italo Batilani (Orientador), e-mail: batilani@hotmail.com Universidade Estadual do
FREUD INDICA: OS CAMINHOS DA CRIAÇÃO 1
 FREUD INDICA: OS CAMINHOS DA CRIAÇÃO 1 Ana Beatriz Lima da Cruz * A Editora Civilização Brasileira está lançando, sob a coordenação de Nina Saroldi, a coleção Para Ler Freud. Trata-se de uma importante
FREUD INDICA: OS CAMINHOS DA CRIAÇÃO 1 Ana Beatriz Lima da Cruz * A Editora Civilização Brasileira está lançando, sob a coordenação de Nina Saroldi, a coleção Para Ler Freud. Trata-se de uma importante
Unidade 2: História da Filosofia. Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes
 Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes Períodos Históricos da Filosofia Filosofia Grega ou Antiga (Séc. VI a.c. ao VI d.c.) Filosofia Patrística (Séc. I ao VII) Filosofia
Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes Períodos Históricos da Filosofia Filosofia Grega ou Antiga (Séc. VI a.c. ao VI d.c.) Filosofia Patrística (Séc. I ao VII) Filosofia
DERRIDA. 1. Argélia: 1930 / França: 2004
 DERRIDA 1. Argélia: 1930 / França: 2004 2. Temas e conceitos privilegiados: Desconstrução, diferência, diferença, escrita, palavra, sentido, significante 3. Principais influências: Rousseau, Husserl, Heidegger,
DERRIDA 1. Argélia: 1930 / França: 2004 2. Temas e conceitos privilegiados: Desconstrução, diferência, diferença, escrita, palavra, sentido, significante 3. Principais influências: Rousseau, Husserl, Heidegger,
UMA LEITURA DA OBRA DE SIGMUND FREUD. PALAVRAS-CHAVE Sigmund Freud. Psicanálise. Obras Completas de Freud.
 12. CONEX Apresentação Oral Resumo Expandido 1 ÁREA TEMÁTICA: ( ) COMUNICAÇÃO ( X) CULTURA ( ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA ( ) EDUCAÇÃO ( ) MEIO AMBIENTE ( ) SAÚDE ( ) TRABALHO ( ) TECNOLOGIA UMA LEITURA
12. CONEX Apresentação Oral Resumo Expandido 1 ÁREA TEMÁTICA: ( ) COMUNICAÇÃO ( X) CULTURA ( ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA ( ) EDUCAÇÃO ( ) MEIO AMBIENTE ( ) SAÚDE ( ) TRABALHO ( ) TECNOLOGIA UMA LEITURA
TÍTULO: A HUMANIZAÇÃO DO CÃO E A ANIMALIZAÇÃO DO HOMEM - UM PARADOXO CONTEMPORÂNEO
 TÍTULO: A HUMANIZAÇÃO DO CÃO E A ANIMALIZAÇÃO DO HOMEM - UM PARADOXO CONTEMPORÂNEO CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: PEDAGOGIA INSTITUIÇÃO: FACULDADE VICTOR HUGO AUTOR(ES):
TÍTULO: A HUMANIZAÇÃO DO CÃO E A ANIMALIZAÇÃO DO HOMEM - UM PARADOXO CONTEMPORÂNEO CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: PEDAGOGIA INSTITUIÇÃO: FACULDADE VICTOR HUGO AUTOR(ES):
O Mal-Estar na Modernidade e a Psicanálise: a Psicanálise à Prova do Social 1
 O Mal-Estar na Modernidade e a Psicanálise... O Mal-Estar na Modernidade e a Psicanálise: a Psicanálise à Prova do Social 1 JOEL BIRMAN 2 RESUMO O artigo tem a intenção de indicar a presença de dois discursos
O Mal-Estar na Modernidade e a Psicanálise... O Mal-Estar na Modernidade e a Psicanálise: a Psicanálise à Prova do Social 1 JOEL BIRMAN 2 RESUMO O artigo tem a intenção de indicar a presença de dois discursos
FACULDADE DE DIREITO UFMG Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito
 EDITAL DIT Nº. 03/2017 PROGRAMA DE MONITORIA DE GRADUAÇÃO O Chefe do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito, Prof. Ricardo Henrique Carvalho Salgado, faz saber que, no período
EDITAL DIT Nº. 03/2017 PROGRAMA DE MONITORIA DE GRADUAÇÃO O Chefe do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito, Prof. Ricardo Henrique Carvalho Salgado, faz saber que, no período
Há uma idade em que se ensina o que se sabe; mas vem em seguida outra, em que se ensina o que não se sabe: isso se chama pesquisar. (BARTHES,R.
 COMUNICAÇÃO DE PESQUISA PESQUISA CLÍNICA EM PSICANÁLISE Ana Cristina Figueiredo * Letícia Nobre ** Marcus André Vieira *** Há uma idade em que se ensina o que se sabe; mas vem em seguida outra, em que
COMUNICAÇÃO DE PESQUISA PESQUISA CLÍNICA EM PSICANÁLISE Ana Cristina Figueiredo * Letícia Nobre ** Marcus André Vieira *** Há uma idade em que se ensina o que se sabe; mas vem em seguida outra, em que
6 Referências bibliográficas
 78 6 Referências bibliográficas ALMEIDA PRADO, M. C. Uma Introdução aos Qüiproquós Conjugais. In: FÉRES CARNEIRO T. (org.). Relação Amorosa, Casamento, Separação e Terapia de Casal. Rio de Janeiro: Associação
78 6 Referências bibliográficas ALMEIDA PRADO, M. C. Uma Introdução aos Qüiproquós Conjugais. In: FÉRES CARNEIRO T. (org.). Relação Amorosa, Casamento, Separação e Terapia de Casal. Rio de Janeiro: Associação
No reino da fantasia At the phantasy kingdom
 Resenha issn 0101-4838 201 No reino da fantasia At the phantasy kingdom Betty Bernardo Fuks* Resenha de: Coutinho Jorge, M. A. (2010). Fundamentos da psicanálise de Freud a Lacan: a clínica da fantasia.
Resenha issn 0101-4838 201 No reino da fantasia At the phantasy kingdom Betty Bernardo Fuks* Resenha de: Coutinho Jorge, M. A. (2010). Fundamentos da psicanálise de Freud a Lacan: a clínica da fantasia.
FILOSOFIA RENASCENTISTA PENSAMENTO POLÍTICO DE MAQUIAVEL ( )
 FILOSOFIA RENASCENTISTA PENSAMENTO POLÍTICO DE MAQUIAVEL (1469-1527) O PENSAMENTO POLÍTICO ANTERIOR A MAQUIAVEL O pensamento político medieval é teocrático. O pensamento político renascentista recusa a
FILOSOFIA RENASCENTISTA PENSAMENTO POLÍTICO DE MAQUIAVEL (1469-1527) O PENSAMENTO POLÍTICO ANTERIOR A MAQUIAVEL O pensamento político medieval é teocrático. O pensamento político renascentista recusa a
A PULSÃO DE MORTE E AS PSICOPATOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS. sobre o tema ainda não se chegou a um consenso sobre a etiologia e os mecanismos psíquicos
 A PULSÃO DE MORTE E AS PSICOPATOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS Aldo Ivan Pereira Paiva As "Psicopatologias Contemporâneas, cujas patologias mais conhecidas são os distúrbios alimentares, a síndrome do pânico, os
A PULSÃO DE MORTE E AS PSICOPATOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS Aldo Ivan Pereira Paiva As "Psicopatologias Contemporâneas, cujas patologias mais conhecidas são os distúrbios alimentares, a síndrome do pânico, os
Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight
 Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight Antigo sistema de escrita usado em Creta (por volta do século IV A.C.) Abraão Carvalho 1 O conceito do que se convencionou pela
Filosofia tensa: o conceito: fragmentos, aforismos, frases curtas, insight Antigo sistema de escrita usado em Creta (por volta do século IV A.C.) Abraão Carvalho 1 O conceito do que se convencionou pela
O CAPITALISMO ESTÁ EM CRISE?
 O CAPITALISMO ESTÁ EM CRISE? Nildo Viana Professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás; Doutor em Sociologia; Autor de diversos livros, entre os quais, O Capitalismo na Era
O CAPITALISMO ESTÁ EM CRISE? Nildo Viana Professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás; Doutor em Sociologia; Autor de diversos livros, entre os quais, O Capitalismo na Era
Boletim Gaúcho de Geografia
 http://seer.ufrgs.br/bgg RESENHA DE GOMES, PAULO CÉSAR DA COSTA. A CONDIÇÃO URBANA: ENSAIOS DE GEOPOLÍTICA DA CIDADE. RIO DE JANEIRO: BERTRAND BRASIL. 2002, 304 P. Boletim Gaúcho de Geografia, 32: 155-157,
http://seer.ufrgs.br/bgg RESENHA DE GOMES, PAULO CÉSAR DA COSTA. A CONDIÇÃO URBANA: ENSAIOS DE GEOPOLÍTICA DA CIDADE. RIO DE JANEIRO: BERTRAND BRASIL. 2002, 304 P. Boletim Gaúcho de Geografia, 32: 155-157,
FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA PROFESSOR: REINALDO SOUZA
 FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA PROFESSOR: REINALDO SOUZA Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. G. W. F. HEGEL (1770-1831) Século XIX Revolução Industrial (meados do século XVIII) Capitalismo; Inovações
FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA PROFESSOR: REINALDO SOUZA Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. G. W. F. HEGEL (1770-1831) Século XIX Revolução Industrial (meados do século XVIII) Capitalismo; Inovações
A voz do Supereu. II Jornada da Associação Lacaniana de Psicanálise Brasília 23 e 24 de outubro de Luiza Borges
 II Jornada da Associação Lacaniana de Psicanálise Brasília 23 e 24 de outubro de 2015. A voz do Supereu Luiza Borges Instância polêmica a do Supereu: não é individual nem social; não é interior nem exterior;
II Jornada da Associação Lacaniana de Psicanálise Brasília 23 e 24 de outubro de 2015. A voz do Supereu Luiza Borges Instância polêmica a do Supereu: não é individual nem social; não é interior nem exterior;
AS DEPRESSÕES NA ATUALIDADE: UMA QUESTÃO CLÍNICA? OU DISCURSIVA?
 Anais do V Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da UFF AS DEPRESSÕES NA ATUALIDADE: UMA QUESTÃO CLÍNICA? OU DISCURSIVA? Amanda Andrade Lima Mestrado/UFF Orientadora:
Anais do V Seminário dos Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da UFF AS DEPRESSÕES NA ATUALIDADE: UMA QUESTÃO CLÍNICA? OU DISCURSIVA? Amanda Andrade Lima Mestrado/UFF Orientadora:
Metaxy: Revista Brasileira de Cultura e Política em Direitos Humanos. APRESENTAÇÃO - ANO I NÚMERO 1 - Março de 2017
 Metaxy: Revista Brasileira de Cultura e Política em Direitos Humanos APRESENTAÇÃO - ANO I NÚMERO 1 - Março de 2017 Para o Núcleo de Políticas Públicas em Direitos Humanos (NEPP-DH) Suely Souza de Almeida,
Metaxy: Revista Brasileira de Cultura e Política em Direitos Humanos APRESENTAÇÃO - ANO I NÚMERO 1 - Março de 2017 Para o Núcleo de Políticas Públicas em Direitos Humanos (NEPP-DH) Suely Souza de Almeida,
TÍTULO: A IRONIA E A CONSTRUÇÃO DE UM ETHOS FEMINISTA NO DISCURSO LITERÁRIO DE JANE AUSTEN
 TÍTULO: A IRONIA E A CONSTRUÇÃO DE UM ETHOS FEMINISTA NO DISCURSO LITERÁRIO DE JANE AUSTEN CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: LETRAS INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCA AUTOR(ES):
TÍTULO: A IRONIA E A CONSTRUÇÃO DE UM ETHOS FEMINISTA NO DISCURSO LITERÁRIO DE JANE AUSTEN CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SUBÁREA: LETRAS INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCA AUTOR(ES):
Incurável. Celso Rennó Lima
 1 Incurável Celso Rennó Lima Em seu primeiro encontro com o Outro, consequência da incidência de um significante, o sujeito tem de lidar com um incurável, que não se subjetiva, que não permite que desejo
1 Incurável Celso Rennó Lima Em seu primeiro encontro com o Outro, consequência da incidência de um significante, o sujeito tem de lidar com um incurável, que não se subjetiva, que não permite que desejo
A problemática da verdade na psicanálise e na genealogia 1
 issn 0101-4838 183 A problemática da verdade na psicanálise e na genealogia 1 Joel Birman* Resumo A intenção deste ensaio é a de esboçar a questão da verdade, tal como essa foi destacada no final do percurso
issn 0101-4838 183 A problemática da verdade na psicanálise e na genealogia 1 Joel Birman* Resumo A intenção deste ensaio é a de esboçar a questão da verdade, tal como essa foi destacada no final do percurso
Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Clássica. Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes
 Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Clássica Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes Conteúdo (a) Nascimento da filosofia (b) Condições históricas para seu nascimento (c) Os principais períodos
Unidade 2: História da Filosofia Filosofia Clássica Filosofia Serviço Social Igor Assaf Mendes Conteúdo (a) Nascimento da filosofia (b) Condições históricas para seu nascimento (c) Os principais períodos
Ética, Cultura de Paz e Dinâmicas de Convivência capacitação para multiplicadores. Módulo V A Universalidade dos Direitos Humanos.
 Ética, Cultura de Paz e Dinâmicas de Convivência capacitação para multiplicadores Módulo V A Universalidade dos Direitos Cássio Filgueiras Reflexão sobre a Globalização Compreensão da Interdependência
Ética, Cultura de Paz e Dinâmicas de Convivência capacitação para multiplicadores Módulo V A Universalidade dos Direitos Cássio Filgueiras Reflexão sobre a Globalização Compreensão da Interdependência
