Dispersão de poluentes nos eixos estruturais em Curitiba (PR), Brasil
|
|
|
- Débora Franco Mirandela
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Artigo Técnico Dispersão de poluentes nos eixos estruturais em Curitiba (PR), Brasil Pollutant dispersion at the structural axes in Curitiba (PR), Brazil Ana Paula Bender 1, Maurício Dziedzic 2 DOI: /S RESUMO O aumento da frota veicular causa a deterioração da qualidade do ar e o comprometimento da saúde e bem-estar da população. A malha urbana edificada influencia o escoamento do ar, dificultando a dispersão de emissões veiculares. O presente estudo objetiva avaliar a influência dos parâmetros de ocupação do solo definidos pela legislação municipal nos eixos estruturais em Curitiba (PR), caracterizados pelo forte estímulo ao adensamento e alto tráfego veicular. Foram simuladas variações do recuo frontal e das alturas das edificações nestes eixos, em especial na Avenida Sete de Setembro, a fim de verificar a influência destes na concentração de poluentes. São feitas sugestões de possíveis alterações à legislação em vigor, recomendando-se reduzir a altura das edificações no lado oposto ao vento predominante e aumentar, nos trechos não consolidados, o recuo frontal da sobreloja. Palavras-chave: planejamento urbano; leis de ocupação do solo; qualidade do ar; emissões veiculares; rua cânion. ABSTRACT The increase in the number of vehicles causes deterioration of air quality and decline of population health and well-being. The urban grid of buildings influences air flow, hampering the dispersion of vehicular emissions. The present study aims to assess the influence of land use parameters defined by local legislation, at the Structural Axes in Curitiba (PR), which are characterized by strong stimulus both to high urban density and vehicular traffic. Variations in building setback front line and height were considered, specifically on Avenida Sete de Setembro, in order to investigate their influence on pollutant concentration. The conclusion includes suggestions for modifications in the current city by-laws of land use, recommending that building height be reduced on the side opposite to prevailing winds, and increasing, in yet not consolidated stretches, the frontal setback of mezzanines. Keywords: urban planning; land use legislation; air quality; vehicular emissions; canyon street. INTRODUÇÃO Com o crescimento e espalhamento dos centros urbanos, a relação de dependência com o automóvel cresce, levando ao aumento na frota veicular, sobretudo no Brasil, que privilegia o transporte rodoviário (AZUAGA, 2000). Como consequência, o aumento nos níveis de poluição atmosférica tem acarretado efeitos adversos, como exacerbação da asma e outras doenças respiratórias, morte prematura e alguns tipos de câncer, com maior incidência na população residente próxima às ruas de tráfego intenso de veículos (MIRAGLIA et al., 2005). Sob o enfoque do planejamento urbano, uma das estratégias para conter estes efeitos é prever taxas de ventilação adequadas nestas ruas, facilitando a dispersão de poluentes. A dispersão depende basicamente de fatores meteorológicos velocidade e direção do vento e morfológicas, ou seja, da razão W/H, sendo W a largura da rua, e H a altura das edificações. Estudos recentes têm demonstrado estas relações a partir de testes em túneis de vento e modelos computacionais aplicados aos chamados cânions urbanos, termo criado por Oke (1988) para designar vias cercadas de altos edifícios em ambos os lados. Apesar de originalmente ser aplicado a ruas estreitas, o termo tem sido utilizado para avenidas cânion, inclusive com algumas aberturas laterais (VARDOULAKIS et al., 2003). Esses autores mostraram que quando o vento sopra perpendicular ao eixo da rua, um vórtice central é criado (Figura 1), fazendo com que as concentrações no lado oposto à direção do vento (barlavento) sejam de duas a três vezes mais elevadas em relação ao lado do vento (sotavento). Quando o vento é paralelo ao eixo, na direção do tráfego, há acúmulo de poluentes próximos à fonte e as concentrações nos dois lados da rua se tornam semelhantes. Este efeito também pode ser observado quando a velocidade do vento é baixa (<2 m.s -1 ). 1 Mestre em Gestão Ambiental pela Universidade Positivo. Professora do curso de Engenharia Civil da Universidade Positivo Curitiba (PR), Brasil. 2 Doutor em Engenharia Civil, Mecânica dos Fluídos e Hidráulica pela Universidade de Toronto. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental da Universidade Positivo Curitiba, PR, Brasil. Endereço para correspondência: Maurício Dziedzic Avenida Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, Campo Comprido Curitiba (PR), Brasil dziedzic@up.edu.br Recebido: 05/02/12 Aceito: 13/02/14 Reg. ABES: 364 Eng Sanit Ambient Edição Especial
2 Bender, A.P. & Dziedzic, M. Edifício Sotavento A razão W/H define a profundidade do cânion, que é dito uniforme quando W/H=1, com poucas aberturas laterais (afastamento entre as edificações); raso, se W/H>2; e profundo para W/H<0,5 (HUANG et al., 2003). Quanto menor a razão, maior a dificuldade em dispersar os poluentes. A rugosidade e a porosidade determinam as condições de dispersão. A rugosidade pode ser entendida como a diferença de altura entre as edificações, enquanto a porosidade representa a permeabilidade da malha urbana à passagem dos ventos (SANTOS, 2004). A construção de edifícios altos entre edifícios baixos, aumentando a rugosidade, favorece a ventilação (ROMERO, 2000). Xiaomin et al. (2006) e Wang et al. (2006) mostram forte influência da rugosidade na estrutura do vórtice. Parâmetros construtivos como faixas de recuo obrigatórias interferem na dimensão da caixa da rua (W) e na porosidade das vias, assim como os afastamentos laterais podem reduzir ou ampliar a distância entre as edificações. A altura máxima permitida (H), geralmente elevada e uniforme ao longo das vias, também influencia a rugosidade. Os processos que governam o transporte e a difusão de poluentes são numerosos e de uma complexidade tal que não é possível descrevê-los sem a utilização de modelos matemáticos. Pode-se dizer que os modelos de dispersão são instrumentos técnicos de gestão ambiental, já que permitem analisar a influência dos parâmetros envolvidos e a simulação de diferentes situações, dando apoio à tomada de decisão (MOREIRA & TIRABASSI, 2004). De acordo com Franco (2005), os modelos são divididos em quatro classes: gaussiano, numéricos, estatísticos, e empíricos e físicos. Segundo Moreira e Tirabassi (2004), podem ainda ser subdivididos de acordo com a característica da fonte, topografia do terreno e as escalas de aplicação. Vórtice principal Vento Dominante (U) Concentração pré-existente C 0 Barlavento Receptor U s X Q L Z Via de tráfego Edifício Figura 1 Esquema em corte da formação do vórtice central no interior do cânion (adaptado de VARDOULAKIS et al., 2003). A maior parte dos modelos computacionais para a estimativa da dispersão de gás e partículas na camada limite atmosférica é baseada na aproximação Gaussiana (FRANCO, 2005). Tais modelos consideram que a concentração do poluente assume distribuição normal, com pico de concentração ao longo da linha de centro da pluma e coeficientes de dispersão diferentes nas direções horizontal e vertical (BOÇON, 1998). Nestes casos, assume-se que as condições meteorológicas permanecem constantes durante a dispersão fonte-receptor, sendo adotadas as seguintes hipóteses: Terreno plano e livre de obstáculos; Velocidade unidirecional e constante do vento; Condições homogêneas e estacionárias de turbulência atmosférica. A segunda hipótese é bastante questionável em função da velocidade do vento variar com a altura, especialmente nas proximidades do solo. Com relação à turbulência atmosférica, este é um fenômeno muito complexo e nada se pode garantir sobre a sua homogeneidade, que se traduziria em coeficientes de difusão turbulenta constante (BOÇON, 1998). Vardoulakis et al. (2002) destacam que, além da aplicação industrial (fontes pontuais), modelos de pluma Gaussiana podem ser utilizados para o cálculo de concentrações de poluentes sobre aglomerações urbanas e com fontes lineares, como rodovias. Dentre os diferentes usos da modelagem, podem ser citados o gerenciamento de tráfego, estudos de exposição humana à poluição do ar e o planejamento urbano. De acordo com esses mesmos autores, esforços têm sido realizados para melhorar o entendimento científico dos processos de dispersão e do gerenciamento do ar urbano. Pesquisas têm dado atenção especial aos cânions urbanos por se tratarem de ruas com alto tráfego de veículos e onde a velocidade do vento transversal é reduzida, sendo, portanto, locais onde o impacto é concentrado. Os modelos de dispersão aplicados a ruas cânion têm como entrada, basicamente, dados meteorológicos, geometria da rua, posição do receptor, volume de tráfego e fatores de emissão da frota veicular. Entre os mais utilizados em estudos de qualidade do ar urbano em cânions estão os modelos Operational Street Pollution Model (OSPM), AEOLIUS, California Line Source Dispersion Model (CALINE-4), Calculation of Air pollution from Road traffic (CAR) e os modelos do tipo Computational Fluid Dynamics (CFD). Este termo é utilizado para descrever a análise de sistemas envolvendo o escoamento de um fluido, transferência de calor e reações químicas, diferindo dos demais por sua capacidade de modelar formas complexas e os princípios físicos e químicos mais detalhados (VARDOULAKIS et al., 2003). Em relação à geometria da rua, que é a variável investigada no presente trabalho, modelos mais simples, como AEOLIUS e CALINE4, exigem apenas a razão geométrica da rua (W/H), enquanto o OSPM considera o comprimento e a orientação da rua, e o espaçamento entre as edificações. Embora os modelos do tipo CFD sejam os mais vantajosos sob este aspecto, por permitirem a modelagem de terrenos e edificações complexas, além de obstáculos fixos e móveis, exigem dados 32 Eng Sanit Ambient Edição Especial
3 Dispersão de poluentes em Curitiba de entrada mais sofisticados, como a turbulência atmosférica e os coeficientes de rugosidade das superfícies. No trabalho aqui relatado, foi utilizado o modelo OSPM, desenvolvido pelo Departamento Ambiental Atmosférico do Instituto Nacional de Pesquisa Ambiental da Dinamarca e de aplicação exclusiva a cânions urbanos. Apesar de complexo, por necessitar de grande quantidade de dados de entrada, o modelo é apropriado para escalas menores, como a de até algumas quadras, e permite maior flexibilidade quanto à geometria das vias modeladas, possibilitando a entrada de 12 exceções de altura em relação à altura média selecionada. Comparado aos demais modelos, permite estabelecer o comprimento e orientação da via, além de afastamentos entre as edificações (VARDOULAKIS et al., 2003). O modelo possibilita calcular as concentrações para os seguintes poluentes: monóxido de carbono, PM10, benzeno, óxidos e dióxido de nitrogênio e ozônio, sendo que para os últimos há um modelo secundário acoplado e específico para reações de transformação do NOx em ozônio. METODOLOGIA Local de estudo Os eixos estruturais foram implantados em Curitiba pelo Plano Serete em 1966 com o objetivo de induzir o crescimento da cidade por meio de eixos adensados, propiciando a uma quantidade maior de pessoas o fácil acesso ao transporte público e ao comércio, que ocupa a base das edificações, predominantemente residenciais. Com o intuito de criar vantagens para a ocupação dos eixos, foi adotado o Plano Massa pela Lei Municipal n de 1975 (CURITIBA, 1975), que aumentou o coeficiente de aproveitamento e permitiu altura livre para as edificações, contribuindo para a configuração em cânion característica destes eixos. A fim de melhorar as condições de iluminação (SCHMID, 2001) e ventilação, a Lei Municipal n de 2000 (CURITIBA, 2000) estabeleceu os afastamentos laterais mínimos em H/6. No presente estudo, dentre os cinco eixos estruturais existentes, optou-se por analisar um trecho da Avenida Sete de Setembro em função do adensamento construtivo e da proximidade à Estação de Monitoramento de Qualidade do Ar Ouvidor Pardinho (Figura 2), cujos dados meteorológicos foram utilizados na modelagem. Os aspectos mais relevantes do programa OSPM (BERKOWICZ, 2000) são: o lado a barlavento recebe a contribuição das emissões diretamente, além da poluição recirculante e uma porção das concentrações pré-existentes; já o lado a sotavento recebe apenas a contribuição das concentrações pré-existentes; quando a velocidade do vento se aproxima de zero ou a direção é paralela ao eixo da rua, as concentrações em ambos os lados da rua são iguais. Os dados necessários ao desenvolvimento do modelo podem ser divididos em: Tráfego: composição horária nos dias úteis e finais de semana, segundo a classe do veículo; frota de veículos em relação à classificação e às normas de limite de emissão; quantidade média de veículos por dia e velocidade média. O modelo utiliza a classificação europeia de veículos, divididos em: automóveis de passageiros, vans, caminhões e ônibus. No Brasil, as normas de controle das emissões classificam os veículos em veículos leves, veículos comerciais leves, veículos pesados (ônibus e caminhões) e motocicletas. Emissões: concentrações pré-existentes dos poluentes; composição dos combustíveis; fatores de emissão dos veículos; quilometragem média percorrida pela frota (ou tempo de uso). Meteorologia: direção e velocidade dos ventos, temperatura, umidade relativa, radiação global, altura da camada de mistura. Geometria: largura da rua e altura das edificações. Os dados utilizados para as simulações efetuadas são de 2007, tendo em vista sua disponibilidade na época em que o estudo foi Desenvolvimento do modelo Foi utilizado o programa OSPM, descrito acima. De acordo com Vardoulakis et al. (2003), trata-se de um modelo semiempírico que calcula as concentrações de gases e partículas em pontos, chamados receptores, posicionados em ambos os lados da rua, assumindo três contribuições: direta do escapamento dos veículos, recirculação de poluentes pelo vórtice formado no interior do cânion e concentrações pré-existentes. Figura 2 Proximidade da Avenida 7 de Setembro com a Estação de Monitoramento Ouvidor Pardinho, em Curitiba, PR (GOOGLE EARTH, 2008). Eng Sanit Ambient Edição Especial
4 Bender, A.P. & Dziedzic, M. realizado (BENDER, 2008). Os resultados obtidos devem ser encarados sob o ponto de vista qualitativo, uma vez que não há dados de concentração de poluentes nas vias em estudo para calibração do modelo. Dessa forma, mais importante do que os valores das concentrações determinados pelo modelo, é a influência da geometria da via e das edificações, na dispersão dos poluentes. A utilização de dados mais recentes de composição da frota e de combustíveis afetaria apenas os valores numéricos das concentrações, permanecendo inalteradas as conclusões acerca da influência da geometria na dispersão. Composição do tráfego Para a elaboração da composição diária do tráfego foram utilizados os dados da Diretoria de Trânsito (DIRETRAN) de Curitiba sobre o fluxo de veículos na Avenida Sete de Setembro, onde foram contados automóveis, caminhões, ônibus e motocicletas nos seguintes horários: 6h30 a 8h30, 11h00 a 15h00 e 17h00 a 19h00. Por se tratar de uma pesquisa realizada em 2002, os valores tiveram que ser ajustados para 2007 (cenário presente considerado). Com base nas estatísticas do Departamento de Trânsito (DETRAN), entre os anos mencionados houve aumento de 32,78% no número total de veículos em Curitiba, porém de maneira desigual entre as classes de veículos: leves: incremento de 31,8%; comerciais: 3,1%; pesados: 2,2%; Motocicletas: 88,6%. Para os horários de 12h00, 13h00, 16h00, 18h00 e 21h00, o tráfego foi estimado com base em contagem realizada em campo em agosto de Antes das 6h00 e após as 21h00 dos dias úteis, a quantidade de veículos foi reduzida em 25% por hora. O tráfego de ônibus foi estimado com base na escala publicada pela Prefeitura de Curitiba. Para o mês de janeiro a proporção horária foi mantida, com redução de 20% no número de veículos (URBS, 2007). Frota de veículos Os dados sobre a frota relacionam a classe dos veículos e tipo de combustível às normas de limite de emissão, as quais, por sua vez, estão ligadas às equações para cálculo das emissões de poluentes. Em função da não existência de equações de emissão de poluentes para a frota brasileira, foram relacionadas as fases dos programas de controle de emissões veiculares brasileiro (Programa de Controle de Poluição do Ar por PRONCOVE; e Programa de Controle e Poluição de Ar por Motociclos e Similares PROMOT) e europeu (EURO), uma vez que as equações de emissão de poluentes deste último se encontram disponíveis. As Tabelas 1 a 3 mostram essas relações para veículos leves e comerciais a gasolina, motocicletas e veículos pesados, respectivamente. Nessas tabelas, as Fases I a IV referem-se ao PRONCOVE. Dados sobre a frota de veículos do Paraná, disponibilizados pelo DETRAN/PR (PARANÁ, 2006), mostram que em 2006 o total de veículos no estado era , dentre os quais 68,54% utilizavam gasolina, 10,94% álcool, 10,48% óleo diesel, e 10,04% eram do tipo flex, sendo abastecidos tanto com álcool quanto com gasolina. Como o modelo não prevê motores flex, estes últimos foram distribuídos uniformemente entre os veículos que utilizam gasolina e os que utilizam álcool, ficando 73,56% a gasolina, 15,96% a álcool e 10,48% a óleo diesel. Para classificar a frota de acordo com o ano de fabricação do veículo, estabelecendo assim um limite máximo de emissão conforme o PRONCOVE, foi usada a tabela de idade dos veículos na capital paranaense conforme as estatísticas do DETRAN/ PR (PARANÁ, 2006). Desta forma, para compor a frota de entrada no modelo, com base no ano de 2007, elaboraram-se as Tabelas 1 a 3. Para o cenário futuro, esta divisão foi efetuada com base no documento do PRONCOVE para o ano de 2010, conforme mostram as Tabelas 4 a 6. Tabela 1 Relação entre as fases EURO-PRONCOVE para veículos leves e comerciais a gasolina. Pré-EURO EURO 3 EURO 4 Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V até Leves (%) 24,60 14,48 51,58 9,34 0,00 Comerciais (%) 24,60 14,48 51,58 9,34 0,00 Tabela 2 Relação entre as fases EURO-PROMOT para motocicletas. Convencional EURO 3 Pré-PROCONVE Fase I Fase II Fase III anterior a a partir de 2009 Motocicletas (%) 88,53 7,46 4,01 0,00 Tabela 3 Relação entre as fases EURO-PRONCOVE para veículos pesados. Pesados diesel (%) Ônibus diesel (%) Convencional EURO 2 EURO 3 EURO 4 Pré-PROCONVE Fase III Fase IV Fase V Fase VI anterior a ,80 25,19 16,81 8,20 0,00 49,80 25,19 16,81 8,20 0,00 Tabela 4 Relação no cenário futuro entre as fases EURO-PRONCOVE para veículos leves a gasolina. Pré-EURO EURO 3 EURO 4 Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V até Leves (%) 16,30 13,40 35,15 17,58 17,58 Comerciais (%) 16,30 13,40 35,15 17,58 17,58 34 Eng Sanit Ambient Edição Especial
5 Dispersão de poluentes em Curitiba Composição dos combustíveis A respeito do controle sobre emissões tóxicas decorrentes da composição dos combustíveis, foram considerados os limites previstos em legislação para as quantidades de enxofre, benzeno e chumbo presentes na gasolina, diesel e álcool. Tabela 5 Relação no cenário futuro entre as fases EURO-PROMOT para motocicletas. Convencional EURO 3 Pré-PROCONVE Fase I Fase II Fase III anterior a a partir de 2009 Motocicletas (%) 50,00 17,58 17,58 14,84 Tabela 6 Relação no cenário futuro entre as fases EURO-PRONCOVE para veículos pesados. Pesados diesel (%) Ônibus diesel (%) Convencional EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 Pré-PROCONVE Fase III Fase IV Fase V Fase VI anterior a ,70 17,57 17,57 17,57 17,57 29,70 17,57 17,57 17,57 17,57 Tabela 7 Média mensal dos valores máximos da altura da camada limite atmosférica e número de dias analisados (MALHEIROS, 2004). Mês Altura máxima da camada limite atmosférica (m) Dias analisados Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Em relação ao benzeno, o Ministério do Trabalho e da Saúde, pela Portaria nº 3, de 28 de abril de 1982, proibiu a presença dessa substância nos combustíveis em percentuais superiores a 1% em volume. O enxofre é encontrado tanto na gasolina (15 ppm) quanto no diesel (500 ppm). Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2005), o teor máximo admissível de chumbo é de 0,005 g.l -1 (gramas de chumbo por litro de gasolina), semelhante ao estabelecido na legislação internacional. Meteorologia Os dados meteorológicos horários utilizados na modelagem referem-se à Estação de Monitoramento Ouvidor Pardinho e foram disponibilizados pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) referentes ao período de novembro de 2006 a novembro de Para a direção e velocidade dos ventos, foram consideradas, respectivamente, a média anual de 1 m.s -1 e direção variando entre 90 e 135º, intervalo angular dominante em 31% do ano. Nos cenários simulados também foi considerado o vento paralelo ao eixo da rua (0 ) para se obter as médias de concentração uniforme. A altura da camada de mistura foi estimada a partir da modelagem de Malheiros (2004) para Curitiba no período de 15 de março de 2001 a 5 de fevereiro de 2003, resultando nas médias mensais ilustradas na Tabela 7. Geometria da rua Por fim, a largura da Avenida Sete de Setembro foi obtida de mapas disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). Os demais parâmetros construtivos foram estimados a partir da própria legislação municipal, tanto a anterior (Lei Municipal n 5.234, de 1975) quanto a atual (Lei Municipal n 9.800, de 2000), com o objetivo de comparar a eficiência do H/6 para a redução nas concentrações de poluentes. Além destes, foram gerados cenários fictícios alterando os parâmetros de recuo frontal e altura das edificações e também as relações de simetria entre as edificações a barlavento e sotavento, conforme a Tabela 8, que apresenta os diferentes cenários simulados. Três formas distintas de assimetria foram consideradas e são ilustradas na Figura 3: a forma de pico (a), depressão (b) e serrilhado (c). Tabela 8 Cenários simulados. Largura da rua + recuo frontal (W) (m) Afastamentos laterais Simetria Altura (H) Assimetria Altura (H barl /H sot ) Presente Lei nº 5234/ ,5 m uniforme Futuro Lei nº 9800/00 30 H/6 uniforme Cenário A 30 a 40 H/6 uniforme Cenário B 30 H/6 12 a 48 m Fictícios Cenário C 30 H/6 a sotavento Cenário D 30 H/6 a barlavento Cenário E 30 H/6 ambos os lados Cenário F 30 H/6 combinação formas Eng Sanit Ambient Edição Especial
6 Bender, A.P. & Dziedzic, M. Validação do modelo A fim de estabelecer a confiabilidade qualitativa dos resultados obtidos por meio do uso do modelo computacional, foram realizados testes de validação. De modo a facilitar o entendimento da influência isolada de cada fator, dada a complexidade do processo de dispersão, utilizou-se inicialmente forma simplificada, admitindo as seguintes características: a composição diária de tráfego e sua velocidade são uniformes, ou seja, a mesma quantidade de veículos passa por hora pelos pontos receptores e com a mesma velocidade; a variação horária dos fatores meteorológicos não foi considerada para que fosse possível avaliar isoladamente a influência da velocidade e direção do vento. Consideraram-se para esta simulação, ainda, a razão geométrica igual a 1 (cânion regular) e o tráfego de 25 mil veículos por dia. Inicialmente, a direção do vento foi simulada com variação de 0 a 360º, de 30 em 30º, fixados os demais fatores, para ventos a uma velocidade de 0; 0,5; 1 e 2 m.s -1. Os resultados estão na Tabela 9. Percebe-se que quando a direção do vento é 0, 180 e 360º, as concentrações nos receptores de sotavento e de barlavento são iguais; o mesmo ocorre quando a velocidade do vento é nula (0 m.s -1 ). Quando o ângulo formado entre o eixo da rua e a direção do vento se aproxima de 90 e 270º, ocorrem as maiores diferenças entre as concentrações de lados opostos quando a velocidade do vento é baixa (0,5 m.s -1 ), sendo aproximadamente 4 vezes maiores no lado a barlavento. Se a velocidade passa para 1 m.s -1, a diferença entre as concentrações a barlavento e sotavento é maior para o ângulo de 120º. À medida que a velocidade do vento aumenta para 2 m.s -1, a diferença entre as concentrações dos receptores posicionados em lados opostos tende a diminuir, pois o vento mais intenso promove maior mistura. Estes resultados se apresentam compatíveis com os estudos apresentados no referencial teórico, sobretudo considerando as pesquisas de Berkowicz et al. (1996), e na revisão realizada por Vardoulakis et al. (2003). Entretanto, apresentam incongruência em relação aos estudos de Park et al. (2004) para os ângulos de 90 e 270, quando a velocidade do vento é 2 m.s -1, já que estes deveriam conduzir a valores mínimos de concentração e não máximos. Isso provavelmente se deve ao fato de Park et al. (2004) terem concentrado as análises em cânions profundos, enquanto neste trabalho foi considerado um cânion regular. A fim de verificar a influência do aumento do tráfego, a quantidade de veículos foi variada de 10 a 50 mil veículos por dia, com incrementos de 10 mil. Novamente a razão geométrica foi fixada em 1, com o vento soprando a uma velocidade de 1 m.s -1 e paralelo ao eixo da rua (0 ). Os resultados estão listados na Tabela 10. Tabela 10 Resultados das concentrações (em ppb) para os receptores a sotavento e barlavento, para 10 a 50 mil veículos por dia. A B C Figura 3 Elevação frontal das formas simuladas. (mil/dia) CNOx sot CNOx barl CNO 2sot CNO 2barl CO 3sot CO 3barl 10 2,68 2,68 2,06 2,06 48,26 48, ,67 7,67 5,80 5,80 45,12 45, ,69 12,69 9,41 9,41 42,11 42, ,78 17,78 12,92 12,92 39,22 39, ,66 22,66 16,12 16,12 36,60 36,60 Tabela 9 Resultados das concentrações (em ppb) para os receptores a sotavento e a barlavento, para velocidades de 0 a 2 m.s -1 e direção do vento de 0º a 360º. Velocidade 2 m.s -1 1 m.s -1 0,5 m.s -1 0 m.s -1 Direção Sotavento Barlavento Sotavento Barlavento Sotavento Barlavento Sotavento Barlavento 0 2,08 2,08 3,29 3,29 21,24 21,24 88,09 88, ,80 5,25 2,04 4,44 16,70 26,21 88,40 88, ,60 9,07 3,29 6,04 11,31 28,79 88,40 88, ,56 10,56 4,90 6,94 6,80 29,45 88,09 88, ,60 9,07 3,29 6,04 11,31 28,79 88,40 88, ,08 2,08 3,29 3,29 21,24 21,24 88,40 88, ,25 3,80 4,44 2,04 21,24 21,24 88,09 88, ,07 8,60 6,04 3,29 26,21 16,70 88,40 88, ,56 10,56 6,94 4,90 28,79 11,31 88,40 88, ,07 8,60 6,04 3,29 29,45 6,80 88,09 88, ,25 3,80 4,44 2,04 28,79 11,31 88,40 88, ,08 2,08 3,29 3,29 21,24 21,24 88,40 88,40 36 Eng Sanit Ambient Edição Especial
7 Dispersão de poluentes em Curitiba Sendo o tráfego diário e as concentrações pré-existentes às duas contribuições admitidas pelo modelo, esperava-se que o aumento de 10 mil veículos por dia representasse também um incremento considerável nas concentrações, o que foi verificado, já que as concentrações pré-existentes foram mantidas constantes. Finalmente, as razões H/W de 0,3 e 0,5 para cânions rasos, 1,0 para cânions regulares e 2,0 para profundos (HUANG et al., 2003) foram comparadas, considerando direção do vento igual a 0º (de forma a produzir concentrações semelhantes para ambos receptores) e para o ângulo de 90º, com velocidade do vento de 1 m.s -1. Os resultados estão na Tabela 11. Observa-se que para cânions profundos a concentração de poluentes é maior que para os rasos, já que nestes últimos as trocas de ar são facilitadas. Este efeito também pode ser observado nos resultados de Chang e Meroney (2003), Liu et al. (2004) e Xiaomin et al. (2006). Tendo isso em vista, bem como a sua compatibilidade com resultados disponíveis na literatura, considera-se verificado o correto funcionamento do modelo para as condições testadas. RESULTADOS A Figura 4 compara os resultados de modelagem considerando a legislação anterior (Lei nº 5.234/1975) e a atual (Lei nº 9.800/2000), percebendo-se redução de aproximadamente 30% nas concentrações de NOx (Figura 4a) da anterior para a atual legislação, quando a direção do vento é paralela ao eixo da rua. Se o vento sopra perpendicularmente ao eixo da rua (Figura 4b), as concentrações a sotavento sofrem pouca variação de uma lei para outra (aproximadamente 11%) se comparadas às concentrações a barlavento (aproximadamente 33%). Já para vento de 135 (Figura 4c), observa-se que as concentrações a sotavento são elevadas para a lei atual, enquanto uma diferença maior é observada nas concentrações a barlavento (aproximadamente 39%). Deve-se enfatizar que a simulação se ateve aos resultados da família NOx, mas que os mesmos resultados qualitativos se aplicam a outras substâncias. Tabela 11 Concentrações (em ppb) para os receptores a sotavento e barlavento, para direção do vento de 0º e 90º e diferentes razões H/W. Razão H/W Direção CNOx sot CNOx barl CNO 2sot CNO 2barl CO 3sot CO 3barl 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 0 6,33 6,33 3,84 3,84 46,92 46, ,00 0,18 0,00 0,11 50,00 49,91 0 7,63 7,63 5,08 5,08 45,83 45, ,19 3,37 2,16 2,28 48,22 48,12 0 9,72 9,72 7,01 7,01 44,15 44, ,62 8,26 2,67 5,99 47,77 45, ,76 10,76 7,98 7,98 43,31 43, ,82 15,18 6,59 11,08 44,47 40, ,22 11,22 8,46 8,46 42,89 42, ,42 26,99 14,20 19,13 38,13 34,11 A Tabela 12 apresenta os resultados obtidos para os demais cenários analisados. Percebe-se que as concentrações decrescem na medida em que o recuo frontal aumenta. Quando o vento sopra paralelo à via (0º), as concentrações se mantêm uniformes, enquanto para 90 e 135 as concentrações a barlavento são maiores que a sotavento. Quanto à variação de altura da torre acima do embasamento (Figura 5a), verifica-se que as concentrações variam de modo não uniforme com a altura. Se o vento sopra a 0º, as concentrações mais altas ocorrem quando as edificações são mais baixas, diminuindo para alturas até 30 m e aumentando para aquelas acima de 30 m. Para o vento soprando a 90º, tem-se a concentração máxima a barlavento para alturas relativamente baixas, de 18 m, com os mesmos níveis ocorrendo A B Concentração (ppm) Concentração (ppm) C Concentração (ppm) / /00 Legislação 5234/ /00 Legislação 5234/ /00 Legislação cnox_sot cnox_barl cnox_sot cnox_barl cnox_sot cnox_barl Figura 4 Concentração de NO x (ppm) a sotavento e a barlavento para a legislação anterior (5234/75) e atual (9800/00). (a) Direção do vento de 0 ; (b) vento de 90º, (c) vento de 135º. Eng Sanit Ambient Edição Especial
8 Bender, A.P. & Dziedzic, M. Tabela 12 Resumo dos resultados das análises efetuadas concentrações de NOx (ppb) a sotavento e a barlavento para diversas configurações geométricas e direções de vento. Geometria Recuo frontal + caixa da rua (W) (m) Altura (H) (m) Variável a sotavento Variável a barlavento Ambos os lados Combinação de formas Direção do vento 0º 90º 135º CNOx sot CNOx barl CNOx sot CNOx barl CNOx sot CNOx barl 30 6,24 6,24 5,08 6,62 2,38 5, ,99 5,99 4,97 6,33 2,50 5, ,78 5,78 4,88 6,04 2,64 5, ,57 5,57 4,80 5,72 2,77 5, ,37 5,37 4,72 5,47 2,88 4, ,18 5,18 4,63 5,25 2,98 4, ,65 6,65 5,33 6,46 2,23 4, ,52 6,51 5,06 6,74 2,12 5, ,24 6,24 5,08 6,62 2,38 5, ,58 5,57 4,71 6,34 2,82 10, ,58 5,57 4,69 6,66 4,50 12, ,90 5,89 4,82 6,18 6,60 14, ,00 5,88 4,95 6,12 6,69 13,81 Pico 6,32 6,43 5,36 6,48 2,38 5,56 Depressão 6,57 5,61 5,08 6,62 2,38 5,56 Serrilhado 6,28 6,38 5,08 6,62 2,38 5,56 Pico 6,43 6,32 5,38 6,48 2,11 10,66 Depressão 5,61 6,57 4,44 6,56 2,30 3,92 Serrilhado 6,28 6,29 4,98 6,66 2,15 5,51 Pico 6,51 6,51 4,33 12,89 4,33 12,89 Depressão 5,94 5,93 4,44 6,56 2,30 3,92 Serrilhado 6,33 6,42 4,98 6,66 2,15 5,51 Pico-Depressão 6,76 5,69 5,36 6,47 2,00 10,56 Depressão-Pico 5,69 6,76 4,39 6,92 2,29 5,63 Depressão-Serrilhado 6,62 5,63 2,15 5,51 2,15 5,51 Pico-Serrilhado 6,37 6,47 2,15 5,51 2,15 5,51 Serrilhado-Pico 6,37 6,47 2,15 5,51 2,15 5,51 A B 24 m C D Figura 5 Exemplos de configuração geométrica das alturas das torres. (a) Uniforme; (b) pico a sotavento; (c) depressão a barlavento; (d) serrilhado em ambos os lados. 38 Eng Sanit Ambient Edição Especial
9 Dispersão de poluentes em Curitiba quando a altura é 36 m. As concentrações mínimas ocorrem para as alturas maiores, de 42 a 48 m. No lado de sotavento, as concentrações mínimas ocorrem para alturas médias, de 30 e 36 m. Quando o vento sopra a 135º, as concentrações a sotavento são consideravelmente inferiores àquelas a barlavento, com valores maiores para alturas de 30 a 48 m, e o máximo ocorrendo para torres de 42 m. Se a altura deixa de ser uniforme a sotavento (Figura 5b), observa-se que as concentrações se mantêm uniformes para as três configurações geométricas para ventos soprando a 0 e 90º, apresentando redução quando o vento sopra a 135º. Quando a altura deixa de ser uniforme a barlavento (Figura 5c), as concentrações nas configurações de pico e serrilhado são inferiores a barlavento, quando o vento é paralelo ao eixo da rua. Já quando o vento sopra a 135º, as concentrações se elevam a barlavento para a configuração em pico. Variando as alturas em ambos os lados (Figura 5d), as concentrações mostram-se uniformes quando o vento sopra a 0º, com pouca redução para a configuração com depressão. Se o vento sopra a 90º, há aumento considerável da concentração a barlavento na configuração com pico. As configurações com depressão e serrilhado apresentam concentrações mais baixas se comparadas às demais situações nas quais a altura é variada. O mesmo acontece no caso do vento soprar a 135º, porém com concentrações mais elevadas para a configuração com pico, em ambos os lados da via. Na combinação de diferentes situações morfológicas (Figura 6) percebe-se que para o vento a 0º, as concentrações de NO x para os cenários de pico a sotavento e serrilhado a barlavento (Figura 6a) ficam próximas àquela verificada na situação inversa, com serrilhado a sotavento e pico a barlavento. O inverso ocorre para pico a sotavento e depressão a barlavento. Quando o vento sopra a 90º, percebe-se que a forma de pico a sotavento e depressão a barlavento e sua situação espelhada (Figura 6b) são as que conduzem a concentrações mais elevadas de NO x. Já as concentrações dos demais cenários morfológicos se assemelham. O mesmo ocorre se o vento sopra a 135º, quando a pior situação ocorre com pico a sotavento e depressão a barlavento. Como as concentrações mais altas foram verificadas para a configuração de pico em ambos os lados da rua, analisou-se este cenário para um período mais longo, com as condições reais de meteorologia e tráfego do ano de O mesmo tipo de simulação foi realizado para o caso de depressão a barlavento, a fim de comparar os resultados, ilustrados na Figura 7. Cabe notar que, como a direção do vento tem grande variação, os lados da via não são designados por sotavento e barlavento, mas por receptores 1 e 2. Comparando os dois resultados, observa-se que o cenário com a forma de pico em ambos os lados conduziu, em média, a concentrações maiores para o NO x. Desta forma, pode-se dizer que os resultados obtidos a partir da modelagem simplificada estão alinhados com a modelagem realizada com dados reais de meteorologia e tráfego. CONCLUSÕES Comparando os resultados obtidos considerando a configuração prevista na Lei n 9.800, de 2000, em vigor, e a configuração prevista na Lei n 4.234, de 1975, percebe-se que a consolidação da lei em vigor nos eixos estruturais traria redução de 33 a 39% nas concentrações de poluentes, com exceção da concentração a sotavento, quando a direção do vento é perpendicular ao eixo da rua. Esta redução era esperada já que o aumento dos afastamentos laterais, proporcionais à altura da edificação, propicia e facilita a circulação do ar e a dispersão das emissões veiculares. A B 18 m 36 m 36 m 24 m 36 m 12 m Figura 6 Combinação entre as formas. (a) Pico a sotavento e serrilhado a barlavento; (b) Depressão a sotavento e pico a barlavento. Eng Sanit Ambient Edição Especial
10 Bender, A.P. & Dziedzic, M. A Concentração (ppm) B Concentração (ppm) Mês Mês Receptor 01 Receptor 02 Receptor 01 Receptor 02 Figura 7 Resultados da concentração de NO x. (a) Depressão a barlavento; (b) pico em ambos os lados da rua. O efeito do H/6, enquanto afastamento lateral, faz com que a relação entre a variação de altura e as concentrações de NOx não sejam lineares, ocorrendo em algumas situações valores altos de concentração para alturas baixas. Em relação aos recuos frontais, o aumento do recuo para cada lote resulta em reduções mais significativas se comparado à diminuição da altura das edificações e na variação destas a sotavento, barlavento e em ambos os lados, nas situações nas quais o vento é paralelo ao eixo da rua. Entretanto, isto depende fortemente da direção do vento. No receptor a sotavento, sobretudo quando o vento é perpendicular ao alinhamento da rua e a diferença entre as concentrações é mais acentuada, a redução na altura da edificação se torna mais eficiente se comparada ao aumento do recuo. A variação de altura a sotavento não contribuiu significativamente para a redução das concentrações de NOx, com exceção de uma leve diminuição na forma de depressão, quando a direção do vento é paralela ao eixo da rua. Neste caso, variações nas concentrações de NOx entre as formas pico, depressão e serrilhado não foram observadas. Já a variação da altura a barlavento foi mais eficiente na redução das concentrações somente quando o vento soprou formando ângulos maiores que 90. A variação nas concentrações ocorreu mais significativamente para as formas de depressão e serrilhado, sendo mais acentuada no primeiro caso. Este fato é justificado pela redução de altura provocada pela forma de depressão. Com altura menor a barlavento, as concentrações tendem a ser menores se comparadas à situação oposta (pico), concordando com os estudos de Wang et al. (2006) e Assimakopoulos, Apsimon e Moussiopoulos (2003). A variação das edificações em ambos os lados da rua faz com que perceba-se leve redução nas concentrações quando o vento sopra perpendicular ao eixo da rua, se comparado à mudança de altura a sotavento e a barlavento. Quando o vento é perpendicular ao eixo da rua, uma elevação considerável nas concentrações a barlavento é verificada na forma de pico, sendo que o mesmo ocorre quando o vento sopra a um ângulo de 135. Este efeito pode ser explicado pela altura dos edifícios, que, por ser mais elevada na parte central da quadra, acaba dificultando a circulação de ar e, consequentemente, a dispersão. Com esta forma em ambos os lados, o aumento nas concentrações foi ainda mais significativo para o vento soprando a 135. A forma de depressão, dentre as opções modeladas, foi a que conduziu às menores concentrações. Os resultados mostram também que seria suficiente variar ou reduzir a altura somente a barlavento, ficando o lado oposto uniforme. Para o vento soprando perpendicular ao eixo, as combinações entre depressão e serrilhado, pico e serrilhado e serrilhado e pico, a sotavento e barlavento, respectivamente, mostraram-se mais eficientes se comparadas às formas espelhadas de depressão e serrilhado. Já para as combinações de pico e depressão e seu inverso, as concentrações foram mais baixas a barlavento, porém mais altas a sotavento, em relação ao cenário de pico espelhado. Em resumo, pode-se afirmar que: a Lei n 9.800, de 2000, em vigor, é mais eficiente na ventilação da rua e, consequentemente, na dispersão de poluentes se comparada à Lei n 4.234, de 1975, graças ao aumento dos afastamentos laterais provocados pelo H/6; o aumento do recuo se revela mais eficiente que a variação da altura das edificações quando a direção do vento é 0 ; se a direção do vento é 135, o aumento da altura da torre de 30 a 48 m provoca incremento significativo nas concentrações; a variação de altura a barlavento é mais significativa na redução das concentrações se comparada à da altura a sotavento, para ângulos de 90 e 135 ; as formas de pico a barlavento e em ambos os lados conduzem às maiores concentrações para ventos de 90 e 135, sendo superadas somente pela configuração uniforme com torres de 30 a 48 m de altura, quando o vento forma 135 com o eixo da rua; a forma de depressão a barlavento e em ambos os lados foi a situação modelada mais eficiente quanto à dispersão, comparada aos demais cenários; é importante que se conheça os regimes de ventos, direção e velocidade para o local de estudo, já que estes fatores são determinantes para o estabelecimento de uma legislação de ocupação do solo mais favorável à circulação de ar, sobretudo em áreas nas quais se pretendem o adensamento e a alta circulação de veículos. As conclusões e e f podem ser explicadas pela posição do receptor no meio da quadra, não sendo possível, no modelo, variar a sua posição. Assim, 40 Eng Sanit Ambient Edição Especial
11 Dispersão de poluentes em Curitiba as conclusões obtidas concordam com as publicadas por Assimakoupoulos, et al. (2003) e Wang et al. (2006) sobre a eficiência da redução da altura a barlavento para a melhor dispersão de poluentes. Embora as conclusões tenham se mostrado satisfatórias para o estudo de caso de caráter exploratório, não são suficientes para a implantação de mudanças na legislação de ocupação do solo, já que necessitam de aprofundamento quantitativo. Entretanto, os resultados permitem sugerir as seguintes alterações na legislação, que devem ser objeto de análise mais aprofundada antes de sua implementação: o afastamento proporcional à altura da edificação, dada a sua eficiência na dispersão em comparação à antiga lei em vigor, deve ser mantido mesmo nos trechos do eixo estrutural já consolidados, sem exceção; reduzir a altura no lado oposto ao vento predominante; aumentar, nos trechos não consolidados, o recuo frontal da sobreloja, que hoje se encontra sobre a projeção do lote. Por fim, salienta-se que o presente trabalho ilustra apenas uma das alternativas para minimizar o problema da degradação da qualidade do ar por emissões veiculares. Embora vista aqui sob a ótica do planejamento urbano, mais especificamente dos parâmetros construtivos definidos pela legislação municipal, trata-se de uma questão ampla e multidisciplinar e que, portanto, requer abordagens e discussões envolvendo diversas áreas do conhecimento para que seja possível atingir uma solução completa para o problema. REFERÊNCIAS AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). (2005) Resolução ANP nº 6, de DOU Diário Oficial da União; ASSIMAKOPOULOS, V.D.; APSIMON, H.M.; MOUSSIOPOULOS, N. (2003) A numerical study of atmospheric pollutant dispersion in different twodimensional street canyon configurations. Atmospheric Environment, v. 37, n. 29, p AZUAGA, D. (2000) Danos ambientais causados por veículos leves no Brasil. Tese (Mestrado em Engenharia) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. BENDER, A.P. (2008) A influência da legislação de ocupação do solo para a qualidade do ar: estudo de caso nos eixos estruturais em Curitiba Paraná. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental) Universidade Positivo, Curitiba. BERKOWICZ, R.; PALMGREN, F.; HERTEL, O.; VIGNATI, E. (1996) Using measurements of air pollution in street for evaluation of urban air quality meteorological analysis and model calculations. The Science of the Total Environmental, n. 190, p BERKOWICZ, R. (2000) OSPM A parameterised street pollution model. Environmental Monitoring and Assessment, n. 65, p BOÇON, F.T. (1998) Modelagem matemática do escoamento e da dispersão de poluentes na microescala atmosférica. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. CHANG, C.H. & MERONEY, R.N. (2003) Concentration and flow distributions in urban street canyons: wind tunnel and computational data. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, v. 91, n. 9, p CURITIBA. (1975) Lei nº 5234/75. Modifica a Lei nº 4199/72 e dá outras providências. Diário Oficial; CURITIBA. (2000) Lei Municipal n 9800/2000. Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no município de Curitiba, revoga as Leis nº 4199/72, 5234/75, 5263/75, 5490/76, 6204/81, 6769/85, 7068/87 e 7622/91, e dá outras providências. Diário Oficial, FRANCO, N.J.N. (2005) Aplicação de um modelo de trajetórias na simulação do transporte de radionucleídeos na atmosfera. Tese (Doutorado em Ciências) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. GOOGLE EARTH (2008) Versão [S.I.]: Mountain View, CA: Google Inc., HUANG, Y.D.; JIN, M.X.; SUN, Y.N. (2003) Numerical studies on airflow and pollutant dispersion in urban street canyons formed by slanted roof buildings. Journal of Hidrodynamics, v. 19, n. 1, p LIU, C.H.; BARTH, M.C.; LEUNG, D.Y.C. (2004) Large-eddy simulation of flow and pollutant transport in street canyons of different buildingheight-to-street-width ratios. Journal of Apllied Meteorology, v. 43, p MALHEIROS, A.L. (2004) Avaliação de modelos para a altura da camada limite atmosférica urbana e seus efeitos sobre a qualidade do ar. Dissertação (Mestrado em Ciências) Universidade Federal do Paraná, Curitiba. MIRAGLIA, S.G.; SALDIVA, P.H.; BÖHM, G.M. (2005) An evaluation of pollution health impacts and costs in São Paulo, Brazil. Environmental Management, v. 35, n. 5, p MOREIRA, D. & TIRABASSI, T. (2004) Modelo matemático de dispersão de poluentes na atmosfera: um instrumento técnico para a gestão ambiental. Revista Ambiente e Sociedade, v. 7, n. 2, p OKE, T.R. (1988) The urban energy balance. Progress in Physical Geography, v. 12, n. 4, p PARANÁ. Secretaria de Estado da Segurança Pública. Departamento de Trânsito. (2006) Anuário estatístico Curitiba: DETRAN/PR; 2006 Eng Sanit Ambient Edição Especial
12 Bender, A.P. & Dziedzic, M. PARK, S.K.; KIM, S.D.; LEE, H. (2004) Dipersion characteristics of vehicle emission in an urban street canyon. Science of the Total Environment, v. 323, n. 1-3, p ROMERO, M.A.B. (2000) Princípios bioclimáticos para o desenho urbano. 2 ed. São Paulo: ProEditores, 123 p. SANTOS, R.M. (2004) Morfologia Urbana e Conforto Térmico. AUP 823: Seminário de Integração, Universidade de São Paulo, São Paulo. SCHMID, A.L. (2001) Daylighting and Insolation in High-density Urban Zones: How Simulation Supported a New Law in Curitiba. In: Building Simulation, Proceedings of the Seventh International Building Performance Simulation Association (IBPSA). Rio de Janeiro: IBPSA. p URBS. (2007) Horário de ônibus rede integrada de transporte. Disponível em: < Acesso em: 28 ago VARDOULAKIS, S.; FISHER, B.E.A.; PERICLEOUS, K.; FLESCA, N.G. (2003) Modelling air quality in street canyons: a review. Atmospheric Environment, v. 37, n. 2, p XIAOMIN, X.; ZHEN, H.; JIASONG, W. (2006) The impact of urban street layout on local atmospheric environment. Building and Environment, v. 41, n. 10, p WANG, J.S.; ZHAO, B.Q.; YE, C; YANG, D.Q.; HUANG, Z. (2006) Optimizing layout of urban street canyon using numerical simulation coupling with mathematical optimization. Journal of Hydrodynamics, v. 18, n. 3, p Eng Sanit Ambient Edição Especial
A INFLUÊNCIA DAS LEIS DE OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO NA GESTÃO DA QUALIDADE DO AR
 A INFLUÊNCIA DAS LEIS DE OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO NA GESTÃO DA QUALIDADE DO AR Ana Paula Bender 1, Ricardo H. M. Godoi 2 e Maurício Dziedzic 3 1 Aluna do Programa de Mestrado em Gestão Ambiental, UnicenP,
A INFLUÊNCIA DAS LEIS DE OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO NA GESTÃO DA QUALIDADE DO AR Ana Paula Bender 1, Ricardo H. M. Godoi 2 e Maurício Dziedzic 3 1 Aluna do Programa de Mestrado em Gestão Ambiental, UnicenP,
Capítulo I Introdução 24
 1 Introdução Na última década, a poluição atmosférica tem sido assunto freqüente e de destaque na mídia em geral. Problemas de caráter global como o efeito estufa e a redução da camada de ozônio têm sido
1 Introdução Na última década, a poluição atmosférica tem sido assunto freqüente e de destaque na mídia em geral. Problemas de caráter global como o efeito estufa e a redução da camada de ozônio têm sido
Quantificação da redução da poluição do ar pela modernização da frota veicular
 https://eventos.utfpr.edu.br//sicite/sicite2017/index Quantificação da redução da poluição do ar pela modernização da frota veicular RESUMO Thiago Alves Pereira Landi Thiago.landi19@gmail.com Universidade
https://eventos.utfpr.edu.br//sicite/sicite2017/index Quantificação da redução da poluição do ar pela modernização da frota veicular RESUMO Thiago Alves Pereira Landi Thiago.landi19@gmail.com Universidade
ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E MENSURAÇÃO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA DE ORIGEM VEICULAR NO MUNICÍPIO DO NATAL RN
 ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E MENSURAÇÃO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA DE ORIGEM VEICULAR NO MUNICÍPIO DO NATAL RN J. L. TAVARES 1 ; A.G. FERREIRA 2, FERNANDES, S. F. e W. M. A. COSTA E-mail: jean.tavaresl@ifrn.edu.br
ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E MENSURAÇÃO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA DE ORIGEM VEICULAR NO MUNICÍPIO DO NATAL RN J. L. TAVARES 1 ; A.G. FERREIRA 2, FERNANDES, S. F. e W. M. A. COSTA E-mail: jean.tavaresl@ifrn.edu.br
de maior força, tanto na direção normal quanto na direção tangencial, está em uma posição no
 66 (a) Velocidade resultante V (b) Ângulo de ataque α Figura 5.13 Velocidade resultante e ângulo de ataque em função de r/r para vários valores de tsr. A Fig. 5.14 mostra os diferenciais de força que atuam
66 (a) Velocidade resultante V (b) Ângulo de ataque α Figura 5.13 Velocidade resultante e ângulo de ataque em função de r/r para vários valores de tsr. A Fig. 5.14 mostra os diferenciais de força que atuam
O APERFEIÇOAMENTO DAS ESTIMATIVAS DAS EMISSÕES VEICULARES NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 2008 A 2013
 Blucher Engineering Proceedings Agosto de 2014, Número 2, Volume 1 O APERFEIÇOAMENTO DAS ESTIMATIVAS DAS EMISSÕES VEICULARES NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 2008 A 2013 Cristiane Dias 1 ; Marcelo
Blucher Engineering Proceedings Agosto de 2014, Número 2, Volume 1 O APERFEIÇOAMENTO DAS ESTIMATIVAS DAS EMISSÕES VEICULARES NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 2008 A 2013 Cristiane Dias 1 ; Marcelo
Fundamentos da Dispersão Atmosférica
 Fundamentos da Dispersão Atmosférica Professor: Neyval Costa Reis Jr. Departamento de Engenharia Ambiental Centro Tecnológico UFES Fundamentos da Dispersão Atmosférica Ementa: Micrometeorologia. Teorias
Fundamentos da Dispersão Atmosférica Professor: Neyval Costa Reis Jr. Departamento de Engenharia Ambiental Centro Tecnológico UFES Fundamentos da Dispersão Atmosférica Ementa: Micrometeorologia. Teorias
DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO PARA OTIMIZAÇÃO DA ALTURA E LOCALIZAÇÃO DA FONTE PONTUAL ATRAVÉS DA DISPERSÃO ATMOSFÉRICA DE SUA EMISSÃO
 DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO PARA OTIMIZAÇÃO DA ALTURA E LOCALIZAÇÃO DA FONTE PONTUAL ATRAVÉS DA DISPERSÃO ATMOSFÉRICA DE SUA EMISSÃO Jaqueline dos Santos Vieira¹; Carlos Henrique Portezani² ¹ Estudante
DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO PARA OTIMIZAÇÃO DA ALTURA E LOCALIZAÇÃO DA FONTE PONTUAL ATRAVÉS DA DISPERSÃO ATMOSFÉRICA DE SUA EMISSÃO Jaqueline dos Santos Vieira¹; Carlos Henrique Portezani² ¹ Estudante
INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO VEICULAR NA SAÚDE HUMANA
 IBAMA MMA INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO VEICULAR NA SAÚDE HUMANA CETESB HOMERO CARVALHO MOVIMENTO NOSSA SÃO PAULO ATO PÚBLICO PELA MELHORIA DA QUALIDADE DO DIESEL 12/09/2007 homeroc@cetesbnet.sp.gov.br CENÁRIO
IBAMA MMA INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO VEICULAR NA SAÚDE HUMANA CETESB HOMERO CARVALHO MOVIMENTO NOSSA SÃO PAULO ATO PÚBLICO PELA MELHORIA DA QUALIDADE DO DIESEL 12/09/2007 homeroc@cetesbnet.sp.gov.br CENÁRIO
USO DO CFD NA AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE E DA TEMPERATURA NUMA SALA EM CUIABÁ
 USO DO CFD NA AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE E DA TEMPERATURA NUMA SALA EM CUIABÁ C.C. VALÉRIO 1, F. H. MAEDA 2 e M. V. RAMIREZ 1 1 Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Engenharia da Computação 2
USO DO CFD NA AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE E DA TEMPERATURA NUMA SALA EM CUIABÁ C.C. VALÉRIO 1, F. H. MAEDA 2 e M. V. RAMIREZ 1 1 Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Engenharia da Computação 2
Recursos Atmosfericos
 Recursos Atmosfericos Professor: Neyval Costa Reis Jr. Departamento de Engenharia Ambiental Centro Tecnológico UFES Programa Detalhado Atmosfera Camadas Constituintes Balanço de energia Ventos na atmosfera
Recursos Atmosfericos Professor: Neyval Costa Reis Jr. Departamento de Engenharia Ambiental Centro Tecnológico UFES Programa Detalhado Atmosfera Camadas Constituintes Balanço de energia Ventos na atmosfera
Mais Demanda por Recursos com os Mesmos Recursos: o Aumento da Frota de Veículos em São Paulo
 Mais Demanda por Recursos com os Mesmos Recursos: o Aumento da Frota de Veículos em São Paulo Mário de Souza Nogueira Neto Centro Universitário FEI São Bernardo do Campo, Amanda Carvalho S. Nogueira -
Mais Demanda por Recursos com os Mesmos Recursos: o Aumento da Frota de Veículos em São Paulo Mário de Souza Nogueira Neto Centro Universitário FEI São Bernardo do Campo, Amanda Carvalho S. Nogueira -
SIMULAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO INALÁVEL DE ORIGEM VEICULAR EM UMA INTERSEÇÃO SINALIZADA DE UBERLÂNDIA-MG
 SIMULAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO INALÁVEL DE ORIGEM VEICULAR EM UMA INTERSEÇÃO SINALIZADA DE UBERLÂNDIA-MG 1 Livia G. Soares, 1 Cláudio A. Vieira Filho, 1 Helder Hamada, 2 Marcus Vinícius
SIMULAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO INALÁVEL DE ORIGEM VEICULAR EM UMA INTERSEÇÃO SINALIZADA DE UBERLÂNDIA-MG 1 Livia G. Soares, 1 Cláudio A. Vieira Filho, 1 Helder Hamada, 2 Marcus Vinícius
Ciências do Ambiente
 Universidade Federal do Paraná Engenharia Civil Ciências do Ambiente Aula 17 O Meio Atmosférico I: Propriedades e Mecanismos Profª Heloise G. Knapik 1 Poluição Atmosférica - Histórico Período prérevolução
Universidade Federal do Paraná Engenharia Civil Ciências do Ambiente Aula 17 O Meio Atmosférico I: Propriedades e Mecanismos Profª Heloise G. Knapik 1 Poluição Atmosférica - Histórico Período prérevolução
Desempenho Térmico de edificações Ventilação Natural
 Desempenho Térmico de edificações Ventilação Natural PROFESSOR Roberto Lamberts ECV 5161 UFSC FLORIANÓPOLIS + Importância + Ocorrência dos ventos + Implantação e orientação + Mecanismos + Diferenças de
Desempenho Térmico de edificações Ventilação Natural PROFESSOR Roberto Lamberts ECV 5161 UFSC FLORIANÓPOLIS + Importância + Ocorrência dos ventos + Implantação e orientação + Mecanismos + Diferenças de
Climatologia de Cubatão
 Climatologia de Cubatão Simone Valarini e Rita Yuri Ynoue 1 1 Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo- IAG-USP- Rua do Matão, 1226 São Paulo SP Brasil, email:
Climatologia de Cubatão Simone Valarini e Rita Yuri Ynoue 1 1 Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo- IAG-USP- Rua do Matão, 1226 São Paulo SP Brasil, email:
Programação do Curso. Disposição I Atmosfera DISPOSIÇÃO NO MEIO-AMBIENTE
 Programação do Curso Carga horária Formação Específica Tecnologias limpas 48 Gerenciamento das emissões 96 Disposição no meio ambiente 36 Análise de risco e segurança industrial 36 Gerenciamento estratégico
Programação do Curso Carga horária Formação Específica Tecnologias limpas 48 Gerenciamento das emissões 96 Disposição no meio ambiente 36 Análise de risco e segurança industrial 36 Gerenciamento estratégico
QUALIDADE DO AR. QUANTIFICAÇÃO DAS TAXAS DE EMISSÕES ANUAIS DE CO, NOx E MP DE ÔNIBUS URBANOS DAS CIDADES COM AS CINCO MAIORES FROTAS DO BRASIL
 QUALIDADE DO AR QUANTIFICAÇÃO DAS TAXAS DE EMISSÕES ANUAIS DE CO, NOx E MP DE ÔNIBUS URBANOS DAS CIDADES COM AS CINCO MAIORES FROTAS DO BRASIL Fábio Paiva da Silva f.paivadasilva@yahoo.com.br Ananda Cristina
QUALIDADE DO AR QUANTIFICAÇÃO DAS TAXAS DE EMISSÕES ANUAIS DE CO, NOx E MP DE ÔNIBUS URBANOS DAS CIDADES COM AS CINCO MAIORES FROTAS DO BRASIL Fábio Paiva da Silva f.paivadasilva@yahoo.com.br Ananda Cristina
A SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADA AO ESTUDO DA VENTILAÇÃO NATURAL NA ESCALA DA CIDADE E DO EDIFÍCIO O uso dos softwares COMSOL e CFX
 2º Seminário do Grupo AMBEE FAU UFRJ A SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADA AO ESTUDO DA VENTILAÇÃO NATURAL NA ESCALA DA CIDADE E DO EDIFÍCIO O uso dos softwares COMSOL e CFX Marília Fontenelle Arq. Doutoranda
2º Seminário do Grupo AMBEE FAU UFRJ A SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADA AO ESTUDO DA VENTILAÇÃO NATURAL NA ESCALA DA CIDADE E DO EDIFÍCIO O uso dos softwares COMSOL e CFX Marília Fontenelle Arq. Doutoranda
Qualidade do Ar. Universidade de Aveiro. Ana Miranda, Sandra Rafael, Carlos Borrego. Departamento de Ambiente e Ordenamento
 Qualidade do Ar Ana Miranda, Sandra Rafael, Carlos Borrego Departamento de Ambiente e Ordenamento Universidade de Aveiro Seminário Semana Europeia da Mobilidade 20 de Setembro 2018 poluição atmosférica
Qualidade do Ar Ana Miranda, Sandra Rafael, Carlos Borrego Departamento de Ambiente e Ordenamento Universidade de Aveiro Seminário Semana Europeia da Mobilidade 20 de Setembro 2018 poluição atmosférica
Capítulo 1 - Introdução 23
 1 Introdução Todas as atividades humanas requerem o uso de algum tipo de energia para sua realização e uma das formas mais usuais de geração de energia é a queima de combustíveis fósseis. A combustão é
1 Introdução Todas as atividades humanas requerem o uso de algum tipo de energia para sua realização e uma das formas mais usuais de geração de energia é a queima de combustíveis fósseis. A combustão é
Notas de aula Ozônio troposférico
 Notas de aula - 018 - Ozônio troposférico Eventos de poluição por alta concentração de ozônio estão associados principalmente com temperaturas altas e radiação solar, e ainda com ventos calmos e condições
Notas de aula - 018 - Ozônio troposférico Eventos de poluição por alta concentração de ozônio estão associados principalmente com temperaturas altas e radiação solar, e ainda com ventos calmos e condições
Universidade de São Paulo Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Ventilação Urbana. AUT 225 Conforto Ambiental em Espaços Urbanos Abertos
 Universidade de São Paulo Faculdade de Arquitetura e Urbanismo AUT 225 Conforto Ambiental em Espaços Urbanos Abertos Profa. Dra. Denise Helena Silva Duarte Sumário Introdução Impactos em diferentes climas
Universidade de São Paulo Faculdade de Arquitetura e Urbanismo AUT 225 Conforto Ambiental em Espaços Urbanos Abertos Profa. Dra. Denise Helena Silva Duarte Sumário Introdução Impactos em diferentes climas
LEGISLAÇÃO SOBRE O CONTROLE DE POLUIÇÃO CAUSADA POR MOTOCICLETAS
 LEGISLAÇÃO SOBRE O CONTROLE DE POLUIÇÃO CAUSADA POR MOTOCICLETAS ILIDIA DA ASCENÇÃO GARRIDO MARTINS JURAS Consultora Legislativa da Área XI Meio Ambiente e Direito Ambiental, Organização Territorial, Desenvolvimento
LEGISLAÇÃO SOBRE O CONTROLE DE POLUIÇÃO CAUSADA POR MOTOCICLETAS ILIDIA DA ASCENÇÃO GARRIDO MARTINS JURAS Consultora Legislativa da Área XI Meio Ambiente e Direito Ambiental, Organização Territorial, Desenvolvimento
XIII CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016
 MODELAGEM DE DISPERSÃO DE POLUENTES EM UMA AVENIDA DE ARACAJU-SE Fernanda de Souza Stingelin (1) ; Karla Betyna Oliveira Silva (2) ; Maíra Feitosa Menezes Macêdo (3) ; André Luis Dantas Ramos (4) (1) Estudante;
MODELAGEM DE DISPERSÃO DE POLUENTES EM UMA AVENIDA DE ARACAJU-SE Fernanda de Souza Stingelin (1) ; Karla Betyna Oliveira Silva (2) ; Maíra Feitosa Menezes Macêdo (3) ; André Luis Dantas Ramos (4) (1) Estudante;
OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE COMBUSTÃO DE CALDEIRAS A GÁS
 OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE COMBUSTÃO DE CALDEIRAS A GÁS Aluno: William Schindhelm Georg Orientador: Marcos Sebastião de Paula Gomes Introdução O modelo de caldeira a gás inicialmente utilizado foi o mesmo
OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE COMBUSTÃO DE CALDEIRAS A GÁS Aluno: William Schindhelm Georg Orientador: Marcos Sebastião de Paula Gomes Introdução O modelo de caldeira a gás inicialmente utilizado foi o mesmo
A EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES VEICULARES NO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA NOVA ABORDAGEM NO PERÍODO DE 2009 A 2012
 A EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES VEICULARES NO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA NOVA ABORDAGEM NO PERÍODO DE 2009 A 2012 Cristiane Dias 1 ;Marcelo Pereira Bales 1 e Silmara Regina da Silva 1 1 CETESB (Companhia Ambiental
A EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES VEICULARES NO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA NOVA ABORDAGEM NO PERÍODO DE 2009 A 2012 Cristiane Dias 1 ;Marcelo Pereira Bales 1 e Silmara Regina da Silva 1 1 CETESB (Companhia Ambiental
3. DISPERSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS
 3.1 Introdução: - Modelos de dispersão de poluentes; 3.2 Modelos de Dispersão: - Representação Matemática dos processos de transporte e difusão que ocorrem na atmosfera; - Simulação da realidade; - Prognosticar
3.1 Introdução: - Modelos de dispersão de poluentes; 3.2 Modelos de Dispersão: - Representação Matemática dos processos de transporte e difusão que ocorrem na atmosfera; - Simulação da realidade; - Prognosticar
Resumo. Palavras-chave. Esforços em pontes; Modelo de cargas Móveis; Análise dinâmica. Universidade Federal do Paraná /
 Estimativa de Esforços Extremos em Pontes Para Modelo Dinâmico de Cargas Móveis No Brasil Hugo Campêlo Mota 1, Michèle Schubert Pfeil 2, Carlos Rossigali 3 1 Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto
Estimativa de Esforços Extremos em Pontes Para Modelo Dinâmico de Cargas Móveis No Brasil Hugo Campêlo Mota 1, Michèle Schubert Pfeil 2, Carlos Rossigali 3 1 Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto
ESTUDO DA COMBUSTÃO IN-SITU EM RESERVATÓRIOS COM CARACTERÍSTICAS DO NORDESTE BRASILEIRO
 ESTUDO DA COMBUSTÃO IN-SITU EM RESERVATÓRIOS COM CARACTERÍSTICAS DO NORDESTE BRASILEIRO M.L. ROCHA 1,E. A. ARAÚJO 1, J. L. M. BARILLAS 1 1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Graduação em Engenharia
ESTUDO DA COMBUSTÃO IN-SITU EM RESERVATÓRIOS COM CARACTERÍSTICAS DO NORDESTE BRASILEIRO M.L. ROCHA 1,E. A. ARAÚJO 1, J. L. M. BARILLAS 1 1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Graduação em Engenharia
Apêndice A. Ozônio: um exemplo atual de poluente secundário
 Apêndice A Ozônio: um exemplo atual de poluente secundário 121 Apêndice A - Ozônio: um exemplo atual de poluente secundário. O ozônio não é um poluente emitido diretamente pelas fontes, o que o caracteriza
Apêndice A Ozônio: um exemplo atual de poluente secundário 121 Apêndice A - Ozônio: um exemplo atual de poluente secundário. O ozônio não é um poluente emitido diretamente pelas fontes, o que o caracteriza
ATIVIDADE AVALIATIVA
 Climatologia 2. Atmosfera Terrestre ATIVIDADE AVALIATIVA Valor: 1,0 Tempo para responder: 15min 1) Qual a importância da concentração dos gases que compõe a atmosfera terrestre, em termos físicos e biológicos?
Climatologia 2. Atmosfera Terrestre ATIVIDADE AVALIATIVA Valor: 1,0 Tempo para responder: 15min 1) Qual a importância da concentração dos gases que compõe a atmosfera terrestre, em termos físicos e biológicos?
5 DESCRIÇÃO DAS MODELAGENS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
 5 DESCRIÇÃO DAS MODELAGENS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS Neste capítulo, são apresentadas as modelagens para a simulação do processo de combustão do biogás. As composições do biogás e do ar estão descritas
5 DESCRIÇÃO DAS MODELAGENS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS Neste capítulo, são apresentadas as modelagens para a simulação do processo de combustão do biogás. As composições do biogás e do ar estão descritas
IMPACTOS AMBIENTAIS DO AUTOMÓVEL ANÁLISE NUMÉRICA DO CICLO TERMODINÂMICO DE UM MOTOR DE 170kW OPERANDO A GÁS NATURAL
 JOSÉ AUGUSTO MARINHO SILVA IMPACTOS AMBIENTAIS DO AUTOMÓVEL ANÁLISE NUMÉRICA DO CICLO TERMODINÂMICO DE UM MOTOR DE 170kW OPERANDO A GÁS NATURAL Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola Politécnica
JOSÉ AUGUSTO MARINHO SILVA IMPACTOS AMBIENTAIS DO AUTOMÓVEL ANÁLISE NUMÉRICA DO CICLO TERMODINÂMICO DE UM MOTOR DE 170kW OPERANDO A GÁS NATURAL Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola Politécnica
DISPERSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA. G4 João Paulo Vanessa Tiago Lars
 DISPERSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA G4 João Paulo Vanessa Tiago Lars INTRODUÇÃO A concentração de uma determinada substância na atmosfera varia no tempo e no espaço em função de reações químicas e/ou fotoquímicas,
DISPERSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA G4 João Paulo Vanessa Tiago Lars INTRODUÇÃO A concentração de uma determinada substância na atmosfera varia no tempo e no espaço em função de reações químicas e/ou fotoquímicas,
INVENTÁRIO DE EMISSÃO DE FONTES VEICULARES DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS, SÃO PAULO
 Quim. Nova, Vol. 34, No. 9, 1496-1500, 2011 INVENTÁRIO DE EMISSÃO DE FONTES VEICULARES DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS, SÃO PAULO Artigo Ana Cláudia Ueda* e Edson Tomaz Faculdade de Engenharia Química,
Quim. Nova, Vol. 34, No. 9, 1496-1500, 2011 INVENTÁRIO DE EMISSÃO DE FONTES VEICULARES DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS, SÃO PAULO Artigo Ana Cláudia Ueda* e Edson Tomaz Faculdade de Engenharia Química,
Relatório técnico final do projeto Estimativa de Erros de Discretização em Dinâmica dos Fluidos Computacional
 Relatório técnico final do projeto Estimativa de Erros de Discretização em Dinâmica dos Fluidos Computacional CFD-4 Processo CNPq 302916/2004-0 Período: 1 Mar 2005 a 29 Fev 2008 Palavras-chave: erro numérico,
Relatório técnico final do projeto Estimativa de Erros de Discretização em Dinâmica dos Fluidos Computacional CFD-4 Processo CNPq 302916/2004-0 Período: 1 Mar 2005 a 29 Fev 2008 Palavras-chave: erro numérico,
1246 Fortaleza, CE. Palavras-chave: Circulação de brisa, RAMS, modelagem atmosférica.
 Uso de modelo computacional atmosférico para verificar as circulações de brisa na cidade de Fortaleza CE Vinícius Milanez Couto 1, João Bosco Verçosa Leal Junior 1, Francisco das Chagas Vasconcelos Júnior
Uso de modelo computacional atmosférico para verificar as circulações de brisa na cidade de Fortaleza CE Vinícius Milanez Couto 1, João Bosco Verçosa Leal Junior 1, Francisco das Chagas Vasconcelos Júnior
3 Influência da Distribuição do Fluido na Variação da Velocidade Compressional (Vp)
 3 Influência da Distribuição do Fluido na Variação da Velocidade Compressional (Vp) 3.1. Introdução Com base nos modelos de saturação homogêneo e heterogêneo (patchy), é realizada uma análise do efeito
3 Influência da Distribuição do Fluido na Variação da Velocidade Compressional (Vp) 3.1. Introdução Com base nos modelos de saturação homogêneo e heterogêneo (patchy), é realizada uma análise do efeito
TÚNEIS RODOVIÁRIOS QUALIDADE DO AR
 TÚNEIS RODOVIÁRIOS QUALIDADE DO AR Jorge Saraiva Ter o tráfego rodoviário em túneis é dispôr de uma oportunidade para contribuir para a Qualidade do Ar (QA). De facto, isto pode significar remover fontes
TÚNEIS RODOVIÁRIOS QUALIDADE DO AR Jorge Saraiva Ter o tráfego rodoviário em túneis é dispôr de uma oportunidade para contribuir para a Qualidade do Ar (QA). De facto, isto pode significar remover fontes
O Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores
 O Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores CETESB Divisão de Transporte Sustentável e Emissões Veiculares Vanderlei Borsari AEAMESP Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô 16ª Semana
O Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores CETESB Divisão de Transporte Sustentável e Emissões Veiculares Vanderlei Borsari AEAMESP Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô 16ª Semana
REDE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DO AR
 REDE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DO AR Análise da Qualidade do Ar na Área Envolvente da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (Mar-98 / Dez-12) Direção de Estudos, S. João da Talha Qualidade
REDE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DO AR Análise da Qualidade do Ar na Área Envolvente da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (Mar-98 / Dez-12) Direção de Estudos, S. João da Talha Qualidade
9 Relações para redução das velocidades de propagação de chama turbulentas no motor em velocidades de chama laminares dos combustíveis
 9 Relações para redução das velocidades de propagação de chama turbulentas no motor em velocidades de chama laminares dos combustíveis Neste capítulo serão apresentadas as relações desenvolvidas, conforme
9 Relações para redução das velocidades de propagação de chama turbulentas no motor em velocidades de chama laminares dos combustíveis Neste capítulo serão apresentadas as relações desenvolvidas, conforme
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO RECURSO AR
 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO RECURSO AR Carlos Borrego Sandra Rafael Sílvia Coelho Bruno Vicente Ordem dos Engenheiros, 9 março 2018 Qualidade de Ar Concentrações de PM10 acima do
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO RECURSO AR Carlos Borrego Sandra Rafael Sílvia Coelho Bruno Vicente Ordem dos Engenheiros, 9 março 2018 Qualidade de Ar Concentrações de PM10 acima do
Palavras-chave: poluição fotoquímica e modelos de qualidade do ar.
 Previsão de concentração de ozônio na Camada Limite Planetária na Região Metropolitana de São Paulo no contexto de um projeto de políticas públicas. Parte II: estudo de caso para outubro de 22. Maria de
Previsão de concentração de ozônio na Camada Limite Planetária na Região Metropolitana de São Paulo no contexto de um projeto de políticas públicas. Parte II: estudo de caso para outubro de 22. Maria de
UM MODELO APROXIMADO COM REAÇÃO DA DISPERSÃO DE GASES DE UMA CENTRAL TERMOELÉTRICA
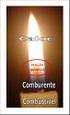 UM MODELO APROXIMADO COM REAÇÃO DA DISPERSÃO DE GASES DE UMA CENTRAL TERMOELÉTRICA E. A. S. CHIARAMONTE 1 Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Engenharia Química E-mail para contato: edsonchi@portoweb.com.br
UM MODELO APROXIMADO COM REAÇÃO DA DISPERSÃO DE GASES DE UMA CENTRAL TERMOELÉTRICA E. A. S. CHIARAMONTE 1 Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Engenharia Química E-mail para contato: edsonchi@portoweb.com.br
REDE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DO AR
 REDE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DO AR Análise da Qualidade do Ar na Área Envolvente da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (Mar-98 / Dez-13) Direção de Estudos, S. João da Talha Qualidade
REDE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DO AR Análise da Qualidade do Ar na Área Envolvente da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (Mar-98 / Dez-13) Direção de Estudos, S. João da Talha Qualidade
Metodologia utilizada para obtenção dos fatores de emissão de veículos em uso e a distribuição espacial das emissões
 Metodologia utilizada para obtenção dos fatores de emissão de veículos em uso e a distribuição espacial das emissões Gabriel Murgel Branco Fábio Cardinale Branco Sergio Ibarra-Espinosa São Paulo, 13 de
Metodologia utilizada para obtenção dos fatores de emissão de veículos em uso e a distribuição espacial das emissões Gabriel Murgel Branco Fábio Cardinale Branco Sergio Ibarra-Espinosa São Paulo, 13 de
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. QUÍMICA AMBIENTAL IFRN NOVA CRUZ CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA Prof. Samuel Alves de Oliveira
 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA QUÍMICA AMBIENTAL IFRN NOVA CRUZ CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA Prof. Samuel Alves de Oliveira INTRODUÇÃO Atmosfera CAMADAS ATMOSFÉRICAS Troposfera 1 Camada mais fina de todas Entre 10 a
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA QUÍMICA AMBIENTAL IFRN NOVA CRUZ CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA Prof. Samuel Alves de Oliveira INTRODUÇÃO Atmosfera CAMADAS ATMOSFÉRICAS Troposfera 1 Camada mais fina de todas Entre 10 a
Tabela 3.37: Constantes da Equação
 C R = [(a) + (b X AU amb ) + (c X CT baixa ) + (d X α par ) + (e X PD/AU amb ) + (f X somb) + (g X CT cob ) + (h X Ab S ) + (i X SomA parext X CT par ) + (j X cob) + (k X U cob X α cob X cob X AU amb )
C R = [(a) + (b X AU amb ) + (c X CT baixa ) + (d X α par ) + (e X PD/AU amb ) + (f X somb) + (g X CT cob ) + (h X Ab S ) + (i X SomA parext X CT par ) + (j X cob) + (k X U cob X α cob X cob X AU amb )
*CO 2-equivalente é a quantidade de CO 2 que causaria a mesma força radiativa** que certa quantidade emitida de outro gás do efeito estuda.
 1 Introdução Atualmente é inegável a preocupação mundial com questões ecológicas e ambientais, principalmente no que se refere às mudanças climáticas. O aquecimento no sistema climático mundial vem sendo
1 Introdução Atualmente é inegável a preocupação mundial com questões ecológicas e ambientais, principalmente no que se refere às mudanças climáticas. O aquecimento no sistema climático mundial vem sendo
Apesar da área de simulação de motores ter evoluído muito nos últimos anos, as modelagens do combustível e dos processos de combustão ainda
 1 Introdução O fenômeno da combustão sempre esteve diretamente ligado à história da humanidade desde os primórdios de sua existência. No início, através do fogo espontâneo presente na natureza. Pelas suas
1 Introdução O fenômeno da combustão sempre esteve diretamente ligado à história da humanidade desde os primórdios de sua existência. No início, através do fogo espontâneo presente na natureza. Pelas suas
PREVISÃO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DO AR AO NÍVEL DE ABRIGO UTILIZANDO MODELO ATMOSFÉRICO DE MESOESCALA.
 PREVISÃO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DO AR AO NÍVEL DE ABRIGO UTILIZANDO MODELO ATMOSFÉRICO DE MESOESCALA. José Eduardo PRATES 1, Leonardo CALVETTI 2 RESUMO A temperatura do ar é um dos principais
PREVISÃO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DO AR AO NÍVEL DE ABRIGO UTILIZANDO MODELO ATMOSFÉRICO DE MESOESCALA. José Eduardo PRATES 1, Leonardo CALVETTI 2 RESUMO A temperatura do ar é um dos principais
22º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
 22º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental 14 a 19 de Setembro 2003 - Joinville - Santa Catarina I-158 MODELAGEM NUMÉRICA DO PADRÃO DE ESCOMANENTO E DE CURVAS DE PASSAGEM EM UNIDADES
22º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental 14 a 19 de Setembro 2003 - Joinville - Santa Catarina I-158 MODELAGEM NUMÉRICA DO PADRÃO DE ESCOMANENTO E DE CURVAS DE PASSAGEM EM UNIDADES
Conclusão 6.1. Desenvolvimento e Validação do Método
 6 Conclusão A primeira contribuição da tese no estado da arte é a apresentação e discussão de uma metodologia para simulação numérica e análise de medidores ultrassônicos. É apresentado um método para
6 Conclusão A primeira contribuição da tese no estado da arte é a apresentação e discussão de uma metodologia para simulação numérica e análise de medidores ultrassônicos. É apresentado um método para
USO DE MICROSSIMULAÇÃO PARA AVALIAR BENEFÍCIOS NA REDUÇÃO DE ESTÁGIOS EM INTERSEÇÕES SEMAFORIZADAS
 USO DE MICROSSIMULAÇÃO PARA AVALIAR BENEFÍCIOS NA REDUÇÃO DE ESTÁGIOS EM INTERSEÇÕES SEMAFORIZADAS João Paulo Nascimento de Sousa Waldemiro de Aquino Pereira Neto USO DE MICROSSIMULAÇÃO PARA AVALIAR BENEFÍCIOS
USO DE MICROSSIMULAÇÃO PARA AVALIAR BENEFÍCIOS NA REDUÇÃO DE ESTÁGIOS EM INTERSEÇÕES SEMAFORIZADAS João Paulo Nascimento de Sousa Waldemiro de Aquino Pereira Neto USO DE MICROSSIMULAÇÃO PARA AVALIAR BENEFÍCIOS
CETREL NO BRASIL CERTIFICADOS
 CETREL NO BRASIL CERTIFICADOS MA AM SE Amazonas Maranhão Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Rio de Janeiro São Paulo Rio Grande do Sul Cetrel Quem somos, para onde queremos ir Negócio Engenharia
CETREL NO BRASIL CERTIFICADOS MA AM SE Amazonas Maranhão Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Rio de Janeiro São Paulo Rio Grande do Sul Cetrel Quem somos, para onde queremos ir Negócio Engenharia
Avaliação da Qualidade do Ar
 Composição da atmosfera O % Outros % N 78% Principais poluentes atmosféricos Partículas Dióxido de Enxofre (SO ) Monóxido de Carbono (CO) Óxidos de Azoto (NO x ) Ozono (O ) Classificação dos poluentes
Composição da atmosfera O % Outros % N 78% Principais poluentes atmosféricos Partículas Dióxido de Enxofre (SO ) Monóxido de Carbono (CO) Óxidos de Azoto (NO x ) Ozono (O ) Classificação dos poluentes
ESCOAMENTOS UNIFORMES EM CANAIS
 ESCOAMENTOS UNIFORMES EM CANAIS Nome: nº turma INTRODUÇÃO Um escoamento em canal aberto é caracterizado pela existência de uma superfície livre. Esta superfície é na realidade uma interface entre dois
ESCOAMENTOS UNIFORMES EM CANAIS Nome: nº turma INTRODUÇÃO Um escoamento em canal aberto é caracterizado pela existência de uma superfície livre. Esta superfície é na realidade uma interface entre dois
7 Modelagem tridimensional do processo de corte em
 7 Modelagem tridimensional do processo de corte em rocha Este capítulo descreve um modelo tridimensional do processo de corte em rocha e apresenta as análises dos resultados obtidos com a variação do refinamento
7 Modelagem tridimensional do processo de corte em rocha Este capítulo descreve um modelo tridimensional do processo de corte em rocha e apresenta as análises dos resultados obtidos com a variação do refinamento
COMBUSTÍVEIS. Diesel
 COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEIS Diesel O Diesel é o combustível mais utilizado no Brasil. A maior parte da frota comercial brasileira é movida a óleo diesel. Assim como a gasolina, ele é um sub-produto do petróleo,
COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEIS Diesel O Diesel é o combustível mais utilizado no Brasil. A maior parte da frota comercial brasileira é movida a óleo diesel. Assim como a gasolina, ele é um sub-produto do petróleo,
2 Procedimentos para Análise de Colisão de Veículos Terrestres Deformáveis
 2 Procedimentos para Análise de Colisão de Veículos Terrestres Deformáveis 15 Com o objetivo de aumentar a segurança de seus veículos, os fabricantes automotivos estudam acidentes nos quais seus produtos
2 Procedimentos para Análise de Colisão de Veículos Terrestres Deformáveis 15 Com o objetivo de aumentar a segurança de seus veículos, os fabricantes automotivos estudam acidentes nos quais seus produtos
AVALIAÇÃO FOTOQUÍMICA DA QUALIDADE DO AR PARA OZÔNIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
 AVALIAÇÃO FOTOQUÍMICA DA QUALIDADE DO AR PARA OZÔNIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS BOIAN, C. 1 ; ANDRADE, M.F. 1 RESUMO O objetivo deste trabalho é determinar os parâmetros químicos, meteorológicos
AVALIAÇÃO FOTOQUÍMICA DA QUALIDADE DO AR PARA OZÔNIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS BOIAN, C. 1 ; ANDRADE, M.F. 1 RESUMO O objetivo deste trabalho é determinar os parâmetros químicos, meteorológicos
DINÂMICA DO OCEANO NAS REGIÕES COSTEIRAS
 DINÂMICA DO OCEANO NAS REGIÕES COSTEIRAS INFLUÊNCIA DO VENTO NA CIRCULAÇÃO COSTEIRA A Tensão do Vento é a força de atrito, por unidade de área, causada pela acção do vento na superfície do mar, paralelamente
DINÂMICA DO OCEANO NAS REGIÕES COSTEIRAS INFLUÊNCIA DO VENTO NA CIRCULAÇÃO COSTEIRA A Tensão do Vento é a força de atrito, por unidade de área, causada pela acção do vento na superfície do mar, paralelamente
4.1. Validação da análise de fluxo e transporte de soluto no meio fraturado
 4 Exemplos Este capítulo apresenta exemplos utilizados na validação das implementações computacionais realizadas neste trabalho, incluindo um teste comparativo entre os métodos de Picard e BFGS. São apresentados
4 Exemplos Este capítulo apresenta exemplos utilizados na validação das implementações computacionais realizadas neste trabalho, incluindo um teste comparativo entre os métodos de Picard e BFGS. São apresentados
Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes
 Módulo III Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes Objetivos do uso de modelos de dispersão atmosférica Principais
Módulo III Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes Objetivos do uso de modelos de dispersão atmosférica Principais
ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE INSOLAÇÃO NO SETOR ESTRUTURAL DE CURITIBA ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO DA OCUPAÇÃO COM O AFASTAMENTO DE H/6
 ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE INSOLAÇÃO NO SETOR ESTRUTURAL DE CURITIBA ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO DA OCUPAÇÃO COM O AFASTAMENTO DE H/6 Rudnei F. Campos (1); Sergio Scheer (2) (1) Departamento de Arquietura e Urbanismo
ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE INSOLAÇÃO NO SETOR ESTRUTURAL DE CURITIBA ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO DA OCUPAÇÃO COM O AFASTAMENTO DE H/6 Rudnei F. Campos (1); Sergio Scheer (2) (1) Departamento de Arquietura e Urbanismo
Fernanda Batista Silva 1,4, Edilson Marton 2, Gustavo Bodstein 3, Karla Longo 1
 ESTUDO DE ILHA DE CALOR NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO: ASPECTOS DAS CIRCULAÇÕES LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DO MODELO ATMOSFÉRICO BRAMS ACOPLADO AO ESQUEMA DE ÁREA URBANA Fernanda Batista Silva
ESTUDO DE ILHA DE CALOR NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO: ASPECTOS DAS CIRCULAÇÕES LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DO MODELO ATMOSFÉRICO BRAMS ACOPLADO AO ESQUEMA DE ÁREA URBANA Fernanda Batista Silva
Figura 1.1 Figura 1.1
 1 Introdução O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento e a caracterização de um queimador tipo obstáculo, utilizando um escoamento não pré-misturado de combustível (gás natural) e ar. Esta
1 Introdução O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento e a caracterização de um queimador tipo obstáculo, utilizando um escoamento não pré-misturado de combustível (gás natural) e ar. Esta
A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES FATORES MORFOLÓGICOS URBANOS NO AMBIENTE TÉRMICO DA CIDADE
 A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES FATORES MORFOLÓGICOS URBANOS NO AMBIENTE TÉRMICO DA CIDADE R. G. de Lima, G. de M. Barbirato, L. S. Bittencourt, C. A. de S. Souza. RESUMO Fatores morfológicos como a verticalidade,
A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES FATORES MORFOLÓGICOS URBANOS NO AMBIENTE TÉRMICO DA CIDADE R. G. de Lima, G. de M. Barbirato, L. S. Bittencourt, C. A. de S. Souza. RESUMO Fatores morfológicos como a verticalidade,
Este capítulo contém os resultados obtidos nos ensaios virtuais e análises efetuadas em cada uma das etapas do desenvolvimento da presente pesquisa.
 80 4 Resultados Este capítulo contém os resultados obtidos nos ensaios virtuais e análises efetuadas em cada uma das etapas do desenvolvimento da presente pesquisa. 4.1. Porosidade A Figura 4.1 apresenta
80 4 Resultados Este capítulo contém os resultados obtidos nos ensaios virtuais e análises efetuadas em cada uma das etapas do desenvolvimento da presente pesquisa. 4.1. Porosidade A Figura 4.1 apresenta
1 Introdução Introdução ao Planejamento Energético
 1 Introdução 1.1. Introdução ao Planejamento Energético A matriz energética indica os fluxos energéticos de cada fonte de energia, desde a produção de energia até as utilizações finais pelo sistema sócioeconômico,
1 Introdução 1.1. Introdução ao Planejamento Energético A matriz energética indica os fluxos energéticos de cada fonte de energia, desde a produção de energia até as utilizações finais pelo sistema sócioeconômico,
1 Introdução 1.1 Definição do Problema
 1 Introdução 1.1 Definição do Problema A engenharia de perfuração é uma das áreas na indústria que envolve o estudo da iteração entre a rocha e o cortador. Muitos estudos nesta área têm sido desenvolvidos
1 Introdução 1.1 Definição do Problema A engenharia de perfuração é uma das áreas na indústria que envolve o estudo da iteração entre a rocha e o cortador. Muitos estudos nesta área têm sido desenvolvidos
A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ARRANJOS CONSTRUTIVOS NO COMPORTAMENTO DA VENTILAÇÃO NATURAL. R. G. de Lima, L. S. Bittencourt
 A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ARRANJOS CONSTRUTIVOS NO COMPORTAMENTO DA VENTILAÇÃO NATURAL R. G. de Lima, L. S. Bittencourt RESUMO Regiões de clima quente úmido, como a cidade de Maceió, Brasil, são caracterizadas
A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ARRANJOS CONSTRUTIVOS NO COMPORTAMENTO DA VENTILAÇÃO NATURAL R. G. de Lima, L. S. Bittencourt RESUMO Regiões de clima quente úmido, como a cidade de Maceió, Brasil, são caracterizadas
ANÁLISE TECNO-ECONÔMICA USANDO O MÉTODO DE COMBUSTÃO IN-SITU PARA RESERVATÓRIOS DE ÓLEOS PESADOS
 ANÁLISE TECNO-ECONÔMICA USANDO O MÉTODO DE COMBUSTÃO IN-SITU PARA RESERVATÓRIOS DE ÓLEOS PESADOS M. L. ROCHA 1, E. A ARAUJO 2 e J.L.M BARILLAS 3 123 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro
ANÁLISE TECNO-ECONÔMICA USANDO O MÉTODO DE COMBUSTÃO IN-SITU PARA RESERVATÓRIOS DE ÓLEOS PESADOS M. L. ROCHA 1, E. A ARAUJO 2 e J.L.M BARILLAS 3 123 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro
ESTIMATIVA DOS FLUXOS TURBULENTOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO Maria Helena M. MARTINS 1,2 e Amauri P. de OLIVEIRA 1
 ESTIMATIVA DOS FLUXOS TURBULENTOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO Maria Helena M. MARTINS 1,2 e Amauri P. de OLIVEIRA 1 1 IAG/USP São Paulo, SP; 2 mia.mmartins@hotmail.com RESUMO: Os transportes turbulentos
ESTIMATIVA DOS FLUXOS TURBULENTOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO Maria Helena M. MARTINS 1,2 e Amauri P. de OLIVEIRA 1 1 IAG/USP São Paulo, SP; 2 mia.mmartins@hotmail.com RESUMO: Os transportes turbulentos
Escoamento completamente desenvolvido
 Escoamento completamente desenvolvido A figura mostra um escoamento laminar na região de entrada de um tubo circular. Uma camada limite desenvolve-se ao longo das paredes do duto. A superfície do tubo
Escoamento completamente desenvolvido A figura mostra um escoamento laminar na região de entrada de um tubo circular. Uma camada limite desenvolve-se ao longo das paredes do duto. A superfície do tubo
Comparação entre uma neuroprevisão(empírica) e um modelo físico simplificado para estimação hidrológica
 Trabalho apresentado no XXXVII CNMAC, S.J. dos Campos - SP, 2017. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics Comparação entre uma neuroprevisão(empírica) e um modelo
Trabalho apresentado no XXXVII CNMAC, S.J. dos Campos - SP, 2017. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics Comparação entre uma neuroprevisão(empírica) e um modelo
Meteorologia Ambiental 2017
 Meteorologia Ambiental 2017 Meteorologia Ambiental Programa do curso: Introdução: composição atmosférica, tempo de residência dos compostos; poluentes atmosféricos: definição dos poluentes, estabelecimentos
Meteorologia Ambiental 2017 Meteorologia Ambiental Programa do curso: Introdução: composição atmosférica, tempo de residência dos compostos; poluentes atmosféricos: definição dos poluentes, estabelecimentos
IMPACTO DE DIFERENTES CICLOS DE EMISSÕES EM UM VEÍCULO FLEX-FUEL
 IMPACTO DE DIFERENTES CICLOS DE EMISSÕES EM UM VEÍCULO FLEX-FUEL Eduardo Costa Quadros Continental Indústria Automotiva LTDA Email: eduardo.quadros@continental-corporation.com RESUMO Com a crescente preocupação
IMPACTO DE DIFERENTES CICLOS DE EMISSÕES EM UM VEÍCULO FLEX-FUEL Eduardo Costa Quadros Continental Indústria Automotiva LTDA Email: eduardo.quadros@continental-corporation.com RESUMO Com a crescente preocupação
USO DE DADOS DE TRÁFEGO MODELADOS PARA ESTIMATIVA DA POLUIÇÃO VEICULAR NA CIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL
 USO DE DADOS DE TRÁFEGO MODELADOS PARA ESTIMATIVA DA POLUIÇÃO VEICULAR NA CIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL Giovana Iara Ferreira Moser Toledo 1 Adelaide Cassia Nardocci 1 RESUMO O município de São Paulo tem
USO DE DADOS DE TRÁFEGO MODELADOS PARA ESTIMATIVA DA POLUIÇÃO VEICULAR NA CIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL Giovana Iara Ferreira Moser Toledo 1 Adelaide Cassia Nardocci 1 RESUMO O município de São Paulo tem
4 ESTUDOS PRELIMINARES
 79 4 ESTUDOS PRELIMINARES A metodologia da dinâmica dos fluidos computacionais foi aplicada para alguns casos simples de forma a verificar a adequação do software ANSYS CFX na resolução dos problemas descritos
79 4 ESTUDOS PRELIMINARES A metodologia da dinâmica dos fluidos computacionais foi aplicada para alguns casos simples de forma a verificar a adequação do software ANSYS CFX na resolução dos problemas descritos
2. Qual é o cronograma para implantação do diesel de baixo teor de enxofre?
 1. O que significa PROCONVE fases P7 e L6? PROCONVE é o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, criado pelo conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA. As fases P7 (para veículos
1. O que significa PROCONVE fases P7 e L6? PROCONVE é o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, criado pelo conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA. As fases P7 (para veículos
REDE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DO AR
 REDE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DO AR Análise da Qualidade do Ar na Área Envolvente da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (Mar-98 / Dez-15) Direção de Estudos, S. João da Talha Qualidade
REDE DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DO AR Análise da Qualidade do Ar na Área Envolvente da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (Mar-98 / Dez-15) Direção de Estudos, S. João da Talha Qualidade
TECNOLOGIA SCR DA FORD GARANTE MAIOR ECONOMIA, EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE
 TECNOLOGIA SCR DA FORD GARANTE MAIOR ECONOMIA, EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE A nova geração Ford Cargo Euro 5 que será comercializada em 2012 traz várias vantagens para o cliente, como menor custo operacional,
TECNOLOGIA SCR DA FORD GARANTE MAIOR ECONOMIA, EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE A nova geração Ford Cargo Euro 5 que será comercializada em 2012 traz várias vantagens para o cliente, como menor custo operacional,
ETANOL E AS EMISSÕES LOCAIS
 ETANOL E AS EMISSÕES LOCAIS Alfred Szwarc 3 Seminário Internacional - Uso Eficiente do Etanol Campinas, SP 20/21 de setembro de 2016 Poluição do Ar Local e Regional Tema do aquecimento global colocou a
ETANOL E AS EMISSÕES LOCAIS Alfred Szwarc 3 Seminário Internacional - Uso Eficiente do Etanol Campinas, SP 20/21 de setembro de 2016 Poluição do Ar Local e Regional Tema do aquecimento global colocou a
Transporte, Energia e Desenvolvimento Urbano: Aspectos Macroeconômicos
 12ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - FÓRUM TÉCNICO Transporte, Energia e Desenvolvimento Urbano: Aspectos Macroeconômicos Fernando Bittencourt e Bianca K. Ribeiro O transporte coletivo, como atividade
12ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - FÓRUM TÉCNICO Transporte, Energia e Desenvolvimento Urbano: Aspectos Macroeconômicos Fernando Bittencourt e Bianca K. Ribeiro O transporte coletivo, como atividade
SP 14/11/80 064/80. Programa Netsim: Proposta e Aplicação. Eng.º Eduardo Antonio Moraes Munhoz. Introdução
 SP 14/11/80 064/80 Programa Netsim: Proposta e Aplicação Eng.º Eduardo Antonio Moraes Munhoz Introdução Em sua prática diária, o engenheiro de tráfego defronta-se constantemente com questões do tipo "que
SP 14/11/80 064/80 Programa Netsim: Proposta e Aplicação Eng.º Eduardo Antonio Moraes Munhoz Introdução Em sua prática diária, o engenheiro de tráfego defronta-se constantemente com questões do tipo "que
ANÁLISE DE CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO DE RODOVIAS DE PISTA SIMPLES
 ANÁLISE DE CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO DE RODOVIAS DE PISTA SIMPLES Sergio Henrique Demarchi Universidade Estadual de Maringá 1. INTRODUÇÃO Em diversos países, como no Brasil, a maior parte da malha
ANÁLISE DE CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO DE RODOVIAS DE PISTA SIMPLES Sergio Henrique Demarchi Universidade Estadual de Maringá 1. INTRODUÇÃO Em diversos países, como no Brasil, a maior parte da malha
ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO (PGT) A análise pela SETTRANS dos PGT utiliza-se da seguinte metodologia:
 ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO (PGT) A análise pela SETTRANS dos PGT utiliza-se da seguinte metodologia: Projeto arquitetônico da edificação: além de observar, no que cabe, as leis de
ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO (PGT) A análise pela SETTRANS dos PGT utiliza-se da seguinte metodologia: Projeto arquitetônico da edificação: além de observar, no que cabe, as leis de
Impacto da altura das falésias na geração de turbulência
 Impacto da altura das falésias na geração de turbulência Luciana Pires, Leandro Souza, Gilberto Fisch, Ralf Gielow Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e-mail: lubassi@cptec.inpe.br 1. Introdução
Impacto da altura das falésias na geração de turbulência Luciana Pires, Leandro Souza, Gilberto Fisch, Ralf Gielow Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e-mail: lubassi@cptec.inpe.br 1. Introdução
DETERMINAÇÃO DA FORÇA DEVIDA AO VENTO EM ESTRUTURAS DE EDIFÍCIOS ALTOS SEGUNDO DUAS VERSÕES: A SUGERIDA PELA NBR 6123 E OUTRA SIMPLIFICADA.
 DETERMINAÇÃO DA FORÇA DEVIDA AO VENTO EM ESTRUTURAS DE EDIFÍCIOS ALTOS SEGUNDO DUAS VERSÕES: A SUGERIDA PELA NBR 6123 E OUTRA SIMPLIFICADA. Marcus Vinícius Paula de Lima (PIC), Nara Villanova Menon (Orientador),
DETERMINAÇÃO DA FORÇA DEVIDA AO VENTO EM ESTRUTURAS DE EDIFÍCIOS ALTOS SEGUNDO DUAS VERSÕES: A SUGERIDA PELA NBR 6123 E OUTRA SIMPLIFICADA. Marcus Vinícius Paula de Lima (PIC), Nara Villanova Menon (Orientador),
5 Exemplos Numéricos do Caso Linear
 56 5 Exemplos Numéricos do Caso Linear Neste capítulo apresenta-se uma série de exemplos numéricos como parte de um estudo paramétrico para avaliar e validar a exatidão do método aproximado perante a solução
56 5 Exemplos Numéricos do Caso Linear Neste capítulo apresenta-se uma série de exemplos numéricos como parte de um estudo paramétrico para avaliar e validar a exatidão do método aproximado perante a solução
Módulo II Energia, Calor e Trabalho
 Módulo II Energia, Calor e Trabalho Energia A energia pode se manifestar de diversas formas: mecânica, elétrica, térmica, cinética, potencial, magnética, química e nuclear. A energia total de um sistema
Módulo II Energia, Calor e Trabalho Energia A energia pode se manifestar de diversas formas: mecânica, elétrica, térmica, cinética, potencial, magnética, química e nuclear. A energia total de um sistema
UTILIZAÇÃO DE DADOS METEOROLÓGICOS REAIS EM SIMULAÇÕES DO MODELO DE DISPERSÃO ISCST3 NA USINA TERMOELÉTRICA PIRATININGA SP
 UTILIZAÇÃO DE DADOS METEOROLÓGICOS REAIS EM SIMULAÇÕES DO MODELO DE DISPERSÃO ISCST3 NA USINA TERMOELÉTRICA PIRATININGA SP Dirce Maria Pellegatti Franco Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
UTILIZAÇÃO DE DADOS METEOROLÓGICOS REAIS EM SIMULAÇÕES DO MODELO DE DISPERSÃO ISCST3 NA USINA TERMOELÉTRICA PIRATININGA SP Dirce Maria Pellegatti Franco Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
Capítulo 5 Validação Numérica. 5 Validação Numérica
 Capítulo 5 Validação Numérica 5 Validação Numérica Neste capítulo são mostradas as comparações das respostas numéricas e analíticas para várias condições de contorno, com o objetivo de validar numericamente
Capítulo 5 Validação Numérica 5 Validação Numérica Neste capítulo são mostradas as comparações das respostas numéricas e analíticas para várias condições de contorno, com o objetivo de validar numericamente
TÍTULO DO ARTIGO: INFLUÊNCIA DE ESCADAS E LAJES NO DESLOCAMENTO ESTRUTURAL DE EDIFÍCIOS ALTOS. Carlos Eduardo de Oliveira 1. Nara Villanova Menon 2
 4 de Dezembro de 2013 ISSN 2237-8219 TÍTULO DO ARTIGO: INFLUÊNCIA DE ESCADAS E LAJES NO DESLOCAMENTO ESTRUTURAL DE EDIFÍCIOS ALTOS Carlos Eduardo de Oliveira 1 Nara Villanova Menon 2 RESUMO Os edifícios
4 de Dezembro de 2013 ISSN 2237-8219 TÍTULO DO ARTIGO: INFLUÊNCIA DE ESCADAS E LAJES NO DESLOCAMENTO ESTRUTURAL DE EDIFÍCIOS ALTOS Carlos Eduardo de Oliveira 1 Nara Villanova Menon 2 RESUMO Os edifícios
Estudo do Comportamento e Desempenho de Aleta Tipo Pino
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA Estudo do Comportamento e Desempenho de Aleta Tipo Pino RELATÓRIO DE TRABALHO DE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA Estudo do Comportamento e Desempenho de Aleta Tipo Pino RELATÓRIO DE TRABALHO DE
