UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS
|
|
|
- Beatriz Espírito Santo
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS ANDRÉIA SILVA ARAUJO VOCÊ ME FARIA UM FAVOR? O FUTURO DO PRETÉRITO E A EXPRESSÃO DE POLIDEZ São Cristóvão/SE 2014
2 ANDRÉIA SILVA ARAUJO VOCÊ ME FARIA UM FAVOR? O FUTURO DO PRETÉRITO E A EXPRESSÃO DE POLIDEZ Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe, como requisito à obtenção do título de Mestre em Letras. Área de concentração: Estudos Linguísticos, Linha de Pesquisa: Descrição, Leitura e Escrita da Língua Portuguesa. Orientadora: Profa. Dra. Raquel Meister Ko. Freitag São Cristóvão/SE 2014
3 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE A663v Araujo, Andréia Silva Você me faria um favor? o futuro do pretérito e a expressão de polidez / Andréia Silva Araujo ; orientadora Raquel Meister Ko. Freitag. São Cristóvão, f. : il. Dissertação (mestrado em Letras) Universidade Federal de Sergipe, Sociolinguística. 2. Língua portuguesa Palavras e expressões. 3. Língua portuguesa Tempo verbal. 4. Paradigma (Linguística). 5. Etiqueta. I. Freitag, Raquel Meister Ko, orient. II. Título. CDU 81 27
4 ANDRÉIA SILVA ARAUJO VOCÊ ME FARIA UM FAVOR? O FUTURO DO PRETÉRITO E A EXPRESSÃO DE POLIDEZ Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe, como requisito à obtenção do título de Mestre em Letras. Área de concentração: Estudos Linguísticos, Linha de Pesquisa: Descrição, Leitura e Escrita da Língua Portuguesa. Dissertação aprovada em 24/03/2014 BANCA EXAMINADORA Profa. Dra. Raquel Meister Ko. Freitag - UFS Universidade Federal de Sergipe Presidente - Orientadora Profa. Dra. Maria Alice Tavares - UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1ª Examinadora - Externa Profa. Dra. Leilane Ramos da Silva - UFS Universidade Federal de Sergipe 2ª Examinadora - Interna
5 Aos meus pais, Pedro e Luzia, pelo carinho e incentivo constantes, por serem a razão do meu existir e do meu insistir nesta caminhada, dedico.
6 AGRADECIMENTOS A Deus, por ter me dado força para superar os obstáculos que surgiram ao longo desta caminhada, pelas incontáveis vitórias e por ter colocado pessoas tão especiais em minha vida. À minha orientadora, Profa. Dra. Raquel Meister Ko. Freitag, exemplo de profissionalismo, pela orientação segura, pela dedicação, pelos puxões de orelha, pelo carinho, pela compreensão, pelos conselhos nos momentos mais difíceis, por ter sido a responsável pelo meu encantamento ao mundo acadêmico (desde a Iniciação Científica quando eu dava os primeiros passos neste caminho) e, sobretudo, pela paciência e por sempre me instigar a ir além. Aos membros da banca examinadora de qualificação, Profa. Dra. Josane Moreira de Oliveira e Profa. Dra. Leilane Ramos da Silva, pela leitura atenta e pelas valiosas sugestões e reflexões ao presente estudo. Aos membros da banca examinadora de defesa, Profa. Dra. Maria Alice Tavares e Profa. Dra. Leilane Ramos da Silva, pela leitura atenta e pelas significativas sugestões que contribuíram para o aprimoramento do presente estudo. Às Profas. Dras. Edair Maria Gorski (UFSC), Ana Lúcia Costa (UFRJ), Márluce Coan (UFC) e Leila Maria Tesch (UFES), pela disponibilização de material bibliográfico. À Aline Santos (UEFS), pela troca de material bibliográfico e pelo apoio concedido no momento da qualificação. À Nara Jaqueline Avelar Brito (UFRN), pela troca de material bibliográfico. Ao Jorge Henrique Santos (UFS), pela disponibilização de material bibliográfico. Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Letras, pelos ensinamentos durante o percurso.
7 Aos informantes do banco de dados Rede Social de Informantes Universitários, que disponibilizaram o seu precioso tempo, sem os quais este estudo não seria realizado. À FAPITEC, pelo subsídio financeiro. À minha mãe, Luzia, pelo carinho e pelo amor que me dá todos os dias, por tudo que fez e faz por mim. Sei o quanto se sacrificou para que eu pudesse chegar até este momento. Ao meu pai, Pedro, pelo amor e pelo carinho que tem me dado, por tudo que tem feito por mim e por torcer, mesmo que em silêncio, pelas minhas vitórias. Às minhas irmãs, Leidi e Cleide, pelo carinho, pelas diversas vezes em que cuidaram de mim, pela torcida, pela preocupação e pelo incentivo constantes. À minha sobrinha, Maria Eduarda, que mesmo sem entender os problemas acadêmicos pelos quais eu estava passando, rezava para que tudo desse certo. O meu dia é muito mais alegre quando ela está presente. Aos meus sobrinhos, Gabriel e Gustavo, e à minha afilhada, Suriany, que, quando estão perto de mim, fazem meu dia ser melhor com um simples sorriso ou um abraço. À minha amiga Eccia, pelos momentos especiais que passamos, pelos conselhos, pelos incentivos e por estar sempre ao meu lado nos momentos bons ou ruins. Às minhas amigas, Kelly Carine, Solange Santos, Amanda Matos, Jaqueline Fontes, Jaqueline Nascimento, Jackeline Peixoto, Marcle Vanessa e aos meus amigos Alisson Santos e Breno Trindade, pela amizade e pelos momentos compartilhados. À minha amiga Andreza Gois e Marcle Vanessa, pelo abstract. A todos os meus familiares e amigos, que não foram referenciados, mas que, de alguma forma, contribuíram para a concretização desta etapa, os meus mais sinceros agradecimentos.
8 É na ação e interação que acreditamos que as mais profundas inter-relações entre linguagem e sociedade são encontradas (BROWN; LEVINSON, 2011[1987], p. 280 tradução nossa).
9 RESUMO A polidez é uma estratégia linguística utilizada com o objetivo de evitar conflitos na interação verbal. Trata-se de uma variável influente na sociolinguística (cf. MEYERHOFF, 2006) por estar relacionada à língua em uso: do ponto de vista pragmático, a distância social, as relações de poder e o custo da imposição são variáveis fortemente envolvidas na avaliação de quais estratégias linguísticas são polidas ou não (BROWN; LEVINSON, 2011 [1987]); e do ponto de vista sociolinguístico, o sexo/gênero mostra-se significativo. Dentre as estratégias linguísticas utilizadas para expressar esse valor, interessa-nos a forma verbal de futuro do pretérito (FP). O uso dessa forma verbal pode variar conforme o valor da referência temporal: passado, presente, futuro. A par dessa possibilidade de variação do FP e considerando que a polidez pode ser analisada em um continuum (do menos polido ao mais polido), objetivamos nesta pesquisa verificar os efeitos dos aspectos pragmáticos e sociolinguísticos nos usos do FP em função da referência temporal em dados de fala de informantes de Itabaiana/SE. A hipótese geral que norteia a nossa investigação é a de que o FP por si só não codifica polidez, mas sim um conjunto de traços contextuais em referências temporais específicas. Para desenvolvermos a pesquisa nessa perspectiva, utilizamos como corpus a amostra de fala Rede Social de Informantes Universitários de Itabaiana/SE. Esta amostra é composta por interações conduzidas - os próprios informantes conduzem a interação - coletada a partir de um modelo metodológico elaborado em nosso estudo especificamente para captar as nuanças de polidez, tanto em seus aspectos pragmáticos quanto sociolinguísticos. Os dados coletados foram categorizados e submetidos à análise estatística. Os resultados foram gerados a partir de três rodadas estatísticas, tendo como regra variável a referência temporal da forma de FP (passado, presente, futuro) e a expressão de polidez: passado x presente x futuro, passado x não passado, presente x futuro. Os resultados obtidos na primeira rodada evidenciaram que nenhuma das variáveis controladas foi significativa na expressão do fenômeno em estudo. Já na segunda rodada, o programa selecionou apenas duas variáveis como significativas: a forma verbal e o tipo de sequência discursiva. Os resultados evidenciaram que o uso do FP com referência temporal passada é favorecido quando a forma verbal ocorre com o auxiliar ir e o tipo de sequência é narrativo. Na terceira rodada estatística, presente x futuro, cinco variáveis foram selecionadas como significativas: o controle da interação quanto ao sexo/gênero, forma verbal, paralelismo linguístico, custo da imposição e par pergunta-resposta e comentário. Dentre estas, ressaltamos os resultados obtidos com o controle da interação quanto ao sexo/gênero, os quais demonstraram que os homens quando estão com domínio do tópico tendem a utilizar mais a forma verbal de FP com referência temporal presente. No que concerne a variável custo da imposição, os resultados evidenciaram que quanto menos impositivo era o tópico, mais recorrente foi o uso do FP com referência temporal presente. Quanto a variável par pergunta-resposta e comentário, os resultados mostraram que o uso do FP com referência temporal presente foi condicionado em contextos que se caracterizavam como comentário/contextualização do tópico. Em termos gerais, o uso de procedimentos teórico-metodológicos de coleta focalizando os efeitos pragmáticos e sociolinguísticos para captar os efeitos de polidez permitiu-nos comprovar que há diferenças significativas em relação ao uso do FP, principalmente, quanto à distância social e ao sexo/gênero. Palavras-chave: Futuro do pretérito. Referência temporal. Estratégia de polidez.
10 ABSTRACT Politeness is a linguistic strategy used in order to avoid conflicts in verbal interaction. Politeness is an influential variable in sociolinguistic (cf. MEYERHOFF, 2006) to be related to language use: the pragmatic point of view, the social distance, power relations and the cost of enforcing variables are strongly involved in evaluation of linguistic strategies which are polished or not (BROWN; LEVINSON, 2011 [1987]); and sociolinguistic point of view, the sex/gender proves to be significant. Among the linguistic strategies used to express this value, we are interested in the verbal form of the future tense (FP). The use of this verb form may vary according to the value of temporal reference: past, present, future. A ware of this possibility of variation of the FP and considering that politeness can be seen on a continuum (the less polished the more polished), this research aimed to investigate the effects of pragmatic and sociolinguistic aspects of the uses FP as a function of time reference in the speech data of informants Itabaiana/SE. The general hypothesis guiding our research is that the FP alone does not encode politeness, but a set of contextual features in specific timeframes. To develop research in this perspective, we used as the sample speech corpus social network of university informants Itabaiana/SE. This sample consists of interactions conducted - the informants themselves lead to interaction - collected from a methodological model developed in our study specifically to capture the nuances of politeness, both in its pragmatic aspects as sociolinguistic. The collected data were categorized and analyzed statistically. The results were generated from three rounds statistics, with the variable rule the temporal reference of the form of FP (past, present, future) and the expression of politeness: past x present x future, past x no past, present x future. The results obtained in the first round showed that none of the controlled variables was significant in the expression of the phenomenon under study. In the second round, the program selected only two variables as significant: the verb form and the kind of discursive sequence. The results showed that the use of FP with past temporal reference is favored when the verb occurs with the assist going and the type of sequence is narrative. In the third round statistics, present x future, five variables were selected as significant: control of the interaction terms of sex/gender, verbal, linguistic parallelism, cost of enforcing and question-answer pair and comment. Among these, we highlight the results obtained with the control of the interaction terms of sex/gender which showed that men when they are in the field of the topic tend to use more verbal form of FP with present time reference. Regarding the variable cost of the levy, the results showed that the less imposing was the most recurring topic was the use of the FP with this timeframe. As for the question-answer pair variable and review, the results showed that the use of FP with present time reference was conditioned in contexts that were characterized as comment/contextualization the topic. In general, the use of theoretical and methodological collection procedures focusing on the pragmatic and sociolinguistic effects to capture the effects of politeness allowed us to demonstrate that there are significant differences regarding the use of the FP, especially regarding social distance and sex/gender. Keywords: Future of the past. Temporal reference. Politeness strategy.
11 SUMÁRIO LISTA DE FIGURAS, QUADROS, TABELAS E GRÁFICOS INTRODUÇÃO O VALOR DE POLIDEZ DO FUTURO DO PRETÉRITO O PRINCÍPIO DA POLIDEZ O MODELO DE POLIDEZ DE BROWN E LEVINSON O QUE DIZEM OS COMPÊNDIOS GRAMATICAIS SOBRE O FP? PODERIA APRESENTAR O QUE JÁ FOI FEITO? ESTUDOS LINGUÍSTICO- DESCRITIVOS REALIZADOS SOBRE O FP COMO CAPTAR O USO DO FP COM VALOR DE POLIDEZ? A PROPOSTA DE UM MODELO METODOLÓGICO ENTREVISTAS SOCIOLINGUÍSTICAS E O EFEITO GATILHO INTERAÇÕES CONDUZIDAS: COMUNIDADES DE PRÁTICAS E REDES SOCIAIS Comunidade de prática Redes sociais CONSTITUIÇÃO DA AMOSTRA: SELEÇÃO DE INFORMANTES GRAVAÇÃO DAS INTERAÇÕES PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: O CAMINHO SEGUIDO A CIDADE DE ITABAIANA E A COMUNIDADE DE PRÁTICA EM FOCO Amostra Rede Social de Informantes Universitários de Itabaiana/SE VARIÁVEIS CONTROLADAS A NATUREZA DA ANÁLISE E O TRATAMENTO DOS DADOS O FP E A EXPRESSÃO DA POLIDEZ: RESULTADOS E DISCUSSÃO ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS PASSADO X PRESENTE X FUTURO Interação entre falantes quanto ao sexo/gênero Relação de poder na interação Forma verbal Suavizadores de natureza verbal Paralelismo Tipo de sequência discursiva Distância social: o grau de proximidade entre os falantes O custo da imposição e as estratégias de polidez PASSADO X NÃO PASSADO Forma verbal Tipo de sequência discursiva PRESENTE X FUTURO Interação entre falantes quanto ao sexo/gênero Forma verbal Paralelismo linguístico Custo da imposição Pergunta-resposta e comentário CORRELAÇÃO ENTRE O USO DO FP EM FUNÇÃO DO TIPO DE REFERÊNCIA TEMPORAL E A EXPRESSÃO DA POLIDEZ CONSIDERAÇÕES FINAIS... 90
12 12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS APÊNDICES APÊNDICE A CONTROLE DO GRAU DE RELAÇÃO ENTRE OS INFORMANTES DA REDE SOCIAL APÊNDICE B TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO APÊNDICE C CARTÕES DE INTERAÇÃO ANEXO A FICHA SOCIAL DO INFORMANTE ANEXO B NORMAS ADOTADAS PELO GRUPO DE ESTUDOS EM LINGUAGEM INTERAÇÃO E SOCIEDADE (GELINS) PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO ORTOGRÁFICA
13 13 LISTA DE FIGURAS, QUADROS, TABELAS E GRÁFICOS Figura 1: Circunstâncias que determinam a escolha da estratégia Figura 2: Arranjo dos informantes Figura 3: Continuum do tipo de assunto quanto ao custo da imposição Figura 4: Rede social dos informantes Figura 5: Localização de Itabaiana/SE no mapa de Sergipe Figura 6: Continnum da correlação entre o tipo de referência temporal do FP e o grau de polidez Quadro 1: Atos Ameaçadores a Faces (BROWN; LEVINSON, 2011[1987], p ) Quadro 2: Escala de gradação para o controle da distância social entre os informantes da rede social Quadro 3: Distribuição dos informantes do banco de dados Rede Social de Informantes Universitários de Itabaiana/SE em função do sexo Quadro 4: Representação das interações da rede social Quadro 5: Variáveis independentes controladas na análise Quadro 6: Tendências de uso da forma de FP em função da referência temporal na expressão da polidez Tabela 1: Efeitos da variável sexo/gênero sobre o uso do FP Tabela 2: Influência sexo/gênero sobre o uso da referência temporal da forma de FP em contextos de expressão de polidez Tabela 3: Influência do tipo de relação entre os informantes sobre o uso da referência temporal da forma de FP em contextos de expressão de polidez Tabela 4: Influência da interação entre falantes quanto ao sexo/gênero sobre o uso da referência temporal da forma de FP em contextos de expressão de polidez Tabela 5: Influência do domínio do tópico interacional no uso do FP em contextos de expressão de polidez Tabela 6: Influência do par pergunta-resposta e comentário sobre o uso da referência temporal da forma de FP em contextos de expressão de polidez Tabela 7: Influência da forma verbal sobre o uso da referência temporal da forma de FP em contextos de expressão de polidez Tabela 8: Influência dos suavizadores de natureza verbal no uso do FP em contextos de expressão de polidez Tabela 9: Influência do princípio do paralelismo no uso do FP em contextos de expressão de polidez Tabela 10: Influência do tipo de texto no uso do FP em contextos de expressão de polidez.. 75 Tabela 11: Influência do grau de proximidade entre os falantes no uso do FP em contextos de expressão de polidez Tabela 12: Influência do custo da imposição sobre o uso da referência temporal da forma de FP em contextos de expressão de polidez Tabela 13: Influência do tipo de estratégia de polidez sobre o uso da referência temporal da forma de FP Tabela 14: A influência da forma verbal em função da referência temporal passada da forma de FP Tabela 15: A influência do tipo de sequência discursiva em função da referência temporal passada da forma de FP... 81
14 14 Tabela 16: A influência da interação entre falantes quanto ao sexo/gênero em função da referência temporal presente da forma de FP Tabela 17: A influência da forma verbal em função da referência temporal presente da forma de FP Tabela 18: A influência do paralelismo linguístico em função da referência temporal presente da forma de FP Tabela 19: A influência do custo da imposição em função da referência temporal presente da forma de FP Tabela 20: A influência do par pergunta-resposta e comentário em função da referência temporal presente da forma de FP Gráfico 1: Distribuição geral da forma verbal FP em função da referência temporal Gráfico 2: Distribuição da forma verbal FP em função da referência temporal por falante da amostra Gráfico 3: Distribuição da frequência da forma verbal de FP quanto a variável estratégias de polidez Gráfico 4: Distribuição da frequência da forma verbal de FP quanto a variável distância social... 87
15 13 INTRODUÇÃO 1 O paradigma verbal do português é um sistema muito rico e diversificado do ponto de vista morfológico. As gramáticas normativas o definem em função dos tempos verbais: passado, presente e futuro. No âmbito do passado, temos as formas de pretérito perfeito (simples e composto), pretérito mais-que-perfeito (simples e composto), pretérito imperfeito e futuro do pretérito, no modo indicativo; e pretérito imperfeito do subjuntivo. Dentre estas formas verbais, interessa-nos, especificamente, a forma de futuro do pretérito (FP). Trata-se de uma forma verbal derivada diacronicamente de uma perífrase do latim, formada pelo Vinfintivo + habere no imperfeito do indicativo, que, por efeitos do uso, passou por desgastes e amalgamação amare habebam > amarabéam > amaréam > amaria. A forma verbal de FP apresenta um valor temporal e um modal mais salientes, pois pode exprimir tanto um passado que é visto em perspectiva futura em relação a outro evento passado (valor temporal) quanto uma situação hipotética, incerta ou probabilística (valor modal). É uma forma verbal polissêmica, tanto no português como nas demais línguas românicas, transitando entre valores relacionados ao domínio do tempo e da modalidade, tais como os valores 2 de: futuro do passado (cronológico e polifônico), possibilidade, condição, desejo, polidez (cf. TRAVAGLIA, 1999). A seguir exemplificamos cada valor. (1) eu sempre enxerguei a área de tecnologia em geral... co- como uma área bastante promissora... e eu estava certo... é fácil perceber... que quem investiu... desde cedo... nessa área está colhendo os frutos hoje... foi isso que me motivou... que seria a 1 A escolha do objeto de investigação deste estudo é decorrente da experiência como bolsista de Iniciação Científica na área de Sociolinguística durante três anos. Tal experiência é fruto do desenvolvimento de três planos de trabalhos vinculados aos projetos de pesquisa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq/UFS) intitulados: Procedimentos discursivos na fala e na escrita de Itabaiana/SE: estratégias de interação ( ); Variação na expressão do tempo verbal passado na fala e na escrita de Itabaiana/SE: formas de pretérito imperfeito e perífrase na expressão do passado em curso ( ); e Variação na expressão do tempo verbal passado na fala e na escrita de Itabaiana/SE: formas de futuro do pretérito e pretérito imperfeito na expressão do passado em condicionais ( ), os quais foram executados sob a orientação da Profa. Dra. Raquel Meister Ko. Freitag, coordenadora dos referidos projetos. A experiência adquirida com o desenvolvimento desses projetos, principalmente os dois últimos, respalda o desenvolvimento deste estudo. 2 Além dos valores elencados por Travaglia (1999), o FP pode expressar também dúvida, intenção, probabilidade, irrealidade, necessidade, certeza, timidez, afirmação condicionada, predisposição, ideia aproximada (cf. BEZERRA, 1993), iminencialidade (cf. FREITAG, 2011).
16 14 oportunidade clara... de ter uma carreira sólida... em algo que eu sempre gostei de fazer (m 02) 3 (2) (...) e eu acho pelo fato de eu não trabalhar no colégio me deu mais trabalho... porque se eu trabalhasse no colégio eu já estaria ali... (f 18) Em (1), tem-se a expressão do valor de futuro do passado pelo fato de a situação seria a oportunidade clara ser um passado posterior à situação que motivou o informante a escolher o seu curso. Temos, portanto, a expressão de um passado visto como futuro em relação a outro passado. Já em (2), o uso do FP foi realizado com o valor de condicionalidade. A construção se eu trabalhasse no colégio é a condição para que o evento expresso pelo verbo estaria aconteça. Na construção em itálico temos uma premissa hipotética prótase (oração subordinada) que possibilita a realização do evento que vem na apódose (oração principal). (3) e assim... em relação a conhecimento em si eu creio que (hes) eu atuando na empresa tanto seria benéfico a empresa que eu ia ter levando meu conhecimento como seria bom pra mim que eu ia ter absorvendo conhecimento da empresa então assim um desses grandes motivos é proporcionado pela própria universidade... que ela não dá esse caminho essa interação... (m 06) (4) (hes) a área que os pesquisadores hoje... estão focando mais... por exemplo no curso de sistema de informação... vocês não têm (hes) na maioria das faculdades você não tem o curso de compiladores por exemplo... ele é focado mais em em autômatos não é mais focado em compiladores que é um... é uma coisa é um uma disciplina um pouco mais focada pra quem gostaria de seguir a área de pesquisa você não vai desenvolver... nada no mercado local em relação a compiladores por exemplo... (m 02) (5) E: agora no final do curso você se sente realizado com o seu desempenho ao longo do curso? acha que poderia ter sido melhor? por quê? (m 02) Temos em (3) duas ocorrências de FP com valor de possibilidade. Os valores de condicionalidade e de possiblidade são muito próximos. Segundo Travaglia (1999, p. 688), o que diferencia o uso do FP com valor de possibilidade do uso com o valor de condicionalidade parece estar relacionado ao fato de que a condição que representa o momento X a que a situação no futuro do pretérito é posterior é inferida não de elementos do co-texto, mas de um conhecimento de mundo e/ou da situação. Neste caso, a condição se eu fosse fazer estágio em uma empresa não está explícita no texto, mas inferida. O uso do FP com valor de desejo é expresso na situação descrita em (4), em que o informante manifesta o 3 Os dados foram retirados do banco de dados Falantes Cultos de Itabaiana/SE (ARAUJO; BARRETO; FREITAG, 2012), constituído por 20 entrevistas de falantes universitários da cidade de Itabaiana/SE, estratificadas quanto ao sexo/gênero. A sigla ao final refere-se à identificação do informante.
17 15 seu desejo de seguir a área de pesquisa do curso de Sistema de Informação. E, por fim, temos em (5) um contexto de uso do FP com valor de polidez, na medida em que o entrevistador ao solicitar uma informação faz uso desta forma verbal para ser menos impositivo, preservando assim, a sua imagem. Travaglia (1999) ressalta que o valor de polidez do FP emerge somente em contextos de solicitação em que se tem uma condição pressuposta. Em (1-5), observamos a diversidade dos usos do FP com base no que fora apresentado por Travaglia (1999). No entanto, não concordamos com a afirmação deste autor de que o valor de polidez do FP só emerge em contextos de solicitação em que se tem uma condição pressuposta. Acreditamos que a questão envolvida não é se em determinado contexto o FP é ou não é polido, mas sim quais usos do FP são menos polidos e mais polidos. Para realizarmos tal afirmação, baseamo-nos na perspectiva de Brown e Levinson (2011[1987]) de que todo ato linguístico em uma interação face a face é uma atividade intrinsicamente ameaçadora pelo fato de que, ao entrarem em contato, os falantes ocasionam um desequilíbrio das faces. Em virtude disso, os autores defendem que a atividade de proteção à face ocorre em toda atividade verbal. Isso significa dizer que em todo o processo da interação os falantes, mesmo que inconscientemente, estão monitorando as faces envolvidas e recorrem a estratégias para evitar possíveis conflitos. Então, se toda atividade verbal é considerada como contexto de polidez, todos os usos de FP possuem este valor. Nesse sentido, a polidez é entendida como uma estratégia linguística utilizada com o objetivo de evitar conflitos na interação verbal. Segundo Brown e Levinson (2011[1987]), trata-se de uma estratégia para preservarmos a nossa face e a face do outro com o intuito de estabelecer uma comunicação econômica e eficaz, sem atritos. A seguir exemplificamos com mais detalhes um contexto de manifestação de polidez em que a forma verbal FP foi utilizada: (6) E: agora no final do curso você se sente realizado com o seu desempenho ao longo do curso? acha que poderia ter sido melhor? por quê? F: Então então é um curso assim que... que depende muito né? do estudante se... se ele vai se dar bem se ele vai se dar mal... depende muito do estudante... têm pessoas que têm mais facilidade outras têm menos facilidade... eu num se- eu... diria que (uma das disciplinas) poderia ser melhor gostei eu acho que eu me esforcei... no curso me dediquei... fiz o máximo que eu pude... mas é claro que isso poderia melhorar mais... todo mundo poderia melhorar mais... (hes) no que a gente já fez (m 02) Em (6), excerto retirado de uma entrevista sociolinguística, temos uma situação em que o entrevistador faz uma pergunta sobre o desempenho do informante durante a graduação e questiona se este acha que o desempenho poderia ter sido melhor. O informante não responde de maneira categórica e utiliza, dentre outras estratégias linguísticas para expressar
18 16 polidez, a forma verbal diria para atenuar a sua afirmação e, desse modo, preservar a sua imagem social, uma vez que, se fizesse uma afirmação categórica, poderia soar que este é presunçoso. Note-se que, nesse mesmo contexto, outras estratégias de polidez são utilizadas, como o verbo modal poder, que se combina com a forma de FP, contribuindo ainda mais para a preservação da face do informante. Destaque-se ainda a presença de gatilho na pergunta, já introduzida sob efeito de modalização 4. É importante destacar o fato de o uso da forma de FP poder variar conforme o valor da referência temporal. A referência temporal está relacionada ao momento em que uma determinada situação aconteceu no mundo real dado como ordenação cronológica: passado, presente, futuro (cf. TRAVAGLIA, 1999). Expomos a seguir exemplos que evidenciam essa variação. (7) F1: e ainda você ir pra esperar essa questão da demora de ser atendido mas tem a questão de dinheiro porque assim hoje pra você ser atendido com uma consulta particular... pra fazer os exames... medicação tudo mais você vai gastar o quê num gasta... uns duzentos trezentos reais... F2: as vezes um caso simples né ainda na semana passada aconteceu um caso com um tio meu... ele passou mal um domingo a tarde... veio pro hospital... fez os exames tava tudo normal tudo na na segunda a tarde ou foi na terça ele tornou passar mal aí já recorreu pra uma clínica... os exames que foram pedido que até então seria uma coisa simples... só só os exames dá um mais de quatrocentos reais... (A.G. cdt D.C. sdt P F F 06) 5 (8) F1: é difícil... a minha só se botar de castigo... se proibir de chocolate brigadeiro essas coisa... criança é difícil demais... o quê você acha... porque hoje em dia o quê mais tá havendo é a degradação do meio ambiente... degradação do meio ambiente o quê você acha... se existe alguma coisa pra fazer pra melhorar isso... ou você acha que isso vai piorar cada vez mais?... F2: eu acho que poderia até ter alguma coisa pra melhorar mais mas só que... o os automóveis eles estão aumentando... a poluição está aumentando e acho que isso aí tende só a piorar... (L.R. cdt J.S. sdt P F F 30) (9) F1: [é assim é uma é uma é] uma vontade minha que eu tenho se eu tivesse condições financeiras... eu viajaria pra conhecer o Brasil ( ) eu quero o Brasil (D.C. cdt D.M. sdt P F M 13) Na situação descrita em (7), o falante utilizou a forma de FP para se referir a uma situação que ocorreu com o seu tio. Temos, neste exemplo, um uso do FP com referência 4 Voltaremos à questão do efeito gatilho mais à frente; este é um dos problemas encontrados no uso de entrevistas sociolinguísticas para o estudo do valor de polidez do FP. 5 A sigla ao final refere-se à identificação do informante. Os dados foram retirados da amostra Rede Social de Informantes Universitários de Itabaiana/SE. A sigla identifica a interação quanto ao falante (iniciais do nome) com o domínio do tópico (cdt), falante (iniciais do nome) sem o domínio do tópico (sdt), grau de proximidade (próximo= P; distante= D), interação (número ao final).
19 17 temporal passada, que, por este fato, é um contexto em que há custo de imposição menor, portanto menos polido. Já em (8) temos o uso do FP com referência temporal presente uma vez que a situação eu acho que... poderia até ter alguma coisa pra melhorar refere-se a algo que pode ser feito no momento em que o falante está interagindo. Em (9), temos o uso do FP com referência futura visto que a situação viajaria pra conhecer o Brasil é algo que aconteceria em um momento posterior ao da interação. A dimensão modal do FP, mais especificamente o valor de polidez, emerge em contextos específicos, com fatores fortemente correlacionados: do ponto de vista pragmático, a distância social, as relações de poder/poder relativo e o custo da imposição são fatores fortemente envolvidos na avaliação de quais estratégias linguísticas são polidas ou não (BROWN; LEVINSON, 2011 [1987]); e do ponto de vista sociolinguístico, a relação entre sexo/gênero do informante e do entrevistado mostra-se significativa. Embora o uso do FP com valor de polidez seja previsto pelas gramáticas normativas (cf. CUNHA e CINTRA, 1985; BECHARA, 2006; 2009) e haja pesquisas sobre as funções que esta forma verbal pode desempenhar no português (TRAVAGLIA, 1999; CARVALHO, 2011; DIAS, 2012), não encontramos estudo específico que trate do valor de polidez. Diante dessa constatação e a par da possibilidade de variação do FP, surgiu-nos os seguintes questionamentos: i) será que essa variação de uso do FP quanto à referência temporal está correlacionado com a distância social, relações de poder/poder relativo, custo da imposição e o sexo/gênero? ii) considerando que a polidez pode ser compreendida em um continuum (do menos polido ao mais polido), será que o grau de polidez do FP pode variar conforme o tipo de referência temporal? e iii) se sim, será que o menor grau de polidez está correlacionado a referência temporal passada do FP e o maior grau a referência temporal presente? Com o intuito de contribuir para as discussões dos efeitos da polidez no uso do FP no português, objetivamos analisar a distribuição de frequência dessa forma verbal em dados de fala de informantes de Itabaiana/SE, a fim de verificar os efeitos dos aspectos pragmáticos e sociolinguísticos. A hipótese que norteia o presente estudo é a de que o FP, por si só, não codifica polidez, mas sim um conjunto de traços contextuais - distância social, relações de poder, custo da imposição, sexo/gênero em referências temporais específicas. Acreditamos que, nas interações em que há proximidade entre os informantes, os sexos/gêneros dos interactantes são os mesmos e em segmentos em que o informante está com o domínio do tópico ou quando o tópico discursivo tende à neutralidade, o grau de polidez do FP é menor. Além disso, partimos do pressuposto de que: i) o uso do FP com referência temporal passada é um contexto em que há custo de imposição menor, portanto menos polido; ii) em contextos
20 18 de uso do FP com referência temporal presente, temos um grau maior de polidez pelo fato de a preservação da face ser no contexto da interação, naquele momento; e iii) em contextos de uso FP com referência temporal futura temos um grau de polidez intermediário. Subjacente a isso, acreditamos que a entrevista sociolinguística não é o melhor método para captar essa correlação, por esse tipo de banco de dados não contemplar questões estilísticas, como, por exemplo, as focalizadas neste estudo. Se a entrevista sociolinguística não é a melhor estratégia para captar os valores de polidez do FP, pois não há controle dos aspectos pragmáticos e sociolinguísticos, é preciso elaborar uma estratégia metodológica que permita captar tais aspectos do fenômeno. Sendo assim, fez-se necessário elaborar uma proposta de constituição de um corpus de dados de fala delineada para apreender os aspectos pragmáticos e sociolinguísticos acima arrolados. Foram realizadas gravações de interações conduzidas com informantes selecionados a partir de uma rede social 6 conjunto de pessoas e suas relações dentro de uma comunidade de prática universitária na comunidade de Itabaiana/SE. Em linhas gerais, o procedimento consistiu na seleção de oito informantes para a formação de dois grupos, de modo que aqueles que pertenciam a um grupo tinham relações de proximidade entre si, mas não com os informantes pertencentes ao outro. Cada informante interagiu com quatro pessoas diferentes (um homem e uma mulher, próximos dele; um homem e uma mulher, distantes dele permitindo, assim, o controle da influência da distância social e do sexo/gênero no fenômeno em estudo) duas vezes, o que resultou em 32 interações. A interação foi conduzida pelos próprios informantes, que selecionaram o tópico da interação, sem um roteiro prévio de perguntas; daí o nome de interação conduzida. Para tanto, cada informante escolheu dez cartões com temas recobrindo situações que vão da aparente neutralidade a situações que envolvem a preservação das faces negativa e positiva, o que nos permite controlar o custo da imposição. A partir da situação descrita no cartão, o informante identificou o tema abordado e conduziu a interação sobre este com o seu interlocutor até esgotar o assunto e passar para o tema do cartão seguinte. Como cada informante interagiu duas vezes com o mesmo interlocutor, em uma das interações um dos informantes conduziu o tópico com o interlocutor e, na segunda, os informantes trocaram de papéis. Tal troca de papéis sociopessoais permite controlar as relações de poder envolvidas. 6 Quando utilizamos o termo rede social não estamos fazendo referência às redes sociais online (tais como: Facebook, Orkut, MySpace, Twitter, entre outras), mas sim à rede de relações existente entre pessoas - seja ela por laços fortes (grau de proximidade alta), seja por laços fracos (grau de proximidade baixa) - que fazem parte de um determinado grupo de convivência (familiares, colegas de faculdade, colegas de trabalho, amigos, entre outros).
21 19 Esse processo de constituição resultou na amostra Rede Social de Informantes Universitários de Itabaiana/SE, vinculada ao Grupo de Estudos Linguagem, Interação e Sociedade GELINS 7. Como respaldo teórico, desenvolvemos a pesquisa à luz da Sociolinguística Variacionista, com contribuições da Pragmática, especialmente no que tange à polidez. A articulação entre os dois modelos de análise se justifica porque partimos da premissa de que tanto uma como a outra estudam a língua em contextos reais de uso. Para encaminhamento da análise, o presente estudo está estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, O valor de polidez do futuro do pretérito, apresentamos, primeiramente, uma visão geral do princípio da polidez. Em seguida, discorremos sobre o modelo de polidez de Brown e Levinson (2011[1987]) - adotado para o desenvolvimento desta pesquisa - e correlacionamo-lo com o uso da forma verbal de FP. Neste mesmo capítulo, apresentamos o levantamento realizado dos compêndios gramaticais do português (SAID ALI (1971), NEVES (2000), BECHARA (2006; 2009), TERRA e NICOLA (2004), CASTILHO (2010) entre outros) e dos estudos variacionistas acerca do FP (COSTA (1997; 2003), BARBOSA (2005), TESCH (2007), FREITAG e ARAUJO (2011) entre outros). No segundo capítulo, Como captar o uso do FP com valor de polidez? A proposta de um modelo metodológico, expomos a proposta metodológica desenvolvida para captar nuanças de polidez. Neste capítulo fazemos uma breve discussão sobre o fato de as entrevistas sociolinguísticas, constituídas nos moldes labovianos, não permitirem captar nuanças de polidez. Abordamos também neste capítulo as noções de comunidade de prática e redes sociais evidenciando a importância destas em estudos que focalizem o valor de polidez. Em seguida, delineamos todo o processo de seleção de informantes e de gravação das interações. No terceiro capítulo, Procedimentos metodológicos: o caminho seguido, discorremos sobre os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento desta pesquisa. Apresentamos uma descrição geral da cidade de Itabaiana/SE e da comunidade de prática escolhida para a realização da coleta de dados de fala, bem como as variáveis pragmáticas e sociolinguísticas controladas e a natureza da análise. 7 O Grupo de Estudos em Linguagem, Interação e Sociedade GELINS reúne pesquisadores cujo foco de interesse são abordagens da língua em uso em seu contexto social. As pesquisas desenvolvidas são baseadas na análise de dados reais de fala ou de escrita de corpora sociolinguísticos, interacionais e diacrônicos. Os resultados das pesquisas subsidiam propostas de aplicação em programas de ensino de língua portuguesa.
22 20 No quarto capítulo, O futuro do pretérito e a expressão da polidez: resultados e discussões, expomos a análise do FP, em função da referência temporal, como uma estratégia de expressão de polidez. Além disso, esboçamos a correlação geral entre o fenômeno analisado e as variáveis pragmáticas e sociolinguísticas controladas. Por fim, tecemos as nossas considerações finais retomando sinteticamente o que fora discutido em cada capítulo. Feita a apresentação dos direcionais inerentes a cada um dos capítulos do presente estudo, convidamo-los a realização da leitura.
23 21 1 O VALOR DE POLIDEZ DO FUTURO DO PRETÉRITO Por ser polissêmica, a forma de FP no português é frequentemente objeto de estudos variacionistas (COSTA, 1997; 2003; SILVA, 1998; TESCH, 2007; DIAS, 2007; OLIVEIRA, 2010; SANTOS, 2011; FREITAG e ARAUJO, 2011, entre outros). Além disso, os próprios compêndios gramaticais já apresentam esta forma como polissêmica; dentre os valores apresentados, destacamos a polidez. Neste capítulo, apresentamos os princípios teóricos que respaldam esta pesquisa. O presente capítulo encontra-se divido em quatro seções. Apresentamos, na primeira seção, uma visão geral do princípio da polidez e, na seção subsequente, discorremos sobre o modelo de polidez adotado para o desenvolvimento desta pesquisa. Nas seções 1.3 e 1.4, explanamos sobre a nossa análise inicial realizada através de um levantamento dos compêndios gramaticais do português e também dos estudos variacionistas acerca do FP com vistas a elencar traços e variáveis que estejam relacionadas à expressão de polidez, respectivamente. 1.1 O PRINCÍPIO DA POLIDEZ O processo de comunicação é regido por normas sociais que regulam o comportamento linguístico dos indivíduos na condução da interação entre pares. Para manter o equilíbrio na interação verbal utilizamos a polidez. A manifestação da polidez está fortemente atrelada ao contexto sociocultural, o que é polido em uma determinada cultura pode não ser em outra. Meyerhoff (2006), ao discutir essa dependência sociocultural da polidez, traz como ilustração uma situação ocorrida entre sua amiga Ellen e um servidor em um restaurante da cidade Michigan nos Estados Unidos. A situação reporta o fato de Ellen ter solicitado ao servidor que lhe trouxesse um iced mocha - um expresso combinado com agridoce de moca (tipo de café) e leite com gelo e coberto com chantilly e o servidor, como quem não entendeu, repetiu dizendo uma iced mocha e, em seguida, perguntou se ela queria coberto de chantilly. Segundo a autora, Ellen, em um tom irônico difícil de ser interpretado, responde-lhe com a seguinte pergunta: Você tem que
24 22 perguntar? O questionamento que Meyerhoff (2006) faz é se Ellen foi polida ou não nessa situação. A autora afirma que a resposta depende das normas de polidez do lugar onde cada um cresceu. Por exemplo, fora de Nova York, a resposta de Ellen não equivale a um entusiasmado sim que ela pretendia ter e este parece ser o caso de Michigan, em que, possivelmente, não é esperado de estranhos piadas/ironias que só são feitas em conversas de amigos íntimos (cf. MEYERHOFF, 2006). Na literatura linguística há três modelos seminais que foram desenvolvidos para analisar os efeitos da polidez, os de: Robin Lakoff (1973), Geoffrey Leech (1983) e Penelope Brown e Stephen Levinson (2011 [1987]). Dentre os três modelos elencados, o proposto por Brown e Levinson (2011 [1987]) é considerado o mais sofisticado, produtivo e célebre (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 77) e utilizado nos estudos que focalizam o fenômeno da polidez. De acordo com Meyerhoff (2006, p. 101), este modelo é o mais compatível aos propósitos de controle e operacionalização da Sociolinguística por fornecer um quadro claro para o estudo da sistematicidade da variação linguística. É em virtude deste fato que guiamos a nossa análise no presente estudo a partir deste modelo, aliando-o aos postulados teóricos da sociolinguística. 1.2 O MODELO DE POLIDEZ DE BROWN E LEVINSON Brown e Levinson (2011[1987]) 8 desenvolveram o seu modelo de polidez através da análise de dados de fala empíricos de três línguas diferentes: inglês, tâmil (língua falada no sul da Índia) e tzeltal (língua maia falada na comunidade de Tenejapa, no México). Os autores concebem o seu modelo a partir da construção de uma Pessoa Modelo (PM). Segundo estes, uma PM consiste em um falante fluente de uma língua natural dotado de duas propriedades fundamentais: racionalidade e face (BROWN; LEVINSON, 2011[1987], p. 58, tradução nossa). Por racionalidade Brown e Levinson (2011[1987]) querem dizer algo muito específico - a disponibilidade para a nossa PM de um modo precisamente definível de raciocínio a partir de fins com os meios que irão atingir esses fins. 8 A primeira versão do modelo de polidez de Brown e Levinson foi publicada em 1978 e sobre ela emergiram várias críticas. Em decorrência disto, os autores reeditaram o texto tentando esclarecer, com um detalhamento, os conceitos estabelecidos e o publicaram em 1987.
25 23 Partindo do conceito proposto por Goffman, a noção de face é entendida pelos autores como a autoimagem pública que cada um constrói de si e que quer proteger dos possíveis danos durante a interação. Trata-se de algo que está emocionalmente revestido, que pode ser perdida, mantida ou reforçada, e deve ser constantemente cuidada durante a interação (BROWN; LEVINSON, 2011[1987], p. 61, tradução nossa). Para esses linguistas, há dois tipos de face: a positiva e a negativa. A primeira está relacionada à autoimagem do indivíduo, representa o desejo de ser aprovado e apreciado. Já a segunda está relacionada à autopreservação, representa o desejo de não imposição, de preservação do espaço pessoal, de que as suas ações sejam livres. Durante as interações sociais as faces dos interactantes correm risco, isto porque estes praticam, em sua maioria, atos (verbais e não verbais) que ameaçam a face tanto do ouvinte quanto do falante por nem sempre haver compatibilidade de interesse entre eles. Tais atos são denominados por Brown e Levinson (2011[1987]) de Atos Ameaçadores à Face (Face Threatening Acts FTAs). Sendo assim, numa situação de interação entre dois participantes, quatro faces estão postas em jogo, as quais podem ser atingidas, concomitantemente, por um FTA. Em decorrência disso, Brown e Levinson (2011[1987]) dividem os atos de fala em quatro categorias de acordo com o tipo de face que ameaçam, conforme mostra o Quadro abaixo: Quadro 1: Atos Ameaçadores a Faces (BROWN; LEVINSON, 2011[1987], p ) Afetam ao Falante Afetam ao Ouvinte Atos Ameaçadores a Face Negativa 1. Atos que violam o seu território, como: expressar agradecimentos, aceitar ofertas, promessas involuntárias, assumir a gafe do outro. 3. Atos que violam o seu território, como, por exemplo, as perguntas indiscretas; Atos diretivos, como: ordenar, pedir, sugerir, aconselhar, lembrar (o falante indica que o ouvinte deve lembrar-se de fazer algo), ameaçar, advertir; Fazer ofertas, promessas, elogios. Atos Ameaçadores a Face Positiva 2. Atos autodegradantes, como: pedir desculpas, aceitar um elogio, confessar culpa, autocriticar-se, falta de cooperação. 4. Atos que ameaçam o narcisismo do outro, tais como: desaprovar, criticar, queixar-se, repreender, acusar, insultar, desafiar; Menção de temas tabus, expressão de violência. Os FTAs de primeira e segunda categorias de atos de fala são autoameçadores, pois referem-se à própria face do falante. Já os FTAs de terceira e quarta categorias referem-se à atitude do falante para com o ouvinte. Dessa forma, os FTAs podem ocorrer do falante para o falante ou do falante para o ouvinte.
26 24 Percebe-se, portanto, que a base do modelo de polidez elaborado por Brown e Levinson (2011[1987]) está pautada na noção de face e dos riscos que esta pode sofrer durante a interação. Estes partem do pressuposto de que em toda situação comunicativa os participantes desejam manter a sua imagem pública (face) e a do interlocutor, decorrendo deste fato o comportamento polido o qual é manifestado por atos linguísticos e não linguísticos. Sendo assim, os autores concebem a conversação como uma atividade que envolve potencial ameaça às faces dos interactantes (SILVA, 2008, p. 177). O uso da polidez surgiria neste contexto para preservar o equilíbrio da interação, funcionando como a base para a produção da ordem social. Então, na perspectiva destes autores, polidez é todo ato linguístico por meio do qual o falante busca impedir, atenuar ou reparar uma eventual ameaça à face do locutor ou interlocutor da interação (HILGERT, 2008, p. 135). Brown e Levinson (2011[1987], p. 68, tradução nossa) afirmam que no contexto da vulnerabilidade mútua das faces, qualquer agente racional buscará evitar atos ameaçadores a face, ou vai empregar determinadas estratégias para minimizar a ameaça. Em outras palavras, ele vai levar em consideração os pesos relativos de (pelo menos) três desejos: a) o desejo de comunicar o conteúdo do FTA, b) o desejo de ser eficiente ou urgente, e o desejo de manter a face de H[ouvinte] em qualquer grau. Sendo assim, se nas interações as faces são, constantemente, alvo de ameaças e simultaneamente são objetos de desejo de preservação, estratégias linguísticas surgem neste contexto para resolver ou minimizar este impasse. Em seu modelo de polidez, os autores apresentam um possível conjunto de estratégias que podem ser utilizadas a depender das circunstâncias para executar um FTA, cujo esquema reproduzimos na Figura a seguir:
27 25 Menor Faça o FTA abertamente 4 encobertamente (implicitamente) 1 sem ação reparadora (diretamente) com ação reparadora (indiretamente) 2 polidez positiva 3 polidez negativa 5 Não faça o FTA Maior Figura 1: Circunstâncias que determinam a escolha da estratégia Fonte: Brown e Levinson (2011 [1987], p. 60 e 69, tradução nossa). Constata-se na Figura 1 que há uma estimativa do risco de perda de face no esquema proposto pelos autores: à medida que o valor numérico que caracteriza a estratégia de polidez aumenta, mais indireta e mais atenuada será a realização do FTA até chegar à estratégia 5. A primeira decisão que o falante deve tomar é se vai fazer ou não o FTA. Se optar por não fazer, este recorrerá à estratégia 5 9. Ao optar por fazer o FTA, o falante pode fazê-lo abertamente ou encobertamente. Quanto à primeira, o falante deverá decidir se fará o FTA de forma aberta com ação reparadora ou sem. Realizar um FTA sem ação reparadora significa que o falante o fará de forma direta, clara, sem atenuadores/minimizadores. Em outras palavras, a estratégia 1 será utilizada quando o falante querer revelar explicitamente o seu desejo, sem rodeios, sem reparação e de maneira mais concisa possível. Brown e Levinson ressaltam que, normalmente, um FTA só é feito de forma direta se o falante não temer retribuição do destinatário, como, por exemplo, em circunstâncias em que: a) tanto o S [falante] quanto o H [ouvinte] concordam tacitamente que a relevância das exigências da face podem ser suspensas por razões de urgência ou eficiência; b) o perigo para a face de H é muito pequena, como em ofertas, solicitações, sugestões que são claramente do interesse de H e 9 De acordo com Sathler (2011, p. 37), três situações básicas levam o falante a não fazer um FTA: (a) quando ele espera que a questão ou o assunto abordado seja esquecido ou abandonado; (b) quando ele não fala nada e espera que o interlocutor faça inferências; e (c) quando há muita expectativa no que pode ser dito.
28 26 não exigem grandes sacrifícios de S (por exemplo, Venha ou Sente-se ); e c) S é muito superior a H em poder, ou pode angariar apoio público para destruir a face de H, sem perder a sua própria (2011[1987], p. 69, tradução nossa). Já usar a estratégia aberta com ação reparadora significa que o falante tentará neutralizar o potencial dano que o FTA pode causar à face do ouvinte ao fazê-lo de tal forma, ou com as modificações ou adições, que indicam nitidamente que não existe tal ameaça a face e que o desejo de S é que a face de H seja mantida (BROWN; LEVINSON, 2011[1987]). A estratégia aberta com ação reparadora pode ser feita de duas formas a depender de qual aspecto da face (negativa ou positiva) está sendo enfatizada: polidez positiva e polidez negativa. A estratégia de polidez positiva é uma ação reparadora direcionada a preservação da face positiva do interlocutor. Isso significa que a potencial ameaça do FTA à face positiva de H é evitada ou minimizada, pois ao utilizar este tipo de estratégia o falante indica que, pelo menos em alguns aspectos, o desejo de H é o mesmo que o seu. Brown e Levinson (2011[1987], p. 103) ressaltam que as estratégias de polidez positivas não consistem necessariamente em uma ação reparadora, na realidade essa ação é alargada à apreciação do desejo do outro, ou ainda, em termos gerais, para a expressão de semelhança entre o eu e o desejo do outro. Tais estratégias envolvem três mecanismos gerais: reivindicação de um terreno comum entre S e H, cooperação entre os interlocutores e manifestação de simpatia pelos desejos do outro. A partir de tais mecanismos os autores propõem quinze estratégias de polidez positiva para fazer abertamente um FTA e preservar a face do interlocutor: 1. Perceba o outro. Mostre-se interessado pelos desejos e necessidades do outro; 2. Exagere o interesse, a aprovação e a simpatia pelo outro; 3. Intensifique o interesse pelo outro; 4. Use marcas de identidade de grupo; 5. Procure acordo; 6. Evite desacordo; 7. Pressuponha, declare pontos em comum; 8. Faça brincadeiras; 9. Explicite e pressuponha os conhecimentos sobre os desejos do outro; 10. Ofereça, prometa; 11. Seja otimista; 12. Inclua o ouvinte na atividade; 13. Dê ou peça razões, explicações; 14. Simule ou explicite reciprocidade; 15. Dê presentes.
29 27 Já a estratégia de polidez negativa é uma ação reparadora direcionada a preservação da face negativa do interlocutor. Trata-se de uma estratégia específica e focada que desempenha a função de minimizar ou anular os efeitos da imposição de um FTA. Ao fazer uso desta estratégia o falante evidencia que está preocupado com os sentimentos do outro, com o desejo que este possui em não ter o seu território invadido e sua liberdade de ação desimpedida (BROWN; LEVINSON, 2011[1987], p. 129). Brown e Levinson (2011[1987]) propõem para este tipo de polidez dez estratégias: 1. Seja convencionalmente indireto; 2. Questione, atenue; 3. Seja pessimista; 4. Minimize a imposição; 5. Mostre deferência; 6. Peça desculpas; 7. Impessoalize o falante e o ouvinte; 8. Declare o FTA como uma regra geral; 9. Nominalize; 10. Mostre abertamente que está assumindo um débito com o interlocutor. A utilização da estratégia de polidez encoberta ocorre quando o falante realiza o FTA de forma implícita, sem clareza; de forma que não se possa identificar qual a intenção real deste ao comunicar o ato. Este tipo de estratégia é utilizada quando o falante não quer se comprometer com o que foi dito, deixando a responsabilidade da interpretação para o interlocutor. Para tanto, o falante faz uso de recursos linguísticos que abrem espaço para a ambiguidade, como a metáfora, ironia, perguntas retóricas, tautologia, implícito; através dos quais o ouvinte possa fazer inferências para recuperar o que de fato pretendia expressar (BROWN; LEVINSON, 2011[1987], p. 211). 1. Faça insinuações; 2. Dê pistas de associação; 3. Pressuponha; 4. Diminua a importância; 5. Exagere; 6. Use tautologias; 7. Use contradições; 8. Seja irônico; 9. Use metáforas; 10. Faça perguntas retóricas; 11. Seja ambíguo; 12. Seja vago; 13. Seja generalizador; 14. Desloque o ouvinte; 15. Seja incompleto, utilize elipse.
30 28 Para manifestar polidez e fazer emergir esses tipos de estratégias, o informante/falante conta com um repertório de marcas linguísticas, como, por exemplo, as elencadas por Rosa (1992 apud VILLAÇA e BENTES, 2008, p. 33), apresentadas a seguir: Formas verbais (futuro do pretérito, imperfeito do indicativo e do subjuntivo etc.); Verbos modais: creio/acho/imagino; Fórmulas do tipo: Não... mas... (disclaimers); Enunciados justificativos ou explicativos; Perguntas indiretas; Certos marcadores discursivos, como os introdutores e interruptores de tópico ou marcadores de desvio tópico; Certos torneios verbais, recuos estratégicos etc. Dentre as marcas linguísticas elencadas para expressar polidez, focamos na forma verbal de FP. Segundo Brown e Levinson (2011[1987], p ), o tipo de estratégia a ser utilizada na interação é influenciado pela presença de três fatores contextuais: i) a distância social existente entre os interlocutores trata-se de uma dimensão simétrica de semelhança/diferença e refere-se ao grau de familiaridade e solidariedade entre o falante e o ouvinte; ii) o poder relativo existente entre os interlocutores consiste em uma dimensão assimétrica, está relacionado ao poder que o falante exerce sobre o ouvinte e vice-versa; e iii) o grau do custo da imposição de um ato comunicativo é definido cultural e situacionalmente e refere-se aos riscos intrínsecos ao ato que irá realizar, ou seja, pode ser aprovado ou não pelo interlocutor. Entretanto não são apenas esses fatores que influenciam na expressão verbal do fenômeno da polidez. Os fatores idade, sexo/gênero, classe social, bastantes difundidos nos estudos sociolinguísticos, também interferem no modo como a polidez se manifesta. Por exemplo, em uma interação entre um jovem e um idoso a tendência é que emerjam estratégias de polidez em decorrência das normas sociais que induzem seu uso como forma de deferência, em respeito aos mais velhos. Sendo assim, para o estudo da polidez, faz-se necessário considerar tanto os aspectos pragmáticos quanto os sociolinguísticos.
31 O QUE DIZEM OS COMPÊNDIOS GRAMATICAIS SOBRE O FP? Entende-se por compêndios gramaticais as obras que reproduzem regras da língua portuguesa, seja numa perspectiva descritiva (como se usa), seja numa perspectiva prescritiva (como se deve usar) (ARAUJO et al., 2010, p. 260). Estes podem ser classificados, de acordo com o tipo de abordagem adotada, em: históricos, normativos, pedagógicos e descritivos. Antes de apresentarmos o tratamento dado pelos compêndios gramaticais à forma verbal de FP, julgamos importante fazer referência aos conceitos desses quatro tipos de gramáticas. A gramática histórica ocupa-se em buscar no passado as origens de uma dada língua para explicar-nos as transformações por que essa mesma língua passou, na sua evolução através do espaço e do tempo (COUTINHO, 1982 [1932], p. 13). Por gramática normativa, entendemos aquelas obras que prescrevem as regras gramaticais de uma dada língua. Trata-se de um tipo de gramática que busca ditar regras com o objetivo de demonstrar como a língua deve ser usada, impondo, dessa maneira, uma única forma de realização da língua como correta, considerando qualquer outra forma que não seja a descrita como errada. Contrariamente a esta, a gramática descritiva tem como pretensão mostrar como a língua é usada com o intuito de identificar os diferentes contextos de usos tanto de itens lexicais como gramaticais. Quanto à gramática pedagógica, além das categorizações, definições e exemplificações, traz também propostas de atividades/exercícios escolares. Para esta análise, foram consultados treze compêndios gramaticais: Said Ali (1971), Coutinho (1982), Cunha e Cintra (1985), Rocha Lima (1998 [1972]), Cipro Neto e Infante (1998), Neves (2000), Faraco e Moura (2003), Terra e Nicola (2004), Bechara (2006; 2009), Cereja e Magalhães (2008), Perini (2010) e Castilho (2010). Segundo nossa proposta, as obras dos dois primeiros autores caracterizam-se como gramáticas históricas. Cunha e Cintra, Rocha Lima e Bechara são considerados gramáticos contemporâneos, embora no caso da Moderna gramática portuguesa, de Bechara (2009), tenhamos ficado na dúvida em como classificá-la, porque, como bem afirma o autor, esta alia a preocupação de uma científica descrição sincrônica a uma visão sadia da gramática (BECHARA, 2009, p. 20). Assim, este compêndio gramatical estaria em meio termo porque tem a pretensão de apresentar características tanto normativas como descritivas. Apesar dessa advertência do autor, considerando sua trajetória como normativista, optamos por classificar este compêndio como uma gramática normativa. Cipro Neto e Infante (1998), Faraco e Moura (2003), Terra e Nicola (2004) e Cereja e
32 30 Magalhães (2008) são representantes daquilo que se tem definido como gramática pedagógica. As demais obras têm caráter evidentemente descritivo. A escolha desses compêndios gramaticais para a realização da análise é decorrente do fato destes autores, em sua maioria, serem bastante difundidos, o que facilitou a acessibilidade ao material. Feita a caracterização dos compêndios gramaticais, é apresentado o tratamento dado por estes sobre o fenômeno em estudo na seguinte ordem: históricos > normativos > pedagógicos > descritivos. Em sua Gramática histórica da língua portuguesa, Said Ali (1971) não faz alusão de forma direta quanto ao fato de ser a polidez um dos usos do FP. Ele apenas afirma que, quando dirigimos a uma segunda pessoa a pergunta com o verbo no futuro a fim de obter uma informação, estamos nos valendo de um modo de inquerir polido e em todo caso cauteloso (SAID ALI, 1971, p. 320). Segundo o autor, trata-se de um futuro diplomático, pois se faz uma solicitação de informação e, embora se queira receber uma resposta, o locutor finge não esperar uma reposta, marcando, dessa forma, linguisticamente, que o interlocutor pode ou não dar a resposta. Ao verificar a obra Pontos de gramática histórica de Coutinho (1982 [1932]), constatamos que não há nenhum tipo de referência ao fenômeno que ora investigamos. A apresentação realizada por este da forma verbal em estudo, assim como as demais, restringese a demonstrar como se deu sua formação na passagem do latim às línguas românicas. Cunha e Cintra (1985, p. 440), ao tratarem do FP em sua Nova gramática do português Contemporâneo, elencam 5 possíveis empregos para sua forma simples e 3 para sua forma composta: 1. O FUTURO DO PRETÉRITO SIMPLES emprega-se: 1º) para designar ações posteriores à época que se fala; 2º para exprimir a incerteza (probabilidade, dúvida, suposição) sobre fatos passados; como forma polida de presente, em geral denotadora de desejo; 4º) em certas frases interrogativas e exclamativas, para denotar surpresa ou indignação; 5º) nas afirmações condicionadas, quando se referem a fatos que não se realizaram e que, provavelmente, não se realizarão; 2. O FUTURO DO PRETÉRITO COMPOSTO emprega-se: 1º) para indicar que um fato teria acontecido no passado, mediante certa condição; 2º) para exprimir a possibilidade de um fato passado; 3º) para indicar a incerteza sobre fatos passados, em certas frases interrogativas que dispensam a resposta do interlocutor (CUNHA; CINTRA, 1985, p ). (grifos do autor) Observa-se que, dentre os empregos da forma de FP apresentados pelos autores, está o focalizado no presente estudo. Segundo Cunha e Cintra (1985), a forma de FP simples pode ser utilizada para manifestar polidez e seu uso, de maneira geral, ocorre como denotador de desejo. Para ilustrar tal uso, os autores apresentam os seguintes exemplos:
33 31 (10) Seríeis capazes, minhas Senhoras, De amar um homem deste feitio? (A. Nobre, S, 79). (11) Desejaríamos ouvi-lo sobre o crime (C. Drummond de Andrade, BV, 103). (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 451) Em sua gramática intitulada Gramática normativa da língua portuguesa, Rocha Lima (1994) não faz remissão ao uso do FP como forma de expressão de polidez. Observa-se que este autor não dedica uma seção de sua obra para abordar o emprego dos tempos verbais, restringindo-se a apresentar as classificações de modo, voz, número, pessoa e voz e o paradigma de conjugação, sugerindo que sua preocupação esteja centrada mais com a forma dos verbos do que com sua semântica. Assim como Cunha e Cintra (1985), Bechara tanto na Gramática escolar da língua portuguesa (2006), quanto na Moderna gramática portuguesa (2009) - faz referência ao uso do FP como estratégia de polidez ao declarar que esta forma verbal exprime asseveração modesta em relação ao passado, admiração por um fato se ter realizado (2009, p. 280). Para demonstrar tal tipo de ocorrência, o autor apresenta os seguintes exemplos: (12) Eu teria ficado satisfeito com as tuas cartas [RV]. (13) Nós pretenderíamos saber a verdade. (14) Seria isso verdadeiro? (BECHARA, 2009, p. 280) Cipro Neto e Infante (1998), em sua Gramática da língua portuguesa, ao se referirem à forma de FP, não mencionam a possibilidade de esta poder expressar polidez. Assim como estes, Cereja e Magalhães (2008), na Gramática: texto, reflexão e uso, também não fazem referência ao fenômeno que focalizamos. Já Faraco e Moura (2003) e Terra e Nicola (2004), na obra Gramática e Português: de olho no mundo do trabalho, respectivamente, fazem remissão ao uso do FP com tal valor. Os primeiros afirmam que o FP pode ser usado para substituir o presente do indicativo, para atenuar uma ordem ou um pedido (FARACO; MOURA, 2003, p. 347). Já os segundos afirmam que o FP é usado no lugar do presente do indicativo ou do imperativo como forma de cortesia, boa educação. Esses gramáticos apresentam os seguintes exemplos: (15) Pediria que todos se manifestassem a respeito do assunto. (FARACO; MOURA, 2003, p. 347) (16) Você me faria um favor? (TERRA; NICOLA, 2004, p. 250) Em sua gramática descritiva, Gramática de usos do português, Neves (2000) não destina uma seção do capítulo sobre verbo para abordar o emprego dos tempos verbais, não fazendo, consequentemente, referência ao uso da forma verbal em estudo como estratégia de polidez. A autora focaliza nesse capítulo a formação básica das predições, evidenciando a
34 32 natureza dos verbos, as subclassificações dos verbos que constituem predicados e os que não constituem. Ao discorrer sobre o FP em sua Gramática do português brasileiro, Mário Perini (2010) faz menção ao fato de este poder manifestar polidez. O autor afirma que, quando se utiliza o FP (ou condicional, em seus termos) com verbos de desejo para fazer pedidos, acrescenta-se um matiz de polidez à situação, como, por exemplo, em: (17) Eu gostaria de participar da exposição. (18) Minha irmã adoraria conhecer o seu apartamento. (PERINI, 2010, p. 225) Ataliba de Castilho (2010), em sua Nova gramática do português brasileiro, também faz alusão ao uso do FP com o valor em questão no presente estudo. Castilho (2010, p. 434) afirma que há um FP metafórico, que se emprega em lugar do presente do indicativo quando se quer manifestar opinião de modo reservado, ou nos usos de atenuação ou polidez. Vejamos os exemplos utilizados pelo autor para demonstrar essa possibilidade: (19) Eu acharia/teria achado melhor irmos embora. (20) Isto aqui seria/teria sido o bacilo de Koch, pelo menos ele não está/estava sentado nem deitado. (21) Que seria/teria sido aquilo? (CASTILHO, 2010, p. 434) A partir da análise dos compêndios gramaticais, constatamos nos quatro tipos consultados referência ao uso do FP como estratégia de polidez. Dos dois compêndios históricos analisados, apenas o de Said Ali (1971) faz, de forma indireta, menção ao fenômeno que focalizamos. Dentre os demais compêndios examinados, fizeram menção ao valor de polidez do FP em suas gramáticas os autores normativistas Cunha e Cintra (1985) e Bechara (2006; 2009), os pedagógicos Faraco e Moura (2003) e Terra e Nicola (2004); e os descritivistas Castilho (2010) e Perini (2010). Podemos concluir que a correlação entre o FP e a polidez é tão expressiva que, em termos gerais, os compêndios gramaticais mencionam essa possibilidade de uso. No entanto não apresentam informações sobre o contexto sintático-semântico-pragmático para que ocorra o uso da forma verbal que ora focalizamos com esta função. Dessa forma, urge que se realize um estudo específico sobre esse fenômeno. Na seção a seguir expomos o que os estudos de orientação linguística apresentam acerca desse fenômeno.
35 PODERIA APRESENTAR O QUE JÁ FOI FEITO? ESTUDOS LINGUÍSTICO- DESCRITIVOS REALIZADOS SOBRE O FP O uso do FP no português já foi objeto de diferentes estudos sob a ótica variacionista: estudos focalizando a alternância entre o FP e as formas de IMP e/ou perífrases verbais (IRIA + Vinfinitivo e IA + Vinfinitivo) foram realizados em três regiões do Brasil: Costa (1997; 2003), Barbosa (2005) e Tesch (2007) no Sudeste; Silva (1998) e Karam (2000) no Sul; Dias (2007), Oliveira (2010), Santos (2011), Freitag e Araujo (2011), Santos (2014) e Brito (2014) no Nordeste. Nesta seção, apresentamos e discutimos os resultados aferidos de algumas das pesquisas elencadas (basicamente aquelas que controlaram a variável sexo/gênero) e, com base nestes, buscamos depreender tendências gerais sobre o efeito das variáveis linguísticas e sociais que atuam no fenômeno em questão. Em sua dissertação de mestrado, Costa (1997) analisou a variação entre as formas verbais de FP e IMP, sintéticas e perifrásticas, no domínio da modalidade irrealis. A autora investigou o uso desses tempos verbais no português informal do Rio de Janeiro na fala, utilizando a amostra do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua PEUL/UFRJ, e na escrita, a partir de cartas pessoais de falantes cariocas. Seu objetivo consistiu em verificar quais as variáveis linguísticas e sociais que levam o falante a utilizar uma forma em detrimento de outra. Costa (1997) identificou 843 ocorrências das variantes na amostra de fala do PEUL: 41% de IMP, 34% de FP, 23% de IA + Vinfinitivo e 2% de IRIA + Vinfinitivo e 185 na amostra de escrita 27% de IMP, 65% de FP, 4% de IA + Vinfinitivo e 4% de IRIA + Vinfinitivo. Tais resultados demonstraram que, na fala, houve a preferência pela forma de IMP e, na escrita, pela forma de FP. Os resultados evidenciaram também que as seguintes variáveis foram significativas estatisticamente: paralelismo, ambiente sintático-semântico, tempo e factualidade, extensão lexical, tipo de texto/sequência discursiva, contexto modalizador, idade, escolaridade e tipo de atividade do informante (para a amostra de escrita). O paralelismo tem se mostrado um fator significativo em investigações variacionistas que consideram no recorte da variável a carga semântica de verbos (BARBOSA, 2005; OLIVEIRA, 2006, entre outros). Na análise desenvolvida por Costa (1997), o paralelismo foi uma das variáveis significativas estatisticamente. Este princípio pode ser definido como a
36 34 tendência à repetição da mesma variante em ocasiões nas quais os dados figuram em cadeia (COSTA, 2003, p. 82). A ocorrência de formas em cadeia pode acontecer de duas maneiras: dentro do próprio discurso do informante ou no discurso do interlocutor, o que é denominado efeito gatilho : a forma presente na fala do interlocutor engatilha um uso que pode ou não ser repetido na fala do informante (OLIVEIRA, 2006, p 119). A hipótese de Costa (1997) para esse princípio era de que nas ocorrências em cadeia o IMP levaria ao IMP, o FP levaria ao FP e assim sucessivamente. Seus resultados quanto a essa variável confirmaram a hipótese aventada. O tipo de verbo (traço semântico-cognitivo) também foi uma variável significativa na análise. Os resultados de Costa (1997) evidenciaram que essa variável exerce forte influência na variação entre as formas: IA + Vinfinitivo e IRIA + Vinfinitivo são inibidas em bases verbais modais para evitar redundância, uma vez que estas formas já carregariam semanticamente o valor de modalidade. Costa (1997) constatou também que a forma de IMP é mais recorrente em verbos modais, principalmente se estes apresentarem valor epistêmico (relativo ao valor de verdade do enunciado, evidenciando o grau de adesão do falante sobre este; está relacionado à verdade, crença, probabilidade, certeza e evidência). Já a forma de FP está relacionada à expressão de valor deôntico, se situa no domínio do dever (NEVES, 2002, p. 196), estando, assim, relacionado aos valores de permissão, obrigação, manipulação, desejo. O tipo de sequência discursiva também influencia na escolha das formas; os resultados de Costa (1997) evidenciaram que: IMP tende a ser utilizado em contextos narrativos, ainda que significando irrealis, enquanto o FP tende a ser utilizado em contextos argumentativos. Além dessas variáveis linguísticas, o ambiente sintático-semântico e a extensão lexical também foram relevantes no estudo de Costa (1997). Quanto a este último, a autora controlou-o para verificar a hipótese de que os informantes evitariam utilizar variantes que tornassem as formas verbais mais extensas. Os resultados evidenciaram que na fala as variantes perifrásticas ocorreram com verbos de 3 sílabas ou mais, como, por exemplo, o verbo ensinar, que no FP tem 5 sílabas (ensinaria) e na forma perifrástica possui três sílabas no verbo principal (ia ensinar). Ao utilizar a forma perifrástica, o informante distribui o peso fonológico de um vocábulo (COSTA, 1997). Já na escrita, como o uso de perífrases foi pouco recorrente, Costa (1997) verificou que a lógica de se evitar palavras extensas foi realizada com o uso das formas sintéticas. Os resultados evidenciaram que em palavras de 3 ou mais sílabas o uso do FP é evitado, pois a palavra com a flexão de FP fica mais extensa do
37 35 que com a flexão de IMP: entenderia (5 sílabas) vs. entendia (4 sílabas). Portanto tais resultados confirmaram sua hipótese. Em relação ao ambiente sintático-semântico, a autora constatou que a variação entre as formas é condicionada por ambientes distintos. Costa (1997) identificou 6 tipos de ambientes: i) período hipotético na ordem canônica: prótase + apódose; ii) período hipotético em ordem inversa: apódose + prótase; iii) oração independente ou oração principal; iv) encaixada em discurso indireto; v) encaixada com prótase implícita; e vi) outras encaixadas. Os resultados apontaram que o período hipotético na ordem canônica favorece o uso de IMP e na ordem inversa, o FP. A justificativa apresentada pela autora para esse resultado é que tal preferência está pautada no princípio givoniano da iconicidade. Consoante a autora, a ordem inversa contraria a premissa de que condições antecedem os fatos: a presença de IMP na ordem inversa demandaria mais esforço cognitivo por parte do ouvinte, pois, enquanto a oração condicionante não é anunciada, a interpretação de IMP pode ser ambígua: trata-se de uma hipótese ou de um passado habitual? (COSTA, 1997). As orações encaixadas em discurso indireto inibiram o uso de IMP e favoreceram o uso da perífrase IA + Vinfinitivo e orações encaixadas com prótase implícita foram favorecedoras do uso de IMP. Quanto às variáveis sociais, a idade e a escolaridade foram significativas. Em relação à escolaridade, quanto maior o grau do informante, mais frequente foi o uso de FP. No caso da idade, as formas de FP e IRIA + Vinfinitivo são utilizadas por pessoas mais idosas enquanto que o IMP e IA + Vinfinitivo pelas mais jovens. Posteriormente, em sua tese de doutorado, Costa (2003) investigou as formas verbais que variam com o FP na expressão do irrealis no português informal do Rio de Janeiro em uma perspectiva diacrônica. A autora considerou como variantes: o FP, o IMP, as formas perifrásticas IA + Vinfinitivo e IRIA + Vinfinitivo, além da forma HAVIA de + Vinfinitivo, que, segundo Câmara Jr. (1975), em uma determinada linhagem do tempo, era bastante recorrente e passou a ser substituída pela perífrase com o auxiliar ir. A decisão em dar continuidade à pesquisa foi decorrente de o resultado da pesquisa anterior ter evidenciado que a variante IA + Vinfinitivo foi utilizada pelos mais jovens. Baseada no fato de o controle da variável idade ser um possível indicador de mudança linguística em tempo aparente, Costa (2003) levantou a hipótese de que tal forma verbal seria candidata a variante inovadora e que estaria ganhando espaço progressivamente na língua portuguesa, via gramaticalização. Além disso, constatou-se no estudo anterior que o uso de IMP e FP na amostra analisada foi equilibrado. Tal resultado levou a autora a indagar se essa variação vem permanecendo estável no transcorrer das últimas décadas ou se se
38 36 estabilizou mais recentemente (COSTA, 2003, p. 12). Para responder a essas indagações, a autora realizou um estudo de mudança em tempo real de curta duração - a partir de duas estratégias, estudo de painel e estudo de tendência (COSTA, 2003, p. 42) - e em tempo real de longa duração. No estudo de mudança em tempo real tanto do tipo painel caracterizado por utilizar amostras de fala dos mesmos informantes em diferentes pontos do tempo quanto do tipo tendência amostras de falas de informantes diferentes da mesma comunidade em diferentes pontos do tempo -, Costa (2003) valeu-se de amostras de língua falada do projeto PEUL/UFRJ. Já para o estudo de mudança em tempo real de longa duração, a autora utilizou textos teatrais datados do início do século XVIII até o final do século XX. O estudo em tempo real de longa duração apontou a presença da perífrase HAVIA de + Vinfinitivo em contextos de irrealis. O levantamento quantitativo realizado por Costa (2003) evidenciou que o uso dessa perífrase desapareceu a partir da segunda metade do século XX e que a perífrase IA + Vinfinitivo ganha impulso estabelecendo-se como forma inovadora, estando, portanto, em processo de gramaticalização no português. Em relação às formas sintéticas, os resultados demonstraram que estas estão em comportamento de oscilação. De forma geral, os resultados das variáveis linguísticas e sociais na amostra diacrônica corroboram os obtidos por Costa (1997). Seu estudo evidenciou que o princípio do paralelismo é atuante na escolha das formas: os resultados apontaram que, nas ocorrências que figuram em série, a escolha da variante tende ser influenciada pela forma precedente e, quanto ao tipo de registro, o paralelismo é mais atuante na amostra de língua falada do que nos textos teatrais. Tal resultado indica, segundo a autora, que o paralelismo está associado, possivelmente, a um discurso menos planejado, o que evidenciaria, ainda segundo a autora, que o paralelismo é um fator mais ligado ao processamento linguístico (COSTA, 2003, p. 136). Tesch (2007), desenvolveu uma análise sobre a variação entre as formas de futuro do pretérito e de pretérito imperfeito do indicativo, em suas formas sintéticas e perifrásticas, no âmbito do irrealis, sob a ótica da Sociolinguística Laboviana. Seu objetivo consistiu em verificar se as variáveis linguísticas paralelismo formal, tipo de texto, saliência fônica, extensão lexical e ambiente sintático-semântico e sociais faixa, etária, gênero/sexo e escolaridade estão correlacionadas a esse fenômeno variável. Para tanto, a autora utilizou como corpus para a análise 46 entrevistas de informantes nativos da cidade de Vitória/ES. A autora identificou 1080 ocorrências do fenômeno analisado na amostra, considerando tanto verbos modais quanto os não modais, nas 46 entrevistas de informantes capixabas.
39 37 Indo na mesma linha de Costa (1997), que obteve resultados distintos do mesmo fenômeno com verbos modais e com verbos não modais, Tesch (2007) analisou as ocorrências do fenômeno com verbos modais separadas das ocorrências com verbos não modais. Para submeter os dados coletados no corpus ao programa estatístico, a autora fez uma rodada com todos os dados para calcular a distribuição geral e outra rodada com os dados de verbos modais separados dos não modais com o intuito de observar se a variação do fenômeno focalizado tem um comportamento distinto nesses dois tipos de verbos. A distribuição geral das ocorrências foi a seguinte: 41% de FP, 38% de IMP, 21% de IA + Vinfinitivo e menos de 1% de IRIA + Vinfinitivo. Destes resultados depreende-se que: as formas de FP e IMP possuem uma distribuição equilibrada, com predomínio das ocorrências de FP; as ocorrências de perífrases não se mostram muito recorrentes; a forma perifrástica mais recorrente é IA + Vinfinitivo. Ao analisar as formas amalgamadas FP e IRIA + Vinfinitivo; e IMP e IA + Vinfinitivo -, Tesch (2007) constatou que os informantes têm preferência pelas formas de pretérito imperfeito, que correspondem a 58% das ocorrências. Quanto aos resultados da variação com verbos não modais, constatou-se a preferência pela forma de FP, 48% das ocorrências, pelos falantes capixabas. Em virtude das poucas ocorrências, a perífrase IRIA + Vinfinitivo não foi analisada pelo Programa Goldvarb X (SMITH; SANKOFF; TAGLIAMONTE, 2005). Em relação aos resultados obtidos quanto à correlação entre o fenômeno estudado e as variáveis controladas, o paralelismo foi a primeira variável selecionada pelo programa como significativa para as três variantes, confirmando a influência desse princípio. A segunda variável estatisticamente relevante no estudo de Tesch (2007) foi o tipo de texto. Os resultados evidenciaram que, em sequências argumentativas, o FP é favorecido e, em sequências narrativas e descritivas, tanto o IMP como a perífrase IA + Vinfinitivo são favorecidos. A terceira variável linguística selecionada foi a saliência fônica. A hipótese quanto a essa variável era a de que as formas mais salientes (ocorrências com os verbos ser, ter, vir e verbos com o infinitivo em 1ª conjugação - oposição ria vs. va) favoreceriam o uso do FP por apresentarem uma saliência fônica mais acentuada. Já as formas menos salientes, que são aquelas em que a saliência fônica é de r vs. z e verbos de 2ª e 3ª conjugação (oposição i (e) ria vs. -ia), favoreceriam o uso de IMP e IA + Vinfinitivo. Seus resultados confirmaram tais hipóteses. Os resultados referentes à variável extensão lexical evidenciaram que essa variável linguística é significativa apenas para a variante IMP, mostrando que os monossílabos
40 38 favorecem seu uso. A última variável linguística selecionada foi o ambiente sintáticosemântico. Seguindo a proposta de Costa (1997; 2003), Tesch (2007) considerou no grupo de fatores ambiente sintático-semântico seis tipos de contextos: i) período hipotético na ordem canônica: prótase + apódose; ii) período hipotético em ordem inversa: apódose + prótase; iii) oração independente ou oração principal; iv) encaixada em discurso indireto; v) encaixada com prótase implícita; e vi) outras encaixadas. Devido ao número baixo de ocorrências em período hipotético em ordem inversa: apódose + prótase, a autora decidiu amalgamar esses contextos ao período hipotético na ordem canônica: prótase + apódose e considerar as duas construções apenas como período hipotético. Os resultados apontaram que: o período hipotético favorece o uso de FP; as orações encaixadas em discurso indireto inibem o uso de IMP e favorece o uso da perífrase IA + Vinfinitivo, obtendo assim o mesmo resultado que Costa (1997); orações encaixadas com prótase implícita podem ser favorecedoras do uso de IMP. Quanto às variáveis sociais, Tesch (2007) constatou a respeito do gênero/sexo que as mulheres tendem a usar a forma verbal IMP. Tal resultado não confirma a hipótese aventada, uma vez que se esperava o uso maior do FP, forma prestigiada, pelas mulheres. Em relação à variável idade, os resultados apontam que mais os jovens tendem a usar a forma perifrástica IA + Vinfinitivo, coincidindo, assim, com os resultados dos outros estudos que já apresentamos. A escolaridade também foi uma variável significativa estatisticamente. Depreende-se dos resultados obtidos que os informantes com menor grau de escolaridade tendem a utilizar a variante IMP e os que possuem um maior grau de escolaridade, a variante FP. Dias (2007) também realizou um estudo sobre a variação de FP e IMP no português à luz dos pressupostos teóricos da Sociolinguística e do Funcionalismo Linguístico. Seu estudo pautou-se em analisar a variação de tais formas na expressão da eventualidade em construções condicionais com o intuito de verificar o motivo de tal variação e quais os fatores que condicionam o uso de uma forma em detrimento de outra. A autora controlou as seguintes variáveis: ordem (iconicidade), tipo de verbo, graus de certeza (modalidade), estrutura temporal, tipo de inquérito/tipo de texto, forma simples ou construções perifrásticas e sexo/gênero. A autora tomou como corpus 60 inquéritos de língua falada pertencentes ao Banco de Dados PORCUFORT (Português Oral Culto de Fortaleza). É importante ressaltar que esse banco de dados é constituído por produções orais de diálogos entre dois informantes, diálogos entre informante e documentador e elocução formal.
41 39 Foram computadas 167 ocorrências do fenômeno em estudo, dentre as quais 65 de FP, 64 de IMP, 20 de IRIA + Vinfinitivo e 18 de IA + Vinfinitivo, evidenciando que entre as formas sintéticas houve uma distribuição equiparada; o mesmo ocorreu entre as formas perifrásticas. As rodadas no programa estatístico foram realizadas em função de uso do futuro do pretérito (forma sintética e perifrástica) vs. uso do pretérito imperfeito (forma sintética e perifrástica). Os resultados evidenciaram que apenas as variáveis ordem da construção condicional (nos termos de COSTA, 1997; 2003), ambiente sintático-semântico e tipo de inquérito foram significativas na análise. Quanto à primeira, Dias (2007) controlou dois tipos de ordem: icônica (prótase + apódose) vs. não icônica (apódose + prótase), pautada na hipótese de que a ordem icônica favorece o uso do IMP e a não icônica, o uso do FP. Os resultados confirmam a hipótese da autora e corroboram os resultados obtidos por Costa (1997), Silva (1998), Barbosa (2005) e Tesch (2007). No que tange a variável tipo de inquérito, sua hipótese era a de que o uso do pretérito imperfeito é favorecido quando o tipo de inquérito é o diálogo entre dois informantes, por ser mais informal, e que o uso do FP é favorecido nos tipos de inquéritos diálogo entre informante e documentador e elocução formal, pois estes dois últimos possuem um grau de formalidade maior que o diálogo entre dois informantes. Oliveira (2010) analisou a variação entre as formas de FP e IMP na oração principal em contextos hipotéticos na fala de alagoanos, a fim de identificar quais variáveis influenciam o informante a utilizar uma forma ou outra. Oliveira (2010) controlou as variáveis linguísticas paralelismo (paralelismo, não paralelismo e realização nula) e ordem da sentença (canônica, não canônica e realização nula) e as variáveis sociais sexo/gênero (masculino e feminino), escolaridade (fundamental e superior) e idade (jovem, adulto e idoso) em corpus composto por 48 entrevistas dirigidas. O guia de perguntas utilizado para realizar as entrevistas foi organizado de forma a evitar o efeito gatilho, utilizando-se apenas a oração subordinada iniciada por se para introduzir o tópico, como a seguinte: E... se o mundo acabasse hoje?. Oliveira (2010) identificou 589 ocorrências; dentre estas, 354 (61%) foram realizadas com FP e 235 (39%) com IMP. A hipótese do autor era a de que o IMP suplantava o FP em contextos hipotéticos, o que, com base em tal distribuição, foi refutado. A escolaridade foi a variável mais significativa na análise; os resultados confirmaram a hipótese do autor de que os informantes com nível superior utilizariam mais a forma de FP e os informantes com o nível fundamental a forma de IMP. No que se refere à variável ordem da sentença, constatou-se que a ordem canônica favorece o FP e a ordem não canônica e a realização nula favorecem o IMP. A variável idade evidenciou que na faixa etária de 15 a 30 anos o uso de IMP é favorecido, o
42 40 que confirmou os resultados obtidos por Costa (1997; 2003), Silva (1998) e Tesch (2007). Já a faixa etária de 31 a 45 favorece o uso de FP e a de 46 a 61 o uso de IMP. Tais resultados corroboram os obtidos pelos estudos referidos. A variável sexo/gênero foi a última considerada estatisticamente significativa. Os resultados evidenciam que o FP é condicionado pelas mulheres e o IMP pelos homens, ratificando a hipótese inicial. Das variáveis controladas apenas o paralelismo não foi significativo, indo de encontro aos resultados de outros estudos (COSTA, 1997; 2003; SILVA, 1998; BARBOSA, 2005; TESCH, 2007). Freitag e Araujo (2011) investigaram a variação entre as formas de futuro do pretérito e de pretérito imperfeito do indicativo, em suas formas sintéticas e perifrásticas, na expressão do passado condicional no português falado em Itabaiana/SE. À luz dos pressupostos de análise sociofuncionalista que lida com a emergência de formas (via gramaticalização) e a regularização do uso (via mudança linguística), o objetivo das autoras consistiu em averiguar os contextos e os fatores que levam à variação entre essas formas na expressão do passado condicional na fala de informantes universitários itabaianenses. Foram controladas as seguintes variáveis: i) forma de codificação da função - futuro do pretérito, pretérito imperfeito, IRIA + Vinfinitivo e IA + Vinfinitivo; ii) posição sintática ou ambiente sintático-semântico - ordem canônica, ordem inversa, implícita/independente, oração encaixada com prótase co-ocorrente; iii) projeção temporal da consequência - simultânea à fala, posterior à fala e anterior à fala; iv) tipo semântico-cognitivo do verbo momentâneo, específico, difuso, instância, estímulo mental, transição/processo, dicendi, manipulativo, volicional, experimentação mental, relacional, existência, modal e estado; v) traços aspectuais - duratividade (+ / - durativo), dinamismo (+ / - dinâmico), homogeneidade (+ / - homogêneo); vi) tipo de sequência discursiva narrativa, opinativa e explicativa; vii) tempo verbal da condição - pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito, condição implícita e outros tempos verbais; viii) paralelismo - ocorrência precedida FP na própria fala ou na fala do interlocutor, ocorrência precedida IMP na própria fala ou na fala do interlocutor, ocorrência precedida IA + Vinfinitivo na própria fala ou na fala do interlocutor, ocorrência precedida IRIA + Vinfinitivo na própria fala ou na fala do interlocutor, ocorrência isolada (e sem gatilho que a preceda) ou primeira de uma série; ix) traço de modalidade não fato, - irrealis e + irrealis; e x) sexo/gênero feminino e masculino. Os resultados evidenciaram que a variável social sexo/gênero não é significativa para a variação na expressão do passado condicional. No que tange às variáveis linguísticas, apenas o paralelismo foi significativo estatisticamente, em termos de peso relativo, na terceira rodada de dados com oposição binária forma canônica vs. formas variantes. Os resultados
43 41 evidenciaram que o uso do FP é favorecido quando é precedido pelo próprio FP e quando ocorre em orações independentes, ou seja, quando não há paralelismo. Já a forma IMP é favorecida quando é precedida por IMP, corroborando os estudos realizados por Costa (1997; 2003), Barbosa (2005), Tesch (2007) e Santos (2011). Em relação às demais variáveis, em termos percentuais, as mais significativas foram tipo de ambiente sintático-semântico e tipo de sequência discursiva. Quanto a esta última, os resultados ratificaram que a expressão do passado condicional em narrativas tende a ser realizada por IMP. No que concerne ao tipo de ambiente sintático-semântico, constatou-se que as formas variantes tendem a ser barradas quando a configuração sintático-semântica da construção condicional está na ordem inversa ou quando a oração é independente. A partir desses resultados, as autoras concluíram que há uma tendência de especialização de formas em contextos de uso/funções, indiciando um processo de gramaticalização. Constatamos que nos estudos sobre o FP e suas variantes em português não há uma padronização do controle das variáveis e que as amostras analisadas são diversificadas (tanto quanto às variedades do português quanto aos critérios de constituição das células sociais), o que dificulta a comparação dos resultados fator por fator. Em termos gerais, os resultados convergem quanto às variáveis linguísticas, especialmente no que tange ao paralelismo formal (COSTA, 1997, 2003; BARBOSA, 2005; TESCH, 2007; SANTOS, 2011; FREITAG e ARAUJO, 2011). Quanto às variáveis sociais, os resultados das pesquisas que controlaram a idade e a escolaridade também são, de modo geral, convergentes. Os resultados dos estudos que controlaram a variável sexo/gênero nos chamaram a atenção por terem se apresentado diferentes. Por conta desse fato, rediscutimos tais resultados com mais ênfase a seguir. Dentre os estudos realizados sobre o FP, Dias (2007), Tesch (2007), Oliveira (2010), Freitag e Araujo (2011) e Santos (2011) controlaram a variável social sexo/gênero. Apresentamos na Tabela 1 os resultados obtidos em tais pesquisas quanto aos efeitos do sexo/gênero na expressão do futuro do pretérito e suas variantes. Tabela 1: Efeitos da variável sexo/gênero sobre o uso do FP Sexo/gênero Pesquisas desenvolvidas Masculino Feminino Aplic./total % PR Aplic./total % PR Dias (2007) 46/ / Tesch (2007) 224/ / Oliveira (2010) 153/280 54,6-201/ Freitag e Araujo (2011) 11/ /73 72,6 -
44 42 Observa-se que, no estudo realizado por Dias (2007), a variável sexo/gênero não foi significativa, evidenciando que o uso de uma forma ou de outra não é influenciado por essa variável na amostra analisada. Vale ressaltar que a autora codificou as formas de IMP e FP simples e perifrásticas indistintamente: as ocorrências de IRIA + Vinfinitivo foram rodadas no programa com o FP simples e as de IA + Vinfinitivo com o IMP simples. Além disso, percebe-se, pelos encaminhamentos metodológicos, exemplos e resultados, que Dias (2007) não realizou a análise das ocorrências do fenômeno em questão com verbos de base modal separadamente dos de base não modal. É possível que essas decisões metodológicas tenham causado enviesamento dos resultados. Os resultados de Tesch (2007), Oliveira (2010) e Freitag e Araujo (2011) evidenciam que os homens fazem uso tanto da forma canônica quanto das demais, tendo uma sútil tendência para o uso da forma de FP. Já os resultados dos estudos de Oliveira (2010) e Freitag e Araujo (2011) evidenciam que as mulheres tendem a utilizar mais a forma de FP. Os resultados obtidos por Tesch (2007) demonstram que as mulheres utilizam mais as formas não canônica. Embora os estudos apresentados não objetivassem verificar efeitos de polidez no fenômeno analisado, estes controlaram as variáveis tipo de texto, idade e escolaridade, as quais estão, de certa forma, relacionadas a esse valor. Dessa forma, é possível que os resultados quanto a tais variáveis estejam enviesados, assim como os referentes à variável sexo/gênero. Tais resultados podem estar correlacionados ao fato de os pesquisadores não terem dado atenção ao perfil do interlocutor, por exemplo. Nas entrevistas sociolinguísticas, há poucos dados do entrevistador e estas são direcionadas para dados do entrevistado e não do entrevistador, e para a polidez isso é importante. Então, é relevante que se desenvolvam metodologias capazes de captar nuanças de polidez para verificar se a não significância de fatores correlacionados à polidez é decorrente do tipo de metodologia utilizada. A fim de contribuir para as discussões nesse âmbito, desenvolvemos um modelo metodológico focalizando essa questão; é o que apresentamos no capítulo a seguir.
45 2 COMO CAPTAR O USO DO FP COM VALOR DE POLIDEZ? A PROPOSTA DE UM MODELO METODOLÓGICO Vimos no capítulo anterior que os estudos desenvolvidos sobre o FP obtiveram resultados muito tangenciais quanto às variáveis que, de algum modo, estão correlacionadas com a manifestação da polidez. Entretanto a correlação entre o FP e a polidez é tão expressiva que, em termos gerais, os compêndios gramaticais mencionam essa possibilidade de uso. Para Bailley e Tillery (2004 apud FREITAG, 2012, p. 295), os resultados de uma pesquisa sociolinguística são muitas vezes muito mais a consequência de escolhas metodológicas do que o comportamento do informante. Sendo assim, é possível que os resultados dos estudos realizados sobre o FP não tenham sido significativos em decorrência da metodologia utilizada, que não era adequada para verificar os usos linguísticos com valor de polidez. Partindo do pressuposto de que tais resultados são decorrentes das escolhas metodológicas, faz-se necessário, então, criar uma estratégia metodológica de constituição de banco de dados de fala que capte as nuanças de polidez, tanto em seus aspectos pragmáticos quanto sociolinguísticos. Para tanto, precisamos considerar as noções de comunidade de prática e de rede social. Antes de apresentarmos nossa proposta metodológica para captar nuanças de polidez, discorremos primeiramente sobre as entrevistas sociolinguísticas evidenciando suas características e suas inviabilidades para a realização de estudo na perspectiva em foco na presente pesquisa. 2.1 ENTREVISTAS SOCIOLINGUÍSTICAS E O EFEITO GATILHO Um texto é formado por segmentos tópicos que estão relacionados de forma direta ou indiretamente a um tópico maior o tópico discursivo (KOCH, 2006, p. 97). Tais segmentos que compõem o texto são organizados linearmente no discurso. Jubran (1993 apud KOCH, 2006, p. 98) estabelece duas noções em relação à distribuição dos tópicos na linearidade discursiva: continuidade e descontinuidade tópica. Quando os segmentos são organizados linearmente no discursivo, ou seja, em uma ordem sequencial, de forma que a abertura de um
46 44 novo tópico só se realize quando o precedente é fechado, temos o estabelecimento da continuidade tópica (JUBRAN, 1993 apud KOCH 2006, p. 98). No caso do estabelecimento da descontinuidade tópica, esta é estabelecida quando há mudança de tópico sem que se tenha o fechamento do tópico precedente. Nas palavras de Jubran (1993 apud KOCH 2006, p. 98), a descontinuidade tópica, decorre de uma perturbação da sequencialidade linear, verificada na seguinte situação: um tópico introduz-se na linha discursiva antes de ter sido esgotado o precedente, podendo haver ou não o retorno deste, após a interrupção. Nos casos em que há retorno, temos os fenômenos de inserção e alternância; nos casos em que não retorno, temos a ruptura ou corte. Em entrevistas sociolinguísticas, a inserção do tópico discursivo é realizada, na maioria dos casos, pelo entrevistador por meio da pergunta e o seu desenvolvimento pelo entrevistado/informante por meio da resposta. Para desenvolver o tópico introduzido pelo entrevistador o informante utiliza várias estratégias linguísticas. Uma delas consiste no uso do paralelismo linguístico. Este pode ser definido como a repetição de uma mesma forma em situações em que os dados figuram em cadeia (COSTA, 2003, p. 82). A ocorrência de formas em cadeia pode acontecer de duas maneiras: dentro do próprio discurso do informante ou no discurso do interlocutor. Quando o paralelismo ocorre desta última maneira, é denominado como efeito gatilho. Isso porque a forma presente na fala do interlocutor engatilha um uso que pode ou não ser repetido na fala do informante (OLIVEIRA, 2006, p. 119). Em decorrência desse engatilhamento, acreditamos não ser viável a utilização de entrevistas sociolinguísticas para analisar efeitos de polidez, uma vez que o pesquisador/entrevistador pode influenciar nos usos linguísticos do entrevistado. Sendo assim, para que não haja influencia do pesquisar, faz-se necessário que os próprios informantes interajam entre si. Além disso, não há na entrevista sociolinguística o controle do sexo/gênero dos informantes considerando interação entre: masculino-masculino, masculino-feminino, feminino-feminino; o que pode influenciar também nos usos linguísticos.
47 INTERAÇÕES CONDUZIDAS: COMUNIDADES DE PRÁTICAS E REDES SOCIAIS Para controlar a correlação entre os graus de proximidade, relações de poder, custo da imposição - aspectos pragmáticos e o sexo/gênero variável sociolinguística clássica e o uso do FP como estratégia de polidez, é preciso delinear uma estratégia de coleta que considere uma unidade de análise comunidade de prática e uma proposta de hierarquização redes sociais Comunidade de prática Para Eckert e McConnel-Ginet (2010 [1992]), uma comunidade de prática é um agrupamento de pessoas que se engajam em um empreendimento comum. Segundo as autoras, é durante a atividade conjunta das pessoas em um empreendimento comum que as práticas o modo de fazer as coisas, modos de falar, crenças, valores, relações de poder emergem (ECKERT; MCCONNEL-GINET, 2010 [1992], p. 102). As autoras explicitam que uma comunidade de prática pode ser representada por pessoas trabalhando juntas em uma fábrica, habitués de um bar, companheiros de brincadeira em uma vizinhança, a família nuclear, parceiros policiais e seu etnógrafo, a Suprema Corte etc. E ressaltam que Comunidades de prática podem ser grandes ou pequenas, intensas ou difusas; elas nascem e morrem, podem sobreviver a muitas mudanças de membros e podem estar intimamente articuladas a outras comunidades. As pessoas participam de múltiplas comunidades de prática, e a identidade individual é baseada nesta participação. Em lugar de conceber o indivíduo como uma entidade à parte, pairando sobre o espaço social, ou como um ponto em uma rede, ou como membro de um conjunto específico ou de um conjunto de grupos, ou como um amontoado de características sociais, precisamos enfocar as comunidades de prática. Tal foco possibilita-nos ver o indivíduo como agente articulador de uma variedade de formas de participação em múltiplas comunidades de prática (ECKERT; MCCONNEL-GINET, 2010 [1992], p ). Essa perspectiva de comunidade tem sido tomada por sociolinguistas que estudam a variação em uma dimensão estilística, por objetivarem captar com mais detalhes a dinâmica
48 46 do valor social das variáveis (cf. FREITAG et al., 2012) e, assim, observarem como ocorre a construção da identidade do indivíduo e a construção do significado social. Estudos nessa perspectiva têm sido chamados de terceira onda da sociolinguística. Esta terceira onda incorpora postulados dos estudos de primeira e segunda onda da sociolinguística, mas com um diferencial: o foco passa da comunidade de fala para a comunidade de prática (cf. FREITAG et al., 2012) Redes sociais Para a construção de um modelo metodológico de constituição de banco de dados de fala que capte nuanças de polidez, partimos da hipótese de que não podemos ter a figura do entrevistador para conduzir o tópico como ocorre nas entrevistas sociolinguísticas (nos moldes canônicos), pois o entrevistador pode influenciar o uso linguístico do entrevistado, ocasionando o que tem sido denominado de efeito Rutledge 10. Além disso, nas entrevistas sociolinguísticas, não é possível realizar uma análise mais acurada dos papéis sociopessoais do entrevistador e sua relação com o entrevistado (FREITAG, 2012, p. 295), o que é essencial para captar o valor de polidez. Para tanto, precisamos que os próprios informantes conduzam o tópico na interação para que assim possamos controlar o sexo/gênero, a distância social/grau de proximidade, o custo da imposição e as relações de poder estabelecidas por estes. Dessa forma, o pesquisador não participará da interação para evitar qualquer tipo de influência nos dados coletados. Chamaremos essa situação de fala em que os próprios informantes conduzem o tópico de interações conduzidas. Dentre os fatores que devem ser considerados para a elaboração dessa estratégia metodológica está o fator pragmático da distância social. Os usos linguísticos de um indivíduo estão fortemente correlacionados com a distância social existente entre este e o seu interlocutor. Isso significa dizer que, se um indivíduo possui um grau de proximidade forte com um interlocutor e um grau de proximidade fraco com outro, o seu comportamento linguístico na interação com cada um deles será, provavelmente, diferente em decorrência do tipo de relacionamento existente. Portanto o controle dessa variável nos permite verificar se 10 O efeito Rutledge é um conceito decorrente da reanálise do estudo de Montgomery (1998) em que se constatou que os resultados obtidos quanto à distribuição de might could em função do sexo/gênero foram influenciados por uma entrevistadora, Barbara Rutledge, que sugeria a resposta com a forma might could (cf. FREITAG, 2012).
49 47 de fato os diferentes usos linguísticos são decorrentes do grau de proximidade existente entre os informantes. Mas como constituir um banco de dados controlando essa variável? Buscamos respaldo nos modelos que consideram as redes sociais para observar/controlar as relações existentes entre os membros da rede. Tal teoria foi desenvolvida por antropólogos nas décadas de 1960 e 1970 e introduzida na sociolinguística por Lesley Milroy, a partir da década de Os sociolinguistas utilizam essa teoria em suas análises para verificar o papel do falante na inovação linguística (ou o bloqueio dela) (BATTISTI, 2008, p. 2). Entende-se por rede social o conjunto de atores/pessoas que têm relações entre si, sejam elas por laços fortes (grau de proximidade alto), sejam por laços fracos (grau de proximidade baixo). Para controlar o grau de proximidade, é necessário focar em uma comunidade menor para observar as redes sociais pessoais que são formadas nela, o que veremos na seção a seguir. No entanto, para a construção de um modelo metodológico que capte nuanças de polidez, não é necessário identificar as diversas redes sociais das quais participa o informante e todos os tipos de intensidades de grau de proximidade, já que para controlar os fatores dimensão social, relações de poder, custo da imposição e sexo/gênero cada informante terá que dispender um grande teor de tempo, cerca de 5 horas, para a realização da gravação das interações. Pode-se focalizar apenas uma comunidade de prática e escolher um tipo de rede de relacionamento pessoal dos existentes nesta. Por exemplo, dentro da comunidade de prática escolar, existem várias redes de relacionamentos, tais como: alunoaluno, aluno-professor, aluno-funcionário, professor-funcionário, professor-professor, funcionário-funcionário. Sendo assim, para a formação da rede social, o primeiro passo para realizar a coleta é delimitar a comunidade de prática e escolher o tipo de rede a ser analisada. Expomos a seguir procedimentos metodológicos necessários para a realização da coleta. 2.3 CONSTITUIÇÃO DA AMOSTRA: SELEÇÃO DE INFORMANTES Ressaltamos na seção 2.2 que o primeiro passo para a representação da rede social é a escolha da comunidade de prática e o tipo de rede de relacionamento pessoal que se quer analisar. Feito isso, devem ser identificados os informantes que fazem parte da rede social escolhida. Não é necessário para a constituição do banco de dados que todos que fazem parte
50 48 da rede social escolhida sejam considerados. Como estamos controlando quatro fatores para captar o valor de polidez, três pragmáticos e um sociolinguístico, são necessários oito informantes, quatro homens e quatro mulheres, para a constituição do banco de dados. Para tanto, os oito informantes devem formar dois grupos cada um com duas mulheres e dois homens em que aqueles que pertencem a um grupo possuem relações de proximidade entre si, mas não com os informantes pertencentes ao outro, como ilustrado na Figura abaixo. Grupo 1 Grupo 2 Mulher Mulher Mulher Homem Homem Mulher Homem Homem Figura 2: Arranjo dos informantes A distância social/grau de proximidade entre os informantes é controlada por meio da frequência com que interagem. Para mensurar a distância social/grau de proximidade entre os informantes, baseamo-nos na proposta de controle de Blake e Josey (2003) e Oushiro (2011). O controle dessa variável foi estipulado a partir de uma escala de 1-5, que vai do grau máximo de proximidade (grau 1) ao grau mínimo de proximidade (grau 5) entre os informantes (Quadro 2). Quadro 2: Escala de gradação para o controle da distância social entre os informantes da rede social Grau 1 Bastante próximo. Os informantes possuem laços fortes (amizade, parentesco, colega de trabalho ou escola etc.) e interagem diariamente; Grau 2 Próximo. Os informantes interagem frequentemente, mas não possuem laços fortes; Grau 3 Próximo. Os informantes não interagem frequentemente e não possuem laços fortes; Grau 4 Neutro. Os informantes se conhecem, mas não interagem com frequência; Grau 5 Distante. Os interlocutores não se conheciam anteriormente e só conversaram no momento da gravação da interação. Partimos da premissa de que os usos linguísticos dos informantes variam de acordo com o grau de proximidade existente entre eles: i) quanto mais forte for o grau de proximidade entre os informantes, menor será o número de ocorrências de estratégias de
51 49 polidez (das quais nos interessa especificamente o FP); e ii) quanto mais fraco for o grau proximidade entre os informantes, maior será o número de ocorrências de estratégias de polidez. Como quanto mais variáveis controlarmos, maior será o número de informantes e o tempo que cada informante terá que dispor para a gravação das interações, focamos nos extremos: Grau 1 e Grau 5. O controle dos extremos da escala de gradação é suficiente para verificar os efeitos de polidez decorrentes do grau de proximidade entre os interlocutores. A interação dos informantes dentro do grupo e entre os grupos deve ocorrer da seguinte forma: cada informante deve interagir com um homem e uma mulher com os quais possua grau 1 de proximidade e com um homem e uma mulher com os quais possua grau 5 de proximidade. Dessa forma, ao controlar o grau de proximidade entre informantes (cf. Apêndice A), controlamos também a variável sexo/gênero. O controle dessa variável desdobra-se, portanto, em quatro subfatores: i) Feminino masculino; ii) Feminino feminino; iii) Masculino feminino; iv) Masculino masculino. Para possibilitar o controle da variável pragmática relações de poder, na coleta de dados, cada informante deve interagir duas vezes com o mesmo interlocutor. Em uma das interações, um dos informantes conduz o tópico e, na segunda, os informantes trocam de papéis. Por exemplo: em uma interação o falante 1 conduz o tópico com o falante 2; e em outra inverte-se, o falante 2 conduz o tópico na interação com o falante 1. Tal troca de papéis sociopessoais nos permite, portanto, controlar as relações de poder envolvidas a partir de quem está com o domínio do tópico na interação. O custo da imposição é controlado por meio do tipo de assunto que é introduzido na interação, situações que vão da aparente neutralidade a situações que envolvem a preservação das faces negativa e positiva. A classificação do tipo de assunto introduzido na interação pode ser visto dentro de um continuum que vai do [- impositivo] ao [+ impositivo] (Figura 3). [- impositivo] [+ impositivo] Neutralidade >> Ref. ao passado >> Ref. ao futuro >> P. de face positiva >> P. de face negativa Figura 3: Continuum do tipo de assunto quanto ao custo da imposição
52 50 Com o controle dos aspectos pragmáticos e do aspecto sociolinguístico conforme descrevemos, temos o estabelecimento das seguintes relações/conexões na rede social de informantes: i. Cada informante mulher deve conduzir o tópico da interação com uma informante de grau 1 de proximidade, a qual também deve conduzi-lo em uma segunda interação; ii. Cada informante mulher deve conduzir o tópico da interação com um informante de grau 1 de proximidade, o qual também deve conduzi-lo em uma segunda interação; iii. Cada informante homem deve conduzir o tópico da interação com uma informante de grau 1 de proximidade, o qual também deve conduzi-lo em uma segunda interação; iv. Cada informante homem deve conduzir o tópico da interação com um informante de grau 1 de proximidade, o qual também deve conduzi-lo em uma segunda interação. v. Cada informante mulher deve conduzir o tópico da interação com uma informante de grau 5 de proximidade, a qual também deve conduzi-lo em uma segunda interação; vi. Cada informante mulher deve conduzir o tópico da interação com um informante de grau 5 de proximidade, o qual também deve conduzi-lo em uma segunda interação; vii. Cada informante homem deve conduzir o tópico da interação com uma informante de grau 5 de proximidade, a qual também deve conduzi-lo em uma segunda interação; viii. Cada informante homem deve conduzir o tópico da interação com um informante de grau 5 de proximidade, o qual também deve conduzi-lo em uma segunda interação. Através dessas relações/conexões, cada informante deve interagir com 4 pessoas diferentes (um homem e uma mulher, próximos dele; um homem e uma mulher, distantes dele) duas vezes, totalizando 32 interações conduzidas. Na Figura 4 delineamos a rede social formada pelas conexões estabelecidas entre os informantes.
53 51 Figura 4: Rede social dos informantes Cada informante é representado na rede por um nó (com um número e um pseudônimo). As setas representam as conexões estabelecidas entre os informantes: as setas pretas conectam informantes com grau 1 de proximidade e as setas vermelhas conectam informantes com grau 5 de proximidade. Já as setas duplas ( ) evidenciam que os informantes participam de duas interações e que interagem entre si de forma que em uma interação um informante conduz o tópico e na outra o informante que interagiu com aquele conduz o tópico. 2.4 GRAVAÇÃO DAS INTERAÇÕES Com o intuito de eliminar efeitos gatilho, nas interações conduzidas não há roteiro de perguntas. São os próprios informantes que selecionam o tópico da interação a partir de situações descritas em cartões. No momento da gravação, disponibilizam-se 50 cartões (Apêndice C) nos quais são abordados temas diversos por meio de situações que recobrem: Neutralidade O aumento do uso de redes sociais online é exorbitante. Pessoas de todas as idades têm aderido a esse sistema de comunicação. Referência ao passado
54 52 As intrigas sempre estão presentes entre os irmãos. Sempre há aquele momento em que um olha para o outro e diz: nunca mais fale comigo. Mas poucas horas depois eles já estão juntos novamente. Referência ao futuro Pedro está terminando a graduação e está muito preocupado com a sua vida após a faculdade. Muitos são os planos. Preservação de face positiva Diego e Bárbara foram aprovados no concurso de medicina da UFS através do sistema de cotas para alunos da rede pública. Ultimamente alguns alunos não cotistas se negam a desenvolver trabalhos acadêmicos com eles. Preservação de face negativa A disfunção erétil, ou seja, a incapacidade de conseguir ereção satisfatória para o ato sexual, que pode ser ocasionada pela falta de desejo, pela ejaculação precoce ou retardada etc., traz insatisfação tanto para o homem quanto para a mulher. Para a elaboração das situações descritas nos cartões, realizamos grupos focais com homens e mulheres em que solicitamos que estes listassem: i) cinco temas ou mais que você conversaria com alguém na sala de espera de um consultório; ii) cinco temas ou mais relacionados a coisas positivas de sua infância; iii) cinco temas relevantes ou mais para um universitário se posicionar; iv) cinco temas ou mais sobre o qual um universitário não deveria falar por ser universitário; v) cinco temas ou mais sobre os quais você conversaria com um homem desconhecido/uma mulher desconhecida; vi) cinco temas ou mais sobre os quais você não conversaria com um homem desconhecido/uma mulher desconhecida; e vii) cinco temas ou mais sobre os quais você conversaria com uma amiga íntima/amigo íntimo. A partir das respostas dadas, selecionamos temas e elaboramos situações que vão da aparente neutralidade a situações que envolvem a preservação das faces positiva e negativa. Para a realização da interação, cada informante escolhe aleatoriamente 10 cartões (dois de cada tipo). A partir da situação descrita no cartão, o informante deve identificar o tema abordado e conduzir a conversa com o seu interlocutor. Por exemplo, na situação descrita referente à preservação de face negativa, o tema abordado é a disfunção erétil. Tratase de um tema bastante delicado para conversar com alguém, até mesmo entre pessoas que possuem um grau de proximidade alto. Ao abordar essa temática, o informante coloca a sua face positiva em risco e em evidência a sua face negativa. Ao tentar preservar-se, o informante pode recorrer às estratégias de polidez e, desta forma, minimizar os custos da imposição. Então, poderia, por exemplo, abordar o assunto de forma tangencial, sem precisar perguntar diretamente se o interlocutor já brochou alguma vez, e perguntar: o que o informante faria se soubesse que seu companheiro andou expondo a vida íntima do casal para
55 53 os colegas, o que o informante acha da atitude das pessoas que saem expondo sua intimidade ou que saem falando que o seu companheiro brochou. A fim de garantir uma condição de comunicação que se aproxime o máximo possível de uma situação real e espontânea de interação, deverem ser seguidas algumas instruções. Para tanto, os seguintes processos devem ser adotados para a realização da coleta: Identificar o informante com perfil compatível para participar das interações; Esclarecer ao informante sobre a finalidade da coleta; Obter do informante a concordância em participar da interação, resguardando o anonimato deste; Planejar com o informante os encontros para a coleta de cada uma das oito interações de no mínimo 30 minutos; Escolher um lugar bem silencioso para a gravação da interação; Orientar o informante sobre como proceder na interação com o seu interlocutor, a saber: - Há cinquenta cartões coloridos, o informante deve escolher dois cartões de cada cor; - A partir da situação descrita no cartão, o informante deve identificar o tema abordado e conduzir a conversa com o seu interlocutor até esgotar o assunto e passar do tema do cartão seguinte. Deixar o gravador ligado desde o início da interação; Após a gravação da interação, solicitar que o informante preencha a ficha social (ver Anexo A) bem como o termo de consentimento livre esclarecido (ver Apêndice B); Após cada interação, preencher o campo sobre o grau de relação entre os informantes participantes. Seguidos esses procedimentos, constituímos a amostra Rede Social de Informantes Universitários (amostra de interações conduzidas), que faz parte do Banco de Dados Falares Sergipanos (FREITAG, 2013), que segue duas linhas de coleta a de comunidades de fala (estratificação homogeneizada) e a de comunidades de práticas (relações sociopessoais). Atendendo às diretrizes norteadoras de pesquisa envolvendo humanos, normatizada e regulamentada no Brasil pela Resolução 196/96, o projeto Falares Sergipanos foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa CEP da Universidade Federal de Sergipe, o qual está vinculado ao Sistema Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa SISNEP, recebendo certificado de atendimento às diretrizes éticas de pesquisa de
56 54 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: O CAMINHO SEGUIDO Neste capítulo, descrevemos os procedimentos metodológicos utilizados através da aplicação do modelo metodológico proposto no capítulo 2. Primeiramente, explanamos sobre a cidade de Itabaiana/SE e a comunidade de prática escolhida. Posteriormente, apresentamos as variáveis controladas para realização deste estudo. E, por fim, descrevemos a natureza da análise e o tipo de tratamento estatístico aplicado aos dados. 3.1 A CIDADE DE ITABAIANA E A COMUNIDADE DE PRÁTICA EM FOCO A cidade de Itabaiana localiza-se no agreste central do Estado de Sergipe, a 58 km da capital Aracaju. O município possui uma área de km 2 e tem uma população estimada em habitantes 11. A Figura a seguir destaca a localização geográfica da cidade de Itabaiana no mapa de Sergipe. Figura 5: Localização de Itabaiana/SE no mapa de Sergipe Fonte: Wikipédia 11 Estimativa do IBGE da população residente com data de referência 1º de julho de 2013.
57 55 O município de Itabaiana é a microrregião mais importante do agreste sergipano e se destaca economicamente por possuir um comércio forte (considerado o maior do interior do Estado), atuando como entreposto comercial na circunvizinhança (FREITAG et al., 2012, p. 932). Em decorrência do programa do Governo Federal de expansão e interiorização da educação superior no Brasil, a cidade de Itabaiana recebeu um campus universitário - Universidade Federal de Sergipe, campus Prof. Alberto Carvalho. Suas atividades foram iniciadas no dia 14 de agosto de 2006 e há, atualmente, dez cursos em funcionamento, dentre os quais sete são de licenciatura. O campus recebe cerca de 2500 estudantes diariamente provenientes da cidade de Itabaiana e das cidades circunvizinhas. A instalação do campus foi muito importante para os habitantes de Itabaiana e das cidades próximas por aumentar a possibilidade de estes terem acesso ao nível superior. Segundo Freitag et al. (2012, p. 932), ser universitário é uma conquista familiar da maioria: pesa a responsabilidade de ser o primeiro universitário em uma família de pais que não tiveram a oportunidade de ter acesso à escolarização. Os estudantes passam pelo menos quatro horas diárias no ambiente universitário, desenvolvendo atividades, compartilhando valores e conhecimentos (cf. FREITAG et al., 2012). Há estudantes que vão para a universidade, seja por morar distante desta, seja por morar em outra cidade, em ônibus escolares ou particulares e durante o trajeto estabelecem contato uns com os outros. Freitag et al. (2012, p. 933) afirmam que esse engajamento social que há entre os universitários do campus de Itabaiana da Universidade Federal de Sergipe nos permite defini-los como constituintes de uma comunidade de prática, nos termos que propõem Eckert e McConnell- Ginet (2010). Sendo assim, o campus universitário Prof. Alberto Carvalho constitui uma comunidade de prática porque há um conjunto de pessoas agregadas para aprender, construir e fazer a gestão do conhecimento. É justamente sobre essa comunidade de prática que se debruça a presente pesquisa. Na seção a seguir, apresentamos a amostra utilizada nesta pesquisa, constituída por informantes provenientes da comunidade de prática Universidade Federal de Sergipe campus Prof. Alberto Carvalho.
58 Amostra Rede Social de Informantes Universitários de Itabaiana/SE 12 A amostra Rede Social de Informantes Universitários de Itabaiana/SE foi constituída a partir da aplicação do modelo metodológico descrito no capítulo 2, que foi elaborado especificamente para captar os efeitos de polidez nos usos linguísticos. Assim como se fez para constituir o banco de dados Falantes Cultos de Itabaiana/SE, tomamos a Universidade Federal de Sergipe campus Prof. Alberto Carvalho como a comunidade de prática a ser investigada. Essa comunidade de prática é composta por várias redes sociais estabelecidas de acordo com o tipo de relação existente entre os membros, tais como: aluno-aluno, alunoprofessor, aluno-funcionário, professor-professor, professor-funcionário, funcionáriofuncionário. Dentre esses tipos de relações, escolhemos a relação aluno-aluno. Aplicando o modelo metodológico, selecionamos 8 informantes distribuídos em dois grupos - cada um com duas mulheres e dois homens - de modo que aqueles que pertencem a cada grupo possuem relações de proximidade entre si, mas não com os informantes pertencentes ao outro. Os graus de proximidade focalizados são o grau 1 (entre informantes de mesmo grupo) e o grau 5 (entre informantes de grupos diferentes). Um dos grupos é constituído por informantes que estão no último período do curso de Geografia; destes apenas uma das informantes não mora em Itabaiana. Já o outro grupo é constituído por informantes provenientes de três cursos: as informantes cursam Pedagogia (uma está no segundo período e a outra no penúltimo); dos informantes masculinos, um cursa Ciências Contábeis (segundo período) e o outro Administração (penúltimo período). Todos os informantes deste grupo são provenientes da cidade de Frei Paulo também localizada no agreste sergipano, a cerca de 20 km de Itabaiana/SE. Embora os informantes do segundo grupo não façam o mesmo curso, estes possuem grau 1 de proximidade por manterem contato diário durante o trajeto de sua cidade para a universidade. Os informantes dos dois grupos pertencem à faixa etária de 21 a 30 anos. O Quadro a seguir sumariza estas informações. Quadro 3: Distribuição dos informantes do banco de dados Rede Social de Informantes Universitários de Itabaiana/SE em função do sexo 12 A constituição dessa amostra foi realizada conjuntamente com Kelly Carine dos Santos, que se valeu da mesma amostra para desenvolver seu estudo sobre Estratégias de polidez e a variação de nós x a gente na fala de discentes da Universidade Federal de Sergipe (SANTOS, 2014).
59 57 Sexo/gênero Informante Idade Curso/período Cidade Masculino Feminino D. S. 21 Geografia/8 Itabaiana D. M. 24 Geografia/8 Itabaiana W. S. 19 Ciências Cont./2º Frei Paulo C. A. 30 Administração/9º Frei Paulo D. C. 28 Geografia/8 Itabaiana A. G. 25 Geografia/8 Campo do Brito J. S. 19 Pedagogia/2º Frei Paulo L. R. 21 Pedagogia/8º Frei Paulo Das relações estabelecidas entre os informantes por meio do controle das variáveis pragmáticas distância social, relações de poder e custo da imposição e da variável sociolinguística sexo/gênero há 32 interações conduzidas, conforme explanamos na seção 2.3. O Quadro a seguir ilustra as relações estabelecidas entre cada informante (laço forte com linha continua e laço fraco com linha tracejada) e com quem cada um interagiu (masculino em azul e feminino em vermelho). Quadro 4: Representação das interações da rede social Fonte: Santos (2014)
60 58 Após a finalização da coleta das interações conduzidas entre os informantes, procedeu-se ao processo de transcrição das interações. É importante frisarmos que não se trata de uma tarefa fácil, visto que é uma etapa que exige muito tempo e atenção para sua realização. Em relação a esta, Paiva (2007, p.136) afirma que antes de dar início a qualquer processo de transcrição, é necessário delimitar com clareza o grau de detalhamento da transcrição visada, ou seja, o grau de fidelidade que vai conter a transcrição aos dados orais. Como o objetivo desta pesquisa não é investigar um fenômeno fonológico, mas sim semântico-discursivo, a transcrição não foi realizada com detalhamento fonético/fonológico. As interações foram transcritas tomando como ponto de referência os princípios ortográficos da escrita do português. Para tanto, adotamos as normas de transcrição utilizadas pelo Grupo de Estudos em Linguagem Interação e Sociedade (GELINS) (ver Anexo B). Feito isso, organizamos o corpus e criamos um código de identificação para cada um dos informantes, resguardando assim, o anonimato. Além disso, após o processo de transcrição, é necessário realizar a revisão das transcrições para verificar se estas foram feitas adequadamente e, consequentemente, tentar diminuir o número de segmentos incompreendidos pelo transcritor. Este é o estágio atual da constituição da amostra. 3.2 VARIÁVEIS CONTROLADAS Consideramos a referência temporal (passado, presente e futuro) do FP como variável dependente para a realização da análise quantitativa, a fim de verificar quais variáveis independentes (pragmáticas, linguísticas e sociais) condicionam a escolha de uma ou de outra referência na expressão de polidez. No Quadro 4 estão dispostas as variáveis que foram controladas na presente investigação. Quadro 5: Variáveis independentes controladas na análise
61 59 Distância social Variáveis independentes Próximo ou distante; Pragmáticas Sociais Poder relativo Custo da imposição Tipo de estratégia de polidez Sexo/gênero Simetria Interação entre falantes quanto ao sexo/gênero Informante Dominador do tópico ou não dominador do tópico; Grau 1 tópico menos impositivo, Grau 2 tópico mais ou menos impositivo, Grau 3 tópico impositivo, Grau 4 tópico muito impositivo; Polidez positiva, polidez negativa e polidez encoberta; Feminino ou masculino; Interação entre falantes do mesmo sexo ou entre falantes de sexo diferente; Masculino masculino, masculino feminino, Feminino feminino, meminino masculino; DS, AG, DM, DC, CA, JS, WS, LR; Linguísticos Tipo de verbo auxiliar Sem verbo auxiliar (forma simples), deveria + Vinfinitivo, poderia + Vinfinitivo, iria + Vinfinitivo e outros verbos auxiliares; Tipo de sequência Narrativa, injuntiva, descritiva, opinativa e discursiva (tipo de texto) Par pergunta-resposta e comentário Paralelismo/efeito gatilho Suavizadores de natureza verbal explicativa; Pergunta, resposta e comentário/contextualizador; Ocorrência isolada ou 1ª da série, precedida de FP e precedida de IMP. Modalizadores, condição, minimizadores, expressões de ressalva, passado de polidez, sem suavizadores No capítulo 4, reservado à análise do funcionamento do FP em contextos de expressão de polidez, as variáveis controladas são descritas juntamente com as hipóteses aventadas para o comportamento de cada uma delas em relação ao fenômeno aqui estudado. 3.3 A NATUREZA DA ANÁLISE E O TRATAMENTO DOS DADOS Para o tratamento dos dados, seguimos uma abordagem quantitativa, pois, para Labov (2008 [1972], p. 73), a aplicação de métodos quantitativos à análise linguística é necessária para que se possa compreender melhor a estrutura da língua, bem como sua
62 60 função. Para procedermos à análise, primeiramente, coletamos os dados de nosso interesse no corpus. Todas as ocorrências da forma verbal de FP foram codificadas de acordo com as variáveis controladas. Feito isso, submetemos os dados à análise estatística através do programa GOLDVARB X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), conforme apregoa a metodologia sociolinguística. Após a manipulação dos dados, procedemos à interpretação dos resultados obtidos através do programa, buscando subsídios nos pressupostos teóricos da Pragmática e da Sociolinguística.
63 61 4 O FP E A EXPRESSÃO DA POLIDEZ: RESULTADOS E DISCUSSÃO Neste capítulo, analisamos e discutimos os resultados estatísticos obtidos através da aplicação metodológica exposta no capítulo 2. Os resultados foram gerados a partir de três rodadas estatísticas, tendo como valor de aplicação a referência temporal da forma de FP (passado, presente, futuro) e a expressão de polidez. Para uma melhor explanação dos resultados, dividimos o capítulo em cinco seções. Primeiramente, apresentamos um panorama geral da distribuição das ocorrências da forma de FP em função da referência temporal. Na seção seguinte, expomos os resultados obtidos com a primeira rodada estatística em que opomos passado x presente x futuro. A seção 4.3 é dedicada à explanação dos resultados obtidos na segunda rodada com a oposição de passado x não passado. Na sequência, delineamos sobre os resultados concernentes da terceira rodada em que opomos presente x futuro. Por fim, na seção 4.5, apresentamos a correlação geral entre os traços contextuais e as referências temporais da forma de FP. 4.1 ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS Conforme já ressaltamos, o uso da forma verbal de FP pode variar quanto à referência temporal: passada (anterior ao momento da fala), como em (22), presente (concomitante ao momento da fala), como em (23), ou futura (posterior ao momento da fala), como em (24). A nossa hipótese é que haja em maior número de ocorrências do FP com referência presente em que há uma maior necessidade em sermos polidos, uma vez que a preservação de face ocorre no contexto seguido de um maior número de ocorrência com referência futura, já que se comprometer com algo que ainda não aconteceu é ameaçador a face. (22) F2: sim... mas a solução disso não ( )... de jeito nenhum... de forma alguma... eu trabalho sobre o real não vivo trabalhando um bando de discurso... "ah que eu acredito nisso... porque assim"... sim... só no discurso... porque quando você vai pra prática não é bem assim... até mesmo... aqueles... que discutem de uma certa forma... fazem diferente... eu tiro vamos lá... o governo Lula... qual era o discurso? vamos lá transformar transformar transformar transformar... o que aconteceu? acreditavam-se que
64 62 a solução seria... vamos lá... reforma agrária... vamo... dividir a terra... vamo acabar com aqui... foi isso que aconteceu? não foi... o que foi que aconteceu... (D.S. cdt D.M. sdt P M M 01) (23) F1: e essa qualidade deveria vir da onde? essa qualidade essa maior qualidade deveria vir da onde? (D.S. cdt D.M. sdt P M M 01) (24) F1: é uma não sacar... é você con- você conversaria com as pessoa que estão a seu redor? F2: rapaz se fosse pra passar o tempo conversaria... agora... certos assuntos né? eu não vou conversar com ela em relação o que eu vou fazer ali no banco por exemplo uma pessoa desconhecida... você sabe acontece muito... da gente pegar é não sei o quê tô aqui há um tempão e isso tem que fazer isso isso e isso você sabe tem pessoas esperta que já fica já de olho naquilo né? naquela conversa já fica só filmando... mas eu não achava erro nenhum conversar... dependendo da pessoa fosse uma pessoa desconhecida pra passar o tempo conversaria agora assuntos ( )... (D.S. cdt W.S. sdt D M M 03) Foram computadas 671 ocorrências de FP em contextos de expressão de polidez no corpus sob análise. No Gráfico abaixo estão expostos os resultados gerais da frequência de uso do FP em contextos de polidez. Distribuição das ocorrências 33,7% 13% Passado Presente Futuro 53,4% Gráfico 1: Distribuição geral da forma verbal FP em função da referência temporal O uso do FP com referência temporal presente foi o mais frequente no corpus analisado para expressar o valor de polidez. Das 671 ocorrências coletadas, 53,4% (358 ocorrências) corresponde à forma de FP com referência temporal presente, em contraponto ao o uso do FP com referência temporal ao passado e ao futuro, que apresentaram,
65 63 respectivamente, um percentual de 13% (87 ocorrências) e de 33,7% (226 ocorrências). Tal resultado confirma a hipótese aventada. A fim de verificar se há diferenças entre os informantes quanto ao uso do FP em função do tipo de referência temporal na expressão da polidez, controlamos a variável social informante. Constatamos que a maioria dos falantes tende a utilizar mais a forma de FP com referência presente, com exceção apenas a dois informantes, WS e JS, que utilizaram mais a forma de FP com referência futura ,9% 24,8% 19,2% 30,9% 33,3% ,5% 50,6% 54% 59,5% 52,5% 67,9% 47,4% 66,2% 57,1% 42,4% 38,9% 26,6% 28,3% 7,3% 13,2% 7,1% 7,1% 2,9% 9,5% DM DS AG WS JS DC CA LR Futuro Presente Passado Gráfico 2: Distribuição da forma verbal FP em função da referência temporal por falante da amostra De maneira geral, os resultados evidenciaram que a referência temporal da forma de FP mais recorrente no corpus analisado é presente, que expressa um maior teor de polidez pelo fato da preservação de face ser no contexto da interação. 4.2 PASSADO X PRESENTE X FUTURO Apresentamos e discutimos nesta seção os resultados alcançados na primeira rodada estatística dos dados, em função das três referências temporais da forma verbal de FP, que nos permitem verificar quais das variáveis controladas são significativas para a expressão do fenômeno em estudo.
Constituição de amostras sociolinguísticas e o controle de variáveis pragmáticas
 5 Constituição de amostras sociolinguísticas e o controle de variáveis pragmáticas CAPÍTULO Jaqueline dos Santos Nascimento Josilene de Jesus Mendonça Débora Reis Aguiar Leilane Ramos da Silva 5.1 INTRODUÇÃO
5 Constituição de amostras sociolinguísticas e o controle de variáveis pragmáticas CAPÍTULO Jaqueline dos Santos Nascimento Josilene de Jesus Mendonça Débora Reis Aguiar Leilane Ramos da Silva 5.1 INTRODUÇÃO
Andréia Silva Araujo** Raquel Meister Ko. Freitag ***
 doi: 10.15446/fyf.v28n1.51973 A FORMA DE FUTURO DO PRETÉRITO NO PORTUGUÊS DO BRASIL E A FUNÇÃO DE POLIDEZ* Andréia Silva Araujo** Raquel Meister Ko. Freitag *** Universidade Federal de Sergipe, Sergipe
doi: 10.15446/fyf.v28n1.51973 A FORMA DE FUTURO DO PRETÉRITO NO PORTUGUÊS DO BRASIL E A FUNÇÃO DE POLIDEZ* Andréia Silva Araujo** Raquel Meister Ko. Freitag *** Universidade Federal de Sergipe, Sergipe
Polidez/Cortesia/Descortesia: noção de face positiva e negativa
 Polidez/Cortesia/Descortesia: noção de face positiva e negativa Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa II Prof. Dr. Paulo Roberto Gonçalves Segundo 30.09.2015 Aula 14 A noção de face O termo face
Polidez/Cortesia/Descortesia: noção de face positiva e negativa Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa II Prof. Dr. Paulo Roberto Gonçalves Segundo 30.09.2015 Aula 14 A noção de face O termo face
1 Introdução. 1 Nesta dissertação, as siglas PL2E, PL2 e PLE estão sendo utilizadas, indistintamente, para se
 16 1 Introdução O interesse pelo tema deste trabalho, o uso de estruturas alternativas às construções hipotéticas com se e com o futuro simples do subjuntivo, surgiu da experiência da autora ensinando
16 1 Introdução O interesse pelo tema deste trabalho, o uso de estruturas alternativas às construções hipotéticas com se e com o futuro simples do subjuntivo, surgiu da experiência da autora ensinando
MARCAS LINGUÍSTICAS DE POLIDEZ E SEXO/GÊNERO
 9 CAPÍTULO MARCAS LINGUÍSTICAS DE POLIDEZ E SEXO/GÊNERO Kelly Carine dos Santos Andréia Silva Araujo INTRODUÇÃO Desde a década de 1970, com o estudo pioneiro de Robin Lakoff, diversos estudos têm evidenciado
9 CAPÍTULO MARCAS LINGUÍSTICAS DE POLIDEZ E SEXO/GÊNERO Kelly Carine dos Santos Andréia Silva Araujo INTRODUÇÃO Desde a década de 1970, com o estudo pioneiro de Robin Lakoff, diversos estudos têm evidenciado
A REALIZAÇÃO DO SUJEITO PRONOMINAL DE REFERÊNCIA ARBITRÁRIA NA COMUNIDADE LINGUÍSTICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA *
 249 de 298 A REALIZAÇÃO DO SUJEITO PRONOMINAL DE REFERÊNCIA ARBITRÁRIA NA COMUNIDADE LINGUÍSTICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA * Daiane Gomes Bahia ** Elisângela Gonçalves *** Paula Barreto Silva **** RESUMO
249 de 298 A REALIZAÇÃO DO SUJEITO PRONOMINAL DE REFERÊNCIA ARBITRÁRIA NA COMUNIDADE LINGUÍSTICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA * Daiane Gomes Bahia ** Elisângela Gonçalves *** Paula Barreto Silva **** RESUMO
A VARIAÇÃO DO MODO SUBJUNTIVO: UMA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE EXPRESSÃO DE MODALIDADES
 477 de 663 A VARIAÇÃO DO MODO SUBJUNTIVO: UMA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE EXPRESSÃO DE MODALIDADES Vânia Raquel Santos Amorim 148 (UESB) Valéria Viana Sousa 149 (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva 150 (UESB)
477 de 663 A VARIAÇÃO DO MODO SUBJUNTIVO: UMA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE EXPRESSÃO DE MODALIDADES Vânia Raquel Santos Amorim 148 (UESB) Valéria Viana Sousa 149 (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva 150 (UESB)
Polidez/Cortesia/Descortesia: noção de face positiva e negativa
 Polidez/Cortesia/Descortesia: noção de face positiva e negativa Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa II Prof. Dr. Paulo Roberto Gonçalves Segundo 02.10, 04.10 e 09.10.2017 Aula 14-16 A noção de
Polidez/Cortesia/Descortesia: noção de face positiva e negativa Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa II Prof. Dr. Paulo Roberto Gonçalves Segundo 02.10, 04.10 e 09.10.2017 Aula 14-16 A noção de
Cadernos do CNLF, Vol. XIII, Nº 04
 O PROCESSO DE GRAMATICALIZAÇÃO DO ELEMENTO DE REPENTE Aline Pontes Márcia Peterson (UFRJ) marciapetufrj@hotmail.com INTRODUÇÃO Este estudo tem por objetivo focalizar o processo de gramaticalização das
O PROCESSO DE GRAMATICALIZAÇÃO DO ELEMENTO DE REPENTE Aline Pontes Márcia Peterson (UFRJ) marciapetufrj@hotmail.com INTRODUÇÃO Este estudo tem por objetivo focalizar o processo de gramaticalização das
Pesquisadores e suas contribuições para a teoria da polidez
 Aula 07: Teoria do discurso Pesquisadores e suas contribuições para a teoria da polidez Vamos conhecer três pesquisadores e suas contribuições para a teoria da polidez. Elvin Goffman Seu trabalho foi de
Aula 07: Teoria do discurso Pesquisadores e suas contribuições para a teoria da polidez Vamos conhecer três pesquisadores e suas contribuições para a teoria da polidez. Elvin Goffman Seu trabalho foi de
Primeira pessoa do plural com referência genérica e a polidez lingüística
 Primeira pessoa do plural com referência genérica e a polidez lingüística Josilene de Jesus Mendonça 1 2 Universidade Federal de Sergipe Resumo: A indeterminação do sujeito se configura como uma estratégia
Primeira pessoa do plural com referência genérica e a polidez lingüística Josilene de Jesus Mendonça 1 2 Universidade Federal de Sergipe Resumo: A indeterminação do sujeito se configura como uma estratégia
DESCULPA, MAS É QUE...
 Carolina Costa de Souza Gomes DESCULPA, MAS É QUE... O ritual de pedido de desculpas em seriados televisivos brasileiros com aplicabilidade em Português como Segunda Língua para Estrangeiros Dissertação
Carolina Costa de Souza Gomes DESCULPA, MAS É QUE... O ritual de pedido de desculpas em seriados televisivos brasileiros com aplicabilidade em Português como Segunda Língua para Estrangeiros Dissertação
redes sociais, variação linguística e polidez: procedimentos de
 ARAUJO, Andréia Silva; SANTOS, Kelly Carine dos; FREITAG, Raquel Meister Ko.. "REDES SOCIAIS, VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E POLIDEZ: PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS", p.99-116. In Raquel Meister Ko. Freitag
ARAUJO, Andréia Silva; SANTOS, Kelly Carine dos; FREITAG, Raquel Meister Ko.. "REDES SOCIAIS, VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E POLIDEZ: PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS", p.99-116. In Raquel Meister Ko. Freitag
Márcia Araújo Almeida
 Márcia Araújo Almeida Blá-blá-blá: a presença dos vocábulos expressivos na identidade lingüística do brasileiro e sua relevância para o português como segunda língua para estrangeiros (PL2E) Dissertação
Márcia Araújo Almeida Blá-blá-blá: a presença dos vocábulos expressivos na identidade lingüística do brasileiro e sua relevância para o português como segunda língua para estrangeiros (PL2E) Dissertação
A VARIAÇÃO/ESTRATIFICAÇÃO DO SUBJUNTIVO EM ORAÇÕES PARENTÉTICAS
 Página 109 de 511 A VARIAÇÃO/ESTRATIFICAÇÃO DO SUBJUNTIVO EM ORAÇÕES PARENTÉTICAS Vânia Raquel Santos Amorim (UESB) Valéria Viana Sousa (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva (UESB) RESUMO Neste trabalho,
Página 109 de 511 A VARIAÇÃO/ESTRATIFICAÇÃO DO SUBJUNTIVO EM ORAÇÕES PARENTÉTICAS Vânia Raquel Santos Amorim (UESB) Valéria Viana Sousa (UESB) Jorge Augusto Alves da Silva (UESB) RESUMO Neste trabalho,
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS KELLY CARINE DOS SANTOS ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ E A VARIAÇÃO DE NÓS X A GENTE NA FALA DE DISCENTES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS KELLY CARINE DOS SANTOS ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ E A VARIAÇÃO DE NÓS X A GENTE NA FALA DE DISCENTES
EXPRESSANDO CONTRAFACTUAIS: UMA ANÁLISE SINTÁTICO-DISCURSIVA
 EXPRESSANDO CONTRAFACTUAIS: UMA ANÁLISE SINTÁTICO-DISCURSIVA Nara Jaqueline Avelar Brito (UFRN) naraavelar@gmail.com Introdução O presente trabalho visa apresentar resultados concernentes à análise das
EXPRESSANDO CONTRAFACTUAIS: UMA ANÁLISE SINTÁTICO-DISCURSIVA Nara Jaqueline Avelar Brito (UFRN) naraavelar@gmail.com Introdução O presente trabalho visa apresentar resultados concernentes à análise das
CAPÍTULO ESTRATÉGIAS DE INDETERMINAÇÃO DO SUJEITO: POLIDEZ E RELAÇÕES DE GÊNERO. Josilene de Jesus Mendonça Jaqueline dos Santos Nascimento INTRODUÇÃO
 10 CAPÍTULO ESTRATÉGIAS DE INDETERMINAÇÃO DO SUJEITO: POLIDEZ E RELAÇÕES DE GÊNERO Josilene de Jesus Mendonça Jaqueline dos Santos Nascimento INTRODUÇÃO A língua portuguesa apresenta diferentes estratégias
10 CAPÍTULO ESTRATÉGIAS DE INDETERMINAÇÃO DO SUJEITO: POLIDEZ E RELAÇÕES DE GÊNERO Josilene de Jesus Mendonça Jaqueline dos Santos Nascimento INTRODUÇÃO A língua portuguesa apresenta diferentes estratégias
Orações completivas regidas por verbos não factivos: regras de uso e ensino de PL2E
 Fernanda Martins Sanromã Marques Orações completivas regidas por verbos não factivos: regras de uso e ensino de PL2E Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Estudos
Fernanda Martins Sanromã Marques Orações completivas regidas por verbos não factivos: regras de uso e ensino de PL2E Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Estudos
VARIAÇÃO NO USO DAS PREPOSIÇÕES EM E PARA/A COM VERBOS DE MOVIMENTO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
 Página 93 de 510 VARIAÇÃO NO USO DAS PREPOSIÇÕES EM E PARA/A COM VERBOS DE MOVIMENTO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO Rodrigo Barreto de Sousa (UESB) Elisângela Gonçalves (PPGLin/UESB) RESUMO É previsto que, no
Página 93 de 510 VARIAÇÃO NO USO DAS PREPOSIÇÕES EM E PARA/A COM VERBOS DE MOVIMENTO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO Rodrigo Barreto de Sousa (UESB) Elisângela Gonçalves (PPGLin/UESB) RESUMO É previsto que, no
MODOS VERBAIS indicativo subjuntivo imperativo
 VERBOS MODOS VERBAIS Três são os modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Normalmente, o indicativo exprime certeza e é o modo típico das orações coordenadas e principais; o subjuntivo exprime incerteza,
VERBOS MODOS VERBAIS Três são os modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Normalmente, o indicativo exprime certeza e é o modo típico das orações coordenadas e principais; o subjuntivo exprime incerteza,
UMA ANÁLISE SOCIOFUNCIONALISTA DA DUPLA NEGAÇÃO NO SERTÃO DA RESSACA
 Página 143 de 511 UMA ANÁLISE SOCIOFUNCIONALISTA DA DUPLA NEGAÇÃO NO SERTÃO DA RESSACA Savanna Souza de Castro Julinara Silva Vieira Valéria Viana Sousa Jorge Augusto Alves Silva RESUMO A negação é um
Página 143 de 511 UMA ANÁLISE SOCIOFUNCIONALISTA DA DUPLA NEGAÇÃO NO SERTÃO DA RESSACA Savanna Souza de Castro Julinara Silva Vieira Valéria Viana Sousa Jorge Augusto Alves Silva RESUMO A negação é um
O SENHOR/A SENHORA ou VOCÊ?: A complexidade do sistema de tratamento no português do Brasil
 Vanessa Freitas da Silva O SENHOR/A SENHORA ou VOCÊ?: A complexidade do sistema de tratamento no português do Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção
Vanessa Freitas da Silva O SENHOR/A SENHORA ou VOCÊ?: A complexidade do sistema de tratamento no português do Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção
USO DO FUTURO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO EM BLOG JORNALÍSTICO: UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A GRAMATICALIZAÇÃO DO ITEM IR
 463 de 663 USO DO FUTURO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO EM BLOG JORNALÍSTICO: UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A GRAMATICALIZAÇÃO DO ITEM IR Milca Cerqueira Etinger Silva 142 (UESB) Gilsileide Cristina Barros Lima
463 de 663 USO DO FUTURO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO EM BLOG JORNALÍSTICO: UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A GRAMATICALIZAÇÃO DO ITEM IR Milca Cerqueira Etinger Silva 142 (UESB) Gilsileide Cristina Barros Lima
Personalidade de marcas de fast-food: uma comparação entre consumidores jovens brasileiros e americanos
 Fernanda Marcia Araujo Maciel Personalidade de marcas de fast-food: uma comparação entre consumidores jovens brasileiros e americanos Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação
Fernanda Marcia Araujo Maciel Personalidade de marcas de fast-food: uma comparação entre consumidores jovens brasileiros e americanos Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação
As construções de tópico marcado no português falado no Libolo/Angola
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS RAQUEL AZEVEDO DA SILVA As construções de tópico marcado no português falado no Libolo/Angola São Paulo 2017 RAQUEL AZEVEDO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS RAQUEL AZEVEDO DA SILVA As construções de tópico marcado no português falado no Libolo/Angola São Paulo 2017 RAQUEL AZEVEDO DA
CRENÇAS QUE ALUNOS DE LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS MANIFESTAM A RESPEITO DO PAPEL DA GRAMÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
 CRENÇAS QUE ALUNOS DE LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS MANIFESTAM A RESPEITO DO PAPEL DA GRAMÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Maria Avelino de Araujo (BIC/ARAUCÁRIA), Letícia Fraga (Orientadora), e- mail: leticiafraga@gmail.com
CRENÇAS QUE ALUNOS DE LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS MANIFESTAM A RESPEITO DO PAPEL DA GRAMÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA Maria Avelino de Araujo (BIC/ARAUCÁRIA), Letícia Fraga (Orientadora), e- mail: leticiafraga@gmail.com
LABEL promove Oficina de Técnicas de Coleta de Corpora Orais - Revista Entrepalavras
 O Laboratório de Estudos em Linguística - LABEL, da Universidade Federal do Ceará, promove a Oficina de Constituição de Corpus Oral. A Oficina está dividida em dois módulos. O primeiro será ministrado
O Laboratório de Estudos em Linguística - LABEL, da Universidade Federal do Ceará, promove a Oficina de Constituição de Corpus Oral. A Oficina está dividida em dois módulos. O primeiro será ministrado
AULA 10 CLASSES DE PALAVRAS VI. POLÍCIA CIVIL de São Paulo
 AULA 10 CLASSES DE PALAVRAS VI POLÍCIA CIVIL de São Paulo Professor Marlus Geronasso MODOS VERBAIS Três são os modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Normalmente, o indicativo exprime certeza e é
AULA 10 CLASSES DE PALAVRAS VI POLÍCIA CIVIL de São Paulo Professor Marlus Geronasso MODOS VERBAIS Três são os modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Normalmente, o indicativo exprime certeza e é
OS PRONOMES PESSOAIS-SUJEITO NO PORTUGUÊS DO BRASIL: NÓS E A GENTE SEGUNDO OS DADOS DO PROJETO ATLAS LINGÜÍSTICO DO BRASIL
 167 de 297 OS PRONOMES PESSOAIS-SUJEITO NO PORTUGUÊS DO BRASIL: NÓS E A GENTE SEGUNDO OS DADOS DO PROJETO ATLAS LINGÜÍSTICO DO BRASIL Viviane de Jesus Ferreira (UFBA) Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso
167 de 297 OS PRONOMES PESSOAIS-SUJEITO NO PORTUGUÊS DO BRASIL: NÓS E A GENTE SEGUNDO OS DADOS DO PROJETO ATLAS LINGÜÍSTICO DO BRASIL Viviane de Jesus Ferreira (UFBA) Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso
Tânia Cristina Soeiro Simões O uso das preposições locais no processo de aquisição formal da língua alemã como segunda língua
 Tânia Cristina Soeiro Simões O uso das preposições locais no processo de aquisição formal da língua alemã como segunda língua Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação
Tânia Cristina Soeiro Simões O uso das preposições locais no processo de aquisição formal da língua alemã como segunda língua Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação
Fernando Gil Coutinho de Andrade. Polissemia e produtividade nas construções lexicais: um estudo do prefixo re- no português contemporâneo
 Fernando Gil Coutinho de Andrade Polissemia e produtividade nas construções lexicais: um estudo do prefixo re- no português contemporâneo Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito
Fernando Gil Coutinho de Andrade Polissemia e produtividade nas construções lexicais: um estudo do prefixo re- no português contemporâneo Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito
Oposição do pretérito perfeito simples (PPS) e pretérito perfeito composto (PPC) nas Cartas de Vieira
 Marcela Cockell Mallmann Oposição do pretérito perfeito simples (PPS) e pretérito perfeito composto (PPC) nas Cartas de Vieira Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para
Marcela Cockell Mallmann Oposição do pretérito perfeito simples (PPS) e pretérito perfeito composto (PPC) nas Cartas de Vieira Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para
Atos de fala, atos falhos: uma aproximação entre as teorias linguísticas de Austin e de Wittgenstein e a psicanálise de Freud e Lacan
 Claudio Eduardo Moura de Oliveira Atos de fala, atos falhos: uma aproximação entre as teorias linguísticas de Austin e de Wittgenstein e a psicanálise de Freud e Lacan Dissertação de Mestrado Dissertação
Claudio Eduardo Moura de Oliveira Atos de fala, atos falhos: uma aproximação entre as teorias linguísticas de Austin e de Wittgenstein e a psicanálise de Freud e Lacan Dissertação de Mestrado Dissertação
Mariana Reis Barcellos. Metáforas do casamento: uma perspectiva cognitivista sobre o discurso de homens e mulheres. Dissertação de Mestrado
 Mariana Reis Barcellos Metáforas do casamento: uma perspectiva cognitivista sobre o discurso de homens e mulheres Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Psicologia
Mariana Reis Barcellos Metáforas do casamento: uma perspectiva cognitivista sobre o discurso de homens e mulheres Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Psicologia
Variação semântica nas construções adverbiais temporais introduzidas por quando na língua portuguesa
 Eduardo Orgler Variação semântica nas construções adverbiais temporais introduzidas por quando na língua portuguesa Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção
Eduardo Orgler Variação semântica nas construções adverbiais temporais introduzidas por quando na língua portuguesa Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção
(1) por volta das 20:30h estava eu e minha amiga batendo papo na praça. (fnp42) 1
 ESTUDO DA VARIAÇÃO NA EXPRESSÃO DO PASSADO EM CURSO: UMA PERSPECTIVA SOCIOFUNCIONAL Josilene de Jesus Mendonça (UFS) Josilene-mendonca@hotmail.com 1. INTRODUÇÃO A língua é utilizada para manifestar experiências
ESTUDO DA VARIAÇÃO NA EXPRESSÃO DO PASSADO EM CURSO: UMA PERSPECTIVA SOCIOFUNCIONAL Josilene de Jesus Mendonça (UFS) Josilene-mendonca@hotmail.com 1. INTRODUÇÃO A língua é utilizada para manifestar experiências
1 Introdução. 1 CÂMARA JR., J.M, Estrutura da língua portuguesa, p Ibid. p. 88.
 1 Introdução A categoria tempo é um dos pontos mais complexos dos estudos em língua portuguesa. Por se tratar de um campo que envolve, sobretudo, conceitos igualmente complexos como semântica e interpretação
1 Introdução A categoria tempo é um dos pontos mais complexos dos estudos em língua portuguesa. Por se tratar de um campo que envolve, sobretudo, conceitos igualmente complexos como semântica e interpretação
Elisa Figueira de Souza Corrêa. Formas de tratamento de parentesco:
 Elisa Figueira de Souza Corrêa Formas de tratamento de parentesco: uma comparação entre o japonês e o português com aplicabilidade em Português como Segunda Língua para Estrangeiros (PL2E) Dissertação
Elisa Figueira de Souza Corrêa Formas de tratamento de parentesco: uma comparação entre o japonês e o português com aplicabilidade em Português como Segunda Língua para Estrangeiros (PL2E) Dissertação
Adriana Ferreira de Sousa de Albuquerque
 Adriana Ferreira de Sousa de Albuquerque A construção dos atos de negar em entrevistas televisivas: uma abordagem interdisciplinar do fenômeno em PLM com aplicabilidade em PLE TESE DE DOUTORADO DEPARTAMENTO
Adriana Ferreira de Sousa de Albuquerque A construção dos atos de negar em entrevistas televisivas: uma abordagem interdisciplinar do fenômeno em PLM com aplicabilidade em PLE TESE DE DOUTORADO DEPARTAMENTO
JULIANA REGINA PRETTO A NOTÍCIA SENSACIONALISTA COMO UM GÊNERO TEXTUAL
 JULIANA REGINA PRETTO A NOTÍCIA SENSACIONALISTA COMO UM GÊNERO TEXTUAL Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre. Curso de pós-graduação em Estudos Lingüísticos.
JULIANA REGINA PRETTO A NOTÍCIA SENSACIONALISTA COMO UM GÊNERO TEXTUAL Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre. Curso de pós-graduação em Estudos Lingüísticos.
Crime e Poupança: Teoria e Evidências para o Brasil
 Eduardo Zilberman Crime e Poupança: Teoria e Evidências para o Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre pelo Programa de Pós- Graduação
Eduardo Zilberman Crime e Poupança: Teoria e Evidências para o Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre pelo Programa de Pós- Graduação
Adriana Gibbon (Universidade Federal de Santa Catarina)
 A EXPRESSÃO DO TEMPO FUTURO NA LÌNGUA FALADA DE FLORIANÓPOLIS: VARIAÇÃO (THE EXPRESSION OF FUTURE TIME IN THE SPOKEN LANGUAGE OF FLORIANÓPOLIS: VARIATION) Adriana Gibbon (Universidade Federal de Santa
A EXPRESSÃO DO TEMPO FUTURO NA LÌNGUA FALADA DE FLORIANÓPOLIS: VARIAÇÃO (THE EXPRESSION OF FUTURE TIME IN THE SPOKEN LANGUAGE OF FLORIANÓPOLIS: VARIATION) Adriana Gibbon (Universidade Federal de Santa
Considerações sobre a flutuação no emprego do subjuntivo em contextos orais do Português do Brasil
 Jussara Regina Gonçalves Considerações sobre a flutuação no emprego do subjuntivo em contextos orais do Português do Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção
Jussara Regina Gonçalves Considerações sobre a flutuação no emprego do subjuntivo em contextos orais do Português do Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção
Cícero Bernardo Porto
 Cícero Bernardo Porto Pessoal e oficial ao mesmo tempo : espaços limítrofes no ambiente de trabalho na sociedade brasileira e o ensino de português como segunda língua para estrangeiros DISSERTAÇÃO DE
Cícero Bernardo Porto Pessoal e oficial ao mesmo tempo : espaços limítrofes no ambiente de trabalho na sociedade brasileira e o ensino de português como segunda língua para estrangeiros DISSERTAÇÃO DE
Aposentadoria e o Trade-off entre Renda e Lazer: Implicações para o Valor do Capital Humano de Funcionários Públicos
 Cecilia Caraciki Muruci Machado Aposentadoria e o Trade-off entre Renda e Lazer: Implicações para o Valor do Capital Humano de Funcionários Públicos Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como
Cecilia Caraciki Muruci Machado Aposentadoria e o Trade-off entre Renda e Lazer: Implicações para o Valor do Capital Humano de Funcionários Públicos Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como
Regysane Botelho Cutrim Alves. A crítica de traduções na teoria e na prática: o caso da Versão Brasileira. Dissertação de mestrado
 Regysane Botelho Cutrim Alves A crítica de traduções na teoria e na prática: o caso da Versão Brasileira Dissertação de mestrado Dissertação apresentada ao programa de Pós-graduação em Letras da PUC-Rio
Regysane Botelho Cutrim Alves A crítica de traduções na teoria e na prática: o caso da Versão Brasileira Dissertação de mestrado Dissertação apresentada ao programa de Pós-graduação em Letras da PUC-Rio
CORREÇÃO DE ATIVIDADES DO CADERNO FOLHA DE PERGUNTAS SOBRE OS TIPOS DE SUJEITOS
 OLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO 7º ano CORREÇÃO DE ATIVIDADES DO CADERNO FOLHA DE PERGUNTAS SOBRE OS TIPOS DE SUJEITOS 1) Quem é o sujeito de uma oração? Nas orações, o sujeito é um substantivo ou pronome com
OLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO 7º ano CORREÇÃO DE ATIVIDADES DO CADERNO FOLHA DE PERGUNTAS SOBRE OS TIPOS DE SUJEITOS 1) Quem é o sujeito de uma oração? Nas orações, o sujeito é um substantivo ou pronome com
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
 Luciana Pinto de Andrade Governança Corporativa dos Bancos no Brasil DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas Rio de Janeiro, junho de
Luciana Pinto de Andrade Governança Corporativa dos Bancos no Brasil DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas Rio de Janeiro, junho de
CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS - CIM: AVALIAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA
 CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS - CIM: AVALIAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS CIM: AVALIAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA DISSERTAÇÃO APRESENTADA
CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS - CIM: AVALIAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS CIM: AVALIAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA DISSERTAÇÃO APRESENTADA
Rita Simone Pereira Ramos. Subjetividade e identidade profissional: um estudo do eu na fala de atendentes de Centrais de Atendimento Telefônico
 Rita Simone Pereira Ramos Subjetividade e identidade profissional: um estudo do eu na fala de atendentes de Centrais de Atendimento Telefônico Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa
Rita Simone Pereira Ramos Subjetividade e identidade profissional: um estudo do eu na fala de atendentes de Centrais de Atendimento Telefônico Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa
ENTREVISTA USF CARUARU USUARIA DIABETES 14/07/14. R - não. Porque eu to deficiente. Eu trabalho m casa. Amputei a perna.
 ENTREVISTA USF CARUARU USUARIA DIABETES 14/07/14 P - por favor, me diga sua idade. R - 56. Vou fazer para o mês. P - a senhora estudou? R - estudei até a 3ª série. P - 3ª série. A senhora tem alguma ocupação,
ENTREVISTA USF CARUARU USUARIA DIABETES 14/07/14 P - por favor, me diga sua idade. R - 56. Vou fazer para o mês. P - a senhora estudou? R - estudei até a 3ª série. P - 3ª série. A senhora tem alguma ocupação,
Os Efeitos da Licença Maternidade sobre Salário e Emprego da Mulher no Brasil
 Sandro Sacchet de Carvalho Os Efeitos da Licença Maternidade sobre Salário e Emprego da Mulher no Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de
Sandro Sacchet de Carvalho Os Efeitos da Licença Maternidade sobre Salário e Emprego da Mulher no Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de
GILSON BARBOSA DOURADO
 CORREÇÃO DE VIÉS DO ESTIMADOR DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA PARA A FAMÍLIA EXPONENCIAL BIPARAMÉTRICA GILSON BARBOSA DOURADO Orientador: Klaus Leite Pinto Vasconcellos Área de concentração: Estatística Matemática
CORREÇÃO DE VIÉS DO ESTIMADOR DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA PARA A FAMÍLIA EXPONENCIAL BIPARAMÉTRICA GILSON BARBOSA DOURADO Orientador: Klaus Leite Pinto Vasconcellos Área de concentração: Estatística Matemática
AULA: MARCADORES CONVERSACIONAIS INTERACIONAIS
 AULA: MARCADORES CONVERSACIONAIS INTERACIONAIS 1. Preliminares Alguns desses marcadores podem ter a função concomitante de sequenciadores tópicos Grupos de marcadores interacionais aqui abordados o ah,
AULA: MARCADORES CONVERSACIONAIS INTERACIONAIS 1. Preliminares Alguns desses marcadores podem ter a função concomitante de sequenciadores tópicos Grupos de marcadores interacionais aqui abordados o ah,
ANOTAÇÃO SEMÂNTICO-DISCURSIVA DE VERBOS PARA O PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL: TRAÇOS ASPECTUAIS E MODAIS
 ANOTAÇÃO SEMÂNTICO-DISCURSIVA DE VERBOS PARA O PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL: TRAÇOS ASPECTUAIS E MODAIS Flávia Regina Evangelista Universidade Federal de Sergipe Rebeca Rodrigues de Santana Universidade
ANOTAÇÃO SEMÂNTICO-DISCURSIVA DE VERBOS PARA O PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL: TRAÇOS ASPECTUAIS E MODAIS Flávia Regina Evangelista Universidade Federal de Sergipe Rebeca Rodrigues de Santana Universidade
ANÁLISE DESCRITIVA DOS ASPECTOS SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS QUE PREJUDICAM A INTERCOMPREENSÃO DOS ALUNOS TIMORENSES DA UNILAB
 ANÁLISE DESCRITIVA DOS ASPECTOS SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS QUE PREJUDICAM A INTERCOMPREENSÃO DOS ALUNOS TIMORENSES DA UNILAB Marlene Arminda Quaresma JosÉ 1, Claúdia Ramos Carioca 2 RESUMO A maioria dos estudantes
ANÁLISE DESCRITIVA DOS ASPECTOS SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS QUE PREJUDICAM A INTERCOMPREENSÃO DOS ALUNOS TIMORENSES DA UNILAB Marlene Arminda Quaresma JosÉ 1, Claúdia Ramos Carioca 2 RESUMO A maioria dos estudantes
O Efeito Coorte e o Desenvolvimento das Preferências por Moda Feminina
 Christine dos Santos Pina O Efeito Coorte e o Desenvolvimento das Preferências por Moda Feminina Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo
Christine dos Santos Pina O Efeito Coorte e o Desenvolvimento das Preferências por Moda Feminina Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo
CAPÍTULO. Falares sergipanos INTRODUÇÃO. Raquel Meister Ko. Freitag
 6 CAPÍTULO Falares sergipanos Raquel Meister Ko. Freitag INTRODUÇÃO Do ponto de vista teórico, a documentação linguística está atrelada à perspectiva da Sociolinguística, campo dos estudos linguísticos
6 CAPÍTULO Falares sergipanos Raquel Meister Ko. Freitag INTRODUÇÃO Do ponto de vista teórico, a documentação linguística está atrelada à perspectiva da Sociolinguística, campo dos estudos linguísticos
Fusões e Aquisições - Geração de valor no Brasil: Um estudo de evento com base no período de 2003 a 2011
 Bruno Hermes da Fonseca da Costa Leite Fusões e Aquisições - Geração de valor no Brasil: Um estudo de evento com base no período de 2003 a 2011 Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa
Bruno Hermes da Fonseca da Costa Leite Fusões e Aquisições - Geração de valor no Brasil: Um estudo de evento com base no período de 2003 a 2011 Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa
Veredas atemática Volume 20 nº
 Veredas atemática Volume 20 nº 2 2016 ------------------------------------------------------------------------------- Efeitos de polidez na variação na primeira pessoa do plural Raquel Meister Ko. Freitag
Veredas atemática Volume 20 nº 2 2016 ------------------------------------------------------------------------------- Efeitos de polidez na variação na primeira pessoa do plural Raquel Meister Ko. Freitag
GRAMATICALIZAÇÃO DO PRONOME PESSOAL DE TERCEIRA PESSOA NA FUNÇÃO ACUSATIVA
 Página 133 de 511 GRAMATICALIZAÇÃO DO PRONOME PESSOAL DE TERCEIRA PESSOA NA FUNÇÃO ACUSATIVA Elizane de Souza Teles Silva Jodalmara Oliveira Rocha Teixeira Jorge Augusto Alves da Silva Valéria Viana Sousa
Página 133 de 511 GRAMATICALIZAÇÃO DO PRONOME PESSOAL DE TERCEIRA PESSOA NA FUNÇÃO ACUSATIVA Elizane de Souza Teles Silva Jodalmara Oliveira Rocha Teixeira Jorge Augusto Alves da Silva Valéria Viana Sousa
A SOCIOLINGUÍSTICA E O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA: UMA PROPOSTA BASEADA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS
 A SOCIOLINGUÍSTICA E O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA: UMA PROPOSTA BASEADA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS Fabiana Gonçalves de Lima Universidade Federal da Paraíba fabianalima1304@gmail.com INTRODUÇÃO
A SOCIOLINGUÍSTICA E O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA: UMA PROPOSTA BASEADA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS Fabiana Gonçalves de Lima Universidade Federal da Paraíba fabianalima1304@gmail.com INTRODUÇÃO
Debora Carvalho Capella. Um estudo descritivo do vocativo em linguagem oral para Português L2. Dissertação de Mestrado
 Debora Carvalho Capella Um estudo descritivo do vocativo em linguagem oral para Português L2 Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo
Debora Carvalho Capella Um estudo descritivo do vocativo em linguagem oral para Português L2 Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo
ADVÉRBIOS ASPECTUALIZADORES NO TEXTO DISSERTATIVO PRODUZIDO NA ESCOLA
 JOSÉLIA RIBEIRO ADVÉRBIOS ASPECTUALIZADORES NO TEXTO DISSERTATIVO PRODUZIDO NA ESCOLA Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Língüística, Curso de Pósgraduação em
JOSÉLIA RIBEIRO ADVÉRBIOS ASPECTUALIZADORES NO TEXTO DISSERTATIVO PRODUZIDO NA ESCOLA Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Língüística, Curso de Pósgraduação em
Juliana da Silva Neto
 Juliana da Silva Neto "Vai que...": Estruturas alternativas ao período hipotético eventual com o futuro do subjuntivo: uma contribuição para o ensino de português como segunda língua para estrangeiros
Juliana da Silva Neto "Vai que...": Estruturas alternativas ao período hipotético eventual com o futuro do subjuntivo: uma contribuição para o ensino de português como segunda língua para estrangeiros
Uma investigação reflexiva sobre uma abordagem de ensino-aprendizagem baseada em gêneros discursivos: o caso de turma 601
 Mayara Alves Maia Uma investigação reflexiva sobre uma abordagem de ensino-aprendizagem baseada em gêneros discursivos: o caso de turma 601 Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito
Mayara Alves Maia Uma investigação reflexiva sobre uma abordagem de ensino-aprendizagem baseada em gêneros discursivos: o caso de turma 601 Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito
CRIAÇÃO LEXICAL: O USO DE NEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS FALADO EM DOURADOS
 CRIAÇÃO LEXICAL: O USO DE NEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS FALADO EM DOURADOS Paulo Gerson Rodrigues Stefanello ¹; Elza Sabino da Silva Bueno². ¹Aluno do 4º ano do Curso de Letras Português/Espanhol. Bolsista
CRIAÇÃO LEXICAL: O USO DE NEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS FALADO EM DOURADOS Paulo Gerson Rodrigues Stefanello ¹; Elza Sabino da Silva Bueno². ¹Aluno do 4º ano do Curso de Letras Português/Espanhol. Bolsista
INVESTIGAÇÃO FARMACOEPIDEMIOLÓGICA DO USO DO CLONAZEPAM NO DISTRITO SANITÁRIO LESTE EM NATAL-RN
 RODRIGO DOS SANTOS DINIZ DISSERTAÇÃO A SER APRESENTADA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, COMO PARTE DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE. Rodrigo dos Santos Diniz Orientadora:
RODRIGO DOS SANTOS DINIZ DISSERTAÇÃO A SER APRESENTADA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, COMO PARTE DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE. Rodrigo dos Santos Diniz Orientadora:
INTRODUÇÃO. ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) Nível A2
 APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) Nível A2 INTRODUÇÃO O Português Língua Não Materna (PLNM) constitui uma componente
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) Nível A2 INTRODUÇÃO O Português Língua Não Materna (PLNM) constitui uma componente
METODOLOGIA DE COLETA E MANIPULAÇÃO DE DADOS EM SOCIOLINGUÍSTICA
 Raquel Meister Ko. Freitag organizadora METODOLOGIA DE COLETA E MANIPULAÇÃO DE DADOS EM SOCIOLINGUÍSTICA Metodologia de Coleta e Manipulação de Dados em Sociolinguística 2014 Raquel Meister Ko. Freitag
Raquel Meister Ko. Freitag organizadora METODOLOGIA DE COLETA E MANIPULAÇÃO DE DADOS EM SOCIOLINGUÍSTICA Metodologia de Coleta e Manipulação de Dados em Sociolinguística 2014 Raquel Meister Ko. Freitag
VARIAÇÃO NÓS E A GENTE NA FALA CULTA DA CIDADE DE MACEIÓ/AL
 VARIAÇÃO NÓS E A GENTE NA FALA CULTA DA CIDADE DE MACEIÓ/AL Elyne Giselle de Santana Lima Aguiar Vitório 1 RESUMO Analisamos a variação nós e a gente na posição de sujeito na fala culta da cidade de Maceió.
VARIAÇÃO NÓS E A GENTE NA FALA CULTA DA CIDADE DE MACEIÓ/AL Elyne Giselle de Santana Lima Aguiar Vitório 1 RESUMO Analisamos a variação nós e a gente na posição de sujeito na fala culta da cidade de Maceió.
SANTOS, Leonor Werneck. RICHE, Rosa Cuba. TEIXEIRA, Claudia Souza. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012.
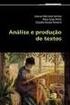 Resenhas 112 SANTOS, Leonor Werneck. RICHE, Rosa Cuba. TEIXEIRA, Claudia Souza. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012. Fernanda Cristina Ferreira* nandacferreira@hotmail.coml * Aluna
Resenhas 112 SANTOS, Leonor Werneck. RICHE, Rosa Cuba. TEIXEIRA, Claudia Souza. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012. Fernanda Cristina Ferreira* nandacferreira@hotmail.coml * Aluna
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA - CAEN MESTRADO EM ECONOMIA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA - CAEN MESTRADO EM ECONOMIA RAFAEL CARNEIRO DA COSTA A RELAÇÃO ENTRE RECEITAS E DESPESAS NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS: UMA ANÁLISE SOB
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA - CAEN MESTRADO EM ECONOMIA RAFAEL CARNEIRO DA COSTA A RELAÇÃO ENTRE RECEITAS E DESPESAS NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS: UMA ANÁLISE SOB
PROPOSTA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA E ENSINO: METODOLOGIA PROPOSTA NOS LIVROS DIDÁTICOS. 1
 PROPOSTA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA E ENSINO: METODOLOGIA PROPOSTA NOS LIVROS DIDÁTICOS. 1 SOUSA, Isabelle Guedes da Silva PÓS-LE UFCG isaguedessilva@gmail.com MOURA, Lucielma de Oliveira Batista Magalhães
PROPOSTA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA E ENSINO: METODOLOGIA PROPOSTA NOS LIVROS DIDÁTICOS. 1 SOUSA, Isabelle Guedes da Silva PÓS-LE UFCG isaguedessilva@gmail.com MOURA, Lucielma de Oliveira Batista Magalhães
FUNÇÃO SÓCIO-COMUNICATIVA DOS VERBOS A PARTIR DO ESTUDO DA METÁFORA TEMPORAL 1
 171 de 368 FUNÇÃO SÓCIO-COMUNICATIVA DOS VERBOS A PARTIR DO ESTUDO DA METÁFORA TEMPORAL 1 Aline Maria dos Santos * (UESC) Maria D Ajuda Alomba Ribeiro ** (UESC) RESUMO essa pesquisa tem por objetivo analisar
171 de 368 FUNÇÃO SÓCIO-COMUNICATIVA DOS VERBOS A PARTIR DO ESTUDO DA METÁFORA TEMPORAL 1 Aline Maria dos Santos * (UESC) Maria D Ajuda Alomba Ribeiro ** (UESC) RESUMO essa pesquisa tem por objetivo analisar
As transformações do samba-enredo carioca: entre a crise e a polêmica
 Antonio Henrique de Castilho Gomes As transformações do samba-enredo carioca: entre a crise e a polêmica Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de
Antonio Henrique de Castilho Gomes As transformações do samba-enredo carioca: entre a crise e a polêmica Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de
Imagens do brasileiro construídas pelo estrangeiro: dos estereótipos nas expressões qualificativas
 Larissa Santiago de Sousa Imagens do brasileiro construídas pelo estrangeiro: dos estereótipos nas expressões qualificativas TESE DE DOUTORADO Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras do
Larissa Santiago de Sousa Imagens do brasileiro construídas pelo estrangeiro: dos estereótipos nas expressões qualificativas TESE DE DOUTORADO Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras do
Liquidez e Formação de Preço: Evidência do mercado acionário brasileiro
 Marcos Martins Pinheiro Liquidez e Formação de Preço: Evidência do mercado acionário brasileiro Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre
Marcos Martins Pinheiro Liquidez e Formação de Preço: Evidência do mercado acionário brasileiro Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre
Henrique Bauer. Dissertação de Mestrado
 Henrique Bauer Cones de assimetria e curtose no mercado brasileiro de opções de compra de ações: uma análise dos cones de volatilidade perante a volatilidade implícita calculada pelos modelos de Corrado-Su
Henrique Bauer Cones de assimetria e curtose no mercado brasileiro de opções de compra de ações: uma análise dos cones de volatilidade perante a volatilidade implícita calculada pelos modelos de Corrado-Su
A ORALIDADE E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
 A ORALIDADE E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Maria de Fátima de Souza Aquino (UEPB) 1. Introdução Nas últimas décadas os estudos sobre a oralidade têm avançado significativamente,
A ORALIDADE E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Maria de Fátima de Souza Aquino (UEPB) 1. Introdução Nas últimas décadas os estudos sobre a oralidade têm avançado significativamente,
1 NÓS/A GENTE: RELAÇÕES DE GÊNERO E ESCOLARIDADE EM COMUNIDADES DE PRÁTICAS SERGIPANAS
 1 NÓS/A GENTE: RELAÇÕES DE GÊNERO E ESCOLARIDADE EM COMUNIDADES DE PRÁTICAS SERGIPANAS Introdução 1 Cristiane Conceição de Santana (UFS) criscc.santana@gmail.com Este trabalho se insere na área da Sociolinguística
1 NÓS/A GENTE: RELAÇÕES DE GÊNERO E ESCOLARIDADE EM COMUNIDADES DE PRÁTICAS SERGIPANAS Introdução 1 Cristiane Conceição de Santana (UFS) criscc.santana@gmail.com Este trabalho se insere na área da Sociolinguística
EFEITO DA ESTIMULAÇÃO VESTIBULAR NO PERFIL SENSORIAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO ALEATORIZADO
 1 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UnB FACULDADE DE CEILÂNDIA-FCE CURSO DE FISIOTERAPIA YASMIN SANTANA MAGALHÃES EFEITO DA ESTIMULAÇÃO VESTIBULAR NO PERFIL SENSORIAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL: ENSAIO
1 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UnB FACULDADE DE CEILÂNDIA-FCE CURSO DE FISIOTERAPIA YASMIN SANTANA MAGALHÃES EFEITO DA ESTIMULAÇÃO VESTIBULAR NO PERFIL SENSORIAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL: ENSAIO
Universidade Federal do Rio de Janeiro Faculdade de Letras Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa DO TRATAMENTO FORMAL DA FALA CONECTADA EM FRANCÊS
 Universidade Federal do Rio de Janeiro Faculdade de Letras Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa DO TRATAMENTO FORMAL DA FALA CONECTADA EM FRANCÊS por RICARDO ARAUJO FERREIRA SOARES Tese de Doutorado apresentada
Universidade Federal do Rio de Janeiro Faculdade de Letras Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa DO TRATAMENTO FORMAL DA FALA CONECTADA EM FRANCÊS por RICARDO ARAUJO FERREIRA SOARES Tese de Doutorado apresentada
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
 APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS JULHO DE 2018 ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) Nível A2 INTRODUÇÃO O Português Língua Não Materna (PLNM)
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS JULHO DE 2018 ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) Nível A2 INTRODUÇÃO O Português Língua Não Materna (PLNM)
INTRODUÇÃO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS
 APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) INTRODUÇÃO O Português Língua Não Materna (PLNM) constitui um espaço curricular
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) INTRODUÇÃO O Português Língua Não Materna (PLNM) constitui um espaço curricular
Instrumentos da pesquisa
 Instrumentos da pesquisa Introdução A pesquisa envolve diversos mecanismos para sua realização, desde a escolha do tema aos resultados, o seu processo de desenvolvimento necessita de certos instrumentos
Instrumentos da pesquisa Introdução A pesquisa envolve diversos mecanismos para sua realização, desde a escolha do tema aos resultados, o seu processo de desenvolvimento necessita de certos instrumentos
AULA 1: A DICOTOMIA LÍNGUA FALADA / LÍNGUA ESCRITA
 AULA 1: A DICOTOMIA LÍNGUA FALADA / LÍNGUA ESCRITA 1. Ilari & Basso (2009) Variação diamésica: variação da língua associada aos diferentes meios ou veículos 1 Língua falada e língua escrita Há diferença?
AULA 1: A DICOTOMIA LÍNGUA FALADA / LÍNGUA ESCRITA 1. Ilari & Basso (2009) Variação diamésica: variação da língua associada aos diferentes meios ou veículos 1 Língua falada e língua escrita Há diferença?
Alberto Santos Junqueira de Oliveira. Essa vez que não chega: fila e drama social no Brasil. Dissertação de Mestrado
 Alberto Santos Junqueira de Oliveira Essa vez que não chega: fila e drama social no Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa
Alberto Santos Junqueira de Oliveira Essa vez que não chega: fila e drama social no Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa
Metodologia Científica. Construindo Saberes
 Metodologia Científica Construindo Saberes Trabalho com Projetos A pesquisa promove saberes Estímulo ao desenvolvimento da ciência Construção e busca por novos conhecimentos Buscar novos horizontes Desenvolvimento
Metodologia Científica Construindo Saberes Trabalho com Projetos A pesquisa promove saberes Estímulo ao desenvolvimento da ciência Construção e busca por novos conhecimentos Buscar novos horizontes Desenvolvimento
Débora Bogéa da Costa Tayt-son
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO COPPEAD DE ADMINISTRAÇÃO Débora Bogéa da Costa Tayt-son CRIAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE VALOR EM PRÁTICAS DE CONSUMO DO SOL Rio de Janeiro 2018 Débora Bogéa da
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO COPPEAD DE ADMINISTRAÇÃO Débora Bogéa da Costa Tayt-son CRIAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE VALOR EM PRÁTICAS DE CONSUMO DO SOL Rio de Janeiro 2018 Débora Bogéa da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO PLANO DE ENSINO
 PLANO DE ENSINO DISCIPLINA: Ensino de Língua Materna (Licenciatura) CÓDIGO: LLE9103 CARGA HORÁRIA: 60 horas PROFESSORA: Carolina Pêgo EMENTA DA DISCIPLINA: Ensino operacional e reflexivo da linguagem.
PLANO DE ENSINO DISCIPLINA: Ensino de Língua Materna (Licenciatura) CÓDIGO: LLE9103 CARGA HORÁRIA: 60 horas PROFESSORA: Carolina Pêgo EMENTA DA DISCIPLINA: Ensino operacional e reflexivo da linguagem.
Imagine, não precisava... ou rituais de agradecimento no português do Brasil com aplicabilidade em português como segunda língua para estrangeiros
 Maristela dos Reis Sathler Gripp Imagine, não precisava... ou rituais de agradecimento no português do Brasil com aplicabilidade em português como segunda língua para estrangeiros Dissertação de Mestrado
Maristela dos Reis Sathler Gripp Imagine, não precisava... ou rituais de agradecimento no português do Brasil com aplicabilidade em português como segunda língua para estrangeiros Dissertação de Mestrado
Iam Vita Jabour. O Impacto de Atributos Estruturais na Identificação de Tabelas e Listas em Documentos HTML. Dissertação de Mestrado
 Iam Vita Jabour O Impacto de Atributos Estruturais na Identificação de Tabelas e Listas em Documentos HTML Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de
Iam Vita Jabour O Impacto de Atributos Estruturais na Identificação de Tabelas e Listas em Documentos HTML Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de
Rolezinho Linguístico
 Escola de Linguística de Outono 2018 Prefácio Olá! Seja bem-vindo à VII Escola de Linguística de Outono da Olimpíada Brasileira de Linguística, edição Mărgele! Esta é a primeira das três atividades olímpicas
Escola de Linguística de Outono 2018 Prefácio Olá! Seja bem-vindo à VII Escola de Linguística de Outono da Olimpíada Brasileira de Linguística, edição Mărgele! Esta é a primeira das três atividades olímpicas
COLEGIADO DE ENFERMAGEM
 INSTITUTO FORMAÇÃO COLEGIADO DE ENFERMAGEM 14 NOME 14 TÍTULO: subtítulo 16 BARRA DA ESTIVA 2015 14 NOME 14 TÍTULO: subtítulo 16 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Colegiado do Curso Técnico
INSTITUTO FORMAÇÃO COLEGIADO DE ENFERMAGEM 14 NOME 14 TÍTULO: subtítulo 16 BARRA DA ESTIVA 2015 14 NOME 14 TÍTULO: subtítulo 16 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Colegiado do Curso Técnico
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa Stricto Sensu Mestrado em Planejamento e Gestão Ambiental
 Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa Stricto Sensu Mestrado em Planejamento e Gestão Ambiental Avaliação Ambiental nos Hotéis de Brasília Selecionados pela FIFA para a Copa de 2014 Autora: Maialú Ferreira
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa Stricto Sensu Mestrado em Planejamento e Gestão Ambiental Avaliação Ambiental nos Hotéis de Brasília Selecionados pela FIFA para a Copa de 2014 Autora: Maialú Ferreira
A ORDEM DE PALAVRAS NO PORTUGUÊS, de EROTILDE GORETI PEZATTI
 LIVRO RESENHADO PEZATTI, EROTILDE GORETI. A ORDEM DE PALAVRAS NO PORTUGUÊS. SÃO PAULO: PARÁBOLA, 2014. 144 P. A ORDEM DE PALAVRAS NO PORTUGUÊS, de EROTILDE GORETI PEZATTI Dennis Castanheira Mestrando em
LIVRO RESENHADO PEZATTI, EROTILDE GORETI. A ORDEM DE PALAVRAS NO PORTUGUÊS. SÃO PAULO: PARÁBOLA, 2014. 144 P. A ORDEM DE PALAVRAS NO PORTUGUÊS, de EROTILDE GORETI PEZATTI Dennis Castanheira Mestrando em
5 A pesquisa de campo
 58 5 A pesquisa de campo Neste capítulo, apresenta-se a pesquisa qualitativa realizada junto a 9 mães, investigando, a partir das várias transformações pelas quais elas passaram, as representações que
58 5 A pesquisa de campo Neste capítulo, apresenta-se a pesquisa qualitativa realizada junto a 9 mães, investigando, a partir das várias transformações pelas quais elas passaram, as representações que
