3 Metodologia 3.1 Fosforimetria
|
|
|
- Ayrton Mota Benevides
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 3 Metodologia 3.1 Fosforimetria As moléculas no estado excitado têm um tempo de vida finito, sendo assim, um conjunto de moléculas que se encontre eletronicamente excitado tende a retornar ao estado eletrônico fundamental com a subseqüente liberação da energia. A liberação de energia pode se dar na forma de calor ou por emissão de radiação eletromagnética. No caso de excitação por absorção de fóton seguido de emissão de radiação eletromagnética na região do ultravioleta-visível (UV-vis), o processo será chamado de fluorescência quando houver conservação do spin eletrônico (estado excitado singlete, S n ), e de fosforescência quando o spin do elétron for alterado durante o tempo que a molécula permanece no estado excitado (estado excitado triplete, T n ). Tanto a intensidade de emissão quanto o tempo de vida de uma molécula eletronicamente excitada são afetados por uma série de fatores, tais como taxa de decaimento radiativo, taxa de decaimento não-radiativo, desativações colisionais, interações com o meio entre outros. Assim, dos vários fenômenos que se seguem à exposição de uma molécula orgânica insaturada à radiação eletromagnética, são de especial interesse neste trabalho, os fenômenos fotoluminescentes e, mais especificamente, a fosforescência (SCHULMAN,1977). Na ausência de energia de excitação, as moléculas se encontram em um estado de equilíbrio populando os mais baixos níveis de energia vibracional e rotacional do estado singleto fundamental S o. Ao absorver energia, a molécula pode passar a popular um nível vibracional e rotacional de algum estado eletrônico singleto excitado de mais alta energia, S n. O excesso de energia vibracional adquirido neste processo é perdido por choques com outras moléculas que a circundam. Este processo não-radiativo de desativação da molécula é conhecido como relaxamento vibracional (RV) e ocorre quase que
2 39 imediatamente (10-13 a s) após a incidência da radiação de excitação (SCHULMAN, 1977; VO-DIHN, 1994). Ao atingir o mais baixo nível vibracional do estado eletrônico excitado ocorre um fenômeno conhecido como conversão interna (CI). Neste processo, a molécula perde energia até atingir o nível vibracional de maior energia de um estado eletrônico de mesma multiplicidade e de energia mais baixa do que o estado anterior. Sucessivas combinações de RV e de CI podem levar a molécula ao estado eletrônico singleto excitado de mais baixa energia, S 1. O estado fundamental S 0 pode ser atingido a partir do estado S 1 por CI, não havendo, neste caso, emissão de radiação. Entretanto, se a diferença de energia entre S 1 e S o for muito grande, a probabilidade de que a CI ocorra é muito pequena. Neste caso, segundo a regra de Kasha, a desativação se dá pela emissão de radiação ultravioleta (UV) ou visível, sendo isso definido pela diferença de energia entre os estados S 1 e S 0. Tal processo de desativação radiativa do estado S 1 é conhecido por fluorescência molecular e ocorre em um tempo de 10-7 a s após a incidência da radiação de excitação (YEN BOWER, 1978; SCHULMAN, 1977). Ainda no estado excitado S 1, pode ocorrer um fenômeno conhecido por conversão intersistema (CIS), que resulta da superposição das energias do mais baixo nível vibracional do estado S 1 com os níveis vibracionais mais altos de algum estado tripleto excitado, T n. Este tipo de transição, entre níveis eletrônicos de multiplicidades diferentes, envolve a inversão de spin eletrônico e é proibida segundo as regras quânticas de seleção. Isto implica em baixa probabilidade de ocorrer e longa duração (10-8 s). No entanto, em condições especiais, o CIS pode vir a ser eficiente. Uma vez no estado T n, a molécula alcança o nível de menor energia vibracional do mais baixo estado eletrônico tripleto excitado, T 1, por meio de sucessivos RV e CI. Neste estado, a molécula pode ser desativada por meio de sucessivas CI ou pode passar diretamente do estado T 1 para o estado S 0, emitindo radiação. Tal processo de emissão caracteriza o fenômeno da fosforescência (P), o qual difere da fluorescência pelo tempo de vida mais longo (10-3 a 10 s) e pela posição do pico de emissão máxima, localizado em regiões de maior comprimento de onda (menor energia). A luminescência é intrínseca em muitas moléculas, principalmente moléculas orgânicas com sistema conjugado de elétrons π, sistema este característico de vários componentes do petróleo e de seus derivados. Uma molécula será significativamente luminescente se sua eficiência quântica fluorescente (φ F ) ou fosforescente (φ P ) tiver magnitude considerável. As φ F e φ P
3 40 são definidas pela razão entre o número de fótons emitidos por fluorescência ou fosforescência e o número de fótons absorvidos pela molécula. Assim moléculas com φ F ou φ P entre 0,1 e 1,0 têm luminescência suficientemente intensa para uso analítico. A magnitude de φ F e φ P depende tanto da estrutura da molécula quanto do meio onde ela se encontra. Estruturas moleculares rígidas (com restrições de liberdade vibracional) ou moléculas enrijecidas com o uso de algum artifício experimental têm os processos de desativação não-radiativa significativamente minimizado, com conseqüente aumento de φ F, e mais proeminentemente, do φ P (pois, por ser a fosforescência um fenômeno com tempo de vida mais longo, perde em competitividade para os processos nãoradiativos de tempo de vida mais curto). Assim, enrijecimento em substratos sólidos, meio criogênico ou meio organizado (meio micelar, por exemplo) têm sido de grande utilidade para a indução ou aumento da magnitude da luminescência. Em particular, os substratos sólidos vêm adquirindo importância pela praticidade, pelo baixo custo, pela facilidade de operação e por permitir a observação desse fenômeno na temperatura ambiente. As interações do analito com o substrato sólido (papel de celulose, sílica gel, etc) são bastante distintas das observadas em solução, podendo oferecer grande proteção do estado excitado e induzir sinal luminescente de moléculas que, em outras condições, não emitiriam sinal. A luminescência pode também ser induzida em moléculas naturalmente não-luminescentes através de reações com agentes oxidantes e redutores (DE BARROS ALCANFÔR, 1994), derivação química com agentes fluorogênicos ou fosfogênicos (LI, 1994), formação de quelatos com íons de terras raras (transferência de energia obtendo fluorescência amplificada característica do íon) (SOINI, 1987; PERRY, 1990) e após reações ácido-base ou tratamento fotoquímico com UV (HURTUBISE, 1990). Parâmetros, tais como ph e sistema de solventes, podem ser críticos na maximização da razão sinal do analito-sinal de fundo (S/N). No caso específico da fosforescência, o uso de íons de átomos pesados (Pb +2, Tl +, I, - Hg 2, +2, etc) pode induzir, alterar ou aumentar o sinal fosforescente em algumas ordens de magnitude (VO-DINH, 1976). A Fosforimetria a Baixa Temperatura consiste basicamente na medição do sinal fosforescente de soluções mantidas a 77K. Utiliza-se para tal finalidade N 2 líquido. A rigidez do cristal formado minimiza a mobilidade das moléculas do analito e, por conseguinte, a desativação colisional (YEN-BOWER, 1978). Na maioria dos casos, o intenso sinal fosforescente permite a detecção de
4 41 concentrações da ordem de 10-9 mol L -1 de analito. Como conseqüência destes baixos limites de detecção, as curvas analíticas podem apresentar intervalos lineares com 4 a 6 ordens de magnitude. Por outro lado, o estreitamento das bandas fosforescentes observadas a 77K permite razoável resolução espectral e considerável seletividade. Infelizmente, a fosforimetria a 77K apresenta sérias desvantagens do ponto de vista experimental (YEN-BOWER, 1978). Além do custo envolvido e do grande tempo despendido, a precisão das análises depende, em parte, da homogeneidade e transparência do cristal formado pela solução do analito. Cristais rachados ou opacos aumentam o espalhamento da radiação de excitação e de emissão, deteriorando, consequentemente, a precisão das medições. Uma alternativa às análises a 77K é a fosforimetria a temperatura ambiente em superfície sólida (SSRTP). Em comparação com as medições a 77K, o procedimento experimental na temperatura ambiente se mostra extremamente simples e de baixo custo. Dependendo do analito, da superficie sólida e das condições experimentais, limites de detecção absolutos da ordem de picogramas podem ser alcançados. No papel, o analito é imobilizado por dois mecanismos. Primeiro, pela interação (ligações de hidrogênio) entre os grupos hidroxila da celulose com os elétrons π ou outros grupos eletronegativos da molécula do analito. A segunda interação importante é o encapsulamento físico das moléculas do analito nos poros do substrato de papel. Esses dois mecanismos dão a rigidez necessária para permitir o aumento da eficiência quântica fosforescente de analitos de várias classes químicas. As duas principais desvantagens do substrato de papel são o seu relativo alto sinal de fundo e a necessidade do uso de fluxo de gás inerte direcionada para amostra, cujo objetivo é a eliminação do oxigênio do ambiente. Outra maneira de se observar fosforescência a temperatura ambiente é através da proteção da molécula do analito no interior de uma micela produzida pela presença de um surfactante em solução. A fosforimetria a temperatura ambiente em solução micelar (MRTP) é melhor observada com a utilização do efeito externo do átomo pesado (HAE), sendo necessária a retirada do oxigênio da solução de interesse, já que este último contribui para a desativação do fenômeno. O aumento da eficiência da emissão fosforescente pode ser promovido pelo efeito HAE. Alguns autores (YEN-BOWER, 1978) têm explicado este efeito pela teoria do acoplamento spin-orbital, onde o movimento orbital dos elétrons
5 42 gera um campo magnético que desvia o momento angular do spin dos elétrons do analito, dando um caráter triplete à molécula que se encontra no estado singlete, o que diminui o caráter proibitivo da transição entre estados de diferentes multiplicidades. Desta forma, o átomo pesado favorece este acoplamento, provocando um aumento da população do estado T 1 responsável pela emissão fosforescente. O efeito do átomo pesado é conhecido por efeito interno do átomo pesado (no caso da molécula fosforescente conter um heteroátomo, em geral enxofre, nitrogênio ou halogênio em sua estrutura) ou efeito externo do átomo pesado (no caso de o átomo pesado ser originário de alguma outra molécula introduzida na matriz do analito). Na técnica de SSRTP o efeito mais utilizado é o efeito externo do átomo pesado (YEN-BOWER, 1978), que consiste na adição de espécies químicas contendo átomos de massa molecular elevada na matriz onde a molécula de interesse se encontra. Da especificidade da ação do átomo pesado (aumento ou redução do sinal fosforescente e/ou deslocamento da banda de emissão) sobre o sinal da molécula do analito, derivou-se a técnica conhecida por Perturbação Seletiva do Átomo Pesado (SPHA). A técnica consiste, basicamente, no aumento seletivo que um átomo pesado pode provocar no sinal fosforescente de um componente específico, aspecto este interessante do ponto de vista da determinação de compostos de interesse em misturas complexas sem a necessidade de etapas prévias de separação. Em estudos realizados através da espectroscopia de raio-x, ANDINO e colaboradores (ANDINO,1986) demonstraram que superfície do papel cromatográfico ou de filtro, comumente utilizado como substrato sólido na SSRTP, é áspera, irregular e repleta de interstícios entre as fibras de celulose. Esta característica proporciona proteção às moléculas do analito da presença de espécies desativadoras e evita a penetração das moléculas do analito e/ou do átomo pesado em camadas mais internas do substrato, o que dificulta a excitação do analito e compromete a sensibilidade da técnica. Com base nestes resultados de LIMA e colaboradores (DE LIMA, 1986) propuseram a utilização de um agente surfactante para modificar a superfície da celulose (preenchimento dos interstícios existentes entre as fibras) e evitar uma maior penetração indesejada do analito e do átomo pesado no interior do papel, aumentando assim, o contato entre o átomo pesado e o analito. Além disto, os autores sugerem que a presença de surfactante proveria novos sítios para interação da molécula de interesse com o substrato e aumentaria a rigidez do
6 43 analito no suporte sólido. Os estudos foram conduzidos na presença de dodecil (lauril) sulfato de sódio (SDS) e DS - (dodecil sulfato) contendo Ag + ou TI + como contra-íons. Na presença de NaDS, a intensidade fosforescente do analito foi 1,6 vezes maior, enquanto que na presença de TlDS ou AgDS, um considerável aumento (10 vezes) pode ser observado quando comparado ao sinal observado do analito apenas na presença dos nitratos desses dói metais. Pelo que foi exposto até o momento, fica claro que a natureza da molécula de interesse desempenha papel fundamental na emissão fosforescente. Sendo assim, a mudança da natureza química do analito ou do meio que o envolve, provocada por mudanças no ph, pode se constituir numa ferramenta importante para o incremento do sinal fluorescente ou fosforescente. Vários trabalhos tratando da influência do ph na eficiência de emissão luminescente têm sido desenvolvidos (HURTUBISE, 1981; CARDOSO; MARTINS; AUCÉLIO, 2004; CARDOSO et al., 2004). Segundo os autores, os resultados obtidos sugerem a necessidade de se fazer escolhas apropriadas e parâmetros experimentais, especialmente o ph, a fim de se aumentar a eficiência dos processos luminescentes envolvidos. De LIMA e NICOLA (1978) também estudaram o efeito do ph nas determinações fosforimétricas por SSTRP. A determinação por SSRTP em papel cromatográfico de derivados de 1,8-naftol foi feita a diversos ph pela adição de concentrações variadas de NaOH à solução de análise. Curvas de intensidade fosforescente em função da concentração de base, mostraram que, para certos compostos, existia um intervalo de concentração de NaOH para o qual o sinal fosforescente era máximo. Com base nestas observações, e considerando o fato de que para outros compostos a adição de base reduzia o sinal fosforescente, os autores sugeriram a manipulação adequada deste parâmetro para determinações seletivas em misturas complexas de analitos. Em uma outra abordagem, o tratamento fotoquímico de analitos de interesse pode gerar fotoprodutos com maior eficiência quântica fosforescente, implicando no aumento de sinal (ARRUDA; AUCÉLIO, 2002). O tratamento fotoquímico pode, também, promover mudanças espectrais significativas, caso produza alguma mudança na estrutura da molécula irradiada ou ainda, eliminar o sinal luminescente do composto, o que pode ser interessante na eliminação de interferências (CARDOSO et. al. 2003). Embora a existência de comprimentos máximos de excitação e emissão proporcione certa seletividade à técnica fosforimétrica, a análise de compostos concomitantes com estrutura molecular semelhante geralmente requer etapa(s)
7 44 prévia(s) de separação (YEN-BOWER; WINEFORDNER, 1978). É o caso dos tiofenos estudados neste trabalho (Tabela 1) cuja análise, na maioria das vezes, sofre interferência espectral. Como as etapas de separação dificultam o procedimento experimental, aumentam o tempo e o custo da análise, a seletividade das determinações fosforimétricas pode ser melhorada através da varredura simultânea dos monocromadores de excitação e emissão. Assim, os monocromadores de excitação e de emissão são acionados simultaneamente, mantendo-se constante a diferença entre os máximos de excitação e de emissão ( λ) durante a obtenção do espectro. A seleção do λ depende das energias dos estados S 1 e S 0 do luminóforo. Se o valor de λ for menor ou igual à diferença de energia entre S 1 e S 0, a emissão fosforescente é observada. A maior intensidade do sinal emitido é obtida quando o λ é igual à diferença λ emissão máximo. - λ excitação máximo.. Como a diferença entre os estados S 1 e S 0 é um parâmetro intrínseco da molécula, a escolha apropriada do λ fornece um parâmetro adicional de diferenciação entre os compostos de interesse. 3.2 Varredura de fosforescência total (TSP) A representação de dados no espaço é essencial em diversas áreas das ciências, principalmente nas ciências naturais e seu uso é extensivo em agronomia, biologia, ecologia, geografia, geologia, metereologia e química, entre outras. Assim, uma alternativa para maior discriminação das informações contidas nos espectros, normalmente traçados em duas dimensões (intensidade de sinal versus comprimento de onda), tem sido o tratamento desse conjunto de valores que, após normalização em uma matriz de dados adequada, pode ser convertida em uma imagem em três dimensões, mais rica em detalhes. O primeiro passo em qualquer estudo espacial é a definição do delineamento experimental, que envolve, entre outros procedimentos, a escolha da técnica de coleta de amostras e também da malha de amostragem. Neste caso (TSP), a amostragem é feita em cada ponto do espectro de emissão fosforescente obtido. A visualização da imagem então pode se dar pela projeção da superfície, na qual podem ser alterados os ângulos de projeção e rotação (espectros 3D) ou ainda, através de um mapa de contorno, plotado em duas dimensões, no qual são unidos os pontos de intensidades iguais.
8 45 Adicionalmente, podem ser gerados cortes verticais e horizontais dos espectros 3D, detalhando apenas uma determinada área de interesse. O 3D Viewer da Perkin Elmer acompanha o pacote de programas FL Winlab do LS-55 e pode ser utilizado para a confecção de mapas de variáveis a partir de dados espacialmente distribuídos. É uma importante ferramenta, menos subjetiva por usar algoritmos matemáticos para gerar as curvas. Um mapa é construído usando-se a posição espacial de um determinado ponto e o valor correspondente à variável medida, seja qual for sua natureza, normalmente representados pelos valores X, Y e Z. Assim, as coordenadas são os valores X, posição do ponto no eixo da ordenada leste-oeste, e Y, posição na abscissa norte-sul, e Z é o valor observado da variável nesse ponto (LANDIM, 2000). Após a criação da malha de pontos, define-se a apresentação desses resultados. Comumente utiliza-se um mapa de contorno (também chamado de curva de nível), mas pode-se optar por uma superfície 3D, uma imagem sombreada e outras opções gráficas. Segundo LANDIM (2000), linhas de contorno são curvas que conectam pontos da superfície com mesmo valor de elevação (neste caso, intensidade de emissão fosforescente em unidades arbitrárias). As linhas de contorno podem ser determinadas a partir de interseções da superfície com planos horizontais. A projeção dessas interseções no plano XY define as curvas de contorno. Partindo-se do pressuposto que a superfície representada é uma função matemática definida no espaço XY, as linhas de contorno apresentam a propriedade de nunca se cruzarem. Existem, basicamente, 2 métodos de geração de mapas de contornos a partir do modelo de grade: o método seguidor de linhas e o método de segmentos. O método seguidor de linhas é um método que gera cada linha de contorno em um único passo. Por esse método procura-se um segmento que pertence a uma curva de contorno. Os pontos extremos desse segmento são definidos como extremos da linha de contorno. Em seguida buscam-se os outros segmentos que tem ligações com essas extremidades. Os novos segmentos encontrados são incorporados à linha e definem as novas extremidades. O processo pára quando as extremidades se encontram, definindo uma curva de nível fechada, ou quando as duas extremidades alcançam as bordas da região de interesse. O método de segmentos cria as curvas de nível em duas etapas. Na primeira etapa determinam-se todos os segmentos pertencentes a um valor de
9 46 intensidade predeterminado. Numa etapa seguinte conectam-se os segmentos a fim de se definir as curvas de nível referentes ao valor de intensidade preestabelecido. Esses processos de geração de mapa de contornos são automáticos e requerem, apenas, a definição do modelo e dos valores de intensidades das curvas a serem geradas. O mapa de contorno (Figura 2) apresenta curvas de isovalores, chamadas também de isolinhas onde, por exemplo, a curva 100 representa os pontos nela situados com valores da variável igual a 100 unidades arbitrárias. A opção de se representar o mapa em cores, com a respectiva escala, permite uma melhor visualização de valores mais altos e mais baixos assumidos pela variável. Por convenção opta-se por cores mais frias para valores baixos e cores mais quentes para altos. Figura 2: Exemplo de Mapa de Contorno A Superfície 3D (Figura 3) permite uma melhor visualização espacial do comportamento da variável. É criada com o mesmo arquivo de malha de interpolação, podendo ser colorida, rotacionada e ter uma barra de escala acrescentada, entre outras manipulações que o software permite.
10 47 Figura 3: Exemplo de Superfície 3D da variável 3.3 Análise multivariada O desenvolvimento das técnicas analíticas instrumentais após a década de 60, associado à crescente utilização de computadores, aumentou a rapidez na aquisição e possibilitou o armazenamento de grandes quantidades de dados. Uma vez que os dados obtidos em geral não fornecem diretamente a informação desejada, houve uma grande demanda por técnicas matemáticas e estatísticas que fossem capazes de extrair informações relevantes com objetividade e rapidez. Neste contexto a estatística univariada, até então empregada no tratamento de dados químicos, revelou-se, em alguns casos, inapropriada ao considerar a análise de cada variável do sistema separadamente. Como alternativa a estas limitações, as técnicas multivariadas passaram a ser introduzidas, abrindo caminho para a criação de uma área de estudo designada de quimiometria. A quimiometria está dividida em dois temas centrais, que são a escolha de condições experimentais ótimas para uma investigação (também conhecido como planejamento experimental) e a análise multivariada, cujo objetivo é a interpretação dos dados de maneira a extrair-lhes o máximo possível de informação química (MASSART et al., 1988).
11 48 Os métodos de análise multivariada permitem visualizar o efeito das variáveis num sistema, simultaneamente com todas as suas correlações e tendências, e com o seu emprego tem-se encontrado inúmeras aplicações no tratamento de dados das mais diversas naturezas, tais como em química de alimentos (ESCUDERO-GILETE et al., 2007; SHITTU et al., 2007; LACHENMEIER, 2007), química ambiental (PANG; BAO; ZHANG, 2006), oceanografia (FERREIRA; FARIA; PAES, 1999), química medicinal (GUNTURI; NARAYANAN; KHANDELWAL, 2006), entre outras áreas. Experimentos envolvendo a análise quantitativa de amostras com muitos componentes cujos espectros sejam superpostos são comuns em química analítica. Em geral, as concentrações dos compostos de interesse numa amostra são determinadas através da resolução de um sistema de equações simultâneas obtido pela lei de Beer em tantos comprimentos de onda quantos forem os analitos. Curvas analíticas são construídas em cada comprimento de onda a partir de soluções-padrão de cada analito a fim de estabelecer constantes de proporcionalidade individuais entre concentração e intensidade de sinal. No caso de misturas binárias simples, muitas vezes pode-se obter bons resultados por este método. Entretanto, quando se passa para amostras reais, podem surgir problemas devido a interferências espectrais e desconhecimento da real identidade dos compostos de interesse e das matrizes. Nestas situações, a resolução simultânea das equações já não fornece resultados precisos, tornando-se necessário o emprego de novos métodos para resolver este tipo de problema. Nestes casos, os métodos multivariados são os mais adequados, porque permitem um estudo com várias espécies presentes ao mesmo tempo, não importando a existência ou ausência de diferenças espectrais marcantes entre elas nem a existência de alta correlação nos dados. É possível, também, a identificação de problemas eventuais tais como linha base ou interferência nas amostras. O método clássico de mínimos quadrados (CLS) e o de regressão linear múltipla (MLR) são métodos tradicionais de calibração que apresentam vantagens e desvantagens quando aplicados a problemas químicos. Ambos utilizam toda a informação contida na matriz de dados X para modelar a concentração, isto é, toda a informação espectral, incluindo informações irrelevantes (fazem pequena remoção de ruído). O CLS tem como principal desvantagem a necessidade de se conhecer as concentrações de cada espécie espectroscopicamente ativa no conjunto de calibração, o que em geral é
12 49 impossível nos problemas práticos. Já o método MLR apresenta problemas de colinearidade (o número de amostras deve exceder o número de variáveis, que por sua vez, devem fornecer predominantemente informação única. Temos neste caso a opção de selecionar certo número de variáveis que seja menor que o número de amostras e que produzam informação "única", o que pode ser demorado e tedioso. Mais interessante, então, seria a utilização de algum método que, como o CLS, use o espectro inteiro para análise, e como o MLR, requeira somente a concentração do analito de interesse no conjunto de calibração. Dois métodos que preenchem estes requisitos são PCR (Principal Component Regression) e PLS (Partial Least Squares). Estes dois métodos são consideravelmente mais eficientes para lidar com ruídos experimentais, colinearidades e não-linearidades. Todas as variáveis relevantes são incluídas nos modelos via PCR ou PLS, o que implica que a calibração pode ser realizada eficientemente mesmo na presença de interferentes, não havendo necessidade do conhecimento do número e natureza dos mesmos (BEEBE; PELL; SEASHOLTZ, 1998). Os métodos PCR e PLS são robustos, isto é, seus parâmetros praticamente não se alteram com a inclusão de novas amostras no conjunto de calibração (BEEBE; PELL; SEASHOLTZ, 1998). A base fundamental da maioria dos métodos modernos para tratamento de dados multivariados é o PCA (Principal Component Analysis), que consiste numa manipulação da matriz de dados com objetivo de representar as variações presentes em muitas variáveis, através de um número menor de "fatores". Constrói-se um novo sistema de eixos para representar as amostras, no qual a natureza multivariada dos dados pode ser visualizada em poucas dimensões (BEEBE; PELL; SEASHOLTZ, 1998). A análise de componentes principais consiste essencialmente em reescrever as coordenadas das amostras em outro sistema de eixo mais conveniente para a análise dos dados. Em outras palavras, as n-variáveis originais geram n-componentes principais, através de suas combinações lineares, cuja principal característica, além da ortogonalidade, é a de que são obtidos em ordem decrescente de máxima variância, ou seja, a componente principal 1 detém mais informação estatística que a componente principal 2, que por sua vez tem mais informação estatística que a componente principal 3 e assim por diante. Este método permite a redução da dimensionalidade dos pontos representativos das amostras, pois, embora a informação estatística presente
13 50 nas n-variáveis originais seja a mesma dos n-componentes principais, é comum obter em apenas 2 ou 3 das primeiras componentes principais mais que 90% desta informação. O gráfico da componente principal 1 versus a componente principal 2 fornece uma janela privilegiada (estatisticamente) para observação dos pontos no espaço n-dimensional. Assim, PCA é um método exploratório porque auxilia na elaboração de hipóteses gerais a partir dos dados coletados, contrastando com estudos direcionados nos quais hipóteses prévias são testadas. É também capaz de separar a informação importante da redundante e aleatória. Em uma análise de componentes principais, o agrupamento das amostras define a estrutura dos dados através de gráficos de scores e loadings, cujos eixos são componentes principais (PCs) nos quais os dados são projetados. Os scores fornecem a composição das PCs em relação às amostras, enquanto os loadings fornecem essa mesma composição em relação às variáveis. Como as PCs são ortogonais, é possível examinar as relações entre amostras e variáveis através dos gráficos dos scores e dos loadings. O estudo conjunto de scores e loadings ainda permite estimar a influência de cada variável em cada amostra.
Espectrometria de luminescência molecular
 Espectrometria de luminescência molecular Luminescência molecular Fotoluminescência Quimiluminescência fluorescência fosforescência Espectrometria de luminescência molecular Luminescência molecular Fotoluminescência
Espectrometria de luminescência molecular Luminescência molecular Fotoluminescência Quimiluminescência fluorescência fosforescência Espectrometria de luminescência molecular Luminescência molecular Fotoluminescência
4 Características fosforescentes dos indóis
 44 4 Características fosforescentes dos indóis A capacidade fotoluminescente de um composto é função de sua estrutura molecular e das condições do meio que o cerca, assim sendo, o desenvolvimento de uma
44 4 Características fosforescentes dos indóis A capacidade fotoluminescente de um composto é função de sua estrutura molecular e das condições do meio que o cerca, assim sendo, o desenvolvimento de uma
INTRODUÇÃO À CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA
 INTRODUÇÃO À CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA APLICAÇÃO NO CONTROLE DE QUALIDADE DE FÁRMACOS MÓDULO 05 Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas UnUCET Anápolis 1 2 MÓDULO 05 CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA
INTRODUÇÃO À CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA APLICAÇÃO NO CONTROLE DE QUALIDADE DE FÁRMACOS MÓDULO 05 Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas UnUCET Anápolis 1 2 MÓDULO 05 CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA
2 Espectrometria de fluorescência molecular
 2 Espectrometria de fluorescência molecular 2.1. Fluorescência molecular 2.1.1. O Fenômeno A luminescência molecular é a emissão de radiação eletromagnética (na região do ultravioleta próximo-visível)
2 Espectrometria de fluorescência molecular 2.1. Fluorescência molecular 2.1.1. O Fenômeno A luminescência molecular é a emissão de radiação eletromagnética (na região do ultravioleta próximo-visível)
K P 10. Concentração. Potência a emissão de fluorescência (F) é proporcional à potência radiante do feixe de excitação que é absorvido pelo sistema
 Concentração Potência a emissão de fluorescência (F) é proporcional à potência radiante do feixe de excitação que é absorvido pelo sistema F = emissão de fluorescência P o = potência do feixe incidente
Concentração Potência a emissão de fluorescência (F) é proporcional à potência radiante do feixe de excitação que é absorvido pelo sistema F = emissão de fluorescência P o = potência do feixe incidente
Análise de alimentos II Introdução aos Métodos Espectrométricos
 Análise de alimentos II Introdução aos Métodos Espectrométricos Profª Drª Rosemary Aparecida de Carvalho Pirassununga/SP 2018 Introdução Métodos espectrométricos Abrangem um grupo de métodos analíticos
Análise de alimentos II Introdução aos Métodos Espectrométricos Profª Drª Rosemary Aparecida de Carvalho Pirassununga/SP 2018 Introdução Métodos espectrométricos Abrangem um grupo de métodos analíticos
Análise de Alimentos II Espectroscopia de Absorção Molecular
 Análise de Alimentos II Espectroscopia de Absorção Molecular Profª Drª Rosemary Aparecida de Carvalho Pirassununga/SP 2018 2 Introdução A absorção de radiação no UV/Vis por uma espécie química (M) pode
Análise de Alimentos II Espectroscopia de Absorção Molecular Profª Drª Rosemary Aparecida de Carvalho Pirassununga/SP 2018 2 Introdução A absorção de radiação no UV/Vis por uma espécie química (M) pode
Espectrofotometria UV-Vis. Química Analítica V Mestranda: Joseane Maria de Almeida Prof. Dr. Júlio César José da Silva
 Espectrofotometria UV-Vis Química Analítica V Mestranda: Joseane Maria de Almeida Prof. Dr. Júlio César José da Silva Juiz de Fora, 1/2018 1 Terminologia Espectroscopia: Parte da ciência que estuda o fenômeno
Espectrofotometria UV-Vis Química Analítica V Mestranda: Joseane Maria de Almeida Prof. Dr. Júlio César José da Silva Juiz de Fora, 1/2018 1 Terminologia Espectroscopia: Parte da ciência que estuda o fenômeno
6 Estudos de incerteza
 01 6 Estudos de incerteza O resultado de uma medição não pode ser caracterizado por um único valor, pois todo o processo possui fontes de incerteza que devem ser identificadas, quantificadas e, se possível,
01 6 Estudos de incerteza O resultado de uma medição não pode ser caracterizado por um único valor, pois todo o processo possui fontes de incerteza que devem ser identificadas, quantificadas e, se possível,
5 Otimizações experimentais e instrumentais para maximização do sinal fosforescente
 5 Otimizações experimentais e instrumentais para maximização do sinal fosforescente A partir dos estudos das características fosforescentes dos 7 compostos selecionados (DBT, BNT, BTF, CB, 78BQ, 79DMBA
5 Otimizações experimentais e instrumentais para maximização do sinal fosforescente A partir dos estudos das características fosforescentes dos 7 compostos selecionados (DBT, BNT, BTF, CB, 78BQ, 79DMBA
Agronomia Química Analítica Prof. Dr. Gustavo Rocha de Castro. As medidas baseadas na luz (radiação eletromagnética) são muito empregadas
 ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA Introdução As medidas baseadas na luz (radiação eletromagnética) são muito empregadas na química analítica. Estes métodos são baseados na quantidade de radiação emitida
ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA Introdução As medidas baseadas na luz (radiação eletromagnética) são muito empregadas na química analítica. Estes métodos são baseados na quantidade de radiação emitida
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS INSPEÇÃO DE LEITE E DERIVADOS ESPECTROSCOPIA DENISE HENTGES PELOTAS, 2008.
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS INSPEÇÃO DE LEITE E DERIVADOS ESPECTROSCOPIA DENISE HENTGES PELOTAS, 2008. Espectroscopia de Infravermelho (IR) Issac Newton Feixe de luz; A luz violeta é a que mais é deslocada
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS INSPEÇÃO DE LEITE E DERIVADOS ESPECTROSCOPIA DENISE HENTGES PELOTAS, 2008. Espectroscopia de Infravermelho (IR) Issac Newton Feixe de luz; A luz violeta é a que mais é deslocada
6 Método para a determinação seletiva de CIP na presença de GAT ou MOX 6.1 Comentário preliminar
 129 6 Método para a determinação seletiva de na presença de GAT ou MOX 6.1 Comentário preliminar Nesse segundo estudo de caso, decidiu-se desenvolver um método fosforimétrico seletivo para a determinação
129 6 Método para a determinação seletiva de na presença de GAT ou MOX 6.1 Comentário preliminar Nesse segundo estudo de caso, decidiu-se desenvolver um método fosforimétrico seletivo para a determinação
CQ122 Química Analítica Instrumental II. Turma B 2º semestre 2012 Prof. Claudio Antonio Tonegutti. 1ª Avaliação Teórica 21/12/2012 GABARITO
 CQ122 Química Analítica Instrumental II Turma B 2º semestre 2012 Prof. Claudio Antonio Tonegutti 1ª Avaliação Teórica 21/12/2012 GABARITO 1) A figura abaixo apresenta o espectro eletromagnético com as
CQ122 Química Analítica Instrumental II Turma B 2º semestre 2012 Prof. Claudio Antonio Tonegutti 1ª Avaliação Teórica 21/12/2012 GABARITO 1) A figura abaixo apresenta o espectro eletromagnético com as
Orbitais moleculares. Singleto singleto tripleto. Estados excitados. fundamental
 117 4 Fosforescência A luminescência estimulada pela absorção de radiação é denominada fotoluminescência, a qual se divide em fluorescência e fosforescência. O fenômeno luminescente é definido como a radiação
117 4 Fosforescência A luminescência estimulada pela absorção de radiação é denominada fotoluminescência, a qual se divide em fluorescência e fosforescência. O fenômeno luminescente é definido como a radiação
Introdução aos métodos instrumentais
 Introdução aos métodos instrumentais Métodos instrumentais Métodos que dependem da medição de propriedades elétricas, e os que estão baseados na: determinação da absorção da radiação, na medida da intensidade
Introdução aos métodos instrumentais Métodos instrumentais Métodos que dependem da medição de propriedades elétricas, e os que estão baseados na: determinação da absorção da radiação, na medida da intensidade
5 Otimização da fosforescência
 55 5 Otimização da fosforescência 5.1. Metil Indol (2MI) Com o objetivo de maximizar o sinal fosforescente do 2MI, primeiramente foi usado um procedimento de otimização univariado dos fatores mais relevantes
55 5 Otimização da fosforescência 5.1. Metil Indol (2MI) Com o objetivo de maximizar o sinal fosforescente do 2MI, primeiramente foi usado um procedimento de otimização univariado dos fatores mais relevantes
Espectrofotometria UV-Vis. Química Analítica V Mestranda: Joseane Maria de Almeida Prof. Dr. Júlio César José da Silva
 Espectrofotometria UV-Vis Química Analítica V Mestranda: Joseane Maria de Almeida Prof. Dr. Júlio César José da Silva Relembrando... Conceitos Comprimento de onda (λ): distância entre dois pontos na mesma
Espectrofotometria UV-Vis Química Analítica V Mestranda: Joseane Maria de Almeida Prof. Dr. Júlio César José da Silva Relembrando... Conceitos Comprimento de onda (λ): distância entre dois pontos na mesma
Espectrometria de Luminescência Molecular
 Instituto de Química de São Carlo - USP SQM0415 Análise Instrumental I Alvaro José dos Santos Neto Emanuel Carrilho Espectrometria de Luminescência Molecular Cap. 15 Princípios de Análise Instrumental
Instituto de Química de São Carlo - USP SQM0415 Análise Instrumental I Alvaro José dos Santos Neto Emanuel Carrilho Espectrometria de Luminescência Molecular Cap. 15 Princípios de Análise Instrumental
5 Método para a determinação seletiva de NOR na presença de LEV ou de CIP 5.1 Comentário preliminar
 82 5 Método para a determinação seletiva de na presença de LEV ou de CIP 5.1 Comentário preliminar Nesse primeiro estudo de caso, decidiu-se por desenvolver um método fosforimétrico para a determinação
82 5 Método para a determinação seletiva de na presença de LEV ou de CIP 5.1 Comentário preliminar Nesse primeiro estudo de caso, decidiu-se por desenvolver um método fosforimétrico para a determinação
Espectrofotometria UV-VIS PROF. DR. JÚLIO CÉSAR JOSÉ DA SILVA
 Espectrofotometria UV-VIS QUÍMICA ANALÍTICA V ESTAGIÁRIA A DOCÊNCIA: FERNANDA CERQUEIRA M. FERREIRA PROF. DR. JÚLIO CÉSAR JOSÉ DA SILVA 1 Conceitos Básicos Espectroscopia: É o estudo de sistemas físicos
Espectrofotometria UV-VIS QUÍMICA ANALÍTICA V ESTAGIÁRIA A DOCÊNCIA: FERNANDA CERQUEIRA M. FERREIRA PROF. DR. JÚLIO CÉSAR JOSÉ DA SILVA 1 Conceitos Básicos Espectroscopia: É o estudo de sistemas físicos
Espectrometria de emissão atômica
 Espectrometria de emissão atômica Técnica analítica que se baseia na emissão de radiação eletromagnética das regiões visível e ultravioleta do espectro eletromagnético por átomos neutros ou átomos ionizados
Espectrometria de emissão atômica Técnica analítica que se baseia na emissão de radiação eletromagnética das regiões visível e ultravioleta do espectro eletromagnético por átomos neutros ou átomos ionizados
Graduação em Biotecnologia Disciplina de Proteômica. Caroline Rizzi Doutoranda em Biotecnologia -UFPel
 Graduação em Biotecnologia Disciplina de Proteômica Caroline Rizzi Doutoranda em Biotecnologia -UFPel Metodologias para quantificar proteínas Qualquer trabalho com proteína deve envolver a quantificação
Graduação em Biotecnologia Disciplina de Proteômica Caroline Rizzi Doutoranda em Biotecnologia -UFPel Metodologias para quantificar proteínas Qualquer trabalho com proteína deve envolver a quantificação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Departamento de Química. CQ122 Química Analítica Instrumental II Prof. Claudio Antonio Tonegutti Aula 01 09/11/2012
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Departamento de Química CQ122 Química Analítica Instrumental II Prof. Claudio Antonio Tonegutti Aula 01 09/11/2012 A Química Analítica A divisão tradicional em química analítica
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Departamento de Química CQ122 Química Analítica Instrumental II Prof. Claudio Antonio Tonegutti Aula 01 09/11/2012 A Química Analítica A divisão tradicional em química analítica
QUI346 ESPECTROMETRIA ATÔMICA
 QUI346 ESPECTROMETRIA ATÔMICA EMISSÃO ABSORÇÃO ENERGIA RADIANTE Quantidades discretas de energia radiante (quantum, E = h.n) absorvida pelos átomos promovem elétrons de um nível de energia fundamental
QUI346 ESPECTROMETRIA ATÔMICA EMISSÃO ABSORÇÃO ENERGIA RADIANTE Quantidades discretas de energia radiante (quantum, E = h.n) absorvida pelos átomos promovem elétrons de um nível de energia fundamental
Mestrando: Jefferson Willian Martins Prof. Dr. Júlio César José da Silva Juiz de Fora, 2/2017
 1 ESPECTROFOTOMETRIA DE UV-VIS Mestrando: Jefferson Willian Martins Prof. Dr. Júlio César José da Silva Juiz de Fora, 2/2017 2 CONCEITOS PRINCIPAIS O que é Espectroscopia e Espectrometria? IUPAC, Compendium
1 ESPECTROFOTOMETRIA DE UV-VIS Mestrando: Jefferson Willian Martins Prof. Dr. Júlio César José da Silva Juiz de Fora, 2/2017 2 CONCEITOS PRINCIPAIS O que é Espectroscopia e Espectrometria? IUPAC, Compendium
QUI346 ESPECTROFOTOMETRIA
 QUI346 ESPECTROFOTOMETRIA ABSORÇÃO FOTOQUÍMICA 3ª Parte (cont.) A QUANTIFICAÇÃO Mauricio X. Coutrim QUANTIFICAÇÃO: BRANCO O BRANCO NA DETERMINAÇÃO A radiação absorvida não é a simples diferença entre as
QUI346 ESPECTROFOTOMETRIA ABSORÇÃO FOTOQUÍMICA 3ª Parte (cont.) A QUANTIFICAÇÃO Mauricio X. Coutrim QUANTIFICAÇÃO: BRANCO O BRANCO NA DETERMINAÇÃO A radiação absorvida não é a simples diferença entre as
ANALÍTICA AVANÇADA 2S Prof. Rafael Sousa. Notas de aula:
 ANALÍTICA AVANÇADA 2S 2011 Aula 6 Espectrofotometria no UV-VisVis FLUORESCÊNCIA MOLECULAR Prof. Rafael Sousa Departamento de Química - ICE rafael.arromba@ufjf.edu.br Notas de aula: www.ufjf.br/baccan Luminescência
ANALÍTICA AVANÇADA 2S 2011 Aula 6 Espectrofotometria no UV-VisVis FLUORESCÊNCIA MOLECULAR Prof. Rafael Sousa Departamento de Química - ICE rafael.arromba@ufjf.edu.br Notas de aula: www.ufjf.br/baccan Luminescência
Energia certa significa: quando a energia do fóton corresponde à diferença nos níveis de energia entre as duas órbitas permitidas do átomo de H.
 ESPECTROSCOPIA II A relação da luz com as linhas espectrais O que acontece se átomos de H forem bombardeados por fótons? R. Existem três possibilidades: 1) a maioria dos fótons passa sem nenhuma interação
ESPECTROSCOPIA II A relação da luz com as linhas espectrais O que acontece se átomos de H forem bombardeados por fótons? R. Existem três possibilidades: 1) a maioria dos fótons passa sem nenhuma interação
Edital lfsc-07/2013 Concurso Público Especialista em Laboratório
 Edital lfsc-07/2013 Concurso Público Especialista em Laboratório RESPOSTAS DA PROVA DISSERTATIVA Questão 1 a) O photobleaching é a destruição do fotossensibilizador para terapia fotodinâmica por processos
Edital lfsc-07/2013 Concurso Público Especialista em Laboratório RESPOSTAS DA PROVA DISSERTATIVA Questão 1 a) O photobleaching é a destruição do fotossensibilizador para terapia fotodinâmica por processos
QUI346 ESPECTROFOTOMETRIA
 QUI346 ESPECTROFOTOMETRIA ABSORÇÃO FOTOQUÍMICA 3ª Parte (cont.) A QUANTIFICAÇÃO 07/10/2013 Mauricio X. Coutrim QUANTIFICAÇÃO: BRANCO O BRANCO NA DETERMINAÇÃO A radiação absorvida não é a simples diferença
QUI346 ESPECTROFOTOMETRIA ABSORÇÃO FOTOQUÍMICA 3ª Parte (cont.) A QUANTIFICAÇÃO 07/10/2013 Mauricio X. Coutrim QUANTIFICAÇÃO: BRANCO O BRANCO NA DETERMINAÇÃO A radiação absorvida não é a simples diferença
MÉTODOS DE DOSEAMENTO
 MÉTODOS DE DOSEAMENTO 1) Métodos clássicos de doseamento Os ensaios de potência ou doseamento são aqueles que visam quantificar o teor de substância ativa em medicamentos; A crescente demanda por matérias-primas
MÉTODOS DE DOSEAMENTO 1) Métodos clássicos de doseamento Os ensaios de potência ou doseamento são aqueles que visam quantificar o teor de substância ativa em medicamentos; A crescente demanda por matérias-primas
Variável (número da variável) Símbolo para variável (-) (+) Emulsão com Triton X-100 Oxigênio (1) a X 1 sem com Quantidade de amostra (2)
 95 5 Resultados e discussão: Comparação entre dois procedimentos de emulsificação para a determinação de Cr, Mo, V e Ti em óleo diesel e óleo combustível por ICP OES utilizando planejamento fatorial Neste
95 5 Resultados e discussão: Comparação entre dois procedimentos de emulsificação para a determinação de Cr, Mo, V e Ti em óleo diesel e óleo combustível por ICP OES utilizando planejamento fatorial Neste
EMISSÃO ATÔMICA PRINCÍPIO DA TÉCNICA INSTRUMENTAL ETAPAS DA ANÁLISE ESQUEMA DO APARELHO
 QUI 221 ANÁLISE INSTRUMENTAL EMISSÃO ATÔMICA PRINCÍPIO DA TÉCNICA Átomos neutros, excitados por uma fonte de calor emitem luz em λs específicos E ~ conc. PROF. FERNANDO B. EGREJA FILHO DQ ICEx UFMG ETAPAS
QUI 221 ANÁLISE INSTRUMENTAL EMISSÃO ATÔMICA PRINCÍPIO DA TÉCNICA Átomos neutros, excitados por uma fonte de calor emitem luz em λs específicos E ~ conc. PROF. FERNANDO B. EGREJA FILHO DQ ICEx UFMG ETAPAS
UNIVERSIDADE PAULISTA. A espectrofotometria é uma técnica de análise baseadas na interação entre a radiação eletromagnética e a matéria.
 DISCIPLINA: MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE TÓPICO 4: Espectrofotometria de Absorção Molecular UV/Visível A espectrofotometria é uma técnica de análise baseadas na interação entre a radiação eletromagnética
DISCIPLINA: MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE TÓPICO 4: Espectrofotometria de Absorção Molecular UV/Visível A espectrofotometria é uma técnica de análise baseadas na interação entre a radiação eletromagnética
Espectroscopia Óptica Instrumentação e aplicações UV/VIS. CQ122 Química Analítica Instrumental II 1º sem Prof. Claudio Antonio Tonegutti
 Espectroscopia Óptica Instrumentação e aplicações UV/VIS CQ122 Química Analítica Instrumental II 1º sem. 2017 Prof. Claudio Antonio Tonegutti Lei de Beer A = b c A = absorbância = absortividade molar (L
Espectroscopia Óptica Instrumentação e aplicações UV/VIS CQ122 Química Analítica Instrumental II 1º sem. 2017 Prof. Claudio Antonio Tonegutti Lei de Beer A = b c A = absorbância = absortividade molar (L
5 β-carbolinas Desenvolvimento de Métodos e Resultados
 165 5 β-carbolinas Desenvolvimento de Métodos e Resultados 5.1 Informações preliminares Estudos recentes com substâncias derivados da β-carbolina têm mostrado grande potencial destas substâncias no tratamento
165 5 β-carbolinas Desenvolvimento de Métodos e Resultados 5.1 Informações preliminares Estudos recentes com substâncias derivados da β-carbolina têm mostrado grande potencial destas substâncias no tratamento
ESPECTROFLUORIMETRIA MOLECULAR (FL) Ficha técnica do equipamento Espectrofluorímetro Shimadzu RF-5301PC
 ESPECTROFLUORIMETRIA MOLECULAR (FL) Ficha técnica do equipamento Espectrofluorímetro Shimadzu RF-5301PC Fonte de excitação: Lâmpada de arco de Xe, 150 W; Seletores de comprimento de onda: Monocromadores
ESPECTROFLUORIMETRIA MOLECULAR (FL) Ficha técnica do equipamento Espectrofluorímetro Shimadzu RF-5301PC Fonte de excitação: Lâmpada de arco de Xe, 150 W; Seletores de comprimento de onda: Monocromadores
4 Caracterização de compostos policíclicos aromáticos de N e de S utilizando a fosforimetria na temperatura ambiente em substrato sólido
 Caracterização de compostos policíclicos aromáticos de N e de S utilizando a fosforimetria na temperatura ambiente em substrato sólido.1 Escolha dos analitos de interesse Como já mencionado, os compostos
Caracterização de compostos policíclicos aromáticos de N e de S utilizando a fosforimetria na temperatura ambiente em substrato sólido.1 Escolha dos analitos de interesse Como já mencionado, os compostos
5 Determinação de azaarenos básicos em querosene de aviação por espectrofluorimetria e regressão por mínimos quadrados parciais 5.1.
 5 Determinação de azaarenos básicos em querosene de aviação por espectrofluorimetria e regressão por mínimos quadrados parciais 5.1. Fluorescência A luminescência molecular é a radiação eletromagnética
5 Determinação de azaarenos básicos em querosene de aviação por espectrofluorimetria e regressão por mínimos quadrados parciais 5.1. Fluorescência A luminescência molecular é a radiação eletromagnética
QUÍMICA I. Teoria atômica Capítulo 6. Aula 2
 QUÍMICA I Teoria atômica Capítulo 6 Aula 2 Natureza ondulatória da luz A teoria atômica moderna surgiu a partir de estudos sobre a interação da radiação com a matéria. A radiação eletromagnética se movimenta
QUÍMICA I Teoria atômica Capítulo 6 Aula 2 Natureza ondulatória da luz A teoria atômica moderna surgiu a partir de estudos sobre a interação da radiação com a matéria. A radiação eletromagnética se movimenta
Tópicos em Métodos Espectroquímicos. Aula 2 Revisão Conceitos Fundamentais
 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Instituto de Ciências Exatas Depto. de Química Tópicos em Métodos Espectroquímicos Aula 2 Revisão Conceitos Fundamentais Julio C. J. Silva Juiz de For a, 2013
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Instituto de Ciências Exatas Depto. de Química Tópicos em Métodos Espectroquímicos Aula 2 Revisão Conceitos Fundamentais Julio C. J. Silva Juiz de For a, 2013
Tópicos em Métodos Espectroquímicos. Aula 2 Revisão Conceitos Fundamentais
 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Instituto de Ciências Exatas Depto. de Química Tópicos em Métodos Espectroquímicos Aula 2 Revisão Conceitos Fundamentais Julio C. J. Silva Juiz de For a, 2015
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Instituto de Ciências Exatas Depto. de Química Tópicos em Métodos Espectroquímicos Aula 2 Revisão Conceitos Fundamentais Julio C. J. Silva Juiz de For a, 2015
7 Conclusões 7.1 Determinações fluorimétricas e eletroforéticas para a camptotecina e derivados
 215 7 Conclusões 7.1 Determinações fluorimétricas e eletroforéticas para a camptotecina e derivados Com o objetivo de permitir uma detecção simples, rápida e barata de contaminações de camptotecina (CPT)
215 7 Conclusões 7.1 Determinações fluorimétricas e eletroforéticas para a camptotecina e derivados Com o objetivo de permitir uma detecção simples, rápida e barata de contaminações de camptotecina (CPT)
Seleção de um Método Analítico. Validação e protocolos em análises químicas. Validação de Métodos Analíticos
 Seleção de um Método Analítico Capítulo 1 SKOOG, D.A.; HOLLER, F.J.; NIEMAN, T.A. Princípios de Análise Instrumental. 5 a edição, Ed. Bookman, Porto Alegre, 2002. Validação e protocolos em análises químicas
Seleção de um Método Analítico Capítulo 1 SKOOG, D.A.; HOLLER, F.J.; NIEMAN, T.A. Princípios de Análise Instrumental. 5 a edição, Ed. Bookman, Porto Alegre, 2002. Validação e protocolos em análises químicas
QUI 070 Química Analítica V Análise Instrumental. Aula 3 introdução a UV-VIS
 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Instituto de Ciências Exatas Depto. de Química QUI 070 Química Analítica V Análise Instrumental Aula 3 introdução a UV-VIS Julio C. J. Silva Juiz de For a, 2013
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Instituto de Ciências Exatas Depto. de Química QUI 070 Química Analítica V Análise Instrumental Aula 3 introdução a UV-VIS Julio C. J. Silva Juiz de For a, 2013
A teoria dos orbitais moleculares
 A teoria dos orbitais moleculares Qualitativamente, indica regiões do espaço (entre os átomos que formam uma molécula) nas quais a probabilidade de encontrar os elétrons é máxima. Na mecânica quântica,
A teoria dos orbitais moleculares Qualitativamente, indica regiões do espaço (entre os átomos que formam uma molécula) nas quais a probabilidade de encontrar os elétrons é máxima. Na mecânica quântica,
3 Fosforimetria na temperatura ambiente em solução (FTAS): Fundamentos, evolução e aplicações analíticas 3.1. Fundamentos teóricos
 3 Fosforimetria na temperatura ambiente em solução (FTAS): Fundamentos, evolução e aplicações analíticas 3.1. Fundamentos teóricos A espectrometria de fosforescência ou fosforimetria é uma técnica analítica
3 Fosforimetria na temperatura ambiente em solução (FTAS): Fundamentos, evolução e aplicações analíticas 3.1. Fundamentos teóricos A espectrometria de fosforescência ou fosforimetria é uma técnica analítica
Laser. Emissão Estimulada
 Laser A palavra laser é formada com as iniciais das palavras da expressão inglesa light amplification by stimulated emission of radiation, que significa amplificação de luz por emissão estimulada de radiação.
Laser A palavra laser é formada com as iniciais das palavras da expressão inglesa light amplification by stimulated emission of radiation, que significa amplificação de luz por emissão estimulada de radiação.
Estrutura física da matéria Espectro atômico de sistemas com dois elétrons: He, Hg
 O que você pode aprender sobre este assunto... Parahélio Ortohélio Energia de conversão Spin Momento angular Interação de momento angular spin-órbita Estados singleto e tripleto Multiplicidade Série de
O que você pode aprender sobre este assunto... Parahélio Ortohélio Energia de conversão Spin Momento angular Interação de momento angular spin-órbita Estados singleto e tripleto Multiplicidade Série de
Tecnicas analiticas para Joias
 Tecnicas analiticas para Joias Técnicas avançadas de analise A caracterização de gemas e metais da área de gemologia exige a utilização de técnicas analíticas sofisticadas. Estas técnicas devem ser capazes
Tecnicas analiticas para Joias Técnicas avançadas de analise A caracterização de gemas e metais da área de gemologia exige a utilização de técnicas analíticas sofisticadas. Estas técnicas devem ser capazes
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE QUÍMICA 2001 FASE III
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CENTRO DE CIÊNCIAS OLIMPÍADA BRASILEIRA DE QUÍMICA 2001 FASE III PROBLEMA 1 Anestésico local Uma substância A, medicinalmente usada em preparações para uso tópico como anestésico
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CENTRO DE CIÊNCIAS OLIMPÍADA BRASILEIRA DE QUÍMICA 2001 FASE III PROBLEMA 1 Anestésico local Uma substância A, medicinalmente usada em preparações para uso tópico como anestésico
QUI 072 Química Analítica V. Aula 5 - Espectrometria de absorção atômica
 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Instituto de Ciências Exatas Depto. de Química QUI 072 Química Analítica V Aula 5 - Espectrometria de absorção atômica Julio C. J. Silva Juiz de Fora, 2014 Métodos
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Instituto de Ciências Exatas Depto. de Química QUI 072 Química Analítica V Aula 5 - Espectrometria de absorção atômica Julio C. J. Silva Juiz de Fora, 2014 Métodos
QUI346 ESPECTROMETRIA ATÔMICA
 QUI346 ESPECTROMETRIA ATÔMICA EMISSÃO ABSORÇÃO EMISSÃO ATÔMICA Uma experiência envolvendo átomos de metal alcalino Fonte: Krug, FJ. Fundamentos de Espectroscopia Atômica: http://web.cena.usp.br/apost ilas/krug/aas%20fundamen
QUI346 ESPECTROMETRIA ATÔMICA EMISSÃO ABSORÇÃO EMISSÃO ATÔMICA Uma experiência envolvendo átomos de metal alcalino Fonte: Krug, FJ. Fundamentos de Espectroscopia Atômica: http://web.cena.usp.br/apost ilas/krug/aas%20fundamen
Aplicações de Semicondutores em Medicina
 Aplicações de Semicondutores em Medicina A estrutura dos cristais semicondutores Luiz Antonio Pereira dos Santos CNEN-CRCN PRÓ-ENGENHARIAS UFS-IPEN-CRCN Aracaju Março - 010 Como é a estrutura da matéria?
Aplicações de Semicondutores em Medicina A estrutura dos cristais semicondutores Luiz Antonio Pereira dos Santos CNEN-CRCN PRÓ-ENGENHARIAS UFS-IPEN-CRCN Aracaju Março - 010 Como é a estrutura da matéria?
QUI346 QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL
 QUI346 QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL Prof. Mauricio Xavier Coutrim DEQUI RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA Onda eletromagnética (vácuo: v = 2,99792.10 8 m.s -1 ) l = comprimento de onda A = amplitude da onda v
QUI346 QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL Prof. Mauricio Xavier Coutrim DEQUI RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA Onda eletromagnética (vácuo: v = 2,99792.10 8 m.s -1 ) l = comprimento de onda A = amplitude da onda v
Desenvolvimento de um método
 Desenvolvimento de um método -Espectro: registro de um espectro na região de interesse seleção do comprimento de onda -Fixação de comprimento de onda: monitoramento da absorbância no comprimento de onda
Desenvolvimento de um método -Espectro: registro de um espectro na região de interesse seleção do comprimento de onda -Fixação de comprimento de onda: monitoramento da absorbância no comprimento de onda
Lista de Exercício 2ª TVC Química Analítica V Teoria (1º Sem 2016). Obs.: Entregar antes da 2ª TVC.
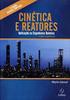 Lista de Exercício 2ª TVC Química Analítica V Teoria (1º Sem 2016). Obs.: Entregar antes da 2ª TVC. Capítulo 24 (Skoog) Introdução aos Métodos Espectroquímicos 24-1. Por que uma solução de Cu(NH3)4 2+
Lista de Exercício 2ª TVC Química Analítica V Teoria (1º Sem 2016). Obs.: Entregar antes da 2ª TVC. Capítulo 24 (Skoog) Introdução aos Métodos Espectroquímicos 24-1. Por que uma solução de Cu(NH3)4 2+
Luz & Radiação. Roberto Ortiz EACH USP
 Luz & Radiação Roberto Ortiz EACH USP A luz é uma onda eletromagnética A figura acima ilustra os campos elétrico (E) e magnético (B) que compõem a luz Eles são perpendiculares entre si e perpendiculares
Luz & Radiação Roberto Ortiz EACH USP A luz é uma onda eletromagnética A figura acima ilustra os campos elétrico (E) e magnético (B) que compõem a luz Eles são perpendiculares entre si e perpendiculares
Converta os seguintes dados de transmitâncias para as respectivas absorbâncias: (a) 22,7% (b) 0,567 (c) 31,5% (d) 7,93% (e) 0,103 (f ) 58,2%
 Lista de Exercício 2ª TVC Química Analítica V Teoria (2º Sem 2017). Obs.: 1) A lista deve ser entregue antes da 2ª TVC (24/10). 2) O exercícios devem ser feitos a mão Capítulo 24 (Skoog) Introdução aos
Lista de Exercício 2ª TVC Química Analítica V Teoria (2º Sem 2017). Obs.: 1) A lista deve ser entregue antes da 2ª TVC (24/10). 2) O exercícios devem ser feitos a mão Capítulo 24 (Skoog) Introdução aos
Análise Instrumental ESPECTROSCOPIA NA LUZ VISÍVEL E ULTRAVIOLETA
 Análise Instrumental ESPECTROSCOPIA NA LUZ VISÍVEL E ULTRAVIOLETA ESPECTROSCOPIA NA LUZ VISÍVEL E ULTRAVIOLETA Introdução: Método aplicado na determinação de compostos inorgânicos e orgânicos, como por
Análise Instrumental ESPECTROSCOPIA NA LUZ VISÍVEL E ULTRAVIOLETA ESPECTROSCOPIA NA LUZ VISÍVEL E ULTRAVIOLETA Introdução: Método aplicado na determinação de compostos inorgânicos e orgânicos, como por
Raios atômicos Física Moderna 2 Aula 6
 Raios atômicos 1 2 8 8 18 18 32 2 Energias de ionização 3 Espectros de R-X A organização da tabela periódica reflete a distribuição dos e - nas camadas mais externas dos átomos. No entanto, é importante
Raios atômicos 1 2 8 8 18 18 32 2 Energias de ionização 3 Espectros de R-X A organização da tabela periódica reflete a distribuição dos e - nas camadas mais externas dos átomos. No entanto, é importante
Introdução aos métodos espectrométricos. Propriedades da radiação eletromagnética
 Introdução aos métodos espectrométricos A espectrometria compreende um grupo de métodos analíticos baseados nas propriedades dos átomos e moléculas de absorver ou emitir energia eletromagnética em uma
Introdução aos métodos espectrométricos A espectrometria compreende um grupo de métodos analíticos baseados nas propriedades dos átomos e moléculas de absorver ou emitir energia eletromagnética em uma
Interferências. Não Espectrais Qualquer interferência a qual afeta o sinal da amostra diferentemente aos padrões de calibração
 Interferências Não Espectrais Qualquer interferência a qual afeta o sinal da amostra diferentemente aos padrões de calibração Espectrais Interferências que ocorrem quando a absorção medida na amostra é
Interferências Não Espectrais Qualquer interferência a qual afeta o sinal da amostra diferentemente aos padrões de calibração Espectrais Interferências que ocorrem quando a absorção medida na amostra é
VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS
 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS RE nº 899, de 2003 da ANVISA - Guia para validação de métodos analíticos e bioanalíticos; Validation of analytical procedures - UNITED STATES PHARMACOPOEIA - última edição;
VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS RE nº 899, de 2003 da ANVISA - Guia para validação de métodos analíticos e bioanalíticos; Validation of analytical procedures - UNITED STATES PHARMACOPOEIA - última edição;
A Atmosfera Terrestre: Parte 1
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Física Departamento de Astronomia FIP10104 - Técnicas Observacionais e Instrumentais A Atmosfera Terrestre: Parte 1 Rogério Riffel Porto Alegre, 24
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Física Departamento de Astronomia FIP10104 - Técnicas Observacionais e Instrumentais A Atmosfera Terrestre: Parte 1 Rogério Riffel Porto Alegre, 24
Análise Instrumental. Prof. Elias da Costa
 Análise Instrumental Prof. Elias da Costa 1-Introdução a Análise Instrumental CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS ANALÍTICOS CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS INSTRUMENTAIS INSTRUMENTOS PARA ANÁLISE SELEÇÃO DE UM MÉTODO
Análise Instrumental Prof. Elias da Costa 1-Introdução a Análise Instrumental CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS ANALÍTICOS CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS INSTRUMENTAIS INSTRUMENTOS PARA ANÁLISE SELEÇÃO DE UM MÉTODO
Estrutura da Matéria Lista 3
 Estrutura da Matéria - 2018.2 Lista 3 1. Em 1820, o filósofo Auguste Comte declarou ser possível ao ser humano saber sobre tudo, menos do que são feitas as estrelas. Ele estava correto? Como os astrofísicos
Estrutura da Matéria - 2018.2 Lista 3 1. Em 1820, o filósofo Auguste Comte declarou ser possível ao ser humano saber sobre tudo, menos do que são feitas as estrelas. Ele estava correto? Como os astrofísicos
ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL. Calibração de equipamentos/curva analítica
 ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL Calibração de equipamentos/curva analítica 6 Ed. Cap. 1 Pg.25-38 6 Ed. Cap. 0 Pg.1-9 7 Ed. Cap. 0 Pg.1-9 8 Ed. Cap. 5-8 Pg. 82-210 Site: Cálculo de cafeína diária. http://www.pregnancytod
ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL Calibração de equipamentos/curva analítica 6 Ed. Cap. 1 Pg.25-38 6 Ed. Cap. 0 Pg.1-9 7 Ed. Cap. 0 Pg.1-9 8 Ed. Cap. 5-8 Pg. 82-210 Site: Cálculo de cafeína diária. http://www.pregnancytod
IDENTIFICAÇÃO DE TECIDO COM ATEROSCLEROSE PELO MÉTODO DE ANALISE DO COMPONENTE PRINCIPAL. Thiago Siqueira Pinto, Landulfo Silveira Junior
 IDENTIFICAÇÃO DE TECIDO COM ATEROSCLEROSE PELO MÉTODO DE ANALISE DO COMPONENTE PRINCIPAL Thiago Siqueira Pinto, Landulfo Silveira Junior Laboratório de Espectroscopia Biomolecular/IP&D, UNIVAP, Av: Shishima
IDENTIFICAÇÃO DE TECIDO COM ATEROSCLEROSE PELO MÉTODO DE ANALISE DO COMPONENTE PRINCIPAL Thiago Siqueira Pinto, Landulfo Silveira Junior Laboratório de Espectroscopia Biomolecular/IP&D, UNIVAP, Av: Shishima
QUÍMICA A Ciência Central 9ª Edição Capítulo 6 Estrutura eletrônica dos átomos David P. White
 QUÍMICA A Ciência Central 9ª Edição Capítulo 6 Estrutura eletrônica dos átomos David P. White Natureza ondulatória da luz Todas as ondas têm um comprimento de onda característico, λ, e uma amplitude, A.
QUÍMICA A Ciência Central 9ª Edição Capítulo 6 Estrutura eletrônica dos átomos David P. White Natureza ondulatória da luz Todas as ondas têm um comprimento de onda característico, λ, e uma amplitude, A.
AULA 21 INTRODUÇÃO À RADIAÇÃO TÉRMICA
 Notas de aula de PME 3361 Processos de Transferência de Calor 180 AULA 1 INTRODUÇÃO À RADIAÇÃO TÉRMICA A radiação térmica é a terceira e última forma de transferência de calor existente. Das três formas,
Notas de aula de PME 3361 Processos de Transferência de Calor 180 AULA 1 INTRODUÇÃO À RADIAÇÃO TÉRMICA A radiação térmica é a terceira e última forma de transferência de calor existente. Das três formas,
QUI 154/150 Química Analítica V Análise Instrumental. Aula 1 Introdução a Química Analítica Instrumental Parte 2
 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Instituto de Ciências Exatas Depto. de Química QUI 154/150 Química Analítica V Análise Instrumental Aula 1 Introdução a Química Analítica Instrumental Parte
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Instituto de Ciências Exatas Depto. de Química QUI 154/150 Química Analítica V Análise Instrumental Aula 1 Introdução a Química Analítica Instrumental Parte
NOÇÕES SOBRE EXPERIMENTOS FATORIAIS
 3 NOÇÕES SOBRE EXPERIMENTOS FATORIAIS Planejamento de Experimentos Design of Experiments - DOE Em primeiro lugar devemos definir o que é um experimento: Um experimento é um procedimento no qual alterações
3 NOÇÕES SOBRE EXPERIMENTOS FATORIAIS Planejamento de Experimentos Design of Experiments - DOE Em primeiro lugar devemos definir o que é um experimento: Um experimento é um procedimento no qual alterações
Centro Universitário Padre Anchieta
 1) Quais são os cinco componentes principais utilizados nos equipamentos de espectroscopia óptica (molecular e atômica). Resposta: Os cinco componentes são: 1- Fonte de radiação (energia): Responsável
1) Quais são os cinco componentes principais utilizados nos equipamentos de espectroscopia óptica (molecular e atômica). Resposta: Os cinco componentes são: 1- Fonte de radiação (energia): Responsável
CNPQ / PIBIC 05/2006 Departamento de Química Aluna: Orientador: Título do projeto:
 CNPQ / PIBIC 5/26 Departamento de Química Aluna: Flávia da Silva Figueiredo Orientador: Ricardo Queiroz Aucélio Título do projeto: Desenvolvimento de métodos analíticos eletroquímicos e espectrofluorimétricos
CNPQ / PIBIC 5/26 Departamento de Química Aluna: Flávia da Silva Figueiredo Orientador: Ricardo Queiroz Aucélio Título do projeto: Desenvolvimento de métodos analíticos eletroquímicos e espectrofluorimétricos
CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO
 DETERMINAÇÃO DA DERIVA DO ZERO: ENSAIO: Manter P o = 0 e variar a temperatura T dentro da faixa de temperaturas ambientes [T max, T min ] previstas para uso do SM. Os ensaios feitos em CÂMARA de temperatura
DETERMINAÇÃO DA DERIVA DO ZERO: ENSAIO: Manter P o = 0 e variar a temperatura T dentro da faixa de temperaturas ambientes [T max, T min ] previstas para uso do SM. Os ensaios feitos em CÂMARA de temperatura
Lista de Exercício 1ª TVC Química Analítica V Teoria (1º Sem 2016)
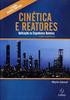 Lista de Exercício 1ª TVC Química Analítica V Teoria (1º Sem 2016) Skoog Capítulo 5: Erros em análises químicas 5-1. Explique a diferença entre: a) erro constante e erro proporcional b) Erro aleatório
Lista de Exercício 1ª TVC Química Analítica V Teoria (1º Sem 2016) Skoog Capítulo 5: Erros em análises químicas 5-1. Explique a diferença entre: a) erro constante e erro proporcional b) Erro aleatório
ANALÍTICA V 2S Aula 6: ESPECTROSCOPIA. Prof. Rafael Sousa
 ANALÍTICA V 2S 2012 Aula 6: 08-01-13 ESPECTROSCOPIA Espectrotometria de Absorção Atômica - Parte I Prof. Rafael Sousa Departamento de Química - ICE rafael.arromba@ufjf.edu.br Notas de aula: www.ufjf.br/baccan
ANALÍTICA V 2S 2012 Aula 6: 08-01-13 ESPECTROSCOPIA Espectrotometria de Absorção Atômica - Parte I Prof. Rafael Sousa Departamento de Química - ICE rafael.arromba@ufjf.edu.br Notas de aula: www.ufjf.br/baccan
Noções de Exatidão, Precisão e Resolução
 Noções de Exatidão, Precisão e Resolução Exatidão: está relacionada com o desvio do valor medido em relação ao valor padrão ou valor exato. Ex : padrão = 1,000 Ω ; medida (a) = 1,010 Ω ; medida (b)= 1,100
Noções de Exatidão, Precisão e Resolução Exatidão: está relacionada com o desvio do valor medido em relação ao valor padrão ou valor exato. Ex : padrão = 1,000 Ω ; medida (a) = 1,010 Ω ; medida (b)= 1,100
Aula 12 PRÁTICA 02 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR NO UV VIS: OPERAÇÃO E RESPOSTA DO ESPECTROFOTÔMETRO. Elisangela de Andrade Passos
 Aula 12 PRÁTICA 02 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR NO UV VIS: OPERAÇÃO E RESPOSTA DO ESPECTROFOTÔMETRO META Proporcionar o contato do aluno com a instrumentação analítica empregada em análises
Aula 12 PRÁTICA 02 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR NO UV VIS: OPERAÇÃO E RESPOSTA DO ESPECTROFOTÔMETRO META Proporcionar o contato do aluno com a instrumentação analítica empregada em análises
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGIAS.
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGIAS. ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS DA ABSORÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA FOTOSSÍNTESE. Professor: Thomas Braun. Graduando: Carlos Santos Costa.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGIAS. ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS DA ABSORÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA FOTOSSÍNTESE. Professor: Thomas Braun. Graduando: Carlos Santos Costa.
ESPECTROFOTOMETRIA UV-VISÍVEL. Departamento de Engenharia Química DEQUI ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA EEL/USP
 ESPECTROFOTOMETRIA UV-VISÍVEL Departamento de Engenharia Química DEQUI ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA EEL/USP Fundamentos da Espectrofotometria Uma maneira boa de cutucar moléculas, é com radiação eletromagnética
ESPECTROFOTOMETRIA UV-VISÍVEL Departamento de Engenharia Química DEQUI ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA EEL/USP Fundamentos da Espectrofotometria Uma maneira boa de cutucar moléculas, é com radiação eletromagnética
QUI346 ESPECTROMETRIA ATÔMICA
 QUI346 ESPECTROMETRIA ATÔMICA EMISSÃO ABSORÇÃO ENERGIA RADIANTE Quantidades discretas de energia radiante (quantum, E = h.n) absorvida pelos átomos neutros no estado gasoso promovem elétrons de um nível
QUI346 ESPECTROMETRIA ATÔMICA EMISSÃO ABSORÇÃO ENERGIA RADIANTE Quantidades discretas de energia radiante (quantum, E = h.n) absorvida pelos átomos neutros no estado gasoso promovem elétrons de um nível
Lista de Exercício 1ª TVC Química Analítica V Teoria
 Lista de Exercício 1ª TVC Química Analítica V Teoria Capítulo 7 Tratamento e Avaliação Estatística de Dados 7-3. Discuta como a dimensão do intervalo de confiança da média é influenciada pelos seguintes
Lista de Exercício 1ª TVC Química Analítica V Teoria Capítulo 7 Tratamento e Avaliação Estatística de Dados 7-3. Discuta como a dimensão do intervalo de confiança da média é influenciada pelos seguintes
0RGHODJHP&RPSXWDFLRQDO$WUDYpVGR3URJUDPD$%$486
 0RGHODJHP&RPSXWDFLRQDO$WUDYpVGR3URJUDPD$%$486 Neste capítulo apresenta-se de forma sucinta o programa de elementos finitos ABAQUS, em particular o elemento finito de placa usado neste trabalho. A seguir
0RGHODJHP&RPSXWDFLRQDO$WUDYpVGR3URJUDPD$%$486 Neste capítulo apresenta-se de forma sucinta o programa de elementos finitos ABAQUS, em particular o elemento finito de placa usado neste trabalho. A seguir
CQ130 Espectroscopia I. Profa. Ana Luísa Lacava Lordello
 CQ130 Espectroscopia I Profa. Ana Luísa Lacava Lordello Cronograma de Atividades Introdução Compostos Orgânicos de Origem Natural Há mais de 150 anos, os periódicos químicos têm reportado diversas substâncias
CQ130 Espectroscopia I Profa. Ana Luísa Lacava Lordello Cronograma de Atividades Introdução Compostos Orgânicos de Origem Natural Há mais de 150 anos, os periódicos químicos têm reportado diversas substâncias
QUI346 Absorção Molecular no UV-Vis
 QUI346 Absorção Molecular no UV-Vis (2ª parte) ABSORÇÃO FOTOQUÍMICA. POR QUÊ? COMO? QUANDO? 01 PORQUÊ A DIFERENÇA DE CORES? Cach Campo, ago14 Camp, nov06 2 INTERAÇÃO ENERGIA MATÉRIA LUZ FÓTONS (QUANTA)
QUI346 Absorção Molecular no UV-Vis (2ª parte) ABSORÇÃO FOTOQUÍMICA. POR QUÊ? COMO? QUANDO? 01 PORQUÊ A DIFERENÇA DE CORES? Cach Campo, ago14 Camp, nov06 2 INTERAÇÃO ENERGIA MATÉRIA LUZ FÓTONS (QUANTA)
Fundamentos de Sensoriamento Remoto
 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: Geoprocessamento para aplicações ambientais e cadastrais Fundamentos de Sensoriamento Remoto Profª. Adriana
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: Geoprocessamento para aplicações ambientais e cadastrais Fundamentos de Sensoriamento Remoto Profª. Adriana
7 Aplicação das metodologias
 7 Aplicação das metodologias Um dos mais relevantes problemas em química analítica é a estimativa da concentração das espécies em misturas através das características espectrais dos componentes (SCARMINIO
7 Aplicação das metodologias Um dos mais relevantes problemas em química analítica é a estimativa da concentração das espécies em misturas através das características espectrais dos componentes (SCARMINIO
Noções básicas de quântica. Prof. Ms. Vanderlei Inácio de Paula
 Noções básicas de quântica Prof. Ms. Vanderlei Inácio de Paula Noções de quântica O professor recomenda: Estude pelos seguintes livros/páginas sobre a Ligações químicas e faça os exercícios! Shriver Ed
Noções básicas de quântica Prof. Ms. Vanderlei Inácio de Paula Noções de quântica O professor recomenda: Estude pelos seguintes livros/páginas sobre a Ligações químicas e faça os exercícios! Shriver Ed
Luís H. Melo de Carvalho Química Analítica II Luís H. Melo de Carvalho Química Analítica II
 Luís H. Melo de Carvalho Luís H. Melo de Carvalho 1 Luís H. Melo de Carvalho Luís H. Melo de Carvalho 2 Luís H. Melo de Carvalho 3 Luís H. Melo de Carvalho Luís H. Melo de Carvalho 4 Luís H. Melo de Carvalho
Luís H. Melo de Carvalho Luís H. Melo de Carvalho 1 Luís H. Melo de Carvalho Luís H. Melo de Carvalho 2 Luís H. Melo de Carvalho 3 Luís H. Melo de Carvalho Luís H. Melo de Carvalho 4 Luís H. Melo de Carvalho
CATÁLISE ENZIMÁTICA. CINÉTICA Controle da velocidade de reações. CINÉTICA Equilíbrio e Estado Estacionário
 CATÁLISE ENZIMÁTICA Equilíbrio e Estado Estacionário P U T F M A Velocidade: período inicial Tempo As medidas de velocidade inicial (v 0 ) são obtidas com a variação da concentração de S btenção de várias
CATÁLISE ENZIMÁTICA Equilíbrio e Estado Estacionário P U T F M A Velocidade: período inicial Tempo As medidas de velocidade inicial (v 0 ) são obtidas com a variação da concentração de S btenção de várias
4 Resultados: Desenvolvimento de método espectrofluorimétrico para determinação de tetrabenazina
 4 Resultados: Desenvolvimento de método espectrofluorimétrico para determinação de tetrabenazina 4.1. Estudos preliminares A TBZ é uma substância levemente solúvel em água, porém, solúvel em metanol, razão
4 Resultados: Desenvolvimento de método espectrofluorimétrico para determinação de tetrabenazina 4.1. Estudos preliminares A TBZ é uma substância levemente solúvel em água, porém, solúvel em metanol, razão
NOTAS DE AULAS DE FÍSICA MODERNA
 NOTAS DE AULAS DE FÍSICA MODERNA Prof. Carlos R. A. Lima CAPÍTULO 4 MODELOS ATÔMICOS Primeira Edição junho de 2005 CAPÍTULO 4 MODELOS ATÔMICOS ÍNDICE 4.1- Modelo de Thomson 4.2- Modelo de Rutherford 4.2.1-
NOTAS DE AULAS DE FÍSICA MODERNA Prof. Carlos R. A. Lima CAPÍTULO 4 MODELOS ATÔMICOS Primeira Edição junho de 2005 CAPÍTULO 4 MODELOS ATÔMICOS ÍNDICE 4.1- Modelo de Thomson 4.2- Modelo de Rutherford 4.2.1-
restrito tornar-se irrestrito, deixando orbitais tornarem-se complexos, e reduzindo a simetria desses orbitais. Se alguma instabilidade fosse
 5 Metodologia A maioria dos cálculos foi feita utilizando o software GAUSSIAN03 69, apenas um dos cálculos de acoplamento spin-órbita foi feito utilizando o programa MOLPRO 70 através de cooperação com
5 Metodologia A maioria dos cálculos foi feita utilizando o software GAUSSIAN03 69, apenas um dos cálculos de acoplamento spin-órbita foi feito utilizando o programa MOLPRO 70 através de cooperação com
Programa. Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos - IFSC
 Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos - IFSC SFI 5800 Espectroscopia Física SCM5770 - Caracterização de Materiais por Técnicas de Espectroscopia Programa Prof. Dr. José Pedro Donoso
Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos - IFSC SFI 5800 Espectroscopia Física SCM5770 - Caracterização de Materiais por Técnicas de Espectroscopia Programa Prof. Dr. José Pedro Donoso
Introdução à Fluorescência. 1ª aula
 Introdução à Fluorescência 1ª aula 1 Técnicas espectroscópicas Interação da radiação eletromagnética com a matéria Absorção Absorção/Emissão Em biomoléculas: estrutura e dinâmica função Luminescência Emissão
Introdução à Fluorescência 1ª aula 1 Técnicas espectroscópicas Interação da radiação eletromagnética com a matéria Absorção Absorção/Emissão Em biomoléculas: estrutura e dinâmica função Luminescência Emissão
