LETICIA CORREA CELESTE A PROSÓDIA NA EXPRESSÃO DE ATITUDES NA FALA DE I DIVÍDUOS COM E SEM GAGUEIRA. BELO HORIZONTE
|
|
|
- Maria Antonieta Padilha Freire
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 LETICIA CORREA CELESTE A PROSÓDIA NA EXPRESSÃO DE ATITUDES NA FALA DE I DIVÍDUOS COM E SEM GAGUEIRA. BELO HORIZONTE 2010
2 Letícia Corrêa Celeste A PROSÓDIA NA EXPRESSÃO DE ATITUDES NA FALA DE INDIVÍDUOS COM E SEM GAGUEIRA Tese apresentada aoprograma de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção de título de Doutor em Lingüística Área de Concentração: Lingüística Teórica e Descritiva Linha de Pesquisa: Organização Sonora da Comunicação Humana Orientador: Prof. César Reis Belo Horizonte Faculdade de Letras da UFMG
3 Universidade Federal de Minas Gerais Faculdade de Letras Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos Tese intitulada A Prosódia na Expressão de Atitudes na Fala de Indivíduos com e sem Gagueira, de autoria de Letícia Corrêa Celeste, aprovada pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores: PROF. DR. CÉSAR REIS FALE/UFMG ORIENTADOR PROF. DR. JOÃO ANTÔNIO DE MORAES UFRJ PROF. DR a. LEANDRA BATISTA ANTUNES UFOP DR a. BERNADETTE VON ATZINGER CARDOSO PROF. DR a. VANESSA DE OLIVEIRA MARTINS UFMG DR a. ANA CRISTINA CÔRTES GAMA UFMG (SUPLENTE) PROF. DR a. ANA CRISTINA FRICKE MATTE UFMG (SUPLENTE) Belo Horizonte, 25 de agosto de
4 Ao meu companheiro de todas as horas, Alexandre 4
5 AGRADECIMENTOS Agradeço ao meu pai por me mostrar, através do seu dia a dia, que esforço, dedicação e humildade devem andar juntos. A minha mãe, minha maior torcedora, pelo carinho com que zela por mim. Ao Leandro, meu irmão cúmplice, pelas horas de conversas e risos. A Fefê por sua presença e esperteza que me proporcionam tanta alegria. Ao meu orientador, César Reis, pelos anos que caminhamos juntos, pelos ensinamentos diretos e indiretos que me mostraram não só o caminho para compreender a fonética, mas abraçar a pesquisa. Obrigada pelas horas que você dedicou me orientando, não apenas para esta pesquisa. Essas poucas linhas não expressam toda minha gratidão. Ao meu orientador do estágio doutoral, Daniel Hirst, e todos os companheiros do Laboratoire Parole et Langage, que proporcionaram mais que um aprendizado de fonética e estatística, abriram meus olhos para outras culturas. Às estagiárias do laboratório de fonética, Camila e Vanessa, pelas tantas ajudas do dia a dia. A todos os companheiros do LabFon que juntos pesquisamos e crescemos. Ao Stephan e a Lane, pelas imprescindíveis orientações estatísticas. Aos queridos José Wilson, Denise, Carol, Alice e Bruno, pelas alegrias e pela disponibilidade em ajudar no projeto piloto. Aos amigos que me acompanharam e torceram por mim nesses anos. À Capes, por financiar meu estágio doutoral no Laboratoire Parole et Language, fundamental para o desenvolvimento desta tese. Ao Alexandre, não somente pela paciência durante esses anos, incomparável ao amor e companheirismo. Obrigada por compartilhar comigo as alegrias e tristezas dessa conquista. Aos participantes desta pesquisa, sem vocês esse trabalho não teria acontecido. Obrigada pela compreensão, prontidão e disponibilidade. 5
6 O meu problema foi, e continua a ser, o tartamudeio, a gagueira. Aqueles que gozam da sorte de uma palavra solta, de uma frase fluida, não podem imaginar o sofrimento dos outros, esses que no mesmo instante em que abrem a boca para falar já sabem que irão ser objeto da estranheza ou, pior ainda, do riso do interlocutor. José Saramago Escritor Prêmio Nobel de Literatura Tive uma gagueira grave com longos bloqueios acompanhados por contorções faciais e espasmos, que não apenas provocavam a rejeição de meus ouvintes, como também tornou minha comunicação quase impossível (...) Eu me senti não apenas sem ajuda, mas também sem esperança. Me sentia nu em um mundo cheio de facas. Charles Van Riper - Fonoaudiólogo 6
7 RESUMO Uma das principais funções da prosódia é a expressão de atitudes, dentre elas a certeza e a dúvida. Através da modulação de parâmetros como a variação melódica e a duração o ser humano pode transmitir ao outro sua intenção comunicativa. No entanto, desordens de fala, como a gagueira, podem ter como uma de suas conseqüências, dificuldades na organização prosódica durante a expressão de atitudes. O presente estudo teve como objetivo analisar a prosódia na expressão das atitudes de certeza e dúvida na fala de indivíduos com e sem gagueira do desenvolvimento. Para tanto, participaram desta pesquisa 24 indivíduos divididos em dois grupos: o grupo experimental (n=12), subdividido em dois, um composto por pessoas com gagueira moderada (n=4) e outro por pessoas com gagueira severa (n=8), e o grupo controle (n=12), composto por pessoas sem gagueira. Todos os participantes eram do sexo masculino, nascidos e criados na região metropolitana de Belo Horizonte, com faixa etária entre 20 e 40 anos. Para a coleta de dados, os participantes leram dez frases neutras e as mesmas 10 frases expressando as atitudes de certeza e dúvida. A coleta dos dados e a análise acústica foram realizadas no programa Praat, versão Os parâmetros prosódicos analisados referentes à variação melódica e à duração, foram referentes ao enunciado (F0 inicial, final, tessitura, pico de F0, pausas, disfluências, tempo de elocução, tempo de articulação com e sem disfluências, taxa de elocução e taxa de articulação com e sem disfluências) e às vogais da tônica e da pré-tônica (F0 máximo e mínimo, intervalo melódico, média de F0 e duração). Foi aplicado um teste perceptivo para os enunciados do grupo experimental e controle, com 60 participantes. Para análise estatística foram realizadas medidas de estatística descritiva e teste de comparação de variáveis (não paramétrico de Kruskall Wallis, qui-quadrado e teste de uma e duas proporções) com índice de significância de 95%. Os resultados mostraram diferenças estatisticamente significativas entre o grupo experimental e o controle, sendo que o grupo controle apresentou variação prosódica mais proeminente do que o experimental na expressão de atitudes. Porém, ficou claro que o grupo experimental com gagueira moderada se aproximou mais do grupo controle do que o grupo com gagueira severa. Os resultados do teste perceptivo mostraram que os interlocutores reconhecem melhor as atitudes expressas pelo grupo controle em comparação com o experimental. PALAVRAS-CHAVE: prosódia, atitudes, gagueira. ABSTRACT 7
8 A major function of prosody is the expression of attitudes, among them there is the certainty and doubt. Through modulation of parameters such as melodic variation and duration humans are able to transmit to others their communicative intention. However, speech disorders such as stuttering may have as one of its consequences, difficulties in prosodic organization during the expression of attitudes. This study aimed to analyze the prosody in the expression of attitudes of certainty and doubt in the speech of individuals with and without stuttering. To do so, 24 individuos participated in this research. They were divided in two groups: experimental group (n=12), subdivided in two, one with people with severe stuttering (n=4) and the other with people with moderate stuttering (n=8), and the control group (n=12), with people without stuttering. All participants were male, born and resed in Belo Horizonte, with age between 20 and 40 years old. For the recordings, the participants read 10 neutral sentences and the same sentences expressing certainty and doubt. The recordings and the acoustical analisys were done on Praat, version The prosodic parameters analised were related to the utterance (inicial and final F0, tessitura, F0 peak, pauses, disfluencies, elocution rate and arituclation rate wiht and without disfluencies) and related to the stress and pre stress vowels (maximum and minimum F0, pitch and duration). A perceptual test was applied to the utterances of the experimental and control groups, on 60 participants. Statistical analysis included measurements of descriptive statistics and comparison test variables (nonparametric Kruskal Wallis, chi-square test and one-and two proportions) with a significance of 95%. The results showed statistically significant differences between the experimental and control groups. The control group showed more prominent prosodic variation than the experimental expression of attitudes. However, it became clear that the experimental group with moderate stuttering was closer to the control group than the group with severe stuttering. The test results showed that perceptual interlocutors recognize better the attitudes expressed by the control group compared to the experimental. KEYWORDS: prosody; attitudes; stuttering. 8
9 RESUMÉ Une des principales fonctions de la prosodie est l'expression d'attitudes, parmi eux la certitude et le doute. Grâce à la modulation des paramètres tels que la mélodie et les humains variation de longueur peut transmettre à l'autre son intention de communiquer. Toutefois, troubles de la parole comme le bégaiement, peut-être que l'un de ses conséquences, les difficultés dans l'organisation prosodique cours de l'expression d'attitudes. Cette étude visait à analyser la prosodie dans l'expression des attitudes de certitude et le doute dans le discours des personnes avec et sans le développement du bégaiement. Pour cela, 24 personnes ont participé à cette enquête ont été divisés en deux groupes: le groupe expérimental (n = 12), divisé en deux, l'un composé des personnes modérées bégaiement (n = 4) et un autre pour les personnes souffrant de graves bégaiement (n = 8) et le groupe témoin (n = 12), composé de personnes sans bégayer. Tous les participants étaient de sexe masculin, né et a grandi dans la région métropolitaine de Belo Horizonte, âgés entre 20 et 40 ans. Pour la collecte des données, les participants ont lu une dizaine de phrases neutres et les mêmes 10 phrases exprimant des attitudes de certitude et de doute. La collecte des données et des analyses ont été réalisées sur le programme acoustique Praat, version Les paramètres analysés sur prosodiques des variations mélodiques et la durée, étaient liées à l'énoncé (F0 initiale, finale, F0 pic texture, les pauses, les disfluences, moment de l'énonciation, avec le temps et sans disfluences, le débit et le taux de la liaison avec et sans disfluences) et d'autres membres de la pré-tonique et tonique (F0 maximum et minimum gamme mélodique, F0 moyenne et durée). Un test de perception a été appliquée aux expressions de l'expérimental et le groupe de contrôle avec 60 participants. L'analyse statistique comprenait des mesures de statistiques descriptives et des variables de test de comparaison (non paramétrique de Kruskal Wallis, test du chi carré et un et deux proportions) avec une portée de 95%. Les résultats ont montré des différences statistiquement significatives entre le groupe expérimental et le contrôle, et le groupe témoin a montré plus importante variation prosodique que l'expression expérimentale d'attitudes. Toutefois, il est devenu évident que le groupe expérimental et le bégaiement modérée était plus proche du groupe de contrôle que le groupe avec le bégaiement sévère. Les résultats des tests ont montré que la perception des interlocuteurs reconnaissent mieux les attitudes exprimées par le groupe de contrôle par rapport à l'approche expérimentale. MOTS-CLÉS: la prosodie, les attitudes, le bégaiement 9
10 LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 1: Localização dos núcleos da base...38 Figura 2: Núcleos da Base e estruturas associadas...39 Figura 3: Córtex motor...40 Figura 4: Giro cingulado ou córtex cingular...41 Figura 5: Estruturas do Sistema Límbico...41 Figura 6: Sistemas pré-motores duplos...47 Figura 7: Divisão do enunciado em aspectos segmentais e não segmentais...52 Figura 8: Diagrama da vibração das pregas vocais Figura 9: Fases de abertura e fechamento das pregas vocais Figura 10: Sinal de fala e espectrograma mostrando detalhes de um ciclo vibratório Figura 11: Taxa de elocução de falantes do português brasileiro divididos por faixa etária...60 Figura 12: Sinal de fala, espectrograma, curva melódica e estilização da curva pelo programa MOMEL Figura 13: Sinal de fala, curva de F0, pontos alvo do MOMEL e codificação do INTSINT da frase se eu sair depois das sete horas da noite, eu vou precisar de um ônibus leito Fonte: Celeste (2007)...65 Figura 14: Exemplo de alongamento silábico com preservação do contorno melódico na disfluência...67 Figura 15: Esquema de transmissão de informação prosódica segundo a Teoria da Relevância...71 Figura 16: Representação esquemática das tendências observadas de cada atitude em enunciados assertivos do persa. Fonte: Piot e Layqhat (2002)...72 Figura 17: Ligação de eventos a núcleos silábicos segundo o modelo Tilt. Fonte: Taylor (2000)...84 Figura 18: Esquema do modelo DIVA. Fonte: Guenther, Ghosh e Tourville (2006)...87 Figura 19: Superfície lateral do cérebro inidcando as localizações* dos componentes do modelo DIVA. Fonte: Guenther et al (2006) Figura 20: Os três parâmetros da prosódia,...96 Figura 21: Esquema do corpus final do presente estudo Figura 22: Exemplo de marcação dos pontos inicial, final e pico de F0 nas tiras de análise acústica
11 Figura 23: Exemplo de fronteiras das vogais da tônica e da pretônica da frase ele volta a jogar Figura 24: Exemplo de marcação de fronteiras para a análide dos valores de F0 e intensidade Figura 25: Exemplo de fronteiras de pausas Figura 26: Sinal de fala, espectrograma e grade de texto de um enunciado. Na grade de texto, três tiras: transcrição da frase, separação da frase em sílabas com a marcação da disfluência, duração da disfluência encontrada (D) Figura 27: Sinal de fala, espectrograma com curva melódica e pontos alvo codificados pelo MOMEL da frase Eu desliguei o fogão Figura 28: Exemplo de duas curvas melódicas da mesma frase Eu tranquei a porta Figura 29: Recorte da folha de marcação do teste perceptivo Figura 30: Esquema de comparação para análise estatística entre as modalidades e as atitudes para o grupo controle Figura 31: Esquema de comparação para análise estatística entre as modalidades e atitudes para o grupo experimental Figura 32: Esquema de comparação para análise estatística entre os grupos controle e experimental Figura 33: Curva melódica da frase eu desliguei o fogão de três participantes para expressão de dúvida Figura 34: Curva melódica da frase eu desliguei o fogão de nove participantes para expressão de dúvida Figura 35: Curva melódica da frase eu desliguei o fogão de todos participantes para expressão de dúvida, em vermelho a primeira forma e em azul a segunda Figura 36: Esquema de cores para diferenciação das curvas de F0 das modalidades e da expressão de dúvida Figura 37: Curvas melódicas da frase eu desliguei o fogão para um mesmo participante nas formas declarativa (verde), interrogativa (rosa) e dúvida 1 (vermelho) Figura 38: Curvas melódicas da frase eu desliguei o fogão para um mesmo participante nas formas declarativa (verde), interrogativa (rosa) e dúvida 2 (azul) Figura 39: Resultado do MOMEL/INTSINT para o GE1 da frase eu entreguei o documento
12 LISTA DE TABELAS TABELA 1: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 inicial e F0 final para GC TABELA 2: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de tessitura para GC TABELA 3: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo do pico de F0 para GC TABELA 4: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GC de F0 inicial e final, tessitura e pico de F TABELA 5: Número total de enunciados, número total de pausas nos enunciados, sua porcentagem de ocorrência e média em milissegundos para GC TABELA 6: Número total de enunciados, Número total de disfluências nos enunciados, sua porcentagem de ocorrência e média em milissegundos TABELA 7: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo das taxas de elocução e articulação para GC para as modalidades TABELA 8: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo das taxas de elocução e articulação para GC para as atitudes TABELA 9: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GC para taxa de elocução e articulação TABELA 10: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 mínimo e máximo da tônica proeminente para GC TABELA 11: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de intervalo melódico e média de F0 da tônica proeminente para GC TABELA 12: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GC para os valores mínimo, máximo, intervalo melódico e média de F0 na tônica proeminente TABELA 13: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de duração da tônica proeminente para GC TABELA 14: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GC para os valores de duração na tônica proeminente
13 TABELA 15: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 mínimo e máximo da vogal pretônica para GC TABELA 16: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de intervalo melódico e média de F0 da vogal pretônica para GC TABELA 17: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de duração em segundos da vogal pretônica para GC TABELA 18: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GC para os valores de F0 mínima e máxima, intervalo melódico e F0 média para pretônica TABELA 19: Número total de enunciados (possibilidade de ocorrência da postônica), número total de não ocorrência e sua porcentagem por modalidade/atitude no GC TABELA 20: Valor de p (p<0,05) por meio do teste qui-quadrado para comparação entre modalidades e atitudes do GC para a (não) ocorrência da postônica primeiro cruzamento TABELA 21: Valor de p (p<0,05) por meio do teste qui-quadrado para comparação entre modalidades e atitudes do GC para a (não) ocorrência da postônica segundo cruzamento.161 TABELA 22: Média, mediana em itálico e desvio padrão (entre parênteses) dos números de pontos alvo para cada terço dos enunciados declarativos e interrogativos para GC por informante TABELA 23: Média, mediana em itálico e desvio padrão (entre parênteses) dos números de pontos alvo para cada terço dos enunciados da expressão de certeza e dúvida para GC por informante TABELA 24: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GC para os números de pontos alvo estilizados pelo MOMEL TABELA 25: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para comparação entre GE com gagueira moderada e GE com gagueira severa para os valores de F0 na declarativa, certeza e dúvida TABELA 26: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para comparação entre GE com gagueira moderada e GE com gagueira severa para os valores de organização temporal na declarativa, certeza e dúvida TABELA 27: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para comparação entre GE com gagueira moderada e GE com gagueira severa para os valores da tônica proeminente na declarativa, certeza e dúvida
14 TABELA 28: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para comparação entre GE com gagueira moderada e GE com gagueira severa para os valores da vogal pretônica na declarativa, certeza e dúvida TABELA 29: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para comparação entre GE com gagueira moderada e GE com gagueira severa para os valores da vogal pretônica na declarativa, certeza e dúvida TABELA 30: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 inicial e F0 final para GE1 e GE TABELA 31: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de tessitura e pico de F0 para GE1 e GE TABELA 32: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para comparação entre declarativa, certeza e dúvida de GE1 e GE2 referentes à F0 inicial e final, tessitura e pico de F TABELA 33: Número total de enunciados, número total de pausas nos enunciados, sua porcentagem de ocorrência e média em milissegundos para GE TABELA 34: Valor de p (p<0,05) por meio do teste qui-quadrado para comparação entre modalidade e atitudes do GE1 para a ocorrência de pausas nos enunciados TABELA 35: Número total de enunciados, número total de pausas nos enunciados, sua porcentagem de ocorrência e média em milissegundos para GE TABELA 36: Valor de p (p<0,05) por meio do teste qui-quadrado para comparação entre modalidade e atitudes do GE1 para a ocorrência de disfluências nos enunciados TABELA 37: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo das taxas de elocução e articulação para GE1 e GE TABELA 38: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GE para taxa de elocução e articulação TABELA 39: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 mínimo e máximo da tônica proeminente para GE1 e GE TABELA 40: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de intervalo melódico e média da tônica proeminente para GE1 e GE TABELA 41: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de duração da tônica proeminente para GE1 e GE TABELA 42: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidade e atitudes do GE para os valores mínimo, máximo, intervalo melódico e média de F0 e duração na tônica proeminente
15 TABELA 43: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 mínimo e máximo da vogal pretônica para GE1 e GE TABELA 44: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de intervalo melódico e média da vogal pretônica para GE1 e GE TABELA 45: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de duração da vogal pretônica para GE1 e GE TABELA 46: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidade e atitudes do GE para os valores mínimo, máximo, intervalo melódico e média de F0 e duração na vogal pretônica TABELA 47: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 mínimo e máximo da vogal postônica para GE1 e GE TABELA 48: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de intervalo melódico e média de F0 da vogal postônica para GE1 e GE TABELA 49: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de duração da vogal postônica para GE1 e GE TABELA 50: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidade e atitudes do GE para os valores mínimo, máximo, intervalo melódico e média de F0 e duração na postônica TABELA 51: Valores de p (p<5,05) do teste não paramétrico de Kruskall Wallis na comparação entre os grupos para os valores de F0 inicial e final, intervalo melódico e pico de F0 na modalidade declarativa TABELA 52: Valores de p (p<0,05) para o teste não paramétrico de Kruskall Wallis para o número de enunciados com presença de disfluências e pausas entre os grupos na modalidade declarativa GRÁFICO 5: Média da taxa de elocução e articulação (com e sem disfluências) dos grupos para a modalidade declarativa TABELA 54: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis dos valores de F0 e duração para a tônica proeminente entre os grupos na modalidade declarativa TABELA 55: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis dos valores de F0 e duração para a pretônica entre os grupos na modalidade declarativa TABELA 56: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis dos valores de F0 e duração para a postônica entre os grupos na modalidade declarativa
16 TABELA 57: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis dos valores de duração para a tônica, pretônica e postônica entre os grupos na modalidade declarativa TABELA 58: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para os valores de F0 inicial e final, tessitura e média de F0 entre os grupos na expressão de certeza TABELA 59: Valores de p (p<0,05) para o teste não paramétrico de Kruskall Wallis para o número de enunciados com presença de disfluências e pausas entre os grupos na certeza TABELA 60: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis dos valores de F0 e duração para a tônica entre os grupos na certeza TABELA 61: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis dos valores de F0 e duração para a ppretônica entre os grupos na certeza TABELA 62: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis dos valores de F0 e duração para a postônica entre os grupos na certeza TABELA 63: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis dos valores de duração para a tônica, pretônica e postônica entre os grupos na certeza TABELA 64: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para os valores de F0 inicial e final, tessitura e média de F0 entre os grupos na expressão de dúvida TABELA 65: Valor de p (p<5,05) por meio do teste qui-quadrado para a comparação do número de enunciados com pausas e disfluências entre os grupos na expressão de dúvida..222 TABELA 66: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para as taxas de elocução e articulação entre os grupos na expressão de dúvida Tabela 67: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis dos valores de F0 e duração para a tônica proeminente entre os grupos na dúvida Tabela 68: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis dos valores de F0 e duração para a pretônica entre os grupos na dúvida TABELA 69: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis dos valores de F0 para a postônica entre os grupos na dúvida TABELA 70: Valores de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis dos valores de duração da postônica entre os grupos Tabela 71: Teste de uma proporção (p<0,05) para as atitudes do GE (1 e 2) do teste perceptivo
17 Tabela 72: Teste de duas proporções (p<0,05) comparando certeza e dúvida na escala do teste perceptivo para GE1 e GE Tabela 73: Teste de duas proporções (p<0,05) comparando os grupos em cada ponto da escala do teste perceptivo por atitude
18 Lista de Abreviaturas e Siglas Cert (certeza(atitude de) Dur duração Duv dúvida (atitude de) F0 frequência ms milissegundos n número de dados PosT postônica (vogal) PreT pretônica (vogal) s segundos síl/s sílabas por segundo TonP tônica proeminente (vogal) TxE taxa de elocução TxA taxa de articulação 18
19 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO Apresentação do problema Delimitação do problema Relevância Hipóteses e objetivos Limites 27 2 REVISÃO DE LITERATURA Gagueira Conceito Etiologia Neurofisiologia da gagueira A retroalimentação auditiva e a gagueira Modelos que tentam explicar a gagueira Classificação das disfluências Aspectos prosódicos da fala com gagueira Prosódia Forma 54 O nível físico de análise 54 O Nível fonético de análise 58 O nível fonológico de superfície Interferência das disfluências nos aspectos formais da prosódia Funções da prosódia A Prosódia e a Expressão de Atitudes A Teoria da Relevância Prosódia, atitudes e desordens de fala e linguagem Modelos de Produção de Fala Modelo Tilt Modelo de Levelt (1989) O modelo DIVA 86 3 DISCUSSÃO METODOLÓGICA Da coleta de dados Da análise prosódica Considerações gerais MATERIAL E MÉTODOS Dos Informantes
20 4.2 Procedimentos Procedimentos de coleta do GC Procedimentos para gravação do GE O Corpus final Análise Prosódica Medidas locais de F0 e organização temporal MOMEL Teste Perceptivo Análise Estatística Pontos de F0 e organização temporal do enunciado Pausas e disfluências Teste perceptivo RESULTADOS E DISCUSSÃO Sobre as duas formas de expressar a dúvida Resultado e discussão do GC: pontos de F0 e organização temporal do discurso Resultado e discussão dos pontos de F0 para o GC Resultados e discussão da organização temporal do discurso para GC A vogal da tônica proeminente no GC A vogal da pretônica no GC A vogal da postônica do GC Resultado e discussão do GC: MOMEL Tendências gerais encontradas em GC Resultado e discussão do GE: considerações Resultado e discussão do GE: pontos de F0 e organização temporal do enunciado Resultado e discussão dos pontos de F0 para o GE Resultado e discussão da organização temporal do discurso para GE A vogal da tônica proeminente do GE A vogal da pretônica no GE A vogal postônica no GE Resultado e discussão do GE: MOMEL Tendências gerais encontradas em GE Comparação entre os grupos: considerações Comparação entre os grupos: modalidade declarativa Modalidade declarativa: pontos de F0 e organização temporal do discurso Modalidade declarativa: aspectos intrassilábicos Comparação entre os grupos: Atitude de certeza Atitude de certeza: pontos de F0 e organização temporal do enunciado Atitude de certeza: aspectos intrassilábicos Comparação entre os grupos: Atitude de dúvida Atitude de dúvida: pontos de F0 e organização temporal do enunciado Atitude de dúvida: aspectos intrassilábicos O teste perceptivo DISCUSSÃO
21 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 246 Referências 253 Anexos
22 1 INTRODUÇÃO 22
23 1.1 Apresentação do problema Sabemos que a estrutura sonora da comunicação humana pode ser dividida em aspectos segmentais e não segmentais. Dentre os aspectos não segmentais, a prosódia se destaca por ser um instrumento do locutor para a expressão dos chamados estados mentais ou, como trataremos daqui por diante, atitudes, que é o tema da nossa pesquisa. As atitudes, dentre as quais podemos citar a certeza, a dúvida e a ironia, são controladas voluntariamente pelo locutor, de forma intencional. A linguística, especificamente a prosódia e a sua função expressiva, pode ampliar seus conhecimentos se levar em consideração os da fala com transtornos, como a gagueira, as disartrias, as afasias, dentre outras. Na comparação da fala tida como normal e da fala com transtornos podemos obter informações sobre pontos divergentes específicos particularmente relevantes para a produção da linguagem oral. Desse modo, o estudo da fala de indivíduos que apresentam desordens na expressão oral, como é o caso da gagueira, revela diferentes realizações linguísticas que complementam a compreensão da relação entre prosódia e atitude e da língua portuguesa como um todo. Com base nessa relação prosódia e atitude, temos a intenção de discutir a possibilidade de integração entre a prosódia e os estudos pragmáticos. Pretendemos ainda, com esta tese, contribuir para o conhecimento da gagueira em si, a fim de auxiliar o tratamento fonoaudiológico sob o ponto de vista da melhora da performance comunicativa. 1.2 Delimitação do problema Esta tese se propõe a estudar o papel da prosódia na expressão de atitudes dos falantes que apresentam a fala sem transtornos e aqueles diagnosticados com gagueira do desenvolvimento. Para tanto, serão considerados: a) os níveis de representações físico e 23
24 fonético para o estudo da prosódia; b) as atitudes de certeza e dúvida, e; c) a comparação dos aspectos prosódicos utilizados na expressão das atitudes de certeza e dúvida por falantes com e sem gagueira. Colocamos, portanto, os seguintes problemas: Quais as características fonéticas suprassegmantais da fala do indivíduo com gagueira? Como se estruturam os aspectos prosódicos, como a variação melódica e a organização temporal, na fala do indivíduo com gagueira? Além disso, como se apresentaria a função prosódica de expressão de atitudes, mais especificamente a certeza e a dúvida, na fala de indivíduos com gagueira? 1.3 Relevância Existe atualmente uma carência na literatura científica nacional e internacional de trabalhos que relacionem a prosódia à expressão de atitudes e/ou emoções. Este fato foi apontado por alguns autores (Reis, 2001; Antunes, 2007) e pode ser comprovado pela dificuldade que encontramos na busca de estudos dessa área. Dois fatores vêm agravar tal situação. Por um lado, os prosodistas não relacionam a prosódia à expressão de atitudes; por outro, sem realizar estudos na área, os analistas do discurso e pragmaticistas defendem a importância da função expressiva da prosódia (Antunes, 2007). A partir do exposto até o momento, o estudo da prosódia na expressão de atitudes de indivíduos com gagueira se justifica na medida em que poderá contribuir para o meio científico por meio das suas implicações, dentre as quais destacamos: A tentativa de relacionar os níveis físico, fonético e fonológico subjacente da representação prosódia, com enfoque na sua função expressiva aqui representada pela expressão de atitudes. 24
25 A intenção de contribuir para o melhor entendimento da função expressiva da prosódia por meio dos considerados erros de fala, aqui representados pelas disfluências que ocorrem na fala de indivíduos com gagueira. 1.4 Hipóteses e objetivos Tendo em vista que este estudo se propõe investigar a função expressiva da prosódia em indivíduos com gagueira, levantamos as seguintes hipóteses: Sabe-se que a curva melódica é formada por diversos pontos de F0 no tempo. E, ainda, que o objetivo da estilização da curva de F0 é reduzir ao máximo sua informação, porém sem perder a configuração geral da curva. A partir disso, nos questionamos se a expressão da atitude de dúvida e certeza apresenta variação diferente dos pontos de F0 ao longo do enunciado quando comparada à produção das formas neutras declarativa e interrogativa. Com base nesse questionamento, levantamos a seguinte hipótese: há uma maior variação do conjunto de pontos de F0 ao longo do enunciado, ou seja, há um maior número de pontos alvo codificados pela estilização automática da curva de F0 na expressão de certeza e dúvida quando comparada com as formas declarativa e interrogativa. Acreditamos que os indivíduos com gagueira do desenvolvimento apresentam dificuldades na expressão das atitudes de certeza e dúvida por dois motivos. O primeiro relaciona-se com a própria presença de disfluências no discurso, o que interfere diretamente na organização temporal do mesmo. Levantamos 25
26 hipoteticamente o segundo motivo para tal dificuldade na expressão das atitudes: os indivíduos com gagueira do desenvolvimento têm dificuldade na modulação em si dos parâmetros prosódicos de frequência fundamental e duração na expressão das atitudes de certeza e dúvida, mesmo fora das disfluências. A última hipótese vem, na verdade, complementar as duas primeiras. Antes de expôla, é necessário que partamos de um pressuposto básico sobre a expressão de atitudes. Os locutores deste estudo foram todos previamente instruídos a produzir enunciados ora neutros, ora expressando atitudes. Dessa forma, consideramos que nos momentos nos quais os locutores foram instruídos a expressar atitudes, os mesmos tiveram a intenção de produzi-las. Ou seja, todos os participantes, com gagueira ou não, tiveram a intenção de expressar certeza e dúvida. Acreditamos, no entanto, que apesar de todos assumirem a mesma posição inicial de intenção de expressão de atitude, os indivíduos que não apresentam gagueira apresentarão maior sucesso, ou seja, um número maior de interlocutores perceberá tais atitudes. A fim de testar as hipóteses acima, o estudo tem como objetivo geral estudar os aspectos prosódicos empregados na expressão de atitudes de indivíduos adultos com gagueira, bem como relacionar os aspectos prosódicos e pragmáticos com base na análise de dados e na discussão teórica. Para tanto, levantamos alguns objetivos específicos que nos nortearam ao longo da pesquisa: Examinar qual o papel da entonação e da organização temporal do discurso na expressão das atitudes de certeza e dúvida no grupo de adultos com gagueira, comparando essa análise ao grupo de adultos fluentes; 26
27 Verificar a presença de disfluências que ambos os grupos apresentam na expressão de atitudes; Discutir os resultados encontrados dentro de um modelo de produção de fala. 1.5 Limites Durante a realização desta pesquisa, algumas dificuldades surgiram e opções metodológicas tiveram que ser tomadas a fim de minimizar tais problemas ou mesmo de se manter o foco delimitado inicialmente para este estudo. Inicialmente, as atitudes estudadas nesta pesquisa se limitam à certeza e à dúvida, em detrimento de tantas outras que ocorrem na fala espontânea. Adiciona-se que a fala dos participantes são referentes apenas ao dialeto falado na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quanto a coleta de dados, a gravação do material de fala em indivíduos com desordens de fala é complicada, de uma forma geral, devido ao desconforto nos momentos de gravação. Após diferentes tentativas, chegamos a conclusão que o microfone deveria ficar distante do participantes, escondido. Por esse motivo, os dados relativos à intensidade não foram considerados nesse estudo. No que diz respeito à análise das disfluências, limitamos o estudo à verificação da presença ou ausência das mesmas, sem nos aprofundar no tipo de disfluência cometido. Tal decisão se justifica na medida em que consideramos a disfluência como uma variável complexa no que tange sua divisão, não cabendo sua discussão neste estudo. 27
28 Dessa maneira, não temos a pretensão de fazer grandes generalizações, e sim buscar apresentar e discutir os aspectos prosódicos encontrados na fala simulada. Dada tal delimitação, levantamos uma breve revisão da literatura sobre a gagueira, a prosódia, a pragmática e a possível relação entre esses elementos. 28
29 2 REVISÃO DE LITERATURA 29
30 2.1 Gagueira A gagueira é um distúrbio universal com incidência em 4% da população mundial e 5% da população brasileira (Instituto Brasileiro de Fluência/IBF, ). Por incidência entende-se o número de novos casos, ou seja, como a população brasileira está estimada, pelo IBGE, em 192 milhões de pessoas, 9 milhões e 589 mil brasileiros já passaram por momentos de gagueira. Como a gagueira apresenta remissão espontânea em muitos casos, a sua prevalência, ou seja, o número total de casos da gagueira considerada crônica é menor que sua incidência. Segundo o IBF, a prevalência da gagueira no Brasil é de 1%, assim, 1 milhão e 917 mil brasileiros que apresentam a gagueira crônica, persistente. A prevalência mundial também é de 1% (IBF, ; Buchel e Sommer, 2004). Essas taxas são similares em todas as classes sociais (Buchel e Sommer, 2004). Tal redução entre incidência e prevalência ocorre porque a gagueira apresenta um alto índice de remissão espontânea em crianças, em torno de 70% (Chang et al, 2008). No entanto, apesar de sua incidência na população mundial e de ser foco de diversos estudos em diferentes áreas, ainda restam muitas perguntas em torno desse distúrbio da fala. Os aspectos fisiológicos e articulatórios, os fatores que contribuem para seu desenvolvimento, as características da fala e até mesmo a causa da gagueira são questões que ainda suscitam discussão no meio científico. Por esse motivo, Yairi et al (2001) ressaltam que ao se tratar da gagueira é preciso ter cuidado com os pressupostos sobre a natureza dessa desordem, bem como sobre seus comportamentos associados. Desta forma, colocaremos neste capítulo, alguns pontos relevantes sobre os estudos da gagueira, sabendo que não poderemos esgotar a discussão sobre o assunto. Apresentaremos, 30
31 então, alguns conceitos, questões relacionados à causa, aspectos neurofisiológicos e características da comunicação das pessoas que gaguejam Conceito O conceito de gagueira ainda é muito discutido na literatura especializada, não havendo consenso entre os pesquisadores. Sabe-se, no entanto, que para conceituarmos a gagueira, é necessário que se faça distinção entre seus subtipos. Desta forma, temos a gagueira adquirida e a gagueira do desenvolvimento. A primeira, por sua vez, subdividi-se em neurológica e psicogênica. Segundo Andrade (2006), a gagueira neurológica ocorre devido a um trauma ou doença no sistema nervoso central, enquanto a psicogênica está relacionada a um forte evento psicológico ou a um quadro psiquiátrico. Para melhor compreender o segundo subtipo, a gagueira idiopática ou do desenvolvimento, Yairi e Ambrose (1992) realizaram um estudo preliminar com 27 crianças que foram acompanhadas por, no mínimo, dois anos, a fim de observar a diferença entre cronificação da gagueira e remissão espontânea. Sete anos mais tarde, Yairi e Ambrose (1999) realizaram um estudo longitudinal com 147 crianças em idade pré-escolar (até 6 anos). Essas crianças foram acompanhadas desde o início da gagueira por no mínimo 4 anos. Durante esse período, as crianças foram observadas e avaliadas frequentemente, com acompanhamento periódico, testagens múltiplas e extensas gravações de amostra da fala. Os resultados indicaram uma diminuição constante tanto na frequência quanto na severidade da gagueira com o passar do tempo em 74% das crianças. Essas tiveram recuperação espontânea, enquanto a gagueira persistiu nas 26% restantes. 31
32 Dessa forma, podemos sintetizar que a gagueira do desenvolvimento tem início na infância (Yairi e Ambrose, 1999; Suresh et al, 2006), podendo começar dos 18 meses até os 12 anos, ou seja, durante a fase de aquisição e desenvolvimento da linguagem (Andrade, 2006), e se caracteriza como uma desordem crônica (Yairi e Ambrose, 1999; Suresh et al, 2006). Vamos nos deter aqui no que concerne a gagueira do desenvolvimento, ou idiopática, uma vez que é foco deste estudo. No âmbito internacional, alguns autores apresentaram diferentes definições para a gagueira, algumas mais decritivas, outras mais objetivas. Um fator comum a todas é a questão das disfluências. Wingate (1964) apresentou umas das primeiras definições de gagueira reconhecida internacionalmente. Para o autor, a gagueira é uma ruptura na fluência verbal, caracterizada por prolongamentos e repetições involuntárias. Esses são algumas vezes acompanhados por movimentos corporais esteriotipados, acompanhados ou não de tensão e luta. Frequentemente, emoções negativas acompanham a gagueira, como medo, embaraço e irritação. Vin Riper (1982) concorda com Wingate no que diz respeito a possibilidade de emoções negativas estarem associadas à fala, mas coloca a gagueira como uma interrupção de um ato motor. Em 1993, Bloodstein coloca discute a questão do ambiente juntamente com o conceito de gagueira. Para o autor, a gagueira é um distúrbio de fala intermitente, ligado ao meio, ou seja, dependendo da situação a gagueira aparece e, em outras, desaparece. O autor levantou tal possibilidade a partir do relato de muitos indivíduos com gagueira que não apresentam gagueira na fala quando estão sozinhos. Dessa forma, Bloodstein define a gagueira como uma ruptura do fluxo da fala ligada a um sentimento de medo e/ou fuga de uma determinada situação. 32
33 Para a American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, ), a gagueira afeta a fluência da fala, tendo seu início na infância e pode durar por toda a vida do indivíduo. Para ASHA, essa desordem é caracterizada por rupturas nos sons da fala. Ainda aponta que na maior parte dos casos, a gagueira tem um impacto na vida diária, com possibilidade de restrições sociais. Apontam, no entanto, que tal impacto é diferente para cada pessoa e reflete como o indivíduo e os que estão a sua volta reagem à desordem. No âmbito nacional, Meire (2002) reporta a dificuldade de conceituação da gagueira por sua complexidade e, em especial, de diversas possibilidades de interpretação. Tal questão foi retomada em 2007 por Moraes e Nerm que mostraram que cada abordagem aponta um conceito diferente da gagueira. Dentro do quadro teórico nacional, o quadro a seguir mostra o autor, o tipo de abordagem e o conceito de gagueira. Autor Tipo de abordagem Conceito Ana Maria Psicolinguística da Fluência A gagueira é uma ruptura Schiefer (2004) (prolongamentos e Claudia Regina Furquim de Andrade (1997, 2006) Neurolinguística e Motora da Gagueira repetições involuntárias) na transição de diferentes níveis linguísticos. A gagueira é a disfluência que não apresenta recuperação espontânea do equilíbrio dos sistemas cerebrais envolvidos na fala 33
34 Silvia Friedman (2001) Vertente Contextualizada Análise de Discurso fluente. A gagueira está relacionada com a identidade do sujeito e sua luta para produção de uma fala ou padrão de fala que ele prevê. Tânia Chaves (2002) Interacionista A fluência, bem como a linguagem como um todo, deve ser analisada por meio de várias ações e funções conjugadas, relacionando-se diretamente com a cultura. Quadro 1: Diferentes conceitos de gagueira por autor É possível observar que as autoras acima citadas apresentam diferentes conceitos seguindo a abordagem geral na qual inserem a gagueira. No entanto, vemos que tanto os autores nacionais quanto os autores internacionais, não falam das alterações prosódicas na conceituação da gagueira. Mas, tendo em vista as diferentes abordagens apontadas, o conceito de gagueira utilizado no presente estudo neste momento é: distúrbio da comunicação humana que afeta diretamente a fluência da fala, causando interrupções na cadeia segmentar devido a erros na programação motora temporal, com suscessivas tentativas de retomada da fluência. A dificuldade de determinação de um conceito para a gagueira tem como principal causa a falta de um consenso quanto a sua etiologia. 34
35 2.1.2 Etiologia Outra característica intrigante da gagueira é a presença de diversos fatores associados a causa, ou seja, a pergunta o que causa a gagueira? continua sem resposta simples e definitiva (Wittke-Thompson et al, 2007; Yamada e Homma, 2007; Guitar, 2006; Andrade, 2006; Ratner e Tetnowsky, 2006). O fator genético é um dos pontos mais aceitados atualmente quando é considerada a gagueira do desenvolvimento (Wittke-Thompson et al, 2007; Yamada e Homma, 2007; Guitar, 2006; Andrade, 2006; Ratner e Tetnowsky, 2006; Buchel e Sommer, 2004; Jakubovicz, 1997). No entanto, não há consenso no que diz respeito ao locus. Riaz et al (2005), em um estudo de varredura genômica para a gagueira, apontaram um locus no cromossomo 12 como possível gene importante para esse distúrbio. Um ano mais tarde, Suresh et al (2006) publicaram uma pesquisa na qual mostraram que há, na verdade, uma diferença nos resultados de varredura genômica para homens e mulheres. Tal achado poderia explicar a diferença na proporção de prevalência do distúrbio no que diz respeito ao gênero. Em 2010, um grupo interdisciplinar paquistanês analisou a região genômica do cromossomo 12q23.3 em indivíduos com gagueira, em familiares de indivíduos com gagueira e em um grupo controle. Três diferentes anomalias foram encontradas em genes que comandam o metabolismo do lisossomo (Changsoo et al, 2010). Porém, os autores concordam que, sozinha, a hereditariedade não trás o problema. Outros fatores seriam o contexto familiar e social, características de personalidade da criança e outros distúrbios de linguagem associados (Andrade, 2006). Para Andrade (2006) existem alguns fatores de risco que podem contribuir para a cronificação da gagueira na criança, a saber: Idade. Quanto mais velha for a criança, maior o risco. 35
36 Sexo. O sexo masculino é mais propenso a cronificar a gagueira. Tipo de disfluência. Se a criança apresentar apenas disfluências comuns, a mesma apresenta menor risco do que aquela que apresenta disfluências gagas (ver detalhes sobre classificação das disfluências abaixo). Tempo e tipo de surgimento da disfluência. Quanto maior o tempo no qual a criança está apresentando disfluências, maior sua probabilidade de cronificação do distúrbio. Fatores comunicativos associados. Alguns fatores agravantes são: alteração da velocidade de fala, alterações fonológicas, alterações miofuncionais, alterações de linguagem, etc. Fatores qualitativos associados. A tensão corporal e facial, bem como as rupturas por incoordenação pneumofônicas são fatores de risco. Componentes estressantes associados. Diferentes eventos na vida da criança afetarão com maior ou menor força no risco de cronificação. Alguns exemplos são morte de animal de estimação, mudança de residência, problemas de saúde na família e separação dos pais. Histórico mórbido pré, peri e pós-natal. Aumentam o risco a presença desses fatores e a possibilidade de sequelas. Antecedente familiar. Como o fator genético tem se mostrado importante, a presença de pessoas gagas na família é considerada fator de risco. Reação e atitude familiar, social e da própria criança perante a gagueira. Presença ou ausência de orientação profissional quanto à gagueira. Obviamente, não são necessários todos os fatores de risco presentes para a cronificação da gagueira. Além disso, alguns fatores podem influenciar de forma mais significativa algumas pessoas. 36
37 Ainda com relação à etiologia, são encontradas alterações neurofisiológicas nos indivíduos com gagueira. Durante os últimos anos, diversos autores associaram às disfluências encontradas nos indivíduos com gagueira e os núcleos da base (Smits-Bandstra e De Nil, 2007). Existem, no entanto, algumas condições que aliviam as disfluências temporariamente, por exemplo, o efeito de um ritmo externo, como um metrômero (Andrade, 2004; Alm, 2004). Isto nos mostra que a gagueira não é resultado de uma disfunção motora geral de fala, mas sim parece ter mecanismos causais específicos que levam aos problemas de fala (Alm, 2006). Tal especificidade, associada a outros aspectos da gagueira, levou autores como Rosenberger (1980), Wu et al (1995), Alm (2004; 2006), Giraud et al (2008), dentre outros, a relacionar a gagueira aos núcleos da base (NB). Para explicitar tal relação, apresentaremos uma breve explanação sobre os NB e sua relação com a gagueira, bem como outras questões que envolvem a neurofisiologia da gagueira Neurofisiologia da gagueira Os NB estão localizados em uma posição estratégica para influenciar o comportamento motor, as emoções e a cognição (Graybiel, 2000), como mostra a figura abaixo. Brian Evans/Science Photo Library 37
38 Br ian Evans/Science Photo Library Brian Evans/Science Photo Library Figura 1: Localização dos núcleos da base Fonte: Livraria de fotos científicas de Brian Evans. Disponível em Os NB constituem-se de núcleos subcorticais interconectados (Alm, 2004), o núcleo caudado, o putâmen, o globo pálido e o núcleo subtalâmico (Bear et al, 2002). Adiciona-se a esses núcleos a substância negra 1. O caudado e o putâmen são chamados, em conjunto, de estriado (ver figura 2) que recebe informações de quase todo o cortex cerebral (Bear et al, 2002; Parent apud Alm, 2004). 1 Alguns autores traduzem o mesmo termo como substância nigra. 38
39 Figura 2: Núcleos da Base e estruturas associadas Fonte: Adaptado de Bear et al (2002) Do globo pálido saem eferências que vão em direção aos núcleos do tálamo e deste último ao córtex, mais precisamente em direção à área motora suplementar (AMS), que fazem parte da chamada via direta (Bear et al, 2002): Córtex Estriado Globo pálido Núcleos do tálamo AMS O circuito acima, circuito NB-talamocortical, também pode ser dividido funcionalmente, segundo Alm (2004): a. Circuito sensório-motor do putâmen com saída para o córtex motor primário, AMS e córtex pré-motor (ver figura 3 caixas com linhas vermelhas). b. Circuitos associativos do núcleo caudado com saída para o córtex pré-frontal (ver figura 3 caixa com linha roxa). 39
40 Figura 3: Córtex motor Fonte: Adaptado de Bear et al (2002) c. Circuitos límbicos do estriado com saída para o córtex cingular anterior 2 (figura 4). O estriado também recebe informações de estruturas límbicas como a amígdala e o hipocampo (Figura 5). 2 A estrutura córtex cingular anterior também é chamada de giro cingulado por alguns autores. 40
41 Figura 4: Giro cingulado ou córtex cingular Fonte: Adaptado de Bear et al (2002) Figura 5: Estruturas do Sistema Límbico Fonte: Adaptado de Bear et al (2002) 41
42 Os circuitos acima são organizados em duas vias: direta e indireta. Essas duas vias funcionam em sinergia para balancear a atividade do córtex frontal. A via direta fornece ativação focal da ação desejada, enquanto a via indireta inibe de forma difusa a ação cortical. Ambas as vias são moduladas por receptores de dopamina, porém resultam em efeitos diferenciados do neurotransmissor (Alm, 2006). O fornecimento de pistas de temporalização para a AMS é uma das funções dos núcleos da base. Esse, por sua vez, necessita de uma distinção harmônica entre a ativação focal e a inibição difusa (Alm, 2006). Dessa forma, os NB facilitam o movimento ao focalizar a atividade de diversas áreas do córtex para a AMS e também serve como filtro, mantendo não-expressos os movimentos inadequados (Bear et al, 2002). Assim, uma ativação deficiente da ação desejada resulta em dificuldade de iniciação dos movimentos de fala (deficiência na via direta). Já os problemas na inibição difusa do córtex (deficiência na via indireta) podem resultar em liberação de movimentos involuntários e dificuldades de liberação dos movimentos voluntários (Alm, 2006). Temos, como resultado, os seguintes distúrbios motores relativos aos problemas nos NB segundo Alm (2006): Problemas na iniciação motora Movimentos involuntários Tensão muscular desregulada (frequentemente com contração concomitante de músculos antagonistas) Os problemas motores resultantes acima descritos têm paralelos evidentes com a gagueira (Alm, 2006). Existem outras relações entre a gagueira e os NB, como mostra o quadro 2: 42
43 A tensão nervosa piora os problemas motores e o Influências emocionais relaxamento induz alguma sobre os sintomas melhora (Victor e Rapper, 2001) Os compostos químicos ligados à dopamina têm efeitos explícitos nos NB, Efeitos de drogas como o faz na administração de levodopa 3 em pacientes com doença de Parkinson 4 (Alm, 2006; Bear et al, 2002) A performance na fala dos Efeito do ritmo (falar parkinsonianos é melhorada seguindo um ritmo externo) sob efeito do ritmo (Alm, 2006). Efeitos nos NB Correlação com a gagueira Quadro 2: Relação dos NB com a gagueira perante condições específicas Experiência clínica comum na gagueira, frequentemente apontada por quem gagueja (Alm, 2004; Jakubovicz, 1997) As drogas que apresentam o mais forte efeito sobre a gagueira (melhorando ou piorando) afetam tipicamente o neutransmissor dopamina (Alm, 2004; Goberman e Blomgren, ) A performance na fala dos indivíduos que gaguejam é melhorada sob efeito do ritmo (Alm, 2006; Andrade, 2004). Além das similaridades acima apresentadas, estudos mostram que os núcleos da base e suas ligações córtico-estriado-tálamo-cortical apresentam um papel importante na habilidade 3 A administração da levodopa (precursor da dopamina) em pacientes com doença de Parkinson é o tratamento mais utilizado atualmente (Ortiz, 2004), aliviando os sintomas da doença (Bear et. al, 2002). 4 A doença de Parkinson é caracterizada como uma doença neurológica progressiva que atinge estruturas dos núcleos da base, mais especificamente da morte de células da substância negra compacta e núcleos da base, acarretando comprometimento da via indireta e produzindo um esgotamento seletivo de dopamina (Azevedo et. al, 2001; Bear et. al, 2002; Ortiz, 2004). 5 Em um estudo com parkinsonianos, Goberman e Blomgren (2003) mostraram que aqueles pacientes apresentavam maior número de disfluências do que o grupo controle, mostrando que as mudanças na disfluência exibidas pelos participantes apóiam a hipótese de que as disfluências na fala podem se relacionar com o aumento ou diminuição nos níveis de dopamina do cérebro. 43
44 de sequenciamento (Saint-Cyr, 2003; Shizgal e Arvanitogiannis, 2003; Pasupathy e Miller, 2005). Tal relação foi estudada por meio de pessoas com doença de Parkinson e controles e mostraram que há diferença na habilidade de aprendizagem e automatização em sequenciamento (Shohamy et al, 2005; Siegert et al, 2006). Similarmente, estudos foram realizados com pessoas que apresentam gagueira (Smits-Bandstra e De Nil, 2007). As pesquisas realizadas sempre mostram que o grupo de pessoas com gagueira apresenta resultados piores de aprendizagem e automatização (relacionada com o tempo de reação) quando comparado ao controle, seja em tarefa de sequenciamento simples silábico (Smits- Bandstra e De Nil, 2007) ou de movimentação de dedos (Smits- Bandstra, De Nil e Cyr, 2006), seja nesses dois anteriores associados à sequência de cores (Smits- Bandstra e De Nil, 2006; Smits- Bandstra, De Nil e Rochon, 2006). Além da questão da coordenação dos movimentos, pesquisas têm se voltado também na tentativa de melhor compreender como funciona a retroalimentação auditiva nas pessoas que gaguejam A retroalimentação auditiva e a gagueira Na prática clínica fonoaudiológica, há muito tem se observado fenômenos intrigantes quanto à retroalimentação auditiva na gagueira. Jakubovicz (1997) relata que mediante mascaramento auditivo 6, alguns indivíduos com gagueira passam a ter sua fala, automaticamente, mais fluente. O mesmo fenômeno ocorre com a retroalimentação auditiva que é feita de forma atrasada, ou seja, o indivíduo se ouvindo mais lento do que ele fala, com um atraso real de alguns milissegundos. 6 O mascaramento auditivo pode ser realizado posicionando fones no ouvido dos indivíduos com ruído. O ruído deve apresente um Nível de Intensidade Sonora (NIS) considerável para mascarar a própria fala. O valor necessário do NIS varia de pessoa para pessoa, dependendo principalmente da avaliação auditiva por via óssea. 44
45 Apesar de encontrar resultados práticos positivos, os estudos sobre o assunto se iniciaram de forma metodologicamente estruturada no final do século passado e início deste. Borsen (2007) em seu estudo de revisão de literatura, salienta que as evidências relacionando processamento auditivo e gagueira são pobres e que alguns estudos apresentam dados de pouca qualidade. Tentaremos, no entanto, apresentar alguns trabalhos desenvolvidos na área que apresentam sua metodologia bem formulada e resultados baseados em evidências claras. Estudos com imagem de ressonância magnética funcional e emissão tomográfica de positron mostraram que há diferenças na percepção auditiva de pessoas com e sem gagueira do desenvolvimento (Brow et al, 2005; De Nil et al, 2008). Ao avaliar o comportamento do processamento auditivo em pessoas com gagueira, Andrade et al (2008) observaram que o mesmo encontrou-se alterado tanto nas crianças quanto nos adultos com gagueira. Porém, os autores concluíram que o grau de severidade do distúrbio de fala não influenciou nos resultados do processamento auditivo. Jansson-Verkasalo et al (2009) investigaram o processamento auditivo de pessoas com e sem gagueira por meio do teste event-related potencial (potencial de resposta relacionado a um evento específico). Os resultados mostraram que a latência de respostas nos indivíduos com gagueira foi menor do que nos indivíduos com a fala sem alterações. Com base em tais estudos, justifica-se um modelo explicativo para gagueira que considere não só aspectos da produção, mas também os da percepção (retroalimentação) da fala. No entanto, como veremos a seguir, a maior parte dos modelos não abordam a retroalimentação Modelos que tentam explicar a gagueira Os modelos que visam explicar a fluência e a gagueira apresentam, em geral, os componentes segmentais da fala como base, seja relacionado à sílaba, seja relacionado ao 45
46 nível da palavra. Como exemplos, podemos citar o modelo de Dell e O Seaghdha s (1991) que tem como foco erros na seleção de palavras. O modelo de Wingate (1988) e o modelo de Postma e Kolk (1993), baseados na psicolinguística, apresentam as disfluências sendo causadas por um déficit no plano da codificação fonológica. Ainda seguindo uma visão psicolinguística, outros autores propuseram modelos na tentativa de explicar a gagueira, como aquele desenvolvido por Perkins, Kent e Curlee em Os autores propuseram uma teoria para explicar a fluência e a produção de fala com gagueira, chamada Teoria de Função Neurolinguística. A idéia central da teoria é o envolvimento de componentes linguísticos e paralinguísticos, sendo que cada um deles é processado por sistemas neuronais diferentes que convergem para um sistema comum de saída. Para que a fala seja fluente, é necessário que tais componentes se integrem em sincronia. Quando ocorre a dessincronia, o resultado pode ser disfluências comuns ou a gagueira, dependendo da pressão do tempo. Os autores colocam o tempo de pressão como a necessidade do falante em começar, continuar ou acelerar um enunciado. As disfluências comuns ocorrem na ausência do tempo de pressão, enquanto a gagueira é observada quando o falante está sob pressão do tempo. A gagueira é vista, desta forma, como uma ruptura da fala que é experimentada pelo falante como uma perda de controle. Assim, a Teoria de Função Neurolinguística apresenta a gagueira como ruptura da fala e perda de controle (Perkins, Kent e Curlee, 1991). No entanto, tal modelo é apresentado de forma muito generalista, sem apresentar explicações precisas sobre o conceito do tempo de pressão ou como é dada a relação entre esse e os momentos de fluência dos indivíduos com gagueira. Sob um outro ponto de vista, vendo a relação direta entre os NB e a gagueira, Alm propôs em 2005 um modelo explicativo da gagueira: os sistemas pré-motores duplos, baseado em estudos de Goldberg e Passingham (Alm, 2006). 46
47 A teoria dos Sistemas Pré-motores Duplos defende que os NB fazem parte de um sistema maior que, como o próprio nome sugere, apresenta dois sistemas motores que funcionam de forma integrada: o sistema motor medial e o sistema motor lateral. O sistema motor medial é composto por circuitos que ligam os NB à área motora suplementar, enquanto o sistema motor lateral faz a ligação entre o córtex motor lateral e o cerebelo (figura 8) (Alm, 2006). Figura 6: Sistemas pré-motores duplos Fonte: Adaptado de Alm (2006) A partir da divisão desses dois sistemas podemos compreender a relação dos NB e a gagueira. Segundo Alm (2006), durante a fala espontânea, utilizamos o sistema motor medial e, durante a fala com controle de temporalização, utilizamos o sistema motor lateral. Dessa forma, vemos que justamente na fala espontânea (que é a grande dificuldade das pessoas que 47
48 gaguejam) utilizamos um circuito que depende dos NB. Como esses estão alterados na gagueira, temos todos os problemas de disfluências. Já quando utilizamos um ritmo externo (excluindo os problemas de disfluências dos indivíduos com gagueira), a rota passa ser a lateral, que por sua vez não tem relação com os NB. Apesar dessa explicação para a etiologia da gagueira obter uma certa aceitação, nem todos os especialistas no assunto parecem concordar com essa abordagem. Provavelmente porque a mesma não inclui aspectos relevantes da gagueira, por exemplo, como a retroalimentação melhora substancialmente a fluência das pessoas que gaguejam. Outros fatores etiológicos relevantes encontrados em alguns estudos dizem respeito a diferença encontrada entre os hemisférios cerebrais (Foundas et al, 2003) e a baixa ativação cerebral nas áreas de processamento auditivo (Ingham et al, 2000). Outros modelos para explicação da gagueira, como o de Howell (2007) examinam as disfluências através da interação e omissão de palavras inteiras ou de partes de palavras. Como pode ser observado, são diferentes propostas, sob diferentes pontos de vista que foram apresentadas para explicação da gagueira, porém ainda sem uma ampla aceitação. No presente trabalho, apresentaremos mais adiante um modelo (DIVA) que não teve como objetivo explicar um determinado distúrbio de fala e, sim, a produção da fala de uma forma geral. E dentro desse modelo tentaremos entender melhor o fenômeno da gagueira. Entendemos, então, que todos esses modelos visam explicar por que algumas pessoas apresentam tantas interrupções na fala. E essa é a característica mais marcante da gagueira: a perturbação no fluxo normal da fala. Na fala normal, ocorrem interrupções que quebram a fluência tanto de falantes que gaguejam, quanto daqueles que não gaguejam. Como classificar essas interrupções? 48
49 2.1.6 Classificação das disfluências As interrupções do fluxo de fala são chamadas, de uma forma geral, de disfluências. Atualmente, há diversas propostas de classificação das disfluências. A classificação de Campbell e Hill (1995) é uma proposta bem aceita na literatura internacional que utiliza a sílaba como unidade de medida e caracteriza os comportamentos de interrupção observados no fluxo da fala em disfluências típicas e atípicas. As disfluências típicas são interjeição, hesitação, palavra inacabada, revisão e repetição de frases e repetição de palavras (uma ou duas por emissão). Já as disfluências atípicas são caracterizadas por repetição de palavras (três ou mais por emissão), repetição de sílaba e de som, prolongamento e bloqueio. Andrade (1999), em um estudo com brasileiros nativos, propôs uma classificação das disfluências que tem como diferença básica da classificação de Campbell e Hill (1995) a inclusão de pausas longas. Para a autora, a tipologia das disfluências dos indivíduos analisados resultou na divisão das disfluências em mais comuns e gagas. As disfluências mais comuns dizem respeito ao número de hesitações, interjeições, revisões, palavras incompletas, repetição de palavras e de frases. As disfluências gagas são caracterizadas pelo número de repetições de sílabas e de sons, prolongamentos, bloqueios e pausas longas. E são justamente essas interrupções, também chamadas de disfluências, que interferem na prosódia da fala dos indivíduos com gagueira. Provavelmente, o foco dado pelos estudiosos nos aspectos segmentais para explicar o fenômeno seja a justificativa da escassez de pesquisas que estudem a relação entre a prosódia e a gagueira. Vemos, porém, que alguns estudos foram desenvolvidos na tentativa de elucidar tal questão. 49
50 2.1.7 Aspectos prosódicos da fala com gagueira Obviamente, a organização temporal do discurso é prejudicada nos indivíduos que gaguejam no que tange às disfluências. No entanto, estudos mostram que outros parâmetros prosódicos, como duração e melodia, também se encontram alterados. Bosshardt et al (1997) estudaram sete adultos com gagueira em contraposição com um grupo controle de dez adultos sem gagueira. Os resultados mostraram que o aumento da frequência fundamental nas sílabas proeminentes foi maior nos indivíduos do grupo controle. Soares (2004) realizou uma pesquisa com quatro informantes, duas crianças com gagueira e duas sem gagueira, na qual foi observada uma relação entre a ocorrência de repetições e o deslocamento do pico da frequência fundamental. A autora sugeriu também que as frases que apresentaram disfluências tiveram menor variação de F0. Em uma pesquisa com nove indivíduos adultos com gagueira, Arcuri et al (2006) estudaram a duração de palavras no reconto de histórias durante a fala fluente. As autoras selecionaram quatro palavras, das quais uma apresentou diferença estatisticamente significativa entre os falantes com e sem gagueira. Cabe ressaltar que os valores de desvio padrão encontrados no estudo foram elevados apenas para o grupo com gagueira. Para estudar aspectos da organização temporal do discurso na fala com distúrbios, Cardoso e Reis (2008) montaram um corpus de leitura de sentenças com dois indivíduos adultos com gagueira, dois com apraxia e dois com desenvolvimento normal de fala. Foram estudados, dentre outros parâmetros, aspectos da duração de segmentos e a relação entre sílabas tônicas e átonas. Com relação a duração das vogais, os autores acima observaram que essa é maior na apraxia, seguida da gagueira e, por último, do grupo controle. Já na duração das consoantes, a apraxia e a gagueira apresentaram consoantes mais longas do que o grupo controle, mas com tendências diferentes. Na apraxia, os indivíduos seguiram a tendência normalmente 50
51 encontrada, com fricativas não vozeadas apresentando maiores valores de duração do que as demais consoantes. O grupo com gagueira apresentou maior duração do que o grupo com apraxia. E ainda, a duração das consoantes não segue a tendência normal determinada pelo vozeamento e pelo local e modo de articulação. Observaram também que as sílabas átonas apresentam maior duração nos dois grupos com desordens de fala. Comparando a duração de sílabas átonas e acentuadas, os autores verificaram que os indivíduos com gagueira gastam muito tempo com as sílabas átonas, deixando a proporção sílabas átonas + acentuadas quase a mesma. Ressaltaram, ainda, que o parâmetro de duração é muito relevante na sílaba tônica do português brasileiro e os resultados da pesquisa mostraram que os indivíduos com gagueira podem apresentar uma dificuldade específica nessa importante habilidade. Também com ênfase em parâmetros temporais da fala com gagueira, Arcuri et al (2009) investigaram a taxa de elocução de seis adultos com gagueira, sendo dois de grau leve, dois de grau moderado e dois de grau severo. Os resultados mostraram que os indivíduos com gagueira leve e moderada apresentaram taxas de elocução similares, mas se diferenciaram dos indivíduos com grau severo. Esses últimos apresentaram menor taxa de elocução. Os estudos acima descritos mostram que além dos problemas relativos a organização temporal da fala, os indivíduos com gagueira apresentaram diferenças quanto a frequência fundamental. A partir do exposto, é possível verificar que a gagueira conduz dificuldades em pelo menos dois aspectos prosódicos: organização temporal e melodia. Como estariam, então, as funções prosódicas? Discutiremos adiante a questão da função prosódica em si tendo como referência a expressão de atitudes. Uma pergunta ainda por ser respondida é, justamente: como os indivíduos que apresentam gagueira utilizam a prosódia na expressão de atitudes, considerando suas dificuldades de produção?. 51
52 2.2 Prosódia O termo prosódia apesar de ser largamente utilizado não apresenta consenso entre os pesquisadores quanto a sua definição. Os termos prosódia, entonação e supra-segmental ou não segmental confundem-se na literatura sobre o tema. Couper-Kouhlen (1986) faz uma distinção clara entre prosódia e não segmental. Para ela, os aspectos não segmentais são amplos e incluem os aspectos prosódicos, para linguísticos e não linguísticos, como mostra a figura abaixo: Figura 7: Divisão do enunciado em aspectos segmentais e não segmentais Adaptado de Couper-Kouhlen (1986) 52
53 Tal proposta será adotada nesta pesquisa por apresentar uma visão ampla da prosódia, no entanto, com uma ressalva: acreditamos que os aspectos de pausa e duração estariam unidos em apenas um, que é a organização temporal do discurso. A outra questão, a diferenciação do termo prosódia e entonação deve ser também realizada, pois muitos autores as utilizam como sinônimos e outros não. Reis (1984) diferencia duas visões diferentes para o termo entonação: (...) dois conceitos de entonação: o primeiro, mais restrito, considera unicamente as variações de altura melódica da frase, ou variação da frequência fundamental. Esse conceito estreito de entonação predomina nas pesquisas efetuadas na área de Fonética Instrumental (...); o segundo conceito de entonação, mais amplo, (...) não compreende apenas os contornos e os níveis de altura melódica, mas é estendida a outros sistemas prosódicos diferentes, como a força, a cadência e a velocidade de fala, resultando assim, em um complexo de traços de diferentes sistemas prosódicos. Reis (1984) Concordando com autores como Bolinger (1972), Liberman (1975), Pierrehumbert (1980), t Hart, Collier & Cohen (1990), Hirst & Di Cristo (1998), será utilizado nesta tese o sentido restrito do conceito de entonação. Dessa forma, o conceito de prosódia relaciona-se aos aspectos não segmentais do sinal da fala, a saber: a entonação, a organização temporal (abrangendo aspectos referentes à duração e pausas) e a intensidade. Tendo delimitado o conceito de prosódia, uma outra distinção deve ser realizada: a diferença entre forma e função. Para Hirst (2005), é necessário explicitar a diferença entre forma e função, sem fazer um salto das medidas acústicas para abstração. 53
54 2.2.1 Forma Seguindo a idéia de não realizar um salto entre as medidas acústicas e o estudo da função, optamos por seguir, inicialmente, o caminho apontado por Hirst et al (2000), no qual há uma divisão do estudo da prosódia em quatro níveis de análise: físico, fonético, fonológico de superfície e fonológico subjacente. O primeiro, nível físico, refere-se à acústica e fisiologia do sinal da fala, e estão tradicionalmente relacionados à frequência fundamental, duração e intensidade. Esta proposta do nível físico de análise é também vista, por alguns autores, como já fazendo parte do nível fonético de análise. O nível físico de análise Trataremos aqui dos três parâmetros físicos relacionados à prosódia: frequência fundamental, intensidade e duração. No entanto, não será dada ênfase à intensidade uma vez que não abordaremos tal parâmetro nesta pesquisa. A frequência fundamental é a frequência média da vibração das pregas vocais, determinando, em grande extensão, a altura da voz (Zemlin, 2000). Isso significa que a frequência fundamental relaciona-se diretamente com o ciclo de vibração das pregas vocais: se as pregas vocais vibrarem com maior velocidade, a frequência fundamental aumenta; se as pregas vocais vibrarem com menor velocidade, a frequência fundamental diminui. Dessa forma, a fisiologia vocal afeta diretamente a frequência fundamental (responsável pela sensação melódica do ouvinte). 54
55 As figuras abaixo mostram um ciclo vibratório completo das pregas vocais. A primeira mostra de forma esquemática, enquanto a segunda refere-se a uma imagem com vídeo de alta velocidade e seus correspondentes eletrolaringográficos. Figura 8: Diagrama da vibração das pregas vocais. Fonte: Voice problem organization 7 / Copyright (2004) Na figura 8, vemos que os esquemas de 1 a 3 representam o acúmulo de ar abaixo das pregas vocais com abertura gradual das mesmas. Em 4 e 5, a coluna de ar continua a fazer pressão, agora com as pregas vocais totalmente abertas. De 6 a 10, a baixa pressão e efeitos mioelásticos causam a fase de fechamento, primeiro nas bordas inferiores. Em 10, as pregas vocais estão totalmente fechadas (Voice problem organization, 2004). Na figura 9, podemos observar as fases de abertura e fechamento com maior detalhe. 7 Diagrama disponível livremente na Internet no link 55
56 Figura 9: Fases de abertura e fechamento das pregas vocais. Fonte: SCIAMARELLA et al, Na figura 9 temos três imagens de um ciclo vibratório completo das pregas vocais, sendo a primeira referente a um vídeo de imagens ultra-rápidas, enquanto a segunda e referem-se a terceira a eletroglotografia sincronizada. Cada ciclo vibratório, mostrados nas figuras 8 e 9, pode ser visualizado, com menor riqueza de detalhes, na análise acústica por meio do sinal de fala, como pode ser visualizado na figura a seguir: Figura 10: Sinal de fala e espectrograma mostrando detalhes de um ciclo vibratório. 56
57 No entanto, para estudar a média dos ciclos vibratórios, a frequência fundamental, a análise acústica tem se mostrado fundamental nas pesquisas da área. Ela é representada, na figura 10, pela linha azul. A frequência fundamental pode ser medida em hertz ou em oitava. Quando medimos a frequência de forma linear, ou ciclos por segundos, obtemos a unidade hertz (Hz). Ao fazer uma relação entre as medidas de frequência em Hz, podemos chegar aos tons ou semitons. A oitava é obtida através de uma forma logarítmica (Fernandes, 2002). Já a intensidade é a quantidade de energia contida no movimento vibratório. Ao fazermos a relação entre intensidade sonora e audição, precisamos aumentar a intensidade de maneira exponencial para que o ouvido humano a perceba como linear. A escala mais utilizada atualmente para esta medida é o decibel (db) e é designada como Nível de Intensidade Sonora (NIS) (Fernandes, 2002). Por fim, a duração é o aspecto da prosódia diretamente ligado ao tempo. Segundo Harvey (2003) é preciso compreender as diferentes facetas que o tempo e o espaço podem exprimir nas mais variadas práticas humanas. Abbagnano (2000) apresenta uma definição do tempo físico como ordem mensurável do movimento, proposta que seguiremos nesta pesquisa. Dessa forma, os parâmetros relacionados à duração estão diretamente relacionados ao tempo, que pode ser medido em segundo ou milissegundo. Vimos, então, os três parâmetros físicos da prosódia (frequência fundamental, intensidade e duração), correspondentes ao primeiro nível de análise. Para Couper-Kuhlen (1986), os parâmetros descritos como pertencentes ao nível físico de análise são colocados como parâmetros acústicos: frequência fundamental, intensidade e tempo. Esses são relacionados a melodia, altura e duração no nível perceptivo. Já para Moraes (1984), a duração estaria dentro da análise acústica, enquanto seu correspondente no nível perceptivo seria o alongamento. 57
58 Quanto ao segundo nível de análise prosódico, fonético, discutiremos algumas medidas relacionadas a duração e a frequência fundamental. O Nível fonético de análise No que diz respeito à duração, apresentamos que as medidas temporais puras podem ser encaixadas no nível físico de análise. Assim, ao tomar medida de um enunciado ou suas pausas, por exemplo, acreditamos que tal exame seja relacionado ao nível físico, uma vez que se limita a averiguar qual o tempo gasto em um determinado espaço (representado pelo sinal de fala). No entanto, a partir do momento que as medidas se relacionam à organização temporal do discurso, passamos para o nível fonético de análise. Isso quer dizer que os parâmetros acústicos retirados do sinal e reinterpretados dentro de uma perspectiva linguística nos levam ao nível fonético de análise. Dentro do nível de análise encontramos, então, as variáveis temporais. Grosjean (1972) e Grosjean e Deschamps (1975) propõem uma série de medidas relacionadas à organização temporal do discurso. Três medidas de duração simples são propostas como ponto de partida: tempo de elocução duração total de um determinado enunciado), tempo de pausas (duração total dos espaços de silêncio no discurso) e tempo total de articulação (que é a duração resultante da subtração do tempo de pausas do tempo total de elocução). A duração mínima que um tempo de silêncio deve apresentar para ser considerado pausa ainda não é consensual entre os estudiosos da área. Para Grosjean e Deschamps (1975) são pausas os tempos de silêncio superiores a 250 milissegundos. Schwab (2007) considerou igualmente como pausa o tempo de silêncio que apresentava, no mínimo, 250 milissegundos. 58
59 Já para Stuckenberg e O Connell (1988) a duração mínima foi de 130 milissegundos. Uma duração ainda menor, 100 milissegundos, foi considerada como pausa por Riazantseva (2001). No entanto, estudos recentes mostram que pausas inferiores a essas são percebidas e interpretadas como tais por interlocutores (Nascimento, 2006). Com base nas três medidas de duração anteriormente expostas, Grosjean e Deschamps (1975) propuseram variáveis temporais considerando o número de sílabas expressas e as medidas do tempo total de elocução e tempo total de articulação. Os autores propuseram que ao se dividir o número total de sílabas pelo tempo total de elocução, chegaríamos à taxa de elocução. Essa fornece ao ouvinte uma sensação global da velocidade de fala. Os mesmos autores colocaram, ainda, que para se obter a taxa de articulação, basta dividir o número total de sílabas pelo tempo total de articulação. Essas medidas e variáveis de tempo foram utilizadas em estudos posteriores na leitura de adultos (Carvalho, 2003), na leitura de crianças (Celeste, 2004), na leitura de crianças com dislexia (Alves, 2007), na fala no comando militar (Souza, 2007), dentre outros. Na tentativa de averiguar o perfil de fluência do falante do português brasileiro, Martins e Andrade (2008) calcularam a taxa de elocução (chamada pelas autoras de velocidade de fala) de 594 indivíduos. A figura abaixo mostra os resultados encontrados para os diferentes grupos, separados por idade. As autoras calcularam palavras e sílabas por minuto. 59
60 Figura 11: Taxa de elocução de falantes do português brasileiro divididos por faixa etária. Fonte: Martin e Andrade (2008) Como foi possível observar, esses parâmetros têm se mostrado ferramentas valiosas no estudo da prosódia da fala, em indivíduos com desenvolvimento de fala e linguagem adequados e com alterações. Outra variável relativa à duração é o alinhamento da curva de frequência fundamental com a vogal tônica do enunciado. Quando Bruce (1977) mostrou em sua tese que a distinção do acento de palavras do sueco é baseada numa coordenação entre vogais acentuadas e movimentos da curva de frequencia fundamental (F0) a questão do alinhamento temporal e a movimentação da curva de F0 passaram a ser exploradas em diversos estudos. Alguns marcos, ou pontos, do contorno de F0, como pontos máximos e mínimos de F0, são alinhados na cadeia segmental, como início e fim de sílaba (Bruce, 1977). Desde então, estudos que visavam entender a questão do alinhamento foram desenvolvidos em diversas línguas: Silverman e Pierrehumbert (1990) no inglês; Pietro et al (1995) no espanhol do México; Arvaniti, Ladd e Mennem (1998) no grego; D Imperio (2001) no italiano; Atterer et al (2004) no alemão; Schpmen, Lickley e Ladd (2006) no holandês; Pietro et al (2006) no catalão e espanhol; Pietro (2007) no catalão; dentre outros. Esses 60
61 estudos têm um ponto em comum: o ponto mais baixo de F0 (L) parece ser mais estável do que o ponto mais alto (H). No entanto, como já pode ser notado pelos símbolos H e L, esses estudos consideram, para o estudo do alinhamento, o nível fonético e fonológico de estudo. Optamos, no entanto, por tratar de tal questão neste momento, uma vez que a medida de duração é essencial para tais estudos. O alinhamento do movimento de F0 com a cadeia segmental pode ser marcado com relação à sílaba (Atterer et al, 2004). Os estudos acima descritos tratam do alinhamento na fala neutra. O estudo do alinhamento na expressão de atitudes e emoções ainda é escasso na literatura. No entanto, Chuenwattanapranithi et al (2006) mostraram que há variação nos padrões de alinhamento no que tange as expressões de alegria e raiva. Os autores observaram que o alinhamento do valor máximo de F0 para a alegria foi alcançado mais rapidamente do que para a raiva. E ainda, a queda dos valores de F0 foi mais brusca na raiva (Chuenwattanapranithi et al, 2006). Crocco (2006) estudou diferentes atitudes em perguntas no italiano. A autora observou que quando a busca assume a característica de buscando confirmação, ocorre uma mudança nos padrões de alinhamento da curva de F0, mais especificamente do ponto mais baixo de F0 na sílaba que precede a tônica. Ressaltamos que para que o alinhamento do movimento de F0 seja sincronizado com a sílaba, é necessário que o indivíduo execute movimentos em todo o trato vocal de maneira coordenada. Chuenwattanapranithi et al (2006) mostraram que pequenas variações, como o abaixamento da laringe, podem ser responsáveis por essa coordenação. Sabemos, no entanto, que alguns distúrbios da fala, como a gagueira, apresentam como base a dificuldade na coordenação temporal dos movimentos envolvidos na produção de fala. Como consequência, nos questionamos se o alinhamento da curva de F0 com a cadeia segmental pode ou não ser influenciada pelas disfluências (momentos de fala não coordenados temporalmente) do indivíduo que apresenta gagueira. 61
62 Ainda sobre alinhamento, no que diz respeito ao português brasileiro, Colamarco e Moraes (2008) propõem uma notação específica para os aspectos relacionados ao alinhamento temporal do pico de F0 na sílaba tônica final. Ressalta-se, aqui, a análise do alinhamento foi fonológica apenas. Feitas tais considerações sobre a duração no nível fonético de análise, discutiremos a frequência fundamental nesse mesmo nível. O estudo da prosódia no nível fonético pode ser conduzido unindo a percepção auditiva dos eventos prosódicos e a acústica análise de tais eventos em programas computadorizados. Como consequência, diferentes medidas podem ser retiradas de um enunciado tendo como base a frequência fundamental. Tais medidas vão variar de estudo para estudo, dependendo dos objetivos traçados pelo pesquisador. No entanto, algumas medidas são mais comumente encontradas na literatura. Valores de F0 encontrados ao longo de um enunciado podem possibilitar interpretações e análises diferenciadas dentro do estudo da prosódia. Os pontos inicial e final, máximo e mínimo são encontrados frequentemente em estudos com enfoque fonético (Alves, 2002; Queiroz, 2004; Azevedo, 2007; Alves, 2007; Antunes, 2007). A variação melódica, segundo Maciel e Rothe-Neves (2007), é uma medida recorrente nos trabalhos que estudam a prosódia no português brasileiro, caracterizando a curva melódica de uma forma global ou local. A forma local se caracteriza, essencialmente, pela descrição do movimento da curva melódica intra-silábica. Porém muitas vezes, o foco deixa de ser fonético para entrar no nível fonológico, via classificação da curva como plana, ascendente ou descendente, por exemplo. Maciel e Rothe-Neves (2007) mostram que a investigação de aspectos ligados a F0, independentemente dos parâmetros analisados, segue uma direção: adota-se os locais (ou sílabas) considerados mais relevantes e, após, traça-se os valores acústicos de F0. 62
63 A relação entre o segundo nível, fonético, e a frequência fundamental pode também ser representada pela modelização ou estilização da curva melódica, a fim de extrair os dados significativos da curva de frequência fundamental. No entanto, a maioria dos programas que faz esse tipo de estilização utiliza uma sequência de linhas retas segmentadas, enquanto o MOdélisation de MELodie (MOMEL) usa uma sequência de segmentos do tipo parábola (Campione et al, 2000). O MOMEL foi proposto originalmente por Hirst em 1983 e automatizado por Hirst e Espesser em O uso do algoritmo MOMEL se justifica pelo uso da função quadrática spline que resulta numa curva contínua e suave. A estilização através dessa função produz uma curva bem próxima à original de frequência fundamental, sem perda de informações significativas (Hirst, 2005). A figura abaixo mostra o resultado apresentado por meio da estilização da curva de frequência fundamental. 63
64 Figura 12: Sinal de fala, espectrograma, curva melódica e estilização da curva pelo programa MOMEL. Como pode ser visto, a estilização da curva de frequência fundamental nos permite verificar, sob o ponto de vista fonético, o quanto variou o conjunto de pontos da frequência fundamental ao longo do enunciado. Celeste, Hirst e Reis (2009) realizaram um estudo preliminar sobre o tema com dez falantes do sexo masculino (tendo como língua materna o português brasileiro) e verificaram que há maior desigualdade do movimento da curva melódica ao longo do enunciado na expressão de dúvida quando comparada às modalidades declarativas e interrogativas. O estudo teve como base o número de pontos alvo estilizados nos dois primeiros terços e no último terço de cada enunciado. Esse estudo nos leva a questionar sobre a relevância da análise da curva melódica estilizada na expressão de atitudes. Dessa forma, a frequência fundamental será analisada no presente estudo, no nível fonético, por meio de sua curva estilizada. 64
65 O nível fonológico de superfície O terceiro nível, fonológico de superfície, transpõe os dados quantitativos do nível anterior para dados qualitativos. A proposta do International System of Intonation Transcription (INTSINT) é justamente realizar esse tipo de notação por meio dos dados fornecidos pelo programa MOMEL. Assim, enquanto o MOMEL capta dados relevantes da curva de frequência fundamental sem perda significativa de informação através de pontos alvo, o programa INTSINT os codifica em uma série limitada de símbolos, como ilustra a figura a seguir. Figura 13: Sinal de fala, curva de F0, pontos alvo do MOMEL e codificação do INTSINT da frase se eu sair depois das sete horas da noite, eu vou precisar de um ônibus leito Fonte: Celeste (2007) 65
66 Os símbolos do INTSINT são T (topo), M (médio), B (baixo), H (mais alto), L (mais baixo), S (igual), U (subida suave) e D (descida suave). Os pontos T, M e B são absolutos, ou seja, não dependem de qualquer outro ponto para ser calculado (Lou e Barnard, 2004). O T refere-se ao ponto alvo mais alto enquanto o B ao mais baixo. Como todo enunciado deve iniciar por um ponto absoluto, quando não começa por T ou B o primeiro ponto alvo será necessariamente codificado como M. O símbolo S mostra que não houve mudança significativa do ponto alvo com relação ao seu precedente (Louw e Barnard, 2004). Os pontos alvo mais altos que os precedentes, mas não são T, podem ser classificados como H (mais alto) ou U (subida suave) e os pontos mais baixos que os anteriores se dividem em L (mais baixo) e D (descida suave) (Hirst e Di Cristo, 1998). Como a análise do INTSINT é automática, a aplicação da fórmula abaixo irá definir como será realizada a codificação dos pontos alvo: Pi = Pi-1 + c.(a-pi), onde, Pi é valor do ponto que se quer encontrar, Pi-1 refere-se ao valor do ponto precedente, c é constante (com valores de 0,25 para U e D e 0,5 para H e L) e A pode ser o valor de T ou B quando os valores forem para H e U ou L e D, respectivamente (Hirst, 2005 e Hirst e Auran, 2005). Por fim, o nível fonológico subjacente une forma e função prosódica. Até o momento, foi apresentada uma breve revisão da literatura sobre a organização prosódica no discurso, focando os aspectos formais. Antes de abordarmos aspectos inerentes à 66
67 função prosódica na comunicação, apresentaremos estudos que visaram mostrar como a disfluência pode interferir na prosódia (também com ênfase nos aspectos formais) Interferência das disfluências nos aspectos formais da prosódia Estudos sobre a possível influência das disfluências na organização prosódica do discurso são escassos na literatura. Além disso, nesse tipo de análise no qual se verifica a prosódia de um mesmo falante relacionando momentos de disfluência e momentos fluentes, foram encontrados estudos somente na fala normal, sem distúrbios ou alterações de fala. Shriberg (1999) estudou algumas consequências fonéticas das disfluências. Dentre os aspectos fonéticos estudados, a entonação e a duração são os elementos prosódicos apresentados. De uma forma geral, Shriberg verificou que os efeitos fonéticos na reparação de disfluências são mais fortes no próprio local da interrupção ou ao redor. O efeito mais recorrente encontrado foi o alongamento da sílaba imediatamente precedente. Quando os falantes modificam a melodia, tendem a fazê-lo preservando os padrões de entonação: o contorno melódico é similar, apenas estendido. A figura abaixo exemplifica tal achado. Figura 14: Exemplo de alongamento silábico com preservação do contorno melódico na disfluência. Fonte: Shriberg (1999) 67
68 No exemplo acima, vemos que a primeira vez que o falante pronuncia a palavra the, a duração é maior do que para a produção da mesma sílaba logo em seguida. No entanto, a autora não apresentou em seu artigo como as disfluências poderiam afetar a prosódia em suas fronteiras imediatas. Costa (2008) pesquisou qual seria a relação entre aspectos prosódicos e disfluências marcadas pelo não acontecimento do sândi vocálico externo. Para tanto, foi utilizada a fala espontânea de quatro informantes, com idade variando de 25 a 35 anos. A busca, na verdade, foi na tentativa de justificar a não ocorrência do sândi devido, também, a aspectos prosódicos da fala. A autora verificou que durante a não ocorrência do sândi houve um aumento na variação melódica além de um alongamento da vogal final. Delfino (2009) estudou a fala espontânea de seis informantes de ambos os sexos com objetivo de analisar a prosódia nas disfluências de reparo. Tais disfluências foram classificadas pelo autor como uma interrupção consequente de o falante não ter tido tempo suficiente para planejar sua fala (...) necessitando assim interrompê-la, retomar a informação e, então, corrigi-la. Ao analisar os parâmetros acústicos de F0 (inicial, final, média, máximo, mínimo e tessitura) não foi verificada uma alteração significativa dos mesmos durante a produção da correção ao comparar com o trecho no qual ocorreu a disfluência. Seguindo a mesma comparação (trecho no qual ocorreu a disfluência versus trecho logo em seguida da disfluência), Delfino (2009) observou que a taxa de articulação (ou seja, a média de duração silábica excluindo-se pausas) é menor após a disfluência do que no momento da disfluência em si. Apesar de esses estudos mostrarem que existe uma relação entre prosódia e disfluências, nenhum deles abordou indivíduos com alterações de fala, como a gagueira, tão pouco uma função comunicativa específica da prosódia. Como o presente trabalho trata de tais questões, foi realizada uma breve revisão da literatura sobre funções da prosódia. 68
69 2.2.3 Funções da prosódia A questão das funções prosódicas é muito discutida e nem sempre os autores concordam entre si. Fónagy (2003) apresentou uma série de funções prosódicas, das quais destacamos: Função de demarcar unidades discursivas, segmentação. O autor coloca essa função como primordial para a compreensão da fala, lembrando da dificuldade encontrada na leitura de textos lineares (sem qualquer pontuação). Função de ênfase. Tal função se apresenta no sentido de dirigir a atenção do interlocutor para uma determianada expressão ou palavra. Função sintática. A principal função sintática da prosódia parece ser a de elimitar (ou tentar eliminar) a ambiguidade. Função preditiva. A preparação da frase que seguirá a característica de progressividade da fala se manifesta particularmente no nível prosódico. Função modal. A prosódia exerce uma função distintiva das modalidades 8. Função expressiva. A expressão de emoções e atitudes por meio de modelações prosódicas. Fonagy (2003) Segundo Antunes (2007), essas funções prosódicas propostas por Fonagy (2003) não apresentam consenso: enquanto algumas são questionadas outras são mais aceitas pelos pesquisadores da área. 8 para detalhes ver Antunes,
70 No entanto, dentro da perspectiva do presente estudo, abordaremos, a seguir, a função expressiva da prosódia, mais especificamente a expressão de atitudes A Prosódia e a Expressão de Atitudes Estudos sobre a relação entre a prosódia e as atitudes vêm sendo incentivados (Mozziconacci, 1997; Reis, 2010) e abordados (Azevedo, 2007; Queiroz, 2004; Alves, 2002) na tentativa de caracterizar e representar os aspectos prosódicos na expressão de atitudes do locutor. Este estudo é apresentado a fim de somar esforços no sentido de uma melhor compreensão da prosódia na expressão de atitude. E, ainda, como é realizada a expressão de atitudes em casos nos quais o locutor apresenta falhas nos aspectos prosódicos, como acontece na gagueira. No entanto, para entender a função expressiva da prosódia é preciso inicialmente compreender os chamados estados afetivos do falante : humor, atitudes, emoções, intenções, posturas (em relação ao interlocutor) e os traços da personalidade do falante (Antunes, 2007). Porém, os conceitos de estados afetivos do falante se confundem na literatura, seguindo linhas diversas para conceituação. Neste estudo serão apresentados alguns conceitos que nortearão a pesquisa na busca por uma base teórica para o estudo das atitudes e a relação desta com a prosódia. Daremos foco aqui nas discussões sobre emoções e atitudes, já que atitude faz parte do tema principal desta tese e muitos autores não diferenciam atitudes e emoções. Para diferenciar atitude e emoção, optamos por nos basear em Couper-Kuhlen (1986) que colocam as atitudes como sendo produções cognitivamente monitoradas. Já as emoções não podem ser monitoradas, sendo controladas pela fisiologia (logo, universais). 70
71 Neste sentido, Wilson e Wharton (2006) propuseram o seguinte diagrama: Figura 15: Esquema de transmissão de informação prosódica segundo a Teoria da Relevância A figura 15 mostra que as informações transmitidas pela prosódia podem ser executadas de forma não intencional e intencional. A forma não intencional diz respeito às emoções. No entanto, as emoções podem ser encobertas ou disfarçadas de forma intencional. Já as atitudes são transmitidas de forma intencional e evidente (Wilson e Wharton, 2006). A distinção entre emoções e atitudes baseadas na natureza de sua concepção involuntária e voluntária, respectivamente, vem ganhando força nos últimos anos (Sherer, 1979; Couper-Kuhlen, 1986; Aubergé, 2002; Wilson e Wharton, 2006; Antunes, 2007; Shoci et al, 2008). É essa nossa posição no presente estudo. Com base nessa distinção, apresentaremos a seguir alguns estudos sobre a prosódia na expressão de atitudes. Apesar dos primeiros estudos sobre emoções ou emoções/atitudes datarem da década de setenta do século XX (Antunes, 2007), o nosso foco são os estudos que visaram somente a expressão de atitudes. Em 1990, Tench estuda algumas atitudes com intuito de elaborar um léxico entonativo. No entanto, o autor não distingue de forma clara as atitudes que utilizou. Para 71
72 Tench, a entonação, o léxico e a qualidade vocal são os responsáveis pela expressão de atitudes. A persuasão foi estudada por Alves (2002) em contraposição com enunciados informativos. Para confirmação dos rótulos dados pela pesquisadora, os enunciados foram submetidos a um teste perceptivo. A autora estudou aspectos relacionados a frequência fundamental e a duração. Os resultados mostraram que os enunciados persuasivos apresentaram maior variação melódica, frequência usual e velocidade do movimento melódico quando comparados aos enunciados informativos. Quanto aos parâmetros de duração, a pausa praticamente não foi encontrada nos enunciados persuasivos e a velocidade de fala não sofreu muita alteração. Piot e Lyaghat (2002) estudaram as seguintes atitudes da língua persa padrão para assertivas: neutro (AN), restrição (AR), confirmação (AC), advertência (AV), lassitude (LAS) e evidência (EVI). Os autores estudaram o tipo de contorno de F0, a intensidade e a duração de cada sílaba, sendo X a última sílaba acentuada, x as demais sílabas, com exceção da última sílaba, x, que segue X. A intensidade e a duração foram marcadas hierarquicamente, da mais fraca a mais forte (*, **, ***, ****, *****). A figura abaixo mostra as tendências encontradas pelos autores seguindo esse tipo de análise. Figura 16: Representação esquemática das tendências observadas de cada atitude em enunciados assertivos do persa. Fonte: Piot e Layqhat (2002) 72
73 Os autores sugerem que os parâmetros a serem estudados (contorno melódico, intensidade e duração) sejam analisados em conjunto e não separadamente. Moraes e Stein (2006) estudaram as atitudes de consideração, desprezo, desapontamento, ironia, justificação, obviedade e incerteza. Uma mesma frase foi produzida por um sujeito e passou por processos e síntese e ressíntese, além de teste perceptivo. Os autores concluíram que algumas atitudes são mais marcadas por variações de F0 enquanto outras por variações nos parâmetros de duração. Ao estudar atitudes dentro de questões, Antunes (2007) realizou etiquetagem (com auxílio de testes perceptivos) para questões neutras, com dúvida, críticas, incrédulas, indutivas, com interesse e com provocação. A autora estudou diversos parâmetros para o enunciado como um todo e para sílabas específicas de F0, como pontos de F0 inicial e final, tessitura e taxa de variação do movimento de F0 e de duração, como duração de sílabas e pausas. A autora mostrou que para a forma neutra, os valores de F0 são menores, enquanto a duração apresentou valores médios. Já a crítica apresenta valores altos de F0, em especial no início dos enunciados, com duração mais longa quando comparada às demais atitudes estudadas. A indução apresenta valores de F0 mais baixos, com menor variação do movimento melódico, com duração média. Uma característica marcante para a expressão de dúvida é apresentar valores mínimos de F0 mais elevados do que os encontrados nas demais atitudes. A incredulidade apresentou os valores de F0 mais altos dentre as atitudes estudas pela autora, enquanto o interesse apresentou valores intermediários entre o neutro e a dúvida. Por fim, a provocação tem valores de F0 maiores do que dúvida e interesse, porém menores do que crítica e incredulidade (Antunes, 2007). 73
74 A fim de estudar características acústicas do sarcasmo, Cheang e Pell (2008) gravaram a expressão dessa atitude por seis falantes nativos do inglês. Os enunciados passaram por um teste perceptivo e aqueles considerados com suscesso receberam etiquetagem para análise acústica. Foram analisados a média e desvio padrão de F0, tessitura, variação de intensidade, velocidade de fala, taxa de harmonicidade (do inglês harmonics-to-noise) e ressonância nasal da vogal /i/. A expressão do sarcasmo foi comparada com a forma neutra, atitude de humor e sinceridade. Os resultados do estudo acima descrito apontaram diferenças estatisticamente significativas entre as atitudes para as medidas de F0 realizadas, sendo que o sarcamo tende a apresentar valores mais baixos em todas elas. A velocidade de fala e a harmonicidade também apresentaram diferenças estatisticamente significativas, com valores mais baixos para o sarcasmo. O estudo da ressonância da vogal /i/ mostrou maior amplitude em quase todas as frequências tidas como cruciais. Já a variação da intensidade não apresentou diferença estatisticamente significativa entre as atitudes (Cheang e Pell, 2008). Silva (2008) realizou um estudo com 10 atores a fim de analisar aspectos prosódicos na expressão das atitudes de certeza, dúvida e incerteza, no português brasileiro. A autora realizou dois testes perceptivos para verificação das atitudes, um aberto e um fechado. Foram considerados os enunciados que tiveram pelo menos 50% de respostas adequadas. Ao comparar as atitudes de incerteza e dúvida com a certeza, foi verificado que a F0 média e a tessitura do enunciado foi maior na incerteza e menor na dúvida, enquanto a duração foi maior na incerteza e na dúvida e menor na certeza. A autora observou prolongamentos apenas na dúvida e na incerteza, já pausas foram encontradas somente na incerteza. Os estudos acima descritos mostram uma grande preocupação dos pesquisadores da área com o interlocutor, uma vez que a maior parte das pesquisas contam com testes perceptivos. Dessa forma, buscamos uma teoria pragmática que relacione a intenção 74
75 comunicativa, aqui representada pela expressão de atitudes, e a percepção que o locutor tem da mesma. Seguindo a proposta acima apresentada, acreditamos que a teoria pragmática que melhor suporta nossa pesquisa é a teoria da relevância, da qual trataremos a seguir A Teoria da Relevância A teoria da relevância foi proposta por Sperber e Wilson em 1986 e teve como pressuposto teórico a abordagem de Grice para o significado e a comunicação. Iniciaremos, então, esta seção discursando brevemente sobre a proposta de Grice e, em seguida, sobre a teoria da relevância em si. Para Grice, a descrição da comunicação em termos de intenções e inferências é, de certa forma, comum. Somos todos locutores e ouvintes. Como falantes, nós levamos o nosso ouvinte a reconhecer nossa intenção de informá-lo de alguns state of affairs. Como ouvintes, nós tentamos reconhecer o que o falante tem a intenção de nos informar (Sperber e Wilson, 1995). A comunicação envolve a publicação e a compreensão de intenções, já que para Grice significar qualquer coisa a qualquer pessoa consiste em realizar uma relação intencional (Sperber e Wilson, 1995; Paveau e Sarfati, 2006). Sperber e Wilson, porém, colocam alguns questionamentos sobre o aporte e os limites da abordagem de Grice: We believe thar the basic Idea of Grice ( ) has even wider implications: it offers a way to developing the analysis of inferential communication, suggested by Grice himself ( ) into an explanatory model. To achieve this, however, we must leave aside the various 75
76 elaboration of Grice s original hunches and the sophisticated, though empirically rather empty debates they have given rise to. (Sperber e Wilson, 1995) Tal elaboração fez com que os autores acima citados levantassem as seguintes questões: 1. Qual seria a forma de compartilhar informação disponível para o ser humano? 2. Como é compartilhada a informação na comunicação? 3. O que é relevância e como esta é atingida? 4. Quais regras de relevância utilizamos na comunicação? A partir de tais questionamentos, Sperber e Wilson desenvolvem a teoria da relevância, com primeira edição do livro Relevance & Cognition em 1986 e a segunda em A teoria da relevância tem como base dois princípios gerais, o cognitivo e o comunicativo. O princípio cognitivo é de que a cognição humana tende a ir na direção da maximização da relevância. O princípio comunicativo refere-se ao fato de que as alocuções geram expectativas de relevância. Esses princípios gerais relacionam-se com o próprio conceito de relevância, que é tida como uma propriedade das entradas de dados para os processos cognitivos (sejam eles elocuções, memória, sons, etc.). Mas o que torna uma entrada de dados relevante ou não? Para que uma entrada de dados seja relevante ela tem que valer a pena ser processada e isto é explicado em termos de efeito cognitivo e de esforço de processamento (Sperber e Wilson, 1995). Para Sperber e Wilson (1995) os efeitos cognitivos são o fortalecimento e a contradição das suposições existentes, bem como a combinação entre as mesmas resultando 76
77 em implicações contextuais. Dessa forma, quanto maior são os efeitos cognitivos, maior é a relevância. Por outro lado, para que esses efeitos cognitivos sejam processados, o ouvinte deve realizar algum esforço mental, e quanto menor for esse maior é a relevância. Na tentativa de clarear tais idéias, propomos um exemplo. Maria vai ao cartório resolver alguns problemas para a irmã. Na volta, podemos vislumbrar as seguintes elocuções: (1) Eu entreguei o documento. (2) Eu entreguei a certidão de nascimento. Ambas as elocuções trazem informações para a irmã de Maria, porém (2) carrega mais efeitos cognitivos que (1), além de exigir menor esforço mental. Consequentemente, (2) é mais relevante que (1). No entanto, tal pressuposto só é verdadeiro caso o interlocutor não saiba previamente a razão pela qual Maria vai ao cartório. Isto porque se o interlocutor sabe de antemão que Maria precisa entregar a certidão de nascimento no cartório, talvez a relevância seja a mesma para ambas as frases. Consideremos agora o ouvinte. Para interpretação de uma elocução, o ouvinte deve satisfazer sua expectativa de relevância, como sugere o princípio comunicativo da relevância. Devem ser processadas, então, as informações explícitas e implícitas de forma a considerar as hipóteses interpretativas (desambiguações, suposições, etc.) e poder parar assim que suas expectativas alcançarem o nível esperado de relevância (Sperber e Wilson, 1995). Dessa forma, o que está explícito não se limita a descodificação, e sim abrange um elemento inferencial. Para Sperber e Wilson (1995) isso trás como implicações um estreitamento ou alargamento do sentido literal. Dentro da visão de alargamento do sentido literal, vejamos o exemplo dado pelos autores (p. 239) que começará a nos nortear, neste estudo, para a relação entre a teoria da relevância e os aspectos prosódicos da fala: 77
78 (3) a. Ele: Está um lindo dia para um piquenique. [Eles partem para um piquenique e o sol brilha] b. Ela (alegremente): Está, na verdade, um lindo dia para um piquenique. (4) a. Ele: Está um lindo dia para um piquenique. b. Ela (sarcasticamente): Está, na verdade, um lindo dia para um piquenique. Em (3), poderíamos analisar que as elocuções proferidas tiveram o sentido literal e estreito utilizados pelos falantes. Já em (4), a atitude sarcasmo utilizada em b é manifestada, ou expressa, por meio de aspectos prosódicos. Esses são considerados importantes para os autores, porém os mesmos não entram em detalhes de como o interlocutor, no caso 4. a, percebe a fala como sarcástica. Sabemos que o contexto auxilia em tal interpretação, mas acreditamos que exista algo além, que seria justamente os aspectos prosódicos da fala. No entanto, vimos que os indivíduos que apresentam desordens de fala, como a gagueira, apresentam um prejuízo considerável na produção da cadeia segmentar de forma fluente e na prosódia. Como consequência, a fala desses indivíduos apresentará limitações na expressão de atitudes, sendo esta uma função prosódica. A seguir serão apresentados alguns estudos que tentaram analisar a prosódia na fala de indivíduos com desordens de fala e linguagem. 78
79 2.3 Prosódia, atitudes e desordens de fala e linguagem Como já observado na revisão da literatura realizada até aqui, os estudos sobre a prosódia e a expressão de atitudes ainda são escassos na literatura. Ao investigar a relação da prosódia na expressão de atitudes em indivíduos com desordens de fala e linguagem, encontramos dificuldades ainda maiores. Dessa forma, descreveremos os poucos estudos encontrados sobre o assunto, sem nos focarmos na gagueira. Seguindo a idéia exposta sobre a teoria da relevância, a comunicação se dá por meio da fala e de sua interpretação. Dessa forma, assumimos aqui a relevância de estudos relativos a produção e percepção da fala. O primeiro estudo que descreveremos aqui é o de Azevedo (2007) que teve como objetivo estudar os parâmetros prosódicos utilizados na expressão de atitudes em indivíduos com doença de Parkinson idiopática. Para tanto, a autora separou os indivíduos com doença de Parkinson em grupos diferentes, tendo como base a administração da levodopa (principal medicação usada nessa patologia) e o tratamento fonoaudiológico. Assim, a pesquisa foi conduzida separando-se indivíduos com e sem medicação, com e sem tratamento fonoaudiológico, e com a junção dos dois. O corpus foi composto de três frases produzidas em quatro formas diferentes: duas modalidades (declarativa e interrogativa) e duas atitudes (certeza e dúvida). Para auxiliar na expressão de atitudes, foram formuladas situações que levassem os participantes a emiti-las com maior facilidade. A autora realizou medidas acústicas de F0 e duração dos enunciados, a saber: valores máximo, mínimo e medial (valor do meio da vogal) de F0 e tessitura da tônica nuclear 9 e da vogal pretônica; máximo e mínimo de F0 e tessitura do enunciado; taxa de velocidade de variação melódica da tônica e pretônica; F0 inicial e final do enunciado; duração da tônica, 9 A tônica nuclear é considerada pela autora como a vogal mais proeminente de cada enunciado. No presente estudo, a mesma vogal foi chamada de tônica proeminente. 79
80 pretônica e do enunciado; tempo do início da tônica e da vogal pretônica; intensidade máxima, mínima e média do enunciado. Os resultados encontrados no estudo mostraram que os pacientes com doença de Parkinson não apresentaram diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros prosódicos analisados na comparação entre a modalidade declarativa e certeza e entre a modalidade interrogativa e a atitude de dúvida. Cabe ressaltar que esse achado leva em conta o uso ou não da levodopa, o tratamento fonoaudiológico e a aplicação de ambos. Dessa forma, a autora concluiu que o fato do indivíduo apresentar doença de Parkinson faz com ele não empregue os parâmetros prosódicos de forma diversa para expressar as atitudes (Azevedo, 2007). No âmbito da percepção, Pell (2007) desenvolveu uma pesquisa com indivíduos com e sem lesão focal no hemisfério direito. O objetivo do experimento foi compreender como a prosódia age como pista na expressão da confiança e como os ouvintes com lesão focal no hemisfério direito avaliam essa atitude. O corpus foi constituído de frases em inglês contendo de seis a 11 sílabas. Duas condições foram construídas para a inferência da confiança. A primeira foi a linguística, na qual as frases apresentavam afirmações semanticamente informativas (como, por exemplo You turn left at the lights). Essas iniciavam-se por unidades informacionais como com certeza, muito provavelmente e talvez, a fim de conduzir graus relativamente alto, médio e baixo de confiança através de pistas linguísticas e prosódicas. Para auxiliar os falantes a produzir diferentes níveis de confiança, foram elaboradas diferentes situações que os levassem a expressar os graus de confiança. A segunda condição foi a prosódica, na qual pseudo frases foram construídas assemelhando-se a cada grau de confiança da condição linguística (ex. You turn left at the lights You rint mig at the flugs). Cada uma das frases foram produzidas para transmitir graus alto, médio e baixo de confiança por meio de pistas prosódicas apenas. Para auxiliar na produção, os falantes emitiram as 80
81 pseudo frases com um determinado grau de confiança no mesmo momento no qual produziram o mesmo grau na condição linguística. O autor aplicou o teste perceptivo em indivíduos saudáveis a fim de realizar a etiquetagem dos níveis de confiança. Após a etiquetagem, dois grupos foram estudados: nove participantes com lesão focal no hemisfério direito e 11 indivíduos saudáveis. Os resultados desse estudo apresentaram resultados interessantes, tanto para o grupo controle, quanto para o grupo com lesão cerebral. O ranqueamento de respostas finais dadas pelo grupo controle mostrou que os participantes quase não apresentaram diferenças nas duas condições propostas. Isso mostra que esses participantes foram capazes de julgar o grau de confiança em pseudo frases com pistas prosódicas tão bem quanto julgaram as frases com informação semântica. Assim, o autor assumiu que as características prosódicas foram fatores decisivos nas duas condições, levando a essa diferença mínima encontrada entre ambas. No entanto, Pell observou ainda que os resultados mostram que adultos com lesão focal no hemisfério direito não possuem habilidade normal de reconhecimento da atitude de confiança. O grupo experimental apresentou resultados com diferenças estatisticamente significativas do grupo controle nas duas condições testadas. Nas palavras do autor, Evidence that RHD patients were less sensitive to meaningful distinctions in speaker confidence was found in both our linguistic and prosody tasks, although closer inspection of the data emanating from each cue condition argues strongly that interpreting speaker confidence from prosodic cues alone was especially problematic for the RHD group. (Pell, 2007) Esses resultados negativos para o grupo experimental foram ainda mais evidentes nos enunciados com apenas pistas prosódicas nos enunciados com alto grau de confiança. 81
82 Os estudos apresentados mostram que as desordens de fala citadas, seja de origem neurológica degenerativa ou a partir de lesão focal, repercutem seus danos no nível prosódico. Não encontramos estudos com indivíduos com gagueira que relacionassem a prosódia na expressão ou percepção de atitudes ou emoções. Esse é o mais forte motivo que nos levou a conduzir a presente pesquisa. A seguir, expomos alguns modelos de fala na tentativa de melhor compreender toda essa relação até aqui apontada. 82
83 2.4 Modelos de Produção de Fala Vários foram os modelos de produção de fala propostos ao longo dos anos. Nesta seção, selecionamos alguns dos modelos mais utilizados nos últimos anos que poderiam nos auxiliar na compreensão da relação entre produção da cadeia de fala, prosódia e expressão de atitudes. Como o foco do presente estudo refere-se à prosódia, levantamos a possibilidade de utilizar o modelo Tilt, uma vez que o mesmo tem como centro a entonação Modelo Tilt O modelo Tilt pode ser visto como um modelo fonético de entonação, uma vez que descreve o fenômeno entonacional como um contorno observável de F0. Apenas em alguns momentos o modelo lança mão de distinções tipicamente fonológicas, como o acento (Taylor, 1998). A unidade básica do modelo é o evento entonacional (do inglês intonational event) e seus tipos básicos são pitch accent e tons de fronteira (Taylor, 1998). Uma sequência de eventos que ocorrem num enunciado é chamada de corrente entonacional (do inglês intonational stream) (Taylor, 1998, 2000). Uma descrição entonacional completa é obtida juntando a corrente entonacional com a corrente segmental (do inglês segmental stream). Ligações bidirecionais podem existir em uma corrente e entre correntes, desde que não ocorra cruzamento de linhas (Taylor, 1998, 2000). Os eventos são ligados ao nucleo silábico, como mostra a figura abaixo: 83
84 Figura 17: Ligação de eventos a núcleos silábicos segundo o modelo Tilt. Fonte: Taylor (2000) Podemos observar que o modelo Tilt apresenta algumas limitações, vistos os objetivos desta pesquisa. O modelo não envolve todos os parâmetros prosódicos: inclui entonação, mas exclui organização temporal. O modelo trata apenas de duração de subida e descida de curva de F0. Esse limite do modelo impossibilita a análise de importantes questões prosódicas na sua relação com a gagueira. Outra dificuldade diz respeito à não menção de funções prosódicas, como a expressão de atitudes. Como a última faz parte da questão central da tese, aponta-se aqui, consequentemente, um outro limite ao modelo Modelo de Levelt (1989) Na tentativa de melhor entender a produção de fala, Levelt (1989) propôs um modelo de produção de fala no qual considerou o falante como um complexo processador de informação que é capaz de transformar intenções, pensamentos e sentimentos em fala fluente e articulada. É interessante observar que Levelt declara que a fala se inicia com a intenção. 84
85 Para que o falante processe as informações, ele organiza a produção de fala em três módulos: o conceituador, o formulador e o articulador. De uma forma geral, o conceituador refere-se às atividades mentais ligadas ao plano das idéias, da mensagem pré-verbal. É no conceituador que as mensagens são geradas, o que exige atenção constante do falante. Essa mensagem pré-verbal é transmitida ao próximo módulo, o formulador (Levelt, 1989). O componente formulador irá, então, captar a estrutura conceitual (representação) vinda do módulo anterior e produzirá um plano fonético ou articulatório. Para isto, inicialmente, o formulador codifica a mensagem gramatical que consiste de procedimentos de acesso aos lemmas e de construção dos procedimentos sintáticos. Em seguida, é realizada a codificação fonológica que diz respeito à forma do enunciado e apresenta como resultado o plano articulatório ou o plano fonético (Levelt, 1989). A representação do plano fonético será a entrada do próximo módulo, o articulador. A partir de então, o plano fonético passará por alguns estágios resultando na execução do programa motor. Tal execução é realizada pela musculatura respiratória e laríngea bem como pelo sistema supralaríngeo. Porém, entre a entrada do plano fonético e a execução motora há quatro fases que devem ser seguidas. Inicialmente o articulador realiza a organização do programa. Em seguida, busca o programa motor e, depois, descompacta os subprogramas necessários. Finalmente, há a execução dos comandos motores (Levelt, 1989). Por fim, o articulador. Acreditamos que seja nesse plano a principal dificuldade dos indivíduos que apresentam gagueira (ver revisão sobre gagueira). No entanto, o modelo apresentado por Levelt (1989) não se detém nos detalhes necessários para explicação dos fenômenos encontrados na gagueira. 85
86 Buscamos, então, um modelo de produção de fala que detalhe os processos que ocorrem dentro do módulo articulador. DIVA é um modelo de aquisição e produção de fala que explica a relação entre produção e a retroalimentação durante a fala (Guenther, 1995) O modelo DIVA O modelo de produção de fala Directions Into Velocities of Articulators (DIVA) foi desenvolvido como um modelo neural de redes de aquisição e produção de fala (Guenther, 2001). O modelo DIVA descreve como a fala é produzida na âmbito da transformação de sílabas ou fonemas em comandos musculares para a fala (Guenther, 2003). Tem como base a combinação de modelos computacionais juntamente com testes de imagens cerebrais e dados acústicos, anatômicos e fisiológicos (Guenther e Perkel, 2004). A figura a seguir esquematiza os principais componentes do modelo DIVA. 86
87 Figura 18: Esquema do modelo DIVA. Fonte: Guenther, Ghosh e Tourville (2006) Cada caixa no diagrama corresponde a uma rede de neurônios, também chamada de mapa; as setas representam as projeções sinápticas que transformam um tipo de representação neuronal em outro (Guenther, 2006). Segundo Guenther (2006), o som de fala 10 pode ser um fonema, sílaba ou palavra, sendo que aqui trataremos sempre da sílaba unidade representada por seu próprio mapa celular de som de fala no modelo. De acordo com o autor, a produção de um som de fala no modelo DIVA começa com a ativação do mapa celular do som de fala, hipoteticamente 10 Termo traduzido do inglês speech sound. O termo permanecerá em inglês nas figuras utilizadas diretamente dos artigos originais. 87
88 localizado no cortex pré-motor central 11, correspondente ao som a ser produzido (Guenther et al, 2006). Após a ativação do mapa celular do som de fala, o comando motor é transmitido via dois subsistemas: subsistema de controle de antecipação (do inglês feedforward) e subsistema de controle de retroalimentação (do inglês feedback). Este último pode ser dividido em dois outros dois componentes: subsistema de controle de retroalimentação auditiva e subsistema de controle de retroalimentação somatossensorial. Projeções sinápticas adicionais são enviadas do mapa celular de sons de fala ao modelos do córtex motor, por via direta e via cerebelo, formando a reação do comando motor (Guenther et al, 2006). Dessa forma, para Guenther et al (2006) o córtex pré-motor projeta sinapses para as áreas auditivas corticais codificando um traço auditivo esperado para cada som da fala. Assim, cada traço pode ser ajustado para autocorreções, por exemplo. Após o aprendizado de uma língua, essas sinapses são codificadas numa determinada região alvo espaçotemporal para o som nas coordenadas auditivas. Durante a produção de um som, a região alvo é comparada ao que é ouvido via retroalimentação e qualquer discrepância entre essas duas levará um sinal de comando ao córtex motor que interfere visando corrigir a discrepância através de projeções da área auditiva à área motora cortical. Cabe ressaltar que essa discrepância pode ocorrer devido a um erro auditivo, ou na retroalimentação auditiva. De forma similar ao sistema de retroalimentação auditiva, projetam-se sinapses do córtex pré-motor em direção às áreas corticais somatossensoriais que vão codificar sensações somáticas correspondentes à ativação silábica. Essa região alvo somatossensorial (que ocupa uma região espaçotemporal) é estipulada pelo monitoramento somatossensorial consequente da produção adequada das sílabas (após aprendizagem). Os erros na produção são enviados para áreas motoras corticais (Guenther et al, 2006). 11 Tal região substituiu a porção inferior e supeior da área de Broca, algumas vezes referida de operculum frontal, nos trabalhos anteriores sobre o modelo. 88
89 Os sistemas de antecipação e de retroalimentação funcionam em conjunto modelando o córtex motor (Guenther et al, 2006). A figura abaixo mostra os locais anatômicos dos componentes do modelo (projetadas na superfície lateral) fornecidos pelo Instituto Neurológico de Montreal por meio de estudos com imagens de ressonância magnética funcional. Figura 19: Superfície lateral do cérebro inidcando as localizações* dos componentes do modelo DIVA. Fonte: Guenther et al (2006). *As regiões mediais foram omitidas. Abreviaturas: Aud = células do espaço auditivo; DA = células de erros auditivos; DS = células de erros somatossensoriais; Lat Cbm = cerebelo lateral superior; Resp = região motora respiratória; SSM = mapa dos sons da fala. Tendo o modelo DIVA como base, alguns estudos dentro da perspectiva dos distúrbios de fala puderam ser melhor compreendidos. Em um estudo com indivíduos portadores de apraxia de fala, Robin et al (2008) utilizaram o modelo de produção de fala DIVA na interpretação dos resultados. Os autores observaram que os pacientes com apraxia de fala apresentaram déficit nos processos do controle motor de antecipação, como conceitualizado em Guenther et al (2006). A dificuldade dos pacientes estava especificamente na direção de mapeamento entre os locais previstos e os parâmetros de movimento espaçotemporal. Esse último opera com retroalimentação mínima 89
90 de entrada sensorial em adultos saudáveis, mas parece não funcionar adequadamente nos pacientes com apraxia de fala. Resultados encontrados em outros estudos sobre a produção de fala em indivíduos com gagueira, tanto sobre a produção (Brown et al, 2005) quanto sobre questões relativas à retroalimentação (Max et al, 2004) mostram que o modelo DIVA é particularmente interessante para explicar a gagueira (Tourville et al, 2008). The current findings provide support for this view: auditory feedback control during the perturbed feedback condition, clearly demonstrated by the behavioral results, was associated with increased activation of right precentral and inferior frontal cortex. According to this view, the right hemisphere inferior frontal activation is a secondary consequence of the root problem, which is aberrant performance in the feedforward system. Poor feedforward performance leads to auditory errors that in turn activate the right-lateralized auditory feedback control system in an attempt to correct for the errors. (Tourville et al, 2008) A partir do exposto, no presente estudo tomaremos como base explicativa de produção de fala o modelo DIVA desenvolvido por Guenther e colaboradores (Guenther, 2001). Civier, Tasko e Guenther (no prelo) investigaram a hipótese de que a gagueira poderia advir de um dano no sistema de antecipação do controle da fala, o que forçaria as pessoas com gagueira a produzir uma fala com uma estratégia motora diferente: sobrecarga no sistema de retroalimentação. Essa sobrecarga na retroalimentação tem como consequência erros de produção que, caso fique excessivamente forte, pode levar o sistema motor a reiniciar e, como resultado, a repetição da sílaba. 90
91 3 DISCUSSÃO METODOLÓGICA 91
92 3.1 Da coleta de dados A coleta de dados para este estudo necessitava da fala de pessoas com e sem gagueira na expressão das atitudes certeza e dúvida. Para tanto, era preciso que os participantes da pesquisa fossem gravados numa tarefa diretiva de produção de fala. Por mais fáceis que possam parecer as tarefas anteriormente descritas, elas foram um ponto de grande dificuldade no desenvolvimento da pesquisa. A maior dificuldade para coletar os dados foi o estado de estresse dos participantes com gagueira durante a gravação da fala. O estresse foi observado devido a alguns fatores, como suderese, tremor de mãos e inquitação. Como consequência, não sabíamos se os resultados encontrados representavam a fala desses indivíduos ou se foram artefatos causados pela situação de gravação. Jäncke (1994) também se questionou em seu estudo com pessoas que apresentam gagueira sobre o estresse que tarefas de produção e gravação de fala produzem nesses indivíduos, visto que os mesmos sabem de sua dificuldade na fala. Conscientes de que esse é um limite importante na pesquisa com pessoas que tem distúrbios na comunicação, fizemos algumas tentativas a fim de diminuir o desconforto com a gravação. Todas as tentativas deveriam incluir, como corpus final, enunciados neutros e enunciados com expressão das atitudes de certeza e dúvida. Cada tentativa foi realizada com participantes diferentes, ou seja, como foram cinco tentativas com métodos de coleta diferentes, participaram 11 pessoas com gagueira no total. Ao contrário dos dados finais desta pesquisa, essas tentativas iniciais foram realizadas com indivíduos com gagueira de ambos os sexos. 92
93 Primeira tentativa: A primeira tentativa foi realizada com três indivíduos com gagueira e três indivíduos sem gagueira. Foi apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido com explicação da pesquisa. Em seguida, um microfone de cabeça foi posicionado pela pesquisadora nos participantes. Uma conversa informal foi introduzida para que o participante pudesse se acostumar com a situação. Após um tempo de conversa que variou entre os participantes, os mesmos leram frases fornecidas em papéis (cada frase em um papel para evitar o fenômeno de enumeração), sendo que todos leram todas as frases silenciosamente antes do início das gravações. Inicialmente, os participantes deveriam ler de forma neutra, a partir da instrução: leia a frase em voz alta. Em seguida, foi explicado a diferença entre certeza e dúvida. No momento seguinte, foram expostas situações com uma breve introdução seguida de um diálogo com apenas duas frases: A primeira, uma pergunta feita pela pesquisadora, e a segunda, a resposta do participante. A resposta deveria ser lida, mas de forma que fosse expressa certeza ou dúvida. O resultado foi uma leitura neutra em todos os momentos: leitura neutra, leitura com expressão de certeza e leitura com expressão de dúvida. E, ainda, foram observados sinais de estresse durante as gravações, como sudorese, tremor de mãos e inquietação. Levantamos a hipótese de que os resultados encontrados eram devidos a algum problema metodológico. Ler e expressar uma determinada atitude poderia ser uma tarefa que tirasse a naturalidade do discurso das pessoas com gagueira que fizeram parte do primeiro teste. A partir dessa hipótese, fizemos uma segunda tentativa. Segunda tentativa: Participaram da segunda tentativa dois indivíduos com gagueira e dois sem. Todos os passos da primeira tentativa foram seguidos, com uma diferença: o participante não lia a frase 93
94 enquanto expressava a atitude (o participante só tinha acesso à frase escrita antes do procedimento de gravação em si). Dessa forma, o participante lia a frase apresentada e a mesma era retirada. Em seguida foi simulada a situação e o participante deveria expressar a atitude com base na frase lida. No entanto, o resultado não foi o esperado, uma vez que os participantes introduziram expressões como eu acho, não tenho certeza ou tenho certeza, mesmo sendo instruídos para não utilizarem esse tipo de apoio. Além disso, os sinais de estresse observados na primeira tentativa se mantiveram nesta. Levantamos, então, outra hipótese: a coleta de dados deverá ser realizada em três momentos diferentes, um para leitura neutra, outra para expressão de certeza e outro para expressão de dúvida. Acreditávamos que a separação dos dias, numa terceira tentativa, poderia, além de ajudar na expressão das atitudes, diminuir o nervosismo dos participantes. Terceira tentativa: Participaram da terceira tentativa dois indivíduos com gagueira e dois sem. Optou-se também por entregar o termo de consentimento livre e esclarecido após as gravações. Foram, então, seguidos os passos da segunda tentativa, mas em três dias diferentes de gravação. No entanto, o nervosismo dos participantes ao colocar o microfone era claro. Dessa forma, retiramos o microfone de cabeça e colocamos o microfone de pedestal, o que não melhorou em nada o estado emocional dos participantes. Consequentemente, os resulttados também foram ruins, com frases neutras em todos os momentos. Optamos por fazer uma quarta tentativa, pensando na questão do microfone. Quarta tentativa: Participaram da quarta tentativa dois indivíduos com gagueira e dois sem. Os mesmos passos da terceira tentativa foram seguidos, no entanto escondemos o microfone. Tivemos, 94
95 pela primeira vez, resultados com maior expressividade por parte do grupo experimental. Optamos por fazer mais uma gravação para assegurar que, dessa forma, os participantes se sentiriam mais tranquilos durante as gravações. Quinta tentativa: Participaram da quinta tentativa dois indivíduos com gagueira e dois sem. Foram seguidos os procedimentos da quarta tentativa. Assim, os participantes deveriam responder a pergunta feita pela pesquisadora com apenas uma frase e sem expressões de apoio. Os participantes pareceram mais tranquilos durante as gravações, apesar de ainda utilizarem muito as frases de apoio. Optamos, então, por manter a coleta da quinta tentativa e, após a coleta de dados, separamos os enunciados que não tinham expressões de apoio para as atitudes de certeza e dúvida. Após a coleta e edição dos dados, deveríamos repensar quais os parâmetros prosódicos deveriam ser incluídos no estudo. 3.2 Da análise prosódica Como foi visto no capítulo de revisão, a prosódia pode ser vista englobando três parâmetros, como mostra o esquema a seguir: 95
96 Figura 20: Os três parâmetros da prosódia, No entanto, dentro de cada um desses parâmetros, uma questão importante é o que deve ou não ser analisado. Ou, ainda, seguindo as idéias propostas por Sperber e Wilson (1995), dentro de cada parâmetro prosódico, o que é relevante para o processo comunicativo considerando-se a função atitudinal da prosódia? Alguns estudos de neuroimagens têm sido desenvolvidos na tentativa de responder tal questão, voltados para análise da prosódia emotiva. Pesquisadores realizaram testes perceptivos utilizando imagens de ressonância magnética funcional (fmri) na tentativa de observar se algum parâmetro prosódico atua de forma mais significativa, seja com relação à intensidade (Ethofer et al, 2006) seja com relação à frequencia fundamental ou duração (Wiethoff et al, 2008). Porém, esses estudos ainda não encontraram um parâmetro significativamente mais importante, ou com relevância isolada. Uma hipótese para explicar essa dificuldade é o fato de que um parâmetro acústico isolado não é capaz de transmitir uma emoção/atitude. Seriam necessários mais de um parâmetro isoladamente. 96
97 Organização temporal do discurso A organização temporal do discurso é especialmente relevante neste estudo uma vez que nos propomos a estudar a gagueira. Dessa forma, nos propomos a analisar os parâmetro do discurso geral propostos por Grosjean e Deschamps (1976) na fala do francês (tempo total de elocução e articulação, número de sílabas, pausas, taxas de elocução e articulação), utilizados por Celeste (2004) na leitura de crianças, Duez (2006) na fala de pacientes com doença de Parkinson, Alves (2007) na leitura de crianças com dislexia e Nascimento (2008) na fala de telejornalistas. Foi acrescida, ainda, a verificação do tempo de disfluência e duração das vogais tônicas, pretônicas e postônicas. Intensidade Os procedimentos para coleta de dados impediram a padronização da distância entre o locutor e o microfone. Consequentemente, os resultados relativos à intensidade não foram considerados confiáveis. Optamos, então, por retirar esse parâmetro da análise dos dados. Variação melódica Os parâmetros de frequencia fundamental analisados em muitos trabalhos mostram que os pesquisadores ainda não chegaram a um ponto comum. Antunes (2007) levantou alguns parâmetros encontrados na literatura no estudo da prosódia na expressão de atitudes e emoções: Valor inicial, final, máximo e mínimo de F0 do enunciado; Movimentos de F0 de início, fim, amplitude e duração; Tessitura; Registro (e frequência usual); 97
98 Alinhamento dos movimentos e picos; Configuração geral. Realizamos um breve levantamento de quais parâmetros relacionados à F0 foram abordados em estudos relacionados à prosódia na fala expressiva. Os resultados encontrados foram esquematizados no quadro a seguir: 98
99 tx var Tônica conf Autores Média Usual inicial/final min/max tessitura mel proeminente pretônica postônica geral Kehrein (2002) Alves (2002) Azevedo et al (2003) Bänziger (2004) Bänziger e Scherer (2005) Correia (2007) Antunes (2007) Cheang e Pell (2007) Azevedo (2007) Wiethoff et al (2008) Cheang e Pell (2008) Quadro 3: Parâmetros de F0 utilizados por diferentes autores no estudo da prosódia na fala expressiva. Legenda: Min/max: Mínimo e máximo Tx var mel: taxa de variação melódica Conf geral: configuração geral de curva de F0 99
100 A partir do exposto acima, propomos no capítulo de material e métodos uma abordagem ampla dos parâmetros prosódicos relacionados à F Considerações gerais Entendendo que qualquer estudo demanda decisões metodológicas, excluem-se naturalmente muitas vezes aspectos importantes para que o pesquisador tenha controle sobre suas variáveis. No presente estudo, tal fato pode ser observado na exclusão do estudo da intensidade ou ainda na dificuldade da elaboração de um corpus com frases idênticas entre os participantes (uma vez que alguns alteraram a produção final da frase fornecida anteriormente). No entanto, acreditamos que tais limites, apesar de serem importantes, não são relevantes o suficiente para prejudicar este estudo no seu objetivo inicial, que é o estudo da prosódia na expressão de atitudes por indivíduos com e sem gagueira do desenvolvimento. 100
101 4 MATERIAL E MÉTODOS 101
102 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FEAD/Minas sob o número de protocolo 122/09. O comitê de ética em pesquisa dessa instituição foi escolhido para envio do protocolo porque os informantes foram provenientes da clínica de fonoaudiologia ligada à instituição. Uma vez a pesquisa aprovada por tal comitê de ética, acreditou-se ser desnecessário o envio do mesmo protocolo para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. A presente pesquisa foi desenvolvida visando analisar como os indivíduos que apresentam gagueira expressam atitudes através dos parâmetros prosódicos. Para tanto foram coletados dados e os mesmos foram analisados acusticamente. Cabe ressaltar que esta pesquisa faz parte de um projeto maior do Laboratório de Fonética da Universidade Federal de Minas Gerais que visa melhor compreender a função expressiva da prosódia na produção de atitudes. 4.1 Dos Informantes Para a concretização desta pesquisa, participaram 24 indivíduos ao todo, com idades entre 20 e 40 anos, nascidos e criados na região metropolitana de Belo Horizonte, separados em dois grupos. O primeiro grupo, experimental, foi composto por 12 indivíduos do sexo masculino diagnosticados com gagueira do desenvolvimento. Para determinar o grau de severidade da gagueira dos participantes foi utilizada escala cuja pontuação divide-se em quatro componentes (Yairi e Ambrose, 1999; Jakubovicz, 1997): frequência e duração das disfluências, tensão e fenômenos secundários. O quadro a seguir mostra a pontuação de cada item da escala de Iowa, traduzida por Jakubovicz (1997): 102
103 Pontuação / grau de Frequência das Duração das Tensão severidade disfluências disfluências 1 ausência de 0% --- Nenhuma gagueira 2 ligeira Até 2% Muito breve Rara, mas presente 3 suave De 2 a 5% Até 0,5 segundo Habitual, ligeira 4 regular De 5 a 8% Até 1 segundo Severa 5 moderadamente De 8 a 12% Até 1,5 segundo Muito severa severa 6 severa De 12 a 25% Até 2 segundos No olhos e nos membros 7 grave Acima de 25% Maior que 2 segundos Geral Quadro 4: Escala de severidade da gagueira segundo escala de Iowa. Fonte: Adapatado de Jakubovicz (1997) Os pontos do quadro acima são somados e divididos por três. A esse resultados, soma-se a pontuação dos fenômenos secundários (Yairi e Ambrose, 1999), seguindo a seguinte pontuação: 0,25: suaves, muito discretos, não frequente, mínimo; não é notado a menos que se esteja atento aos mesmos; 0,33: suaves, discretos, ocasionais, pouco observados; 0,50: moderados, poucos, observados; 0,66: moderado, de pouco a frequente, óbvios; 0,75: severo, frequente, distrai o interlocutor; 1,00: severo, muitos e frequentes, incomoda o interlocutor. Foram verificados os seguintes fenômenos secundários no presente estudo: distorções faciais (tensão visível na face), movimentos com o corpo (ex. balançar o corpo, abrir e fechar as pernas, apertar as mãos, coçar a cabeça, etc.), tremor nos lábios, 103
104 disfarces (reações esteriotipadas com a finalidade de esconder a gagueira. Ex. rir enquanto fala, esconder a boca com a mão enquanto fala, etc.), falar usando ar residual (Jakubovicz, 1997). Para esta pesquisa foram selecionados participantes entre os graus 5 a 7 da escala de severidade de Iowa. Os graus 5 a 7 foram escolhidos por corresponderem aos níveis moderado e severo, já que o objetivo deste estudo é observar o fenômeno das disfluências gagas na expressão de atitudes. Nenhum dos participantes do grupo experimental passou por qualquer tipo prévio de tratamento para melhora da fluência. Todos tinham escolaridade entre ensino médio completo e ensino superior incompleto. Os indivíduos do grupo experimental foram todos pacientes do Centro Fead de Fonoaudiologia. Dessa forma, os mesmos chegavam para buscar tratamento fonoaudiológico, no qual conheciam a pesquisadora. Antes de começar o tratamento, é necessário que o paciente passe por um processo de avaliação que inclui anamnese e avaliação. A avaliação é realizada a partir da coleta de material de fala que foi realizada concomitantemente com a gravação dos dados desta pesquisa. Nenhum dos pacientes tinha realizado tratamento fonoaudiológico prévio. Os participantes foram convidados a participar da pesquisa, mas não foram informados do objetivo exato da mesma: foram informados que, se aceitassem, participariam de uma pesquisa sobre comunicação. O grupo experimental foi dividido em dois subgrupos: os participantes com gagueira moderada e aqueles com gagueira severa (detalhes no capítulo de resultados). O segundo grupo, grupo controle, foi composto por 12 indivíduos fluentes. Os mesmos foram pareados com o grupo experimental quanto ao sexo, idade e escolaridade. 104
105 Os participantes de ambos os grupos não apresentaram desvios fonológicos 12 ou qualquer queixa de linguagem oral ou problemas auditivos. Dessa forma, contamos com três grupos, a saber: Grupo experimental 1 (GE1): oito indivíduos com gagueira moderada; Grupo experimental 2 (GE2): quatro indivíduos com gagueira severa; Grupo controle (GC): 12 indivíduos sem gagueira. Participaram da pesquisa somente aqueles que assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido que explica em linhas gerais a proposta da pesquisa. 4.2 Procedimentos A descrição dos procedimentos de coleta de dados será dividida em dois momentos: um para o grupo controle e outro para o grupo experimental. Isto porque a coleta de dados com o grupo experimental foi mais difícil em termos práticos: os participantes com gagueira se sentem muito desconfortáveis com a gravação da fala. Dessa forma, para que a fala ficasse o mais natural possível, foram adotados procedimentos diferentes. Sabemos que tal fato implica numa maior cautela na comparação dos resultados entre o grupo controle e o experimental. Porém, acreditamos que o desconforto dos participantes no momento da gravação dos dados representaria um peso negativo muito maior. 12 Para confirmação, foi realizada avaliação dos desvios fonológicos ABFW. 105
106 4.2.1 Procedimentos de coleta do GC Os dados foram coletados em uma cabine tratada acusticamente localizada no Laboratório de Fonética da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Um microfone de cabeça da marca Plantronics foi ligado a um computador portátil da marca HP que continha o programa Praat, versão (Boersma e Weenink, ), utilizado para gravação dos dados. Cada participante foi gravado separadamente, em um encontro único que teve duração aproximada de 45 a 60 minutos. Durante as gravações foi perguntado ao participante se ele estava desconfortável devido ao tempo de gravação e se ele desejava a interrupção das gravações. Nenhum dos participantes relatou cansaço ou desconforto. A preparação do corpus consistiu da elaboração de dez frases neutras, ex. eu entreguei o documento, na forma declarativa, representada por um ponto final ao fim da frase, e na forma interrogativa, representada por um ponto de interrogação ao final da frase: Declarativa: Eu entreguei o documento. Interrogativa: Eu entreguei o documento? Para o corpus da expressão de certeza, dez situações foram elaboradas a fim de facilitar a expressão dessa atitude. Dessa forma, com as mesmas frases utilizadas para gravação da forma neutra, foram propostas situações diferentes. Segue abaixo um exemplo, tendo a frase eu entreguei o documento como base. 106
107 1) João é um funcionário muito eficiente, sempre cumpre o que foi pedido. Seu chefe não está encontrando um documento e pergunta: P : João, você me entregou o documento na segunda? I: Eu entreguei o documento No exemplo acima, 1 refere-se à primeira situação gravada, P à fala da pesquisadora e I à fala do participante. Para o corpus da expressão de dúvida, também foram elaboradas situações com as mesmas frases. Segue abaixo um exemplo de uma situação para a expressão de dúvida. 1) João é um funcionário muito desatento. Seu chefe não está encontrando um documento e pergunta: P : João, você me entregou o documento na segunda? I: Eu entreguei o documento Assim como para a situação de certeza, nesse exemplo de situação de dúvida, 1 refere-se à primeira situação gravada, P à fala da pesquisadora e I à fala do participante. O anexo 1 contém todas as frases e todas as situações utilizadas. No início de cada gravação, a pesquisadora informou a cada participante sobre os aspectos gerais da pesquisa (o objetivo geral) e entregou o termo de consentimento livre e esclarecido, que foi assinado por todos os participantes. Uma lista contendo dez frases foi entregue a cada indivíduo com a seguinte informação: estas são as frases que você irá gravar hoje. Leia atentamente e pergunte o que quiser sobre elas. Não houve perguntas por parte dos participantes. A lista foi então recolhida para dar início às gravações da forma neutra. 107
108 Foi fornecida uma frase de cada vez com a seguinte instrução: leia esta frase. Assim foram gravadas dez frases, como por exemplo Eu entreguei o documento.. Todas as frases da forma neutra declarativa apresentavam um ponto final. Como imaginávamos que a expressão da dúvida se assemelharia à modalidade interrogativa, fizemos o mesmo procedimento para a coleta das frases interrogativas neutras, porém com um ponto de interrogação ao final da frase: eu entreguei o documento?. Após a gravação de todas as frases neutras (20 no total), iniciaram-se os procedimentos para gravação da expressão de certeza. Antes da gravação, a pesquisadora explicou em linhas gerais o que era a expressão de certeza. A fala variou de momento para momento, mas de uma forma geral continha a seguinte informação: expressamos a atitude de certeza quando estamos realmente convictos de algo, confiantes de que a informação passada é verdadeira. Você deve passar essa atitude ao gravar as frases deste momento em diante. Será apresentada uma situação com um diálogo. Você deverá responder à pergunta com a frase que você terá em mãos. Em seguida, a pesquisadora entregava a frase (sem qualquer pontuação) que seria gravada e lia a situação da forma mais natural possível, e fazia a pergunta direcionada ao participante. O mesmo respondia à pergunta com a intenção de passar a atitude de certeza (Veja exemplo da situação de certeza no início desta subsseção ou a lista completa no anexo 1). Realizadas as gravações da expressão de certeza, iniciaram-se as gravações para expressão de dúvida. Os procedimentos descritos para expressão da certeza foram mantidos para expressão da dúvida. Dessa forma, antes de começar as gravações da atitude de dúvida, a pesquisadora forneceu a seguinte instrução: expressamos a atitude de dúvida quando não sabemos se a informação a ser passada é realmente verdadeira: pode ser que seja verdadeira, pode ser que não seja verdadeira. Você deve passar a 108
109 atitude de dúvida ao gravar as frases deste momento em diante. Será apresentada uma situação com um diálogo. Você deverá responder à pergunta com a frase que tem em mãos. Com todos os enunciados daquele participante gravados, os dados eram estocados para posterior análise. A seguir, serão descritos os procedimentos para gravação do GE Procedimentos para gravação do GE A constituição do corpus de análise do GE tem a mesma base do que aquela descrita para o GC: 10 frases neutras, 10 frases com expressão de certeza e 10 frases com expressão de dúvida. Dessa forma, o mesmo material utilizado para coleta de dados do GC foi utilizado para GE: fichas de papel contendo frases neutras e situações que levassem o participante a expressar certeza e dúvida. Após as tentativas de gravação de material de fala descritas no capítulo 3, chegamos a uma decisão metodológica: os procedimentos de coleta de dados deveriam ser cuidadosos quanto ao conforto dos participantes durante as gravações. Por esse motivo, os procedimentos para gravação do GE foram mais cautelosos e mais demorados do que do GC. Outra observação quanto à coleta de dados do GE é que os participantes não poderiam ter passado por tratamento para melhora da fala. No entanto, todos os participantes que fizeram parte deste estudo estavam buscando tratamento fonoaudiológico em uma clínica escola. Os procedimentos de coleta de dados foram realizados juntamente com o processo de avaliação. Por esse motivo, não dispúnhamos 109
110 de muitos dias para finalizar as gravações, uma vez que as consultas fonoaudiológicas seriam iniciadas e poderiam intervir nos resultados. Os dados foram coletados em ambiente silencioso na própria clínica FEAD de fonoaudiologia para que o ruído não interferisse nas análises acústicas, por meio do programa de análise acústica Praat, versão (Boersma e Weenink, ). A edição dos dados realizou-se em uma fase posterior. Para cada participante, foram separados três dias de gravações: o primeiro para a forma neutra, o segundo para certeza e o terceiro para dúvida, a fim de que diferentes instruções não interferissem na produção. A sala de gravação era preparada antes da chegada dos participantes. Um computador portátil foi colocado na mesa para captação do som, ligado a um microfone. Esse último encontrava-se escondido debaixo de uma folha de papel, para que o fato da gravação em si não prejudicasse os resultados. O participante foi convidado a entrar na sala e uma conversa informal era dirigida pela pesquisadora. No primeiro encontro, foi realizada uma conversa informal, seguida da leitura de frases. As frases foram apresentadas uma a uma. O participante lia a frase silenciosamente e quando se sentisse confortável, a lia em voz alta. É importante ressaltar aqui que as frases lidas serviriam de base comparativa neste estudo: acreditávamos que a expressão de certeza se assemelharia à forma declarativa e a dúvida se assemelharia à forma interrogativa. Então, com o primeiro participante, gravamos as duas formas neutras: declarativa e interrogativa. Observamos, porém, que ao gravar a dúvida, o informante não produziu os enunciados de dúvida de forma semelhante à interrogativa e sim à declarativa. Como o tempo era um fator considerável na coleta de dados, optamos por não gravar a forma interrogativa a menos que o padrão aparecesse durante as gravações de dúvidas. Nenhum dos participantes expressou a 110
111 dúvida de forma semelhante à modalidade interrogativa. Por esse motivo, as frases interrogativas não foram coletadas a fim de agilizar o processo de gravação dos dados. Após o primeiro encontro e a gravação das frases neutras, os participantes do GE foram convidados a retornar um outro dia para dar continuidade às gravações. Para o segundo encontro, a sala foi preparada da mesma forma do que para o primeiro. Após uma breve conversa informal, a pesquisadora explicou que naquele dia seriam apresentadas 10 situações diferentes que poderiam acontecer no cotidiano de uma pessoa. Explicou ainda que a situação era bem curta e simples e que ela a leria em voz alta. Após a situação, haveria um pequeno diálogo: uma pergunta, feita pela pesquisadora, e uma resposta, dada pelo participante. A resposta dada pelo participante deveria ser apenas uma frase curta. Antes de cada situação, a pesquisadora mostrava a frase para o participante que seria a base da sua resposta. Ele não precisava memorizála, era apenas um apoio. Foi explicado então que todas as respostas dadas pelo participante deveriam ser feitas de modo a expressar certeza pela fala, mas ele não poderia dizer eu tenho certeza que... ou eu estou certo que.... A mesma definição de certeza passada para o GC foi passada para o GE. Como era esperado, as frases pronunciadas pelos participantes nem sempre corresponderam exatamente à frase apresentada inicialmente. Os participantes foram convidados a retornar para um terceiro encontro. No terceiro encontro foram coletadas as falas referentes à expressão da dúvida. Os mesmos procedimentos para a coleta da expressão de certeza foram mantidos, com exceção da informação sobre a atitude em si. A definição da atitude da dúvida passada para os participantes do GE foi a mesma passada para os participantes do GC. Assim, o participante deveria responder a pergunta dentro de cada situação de dúvida com apenas 111
112 uma frase, sem utilizar frases de apoio como eu não sei ao certo ou eu acho. Nem sempre os participantes pronunciavam a frase idêntica àquela fornecida inicialmente O Corpus final O corpus final do presente estudo consistiu de 840 enunciados, dividido da seguinte forma: 840 enunciados 480 GC 360 GE 240 neutros 240 atitudes 240 GE1 120 GE2 120 decl 120 certeza 80 decl 40 decl 120 int 120 dúv 80 cert 40 cert 80 dúv 40 dúv Figura 21: Esquema do corpus final do presente estudo. 112
113 Os dados foram editados, preparando-os para dois diferentes procedimentos: a análise prosódica e o teste perceptivo. Para a análise prosódica, a edição e a etiquetagem foram realizadas a fim de retirar os enunciados chaves, que foram analisados posteriormente. 4.3 Análise Prosódica A análise prosódica foi realizada através de análise acústica por meio do programa Praat versão (Boersma & Weenink, ). Os enunciados produzidos neste estudo foram muito curtos, com média de 6 sílabas por enunciado. Dessa forma, os mesmos coincidem com a unidade entonativa grupo tonal proposta por Halliday (1976). Dessa forma, cada unidade entonativa foi composta por um enunciado. Tidas as considerações quanto à unidade entonativa, passou-se à análise acústica que foi subdividida da seguinte forma: Medidas locais de F0; Organização temporal; Algoritmo MOMEL. Tais aspectos serão detalhados a seguir. Ressalta-se, porém, que nem todos os aspectos acima listados foram utilizados em todos os momentos da pesquisa. Isto 113
114 porque o algoritmo MOMEL apresentou resultados satisfatórios apenas para o grupo controle Medidas locais de F0 e organização temporal Nesta etapa da análise acústica foram tidos como base: a curva de frequência fundamental e os parâmetros relacionados à organização temporal. Os parâmetros analisados quanto à frequência fundamental foram: 1. F0 inicial e final: foi selecionado o primeiro ponto de F0 da curva melódica e o último, obtendo a F0 inicial e final, respectivamente. A fim de desprezar as variações microprosódicas, foram desconsiderados os três primeiros e os três últimos ciclos do sinal de fala. 2. Tessitura do enunciado: foram selecionados os pontos máximo e mínimo de F0 do enunciado. Em seguida, subtraiu-se o mínimo do máximo, obtendo como resultado a tessitura. 3. Pico de F0 (pf0): foi selecionado o valor máximo de frequência fundamental no enunciado. A figura a seguir exemplifica a marcação dos pontos de F0 mencionados até aqui. 114
115 Figura 22: Exemplo de marcação dos pontos inicial, final e pico de F0 nas tiras de análise acústica. 4. Pretônica (pret): a sílaba que precede imediatamente a sílaba tônica proeminente foram retirados os valores de F0 máximo, mínimo, intervalo melódico e média, apenas da vogal da pretônica. O intervalo melódico refere-se ao resultado da subtração do valor de F0 máximo pelo de F0 mínimo. 5. Tônica Proeminente (TonP): a última sílaba acentuada do enunciado (nuclear) - foram retirados os valores de F0 máximo, mínimo, intervalo melódico e média apenas da vogal da tônica. 6. Postônica (post): a sílaba imediatamente após a sílaba tônica proeminente como a última vogal do enunciado nem sempre apresentava-se de forma clara no sinal de fala, optou-se por verificar apenas a presença ou ausência da mesma e não realizar medidas de F0 e duração da mesma. 115
116 de ilustração. A figura a seguir mostra as fronteiras das vogais da tônica e da pretônica a título Figura 23: Exemplo de fronteiras das vogais da tônica e da pretônica da frase ele volta a jogar. Dessa forma, para análise dos parâmetros de entonação foram criadas grade de textos para uma demarcação mais precisa como mostra a figura a seguir. Ressaltamos que os momentos de disfluências foram desconsiderados durante a análise marcados na grade de texto como df a fim de evitar possíveis erros. 116
117 Figura 24: Exemplo de marcação de fronteiras para a análide dos valores de F0 e intensidade. Os parâmetros relacionados à organização temporal dividiram-se em duração, pausa e velocidade de fala. A primeira refere-se à duração das vogais tônicas, pretônicas e postônicas. A pausa foi considerada quando ocorreu um momento de silêncio no sinal de fala, sem qualquer indício de tentativas de produção de um som 13. Quando foram verificados tais indícios, o fenômeno observado foi classificado como disfluência. A figura 25 mostra um exemplo de como foi delimitada a pausa. 13 Na figura 24, por exemplo, tem-se um momento que, a princípio, poderia ser analisado como pausa (segunda marcação df da grade de texto). Mas ao realizar um exame mais cuidadoso, é possível verificar leves barras de explosão, representando repetições sucessivas do som /p/. 117
118 Figura 25: Exemplo de fronteiras de pausas. No exemplo acima é possível verificar que logo após a pausa há uma consoante oclusiva. Para delimitar a duração das consoantes oclusivas foram medidas as durações desses segmentos quando ocorriam entre vogais. A média encontrada foi de 0,102 segundos, medida utilizada na presente pesquisa. Dessa forma, como no exemplo dado acima, sempre que ocorria uma pausa seguida de consoante oclusiva foi considerado o tempo de 0,102 segundos antes da vogal como o tempo de oclusiva. O último parâmetro da organização temporal estudado foi a velocidade de fala. A análise desse parâmetro é normalmente dividida em quatro partes : 1. Tempo total de elocução (referente ao tempo total gasto na elocução de cada enunciado) 118
119 2. Tempo total de articulação (retira-se o tempo de pausas do tempo total de elocução a fim de averiguar qual o tempo exato foi utilizado apenas com a articulação) 3. Taxa de elocução (referente ao número de sílabas dividido pelo tempo total de elocução) 4. Taxa de articulação (referente ao número de sílabas dividido pelo tempo total de articulação) Durante nossas análises, entretanto, nos deparamos com a seguinte questão: devemos ou não incluir a duração das disfluências no tempo de articulação? Responder a tal questão de forma afirmativa ou negativa tem suas implicações. Incluir a duração das disfluências no tempo de articulação parece coerente, uma vez que as disfluências são tentativas articulatórias de produção de um determinado fonema. Como o próprio nome diz, o tempo de articulação inclui a duração total dos momentos nos quais segmentos foram articulados. Seguindo tal linha, é natural incluir a duração das disfluências no tempo total de articulação. Por outro lado, optar por retirar o tempo das disfluências do tempo de articulação também apresenta pontos interessantes: a taxa de articulação visa, neste caso, determinar a duração média de cada sílaba produzida e apenas das sílabas efetivamente produzidas. Tal proposta é interessante uma vez que possibilita a comparação da duração média de cada sílaba entre a fala indivíduos sem gagueira e a fala fluente de indivíduos com gagueira. Escolher uma das opções acima citadas implicaria, obviamente, em perder um certo tipo de informação. A escolha metodológica feita neste estudo não foi de excluir um tipo de resultado, mas de utilizar ambos. 119
120 Dessa forma, propomos neste estudo uma subdivisão dos quatro pontos descritos acima, da seguinte forma: 1. Tempo total de elocução 2. Tempo de articulação 2.1. Tempo de articulação com disfluência 2.2. Tempo de articulação sem disfluência 3. Taxa de elocução 4. Taxa de articulação 4.1. Taxa de articulação (com as disfluências) 4.2. Taxa de articulação sem disfluência Assim, os aspectos referentes à organização temporal do discurso utilizados no presente estudo foram resumidos no quadro a seguir: 120
121 TA TTE Tempo de articulção com disfluências (TA) Tempo de articulção sem disfluências (TAd) NS P Disf TxE TxA Tempo total do discurso. Tempo total do discurso pausas Tempo total do discurso (disfluências + pausas) Número de sílabas Duração das pausas Duração das disfluências Número de sílabas TTE Número de sílabas TAxA Número de sílabas TxA TxA-d TxA-d Quadro 5: Resumo dos aspectos referentes à organização temporal. A figura a seguir exemplifica como foi delimitada a marcação de fronteiras para a análise da organização temporal de cada enunciado. 121
122 Figura 26: Sinal de fala, espectrograma e grade de texto de um enunciado. Na grade de texto, três tiras: transcrição da frase, separação da frase em sílabas com a marcação da disfluência, duração da disfluência encontrada (D). O estudo contou ainda, para representação do nível fonético de análise, com a estilização da curva melódica. Assim, com o objetivo de inovar os procedimentos de análise prosódica, buscamos utilizar o sistema automático de síntese da melodia da fala MOMEL (MELodic MOdelisation), desenvolvido por Hirst e Espesser (1993) MOMEL Como foi visto na revisão da literatura, o resultado da aplicação do MOMEL são os pontos alvo que poderão ser alterados caso haja necessidade. No exemplo da 122
123 informante abaixo, não foi necessário realizar qualquer alteração nos pontos alvo fornecidos pelo MOMEL. O resultado está exemplificado na figura 27. Figura 27: Sinal de fala, espectrograma com curva melódica e pontos alvo codificados pelo MOMEL da frase Eu desliguei o fogão Durante a análise preliminar dos dados, observamos que algumas curvas melódicas apresentaram uma variação importante ao longo do enunciado e que essas, após passarem pela estilização, apresentavam muitos pontos alvo. Dessa forma, quanto maior o número de pontos alvo, maior a variabilidade apresentada em cada enunciado. Por exemplo, se uma curva melódica necessita de apenas três pontos alvo para ser estilizada, ela não apresenta muita variação na sua totalidade. Isso não significa que a mesma apresenta tessitura elevada ou não. O que tentamos expressar com variabilidade da curva melódica diz respeito às variações menores que ocorrem ao longo dessa. 123
124 Tomemos como exemplo a figura que segue: são duas curvas melódicas relativas à mesma frase. Figura 28: Exemplo de duas curvas melódicas da mesma frase Eu tranquei a porta. Apesar de ambas serem relativas à mesma frase, uma apresenta maior variabilidade (em vermelho) do que a outra (em preto). Claramente, a curva em vermelho necessitará de um maior número de pontos alvo para ser estilizada. Isso nos leva a refletir: uma boa forma de observar quantitativamente essa variabilidade é verificar quantos pontos alvo um programa de estilização da curva melódica necessita para estilizar cada curva. Seguindo esse pensamento, foi aplicado o programa MOMEL em todos os enunciados e foram contabilizados os pontos alvo da seguinte forma: NPA 1/3 A: número de pontos alvo no primeiro terço do enunciado. NPA 1/3 M: número de pontos alvo no terço medial do enunciado. NPA 1/3 P: número de pontos alvo no terço final do enunciado. NPA T: número total de pontos alvo do enunciado. 124
125 Por fim, as medidas de alinhamento foram retiradas, seguindo uma abordagem fonéticofonológica. 4.4 Teste Perceptivo Para elaboração e análise do teste perceptivo, é necessário retomar a hipótese inicial Acreditamos, no entanto, que apesar de todos assumirem a mesma posição inicial de intenção de expressão de atitude, os indivíduos que não apresentam gagueira apresentarão maior sucesso, ou seja, um número maior de interlocutores perceberão tais atitudes. Ou seja, o objetivo do teste perceptivo desta pesquisa não é realizar etiquetagem prévia das atitudes que serão analisadas. A finalidade é verificar qual o índice de sucesso na produção dos falantes. Isto significa que, a partir da produção total dos indivíduos, verificamos qual a proporção de reconhecimento da atitude por interlocutores. Tal abordagem foi escolhida por acreditarmos que a partir de uma mesma intenção comunicativa os participantes podem se expressar utilizando os parâmetros prosódicos de diferentes formas, tendo como resultado diferentes índices de relevância para os interlocutores. Como temos a hipótese de que alguns parâmetros prosódicos podem estar alterados na fala de indivíduos com gagueira, os resultados do teste perceptivo apresentarão um pior desempenho. No entanto, ressalta-se aqui que o foco do presente estudo não é a percepção e sim a produção. Dessa forma, este pequeno experimento perceptivo vem a complementar o trabalho, não sendo o foco da pesquisa. Participaram do teste perceptivo 60 indivíduos pareados com o GE: sexo masculino, faixa etária entre 20 e 40 anos, com ensino superior incompleto ou completo e sem queixas de alterações de fala ou audição. A diferença é que nenhum dos 125
126 participantes do teste perceptivo apresentava gagueira, assim como o GC. Esses participantes foram divididos em dois grupos: um grupo (n=30) escutou somente os dados do GC e o outro grupo (n=30) escutou somente os dados do GE. Para a formulação do corpus do teste perceptivo, selecionamos duas frases chaves para o GC e GE: ele volta a jogar e ele conhece as regras. Tais frases foram escolhidas por dois motivos. O primeiro motivo é o número total de enunciados desta pesquisa: 840 enunciados. Como o teste perceptivo não está presente aqui para etiquetagem e sim para uma complementação do estudo, acreditamos que uma amostra fornecerá informações suficientes para testarmos nossa hipótese inicial. O segundo diz respeito a uma limitação do nosso corpus de fala: as outras oito frases elaboradas para o presente estudo dizem respeito à primeira pessoa do singular eu. Tal fato poderia, semanticamente, tirar o fator de neutralidade da frase para o interlocutor. Assim, selecionamos de dentro do nosso universo de 840 enunciados uma amostra por conveniência de 48 enunciados para o GC (incluindo enunciados declarativos, interrogativos, com expressão de certeza e com expressão de dúvida) e de 36 enunciados para o GE (incluindo enunciados declarativos, com expressão de certeza e dúvida). Dessa forma, nosso corpus para o teste perceptivo foi de 84 enunciados divididos em dois grupos (GC e GE). Esses dados foram organizados da seguinte forma: uma pasta contendo os enunciados do GC, e outra contendo os enunciados do GE. Tanto para os participantes que ouviram os dados do GC quanto para os participantes que ouviram os dados do GE, a ordem de apresentação dos enunciados foi aleatória e randomizada. Os procedimentos para a coleta dos dados do teste perceptivo foram os mesmos para os dois grupos e seguiram os passos a seguir. 126
127 Cada participante recebeu uma folha de papel contendo as instruções para realização do teste, seguidas da ilustrução escala e, por fim, do quadro para marcação. Abaixo, uma ilustração com as instruções, a escala e a primeira linha do quadro (a folha de marcação completa do GE encontra-se no anexo 2). Figura 29: Recorte da folha de marcação do teste perceptivo. Após lerem a folha de resposta e tirarem as dúvidas (quando ocorriam), dava-se início ao teste. Cada enunciado era tocado três vezes e os participantes marcavam na linha da frase que ouviam o número que achavam mais apropriado. Aplicamos inicialmente para 66 participantes, mas seis foram excluídos da amostra final por marcarem incorretamente a folha de resposta do teste perceptivo. Os problemas encontrados com esses seis participantes foram: 127
128 Não entendimento das instruções: durante a aplicação a pesquisadora verificou que um participante estava marcando apenas +3. O participante afirmou que entendeu que deveria marcar +3 quando ele mesmo tivesse certeza da frase que estava sendo dita. Marcação incorreta das linhas: cinco participantes marcaram mais de um número por linha e/ou faltaram linhas a ser preenchidas. Para análise dos resultados, foram contados para cada tipo de enunciado estudado, quantos participantes marcaram um determinado número da escala. Como foram 30 participantes por grupo e cada folha de resposta possibilita a marcação de um mesmo tipo de enunciado 12 vezes, foram contabilizadas 360 respostas para cada tipo de enunciado estudado por grupo. Assim, foram contabilizadas 1440 respostas para GC (360 declarativas, 360 interrogativas, 360 expressando certeza e 360 expressando dúvida) e 1080 respostas para o GE, sendo o último dividido em GE1 (120 declarativas, 120 expressando certeza e 120 expressando dúvida) e GE2 (240 declarativas, 240 expressando certeza e 240 expressando dúvida). A diferença do número final para GE1 e GE2 se deu devido ao número de participantes de cada grupo, culminando numa amostra de fala menor para GE Análise Estatística Após a análise acústica dos dados e realizados os testes perceptivos necessários, foi realizada a análise estatística através dos programas excell, versão 2007 e Minitab Foram realizadas medidas de estatística descritiva e teste de associação de variáveis. Este último variou de acordo com o tipo de hipótese a ser testada. 128
129 4.5.1 Pontos de F0 e organização temporal do enunciado Para comparação entre as variáveis, foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskall Wallis por três motivos. Primeiro, os dados não apresentaram normalidade satisfatória; segundo, os dados amostrais provinham de três populações diferentes, e; terceiro, a amostra apresentou tamanhos desiguais. Cabe ressaltar que os dados da atitude de dúvida foram dividos em dois na análise estatística, pois os mesmos apresentaram uma variação importante: um grupo de enunciados se assemelhou às declarativas e outro grupo se assemelhou às interrogativas. Dessa forma, o cruzamento dos dados seguiu o esquema a seguir: Declarativas versus Certeza Declarativas versus Dúvida 1 Interrogativas versus Dúvida 2 Certeza versus Dúvida 1 Certeza versus Dúvida 2 Dúvida 1 versus Dúvida 2 Figura 30: Esquema de comparação para análise estatística entre as modalidades e as atitudes para o grupo controle. Já no grupo experimental não foram encontrados enunciados de dúvida que se assemelhassem à modalidade interrogativa. Consequentemente, o esquema de comparação dentro do grupo experimental foi diferente: 129
130 Declarativas versus Certeza Declarativas versus Dúvida Certeza versus Dúvida Figura 31: Esquema de comparação para análise estatística entre as modalidades e atitudes para o grupo experimental. Para a comparação entre os grupos optou-se por excluir a modalidade dúvida 1, uma vez que esse tipo de enunciado não foi produzido no grupo experimental. Dessa forma, o esquema a seguir mostra como foi realizado o cruzamento dos dados. Declarativa GC versus Declarativa GE Certeza GC versus Certeza GE Dúvida 2 GC versus Dúvida GE Figura 32: Esquema de comparação para análise estatística entre os grupos controle e experimental Pausas e disfluências Para comparação das variáveis número de enunciados com pausas e números de enunciados com disfluências foi utilizado o teste qui-quadrado, uma vez que associação entre essas variáveis foi verificada em frequência de ocorrência. Desse modo, foram construídos diagramas, nos moldes do historagrama, para associação entre linhas e colunas (Magalhães e Lima, 2005), com índice de confiança de 95%. 130
131 4.5.3 Teste perceptivo A análise do teste perceptivo foi dividida em dois momentos principais: a análise dentro de cada grupo (GC, GE1 e GE2) e a análise entre os grupos. A análise dentro de cada grupo foi realizada através da tabulação dos resultados encontrados na escala (de -3 a +3) para cada atitude. Foi realizado um teste de proporção para cada atitude (certeza e dúvida separadamente) dentro de cada grupo. Foi utilizado o teste de uma afirmativa sobre uma proporção, testada através do uso de uma distribuição normal como uma aproximação para distribuição binomial (Triola, 2005). O índice de confiança utilizado foi de 95%, com a hipótese de que o esperado era maior do que o não esperado. Vamos detalhar o que isso significa. A tabulação dos dados seguiu a seguinte proposta: para cada atitude, tínhamos dois números da escala que esperávamos que os participantes do teste perceptivo marcassem. Para expressão de certeza, esperávamos encontrar as respostas +2 e +3, enquanto para expressão de dúvida, esperávamos encontrar -2 e -3. Foram somadas, então, as respostas que esperávamos encontrar, ou seja (+/-) 2 e 3, e somamos as que não esperávmos encontrar (os outros 5 números da escala). No quadro 6 exemplificamos a tabulação: a parte sombreada era a que esperávamos encontrar para atitude de certeza, enquanto a parte sem sombreado era a que não esperávamos. Total não Total Total esperado esperado Certeza Quadro 6: Exemplo de tabulação para análise estatística do teste perceptivo dentro de um grupo. Comparamos, então, a soma dos dois quadros sombreados, uma vez que esperávamos que na expressão de certeza os ouvintes interpretariam os enunciados com os dois números mais altos da escala, com a soma dos outros cinco quadros não 131
132 sombreados. Assim, para alcançar o índice de significância de 95%, os valores sombreados deveriam ser maiores do que os não sombreados, e não apenas diferentes. Ainda dentro de um mesmo grupo, observamos que as respostas do GE das atitudes de certeza e dúvida estavam muito próximas. Comparamos então, utilizando o mesmo teste, cada ponto da escala (de -3 a 3) para GE 1 e GE2 comparando as atitudes, também com índice de significancia de 95%, a fim de verificar se as respostas apresentavam diferenças estatisticamente significativas. Para a análise entre os grupos, realizamos três comparações com a variável grupo: GC X GE1, GC X GE2 e GE1 X GE2. Fizemos cada cruzamento de dados da variável grupo comparando ora os resultados para certeza, ora para dúvida. Estabelecida a variável e o cruzamento dos dados, foi aplicado o teste de uma afirmativa sobre duas proporções (Triola, 2005), sob duas perspectivas. Na primeira, utilizamos a tabulação proposta para comparação entre os resultados esperados e não esperados para cada atitude. Dessa forma, comparamos os grupos considerando cada atitude e os resultados esperados para essa atitude. A segunda perspectiva foi a análise estatística de comparação de duas proporções de cada ponto da escala (de -3 a +3). 132
133 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 133
134 Os primeiros resultados e discussão a serem apresentados neste capítulo dizem respeito aos achados na expressão de dúvida do grupo controle. Tal decisão foi tomada visto que por meio de uma análise perceptiva auditiva inicial, consideramos a possiblidade de duas formas diferentes para expressar a dúvida. Em seguida, serão apresentados os resultados do grupo controle, depois do grupo experimental seguido de uma comparação entre os ambos. Para descrição de cada grupo, serão apresentados os resultados dos enunciados como um todo e posteriormente da vogal da tônica proeminente, da vogal da pretônica e da vogal da postônica, no que tange os aspectos relacionados à F0 e duração, seguidos da análise do MOMEL (para o grupo controle). Desta forma, pretende-se apresentar como se comporta a prosódia na fala do indivíduo com gagueira na expressão das atitudes aqui estudadas. Por fim, iremos expor os resultados encontrados no teste perceptivo, incialmente do grupo controle, seguido do grupo exprerimental e, por último, a comparação de ambos. 5.1 Sobre as duas formas de expressar a dúvida Os primeiros resultados e discussão a serem apresentados no capítulo de resultado dizem respeito aos achados na expressão de dúvida. Como foi explicitado no capítulo anterior, todos os participantes receberam as mesmas instruções para a produção das expressões de atitudes. Na primeira análise, auditiva-perceptiva, foi possível observar que os informantes do grupo controle apresentaram duas formas diferenciadas de expressar a dúvida. 134
135 Essas duas formas foram distinguidas por informante, ou seja, cada um dos participantes escolheu uma determinada forma de expressão da dúvida e a manteve nos dez contextos apresentados. Para melhor exemplificar, tomemos como exemplo a frase eu desliguei o fogão. As figuras a seguir mostram a curva melódica com a separação, com base perceptiva realizada pela pesquisadora. 300 Pitch (Hz) Time (s) Figura 33: Curva melódica da frase eu desliguei o fogão de três participantes para expressão de dúvida. 135
136 300 Pitch (Hz) Time (s) Figura 34: Curva melódica da frase eu desliguei o fogão de nove participantes para expressão de dúvida. A diferença fica ainda mais clara quando colocamos em oposição de cores as duas formas encontradas em uma ilustração (figura 35). 136
137 Figura 35: Curva melódica da frase eu desliguei o fogão de todos participantes para expressão de dúvida, em vermelho a primeira forma e em azul a segunda. Vemos, então que há uma diferença na configuração geral da curva melódica para essas duas formas, as quais chamaremos daqui por diante de dúvida 1 (em vermelho na figura 35) e dúvida 2 (em azul na figura 35). A distinção parece acontecer principalmente no início de cada enunciado, com F0 mais baixa para dúvida 1 e mais alta para dúvida 2. O final de cada enunciado também parece apresentar uma tendência geral: maior variação para a dúvida 2. No entanto esse achado não é tão consistente quanto o primeiro. Outra distinção fundamental é relativa à organização temporal do discurso. A expressão da dúvida 1 apresenta taxa de articulação menor do que a dúvida 2, entre 4,5 e 5,0 sílabas por segundo para dúvida 1 e 6,0 e 6,5 sílabas por segundo para dúvida 2, com diferença estatística altamente significativa. 137
138 Partimos do pressuposto que os demais parâmetros prosódicos propostos nesta pesquisa apresentarão resultados também diferenciados, mas serão tratados posteriormente. Ainda resta uma questão: ambas as formas de dúvida se assemelham a mesma forma neutra ou o ideal é separarmos para fins de comparação? Ou seja, ambas se assemelham à interrogativa ou uma é mais próxima da interrogativa e outra mais próxima da declarativa? As duas formas neutras utilizadas neste estudo foram leituras da frase na forma declarativa e interrogativa. Optamos, então, por apresentar a curva melódica de cada forma aqui em questão seguindo o seguinte esquema de cores: Forma neutra 1: declarativa Forma neutra 2: interrogativa Forma da dúvida: dúvida 1 Forma da dúvida: dúvida 2 Figura 36: Esquema de cores para diferenciação das curvas de F0 das modalidades e da expressão de dúvida. Para exemplificar, separamos, para a mesma frase eu desliguei o fogão, dois participantes. Na figura 37, o participante expressou a dúvida 1 e na figura 38 o participante expressou a dúvida
139 300 Pitch (Hz) Time (s) Figura 37: Curvas melódicas da frase eu desliguei o fogão para um mesmo participante nas formas declarativa (verde), interrogativa (rosa) e dúvida 1 (vermelho). 300 Pitch (Hz) Time (s) Figura 38: Curvas melódicas da frase eu desliguei o fogão para um mesmo participante nas formas declarativa (verde), interrogativa (rosa) e dúvida 2 (azul). 139
140 Essa clara diferença encontrada para expressão de dúvida nos leva a questionar qual seria a consequencia pragmática dessa diferenciação. Por que alguns falantes produziram a dúvida de forma similar à interrogativa e outros produziram a dúvida de forma similar à declarativa? Apesar de parecer, a princípio, que o conceito de dúvida é óbvio para o falante, nos questionamos se não seria justamente a diferença entre dúvida e incerteza que levou os falantes a produzirem uma mesma frase com uma organização prosódica diferente. A configuração geral das curvas melódicas mostradas nas figuras acima mostram que a dúvida 1 se aproxima da declarativa, enquanto a dúvida 2 se aproxima da interrogativa. Pergunta: a expressão de dúvida estaria moldada (por falta de um melhor termo) sobre as modalidades declarativa e interrogativa? Para Gradjean e Sherer (2006) as modalidades e as emoções se sobrepõem na fala. Seguindo tal abordagem, poderíamos propor aqui também que a expressão da atitude de dúvida estaria sobreposta ou na modalidade declarativa ou na modalidade interrogativa. Pensando em tal sobreposição, quais seriam as implicações? Uma possível interpretação de tais resultados seria a diferenciação dessas duas formas de produção da dúvida em duas atitudes: a incerteza e a dúvida. Mas qual padrão seria associado a qual atitude? Ao longo deste estudo tentaremos responder a essas e outras perguntas levantadas. Para tanto, apresentaremos a seguir os resultados do grupo controle, seguido do grupo experimental e a comparação entre os mesmos. 140
141 5.2 Resultado e discussão do GC: pontos de F0 e organização temporal do discurso Foram analisados 480 enunciados do grupo controle, sendo 120 para cada tipo de modalidade (declarativa e interrogativa) e atitude (certeza e dúvida). Como descrito no capítulo de métodos, os enunciados de dúvida foram divididos em dois grupos: dúvida 1 para aqueles enunciados cuja forma global se assemelham à declarativa (30 enunciados) e dúvida 2 para aqueles enunciados cuja forma se assemelha à interrogativa Resultado e discussão dos pontos de F0 para o GC No que diz respeito à F0 inicial e final, a tabela 1 mostra os valores individuais, enquanto os gráficos que a seguem mostram a média e o desvio padrão. 141
142 TABELA 1: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 inicial e F0 final para GC. F0 inicial F0 final Inf Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int Média dp 30,6 16,9 32,7 33,9 33,7 17,4 17,3 19,4 11,6 29,2 Como é possível observar, os valores de F0 inicial apresentam uma clara aproximação entre declarativa e certeza bem como entre dúvida (tipos 1 e 2) e interrogativa. Já para F0 final, a dúvida 1 se aproxima, como esperado, da declarativa. A análise global dos resultados acima nos permite levantar algumas observações: A dúvida e a interrogativa apresentam início mais alto do que a declarativa e a certeza. Para F0 final, encontramos desvio padrão alto apenas para a modalidade interrogativa. O comportamento da dúvida 1 se mostra peculiarmente alto, se diferenciando dos demais. 142
143 Ao estudar a contraposição em questões verdadeiras, Antunes (2007) verificou que os valores de F0 inicial e final da dúvida eram superiores quando comparados à interrogativa neutra. Os resultados encontrados para dúvida 1 são similares, no entanto para dúvida 2 (justamente o tipo de dúvida que a autora estudou). Já os valores de F0 final são contraditórios. Um dos motivos que pode justificar essa diferença foi o tipo de corpus analisado nas duas pesquisas: Antunes (2007) analisou fala espontânea após a etiquetagem final do teste perceptivo, enquanto o presente estudo analisa a idéia de expressão que os falantes têm da dúvida. Quanto à tessitura, a menor variação é da declarativa, seguida da interrogativa, certeza e, por fim, dúvida (1 e 2), como mostra a tabela a seguir. TABELA 2: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de tessitura para GC. Tessitura Inf Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int Média dp 10,9 41,3 8,6 39,9 25,8 Ao realizar a comparação entre a declarativa e as atitudes de certeza e dúvida 1 e entre a interrogativa e a dúvida 2, vemos que encontramos uma tendência: a forma 143
144 neutra apresenta menor tessitura do que as atitudes. Essa diferença também foi encontrada por Alves (2002) ao comparar a tessitura de enunciados persuasivos e informativos (neutros), com maior tessitura para o primeiro. Cheang e Pell (2008) chegaram a resultados similares ao contrapor a tessitura da forma neutra às atitudes de sarcasmo, humor e sinceridade. Dessa forma, a maior tessitura nas atitudes quando comparada à modalidade mostra-se como uma tendência geral, independente da atitude estudada. Os valores de pico de F0 seguem um raciocínio similar daquele feito para a tessitura: TABELA 3: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo do pico de F0 para GC. Pico de F0 Inf Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int Média dp 6,8 40,9 17,5 28,0 29,2 Assim como para tessitura, as médias (individuais e do grupo) das atitudes são superiores à modalidade neutra: certeza e dúvida 1 apresentam pico de F0 superior à declarativa; dúvida 2 apresenta pico de F0 superior à interrogativa. 144
145 Cabe ressaltar que tanto para tessitura quanto para pico de F0, os valores de expressão de certeza são bem próximos da interrogativa. Outra coincidência entre tessitura e pico de F0 diz respeito ao desvio padrão que é mais elevado para expressão de certeza. Os dados acima descritos foram submetidos ao teste de Kruskall Wallis para a comparação entre grupos e seus resultados encontram-se na tabela a seguir. TABELA 4: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GC de F0 inicial e final, tessitura e pico de F0. Decl X Cert Decl X Dúv 1 Inter X Dúv 2 Cert X Dúv 1 Cert X Dúv 2 Dúv 1 X Dúv 2 F0 inicial 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,8 F0 final 0,001 0,005 0,000* 0,000* 0,1 0,04 Tessitura 0,000* 0,000* 0,000* 0,03 0,000* 0,000* Pico F0 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,08 *Valores de p muito significativos, porém diferentes de 0. A maior parte dos resultados apresentados na tabela apresenta uma diferença estatística altamente significativa. Os resultados para tessitura, em especial, mostraram diferença estatisticamente significativa em todas as comparações realizadas. Como consequência, as afirmações propostas acima na discussão de cada aspecto analisado ganham mais força com o resultado da análise estatística. Ainda com relação aos aspectos mais globais dos enunciados, a questão da organização temporal do mesmo será discutida exluindo-se os valores de tempo total de elocução, tempo total de articulação e número de sílabas, uma vez que esses valores só acrescentariam neste momento se fosse dita exatamente a frase ou frases com o mesmo número de sílabas, o que não foi o caso. Dessa forma, esses valores foram utilizados somente para o cálculo das taxas de elocução e de articulação. 145
146 5.2.2 Resultados e discussão da organização temporal do discurso para GC O primeiro fator a ser considerado aqui será a presença de pausas do enunciado. Considerando-se que os participantes falaram frases curtas, com uma média de 6,4 sílabas produzidas por enunciado, consideramos que não há necessidade fisiológica de utilizar a mesma. Dessa forma, as pausas utilizadas, quando utilizadas, pelos participantes foram consideradas como parte de uma estratégia do locutor para se expressar, ou seja, foram produzidas com intuito comunicativo. Com tal perspectiva, a primeira pergunta que nos fizemos foi: existe alguma modalidade ou atitude na qual foi empregado o uso das pausas de forma mais consistente? A tabela 5 resume os resultados encontrados para essa questão. TABELA 5: Número total de enunciados, número total de pausas nos enunciados, sua porcentagem de ocorrência e média em milissegundos para GC. Declarativa Interrogativa Certeza Dúvida 1 Dúvida 2 N enunc N pausas % pausas % 8,80% Média de duração* ,106 0,337 Legenda: N enun: Número total de enunciados % pausas: porcentagem de ocorrência de enunciados com pausas *Foram consideradas para o cálculo da média apenas os valores maiores que 0. Cabe ressaltar que cada enunciado apresentou apenas uma pausa, em todos os casos. A tabela acima mostra claramente que a inserção da pausa dentro de um enunciado foi utilizada a fim de auxiliar na expressão da dúvida, particularmente, na expressão da dúvida que apresenta os padrões globais da asserção, a dúvida
147 Viola e Madureira (2008) levantaram algumas reflexões sobre a utilização da pausa expressiva 14 mostrando que a variação da duração é relacionada ao tipo de sentimento transmitido. As autoras deram como exemplo a maior duração na atitude de contemplação e menor duração na ansiedade. No presente estudo, a pausa foi encontrada apenas na expressão de dúvida, com média menor para dúvida 1 (desvio padrão de 0,05) e maior para dúvida 2 (com desvio padrão de 0,019). É interessante observar a ausência de pausas na expressão de certeza. Alves (2002) praticamente não encontrou pausas no enunciado persuasivo. A autora atribuiu tais achados à necessidade da transmissão de segurança por parte do locutor. Outro fator considerado dentro da organização temporal do discurso foi a disfluência. O mesmo raciocínio feito para a pausa foi realizado para a disfluência: a presença da disfluência, no caso do grupo controle uma disfluência voluntária, foi utilizada como estratégia de expressividade pelos participantes. Foram encontrados os seguintes tipos de disfluência: Prolongamento de som; Repetição de sílaba; Repetição de fones; Hesitação. A tabela a seguir resume os dados encontrados quanto à presença de disfluência. 14 As autoras chamaram de pausa expressiva aquela relacionada à expressão de atitudes e emoções. 147
148 TABELA 6: Número total de enunciados, Número total de disfluências nos enunciados, sua porcentagem de ocorrência e média em milissegundos. Declarativa Interrogativa Certeza Dúvida 1 Dúvida 2 N enunc N disf % p disf % 10% Média de duração* ,232 0,157 Legenda: N enun: Número total de enunciados N disf: Número total de disfluências % p p: porcentagem de ocorrência de enunciados com disfluências *Foram consideradas para o cálculo da média apenas os valores maiores que 0. Assim como as pausas, as disfluências foram inseridas a fim de expressar dúvida, mais fortemente em dúvida 1. No entanto sua ocorrência é menor do que as pausas. Ainda comparando com as pausas, apesar das disfluências ocorrerem em menor número, elas apresentam maior média na dúvida 1. O fato da ocorrência tanto das pausas quanto das disfluências se limitar a uma atitude (dúvida) reforça a ideia de que a presença dessas é intencional. Os dois últimos aspectos estudados aqui em relação à organização temporal do discurso foram as taxas de elocução e articulação, essa última subdividida: a taxa de articulação (TxA) inclui no tempo de articulação a duração das disfluências, e a taxa de articulação sem disfluências (TxA-d) exlui, como o próprio nome sugere, a duração das disfluências do tempo de articulação. As médias das taxas de elocução e articulação individuais e as médias e o desvio padrão do grupo encontram-se nas tabelas a seguir, primeiro para as modalidades depois para as atitudes. 148
149 TABELA 7: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo das taxas de elocução e articulação para GC para as modalidades. Informante Declarativa Interrogativa Tx E Tx A TxA-d Tx E Tx A TxA-d 1 7,47 7,47 7,47 5,52 5,52 5,52 2 6,24 6,24 6,24 5,84 5,84 5,84 3 5,81 5,81 5,81 5,64 5,64 5,64 4 4,93 4,93 4,93 6,30 6,30 6,30 5 7,47 7,47 7,47 6,64 6,64 6,64 6 4,93 4,93 4,93 5,57 5,57 5,57 7 4,93 4,93 4,93 6,76 6,76 6,76 8 5,34 5,34 5,34 8,73 8,73 8,73 9 5,86 5,86 5,86 6,21 6,21 6, ,07 5,07 5,07 6,23 6,23 6, ,45 5,45 5,45 7,41 7,41 7, ,09 7,09 7,09 4,43 4,43 4,43 Média 5,88 5,88 5,88 6,27 6,27 6,27 dp 0,98 0,98 0,98 1,08 1,08 1,08 TABELA 8: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo das taxas de elocução e articulação para GC para as atitudes. Informante Certeza Dúvida 1 Dúvida 2 Tx E Tx A TxA-d Tx E Tx A TxA-d Tx E Tx A TxA-d 1 8,42 8,42 8,42 4,23 4,39 4, ,67 6,67 6,67 3,89 4,35 4, ,91 4,91 4,91 2,94 3,29 3, ,14 5,14 5, ,03 6,73 6,73 5 4,61 4,61 4, ,94 6,64 6,64 6 7,84 7,84 7, ,28 6,74 6,74 7 5,40 5,40 5, ,31 7,31 7,31 8 6,93 6,93 6, ,54 6,54 6,54 9 5,75 5,75 5, ,93 5,93 5, ,27 7,27 7, ,04 4,04 4, ,66 4,66 4, ,20 5,20 5, ,05 6,05 6, ,16 5,16 5,89 Média 6,14 6,14 6,14 3,69 4,01 4,32 5,60 6,03 6,18 dp 1,28 1,28 1,28 0,67 0,63 0,56 0,95 1,04 0,84 149
150 Se analisássemos a taxa de elocução separadamente, poderíamos ter a impressão de que os valores da dúvida 1 estão mais baixos devido às pausas e às disfluências, já que ambas são incluídas nos cálculos da taxa de elocução. No entanto, quando se exclui esses dois parâmetros para encontrar a taxa de articulação (com ou sem disfluências) a dúvida 1 continua com valores bem mais baixos. Isto quer dizer que, para expressar a dúvida, os participantes articulam mais lentamente; desde que a dúvida seja expressa tendo a declarativa como modalidade. A tabela que segue nos auxilia a visualizar essa questão. TABELA 9: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GC para taxa de elocução e articulação. Decl X Cert Decl X Dúv 1 Inter X Dúv 2 Cert X Dúv 1 Cert X Dúv 2 Dúv 1 X Dúv 2 Tx E 0,000* 0,000* 0,06 0,000* 0,4 0,000* TxA 0,000* 0,000* 0,09 0,002 0,8 0,001 Tx A-d 0,000* 0,000* 0,04 0,000* 0,1 0,000* Legenda: Tx E: taxa de elocução Tx A: taxa de articulação TxA-d: taxa de articulação sem disfluência *Valores de p muito significativos, porém diferentes de 0. Vimos, então, que a dúvida 1 é estatisticamente diferente das outras modalidades/atitudes. No entanto, a dúvida 2 não apresentou diferença estatisticamente significativa da interrogativa para taxa de elocução. Tal fato se justifica na medida que observamos as tabelas 7, 8 e 9: a articulação na dúvida é mais rápida do que na interrogativa, no entanto foi mascarada na taxa de elocução devido às pausas e às disfluências. 150
151 Diferentemente do encontrado aqui, Antunes (2007) verificou que a expressão de dúvida apresenta taxas de elocução e articulação 15 mais elevadas do que a questão neutra, porém os resultados não foram estatisticamente significativos. A certeza, por sua vez, se diferencia claramente da declarativa, com médias bem mais elevadas nas taxas de elocução e articulação (que no caso são idênticas devido à ausência de pausas e disfluências) e com uma diferença estatisticamente significativa. O mesmo acontece se compararmos certeza e dúvida 1. Porém quando comparamos certeza e dúvida 2 não encontramos valores estatisticamente diferentes. Vistas questões mais globais dos enunciados, tratemos da análise da tônica proeminente, pretônica e postônica A vogal da tônica proeminente no GC Quanto à tônica proeminente, as duas tabelas a seguir mostram os valores de F0 mínimo, máximo, intervalo melódico e média. 15 A autora denomina a taxa de elocução e taxa de articulação como tempo médio de sílabas com e sem pausas, respectivamente. 151
152 TABELA 10: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 mínimo e máximo da tônica proeminente para GC. F0 mínimo F0 máximo Inf Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int Média dp 5,4 9,9 7,0 40,8 29,9 4,8 21,0 11,5 22,3 25,9 TABELA 11: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de intervalo melódico e média de F0 da tônica proeminente para GC. Intervalo melódico Média de F0 Inf Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int Média dp 6,6 16,4 9,5 22,3 21,3 4,3 13,1 9,5 26,6 25,9 152
153 As tabelas 10 e 11 em conjunto mostram uma tendência importante do comportamento dos valores de F0 na tônica proeminente: valores elevados para dúvida e interrogativa e valores mais baixos para certeza e declarativa. Para F0 mínimo, a atitude de dúvida apresenta, no seu conjunto 1 e 2, valores ainda mais altos do que da interrogativa. O mesmo não acontece de forma tão clara nas demais medidas. Dúvida 2 e interrogativa se aproximam no valor máximo e na média de F0, enquanto declarativa e certeza ficam mais próximas em todas as medidas, exceto no intervalo melódico. A tabela a seguir dá os resultados da análise estatística das medidas acima descritas da tônica proeminente. TABELA 12: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GC para os valores mínimo, máximo, intervalo melódico e média de F0 na tônica proeminente. Decl Decl Inter Cert Cert Dúv 1 X Cert X Dúv 1 X Dúv 2 X Dúv 1 X Dúv 2 X Dúv 2 Ton F0 min 0,07 0,000* 0,02 0,000* 0,000* 0,1 Ton F0 max 0,9 0,000* 0,4 0,000* 0,000* 0,000* Ton IM 0,05 0,000* 0,05 0,000* 0,000* 0,000* Ton med 0,1 0,000* 0,9 0,000* 0,000* 0,005 Legenda: Ton: tônica IM: intervalo melódico Med: média Podemos observar que todas as medidas entre declarativa e dúvida 1, certeza e dúvida 1, certeza e dúvida 2 e entre os dois tipos de dúvida (para o último exceto o valor mínimo de F0) são diferentes estatisticamente, mostrando que o comportamento da tônica proeminente, nos aspectos de entonação, é bem distinto entre essas modalidades/atitudes. Entre dúvida 2 e interrogativa, os parâmetros analisados se 153
154 dividem, sendo estatisticamente diferentes apenas no valor mínimo de F0 e no intervalo melódico. Antunes (2007) encontrou resultados similares na comparação entre dúvida e neutro (aqui representados pela dúvida 2 e interrogativa): os valores encontrados para média de F0 são mais elevados para dúvida do que para a forma neutra, porém não apresentaram resultados estatisticamente diferentes. Já a declarativa e a certeza são as duas formas aqui estudadas que mais se assemelham, sendo diferentes estatisticamente apenas no intervalo melódico. A importância do intervalo melódico da tônica proeminente na expressão de atitudes também foi observada por Alves (2002). A autora mostrou que os valores do intervalo melódico eram maiores na persuasão do que nos enunciados puramente informativos, com diferença estatisticamente significativa. Outro dado relevante diz respeito às diferenças entre as atitudes estudadas. Ao compará-las entre si (certeza versus dúvida 1; certeza versus dúvida 2 e dúvida 1 versus dúvida 2) todos os parâmetros mostram diferença estatisticamente significativa, com exceção de F0 mínimo entre dúvida 1 e dúvida 2. Isso mostra que as atitudes se diferenciam de forma significativa quanto à tônica proeminente. A tônica proeminente foi analisada, ainda, quanto à duração, como mostram as tabelas a seguir. 154
155 TABELA 13: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de duração da tônica proeminente para GC. Duração Inf Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int 1 0,104 0,107 0,202 0, ,169 0,109 0,158 0, ,133 0,198 0,164 0, ,171 0,201 0,148 0, ,102 0,168 0,122 0, ,099 0,119 0,086 0, ,173 0,191 0,147 0, ,159 0,121 0,144 0, ,175 0,091 0,164 0, ,161 0,128 0,151 0, ,164 0,111 0,176 0, ,157 0,157 0,152 0,210 Média 0,144 0,142 0,175 0,143 0,129 dp 0,035 0,039 0,024 0,026 0,035 TABELA 14: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GC para os valores de duração na tônica proeminente. Decl X Cert Decl X Dúv 1 Inter X Dúv 2 Cert X Dúv 1 Cert X Dúv 2 Dur 0,4 0,1 0,2 0,2 0,5 0,1 Legenda: Int: intensidade Dur: duração *Valores de p muito significativos, porém diferentes de 0. Dúv 1 X Dúv 2 As tabelas 13 e 14 mostram que os padrões de duração encontrados nesta amostra são muito próximos não apresentam diferenças estatisticamente significativas. Tal fato pode ser justificado pelo fato de que a duração marca, no português brasileiro, o acento da palavra, e por isso não se diferencia entre as modalidades e atitudes apresentadas. 155
156 A análise da tônica proeminente quanto aos aspectos de F0 e duração nos permite traçar algumas generalizações, a saber: A modalidade declarativa é estatisticamente diferente da atitude dúvida, aqui em especial a dúvida 1, em todos os aspectos analisados (exceto duração), apesar desse tipo de dúvida se assemelhar globalmente à declarativa e não à interrogativa; A declarativa e a certeza diferem estatisticamente apenas quanto ao intervalo melódico; A dúvida 2 e a interrogativa são estatisticamente diferentes quanto à F0 mínima e ao intervalo melódico; As atitudes certeza e dúvida (1 e 2) são estatisticamente diferentes em todos os aspectos analisados, exceto duração; A duração da tônica proeminente não se distingue estatisticamente entre as modalidades e atitudes aqui estudadas. Seguindo o plano de estudos, passemos agora para análise da vogal pretônica A vogal da pretônica no GC A tabela a seguir mostra os valores de F0 (mínimo e máximo) para pretônica. É possível observar que as modalidades declarativa e interrogativa apresentam valores mais baixos do que as atitudes. 156
157 TABELA 15: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 mínimo e máximo da vogal pretônica para GC. F0min F0 max Inf Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int Dec Cert Dúv 1 Dúv2 Int Média dp 8,3 14,9 20,6 18,3 7,8 11,6 28,1 22,7 17,6 10,1 As tabelas 15 e 16 mostram que o desvio padrão é relativamente baixo para todas as formas estudadas. Além disso, vemos que a observação feita para F0 mínimo e máximo também é válida para o intervalo melódico: a declarativa e a interrogativa apresentam valores mais baixos do que a certeza e a dúvida. 157
158 TABELA 16: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de intervalo melódico e média de F0 da vogal pretônica para GC. Intervalo melódico Média de F0 Inf Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int Média dp 7,3 9,1 6,1 5,3 6,6 7,0 19,4 20,7 13,1 12,4 A tabela abaixo, por sua vez, mostra tendências diferentes: os valores mais altos agora correspondem à dúvida (1 e 2) e à interrogativa. TABELA 17: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de duração em segundos da vogal pretônica para GC. Duração Inf Dec Cert Dúv 1 Dúv 2 Int 1 0,015 0,032 0,060 0, ,051 0,100 0,052 0, ,082 0,048 0,071 0, ,067 0,047 0,051 0, ,020 0,054 0,041 0, ,048 0,069 0,060 0, ,067 0,055 0,055 0, ,058 0,031 0,043 0, ,063 0,030 0,066 0, ,052 0,019 0,062 0, ,055 0,042 0,074 0, ,067 0,051 0,058 0,117 Média 0,054 0,048 0,061 0,057 0,069 dp 0,019 0,021 0,010 0,011 0,
159 Todos os parâmetros mostrados nas tabelas referentes aos valores da vogal pretônica foram submetidos à análise estatística, como mostra a tabela a seguir. TABELA 18: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GC para os valores de F0 mínima e máxima, intervalo melódico e F0 média para pretônica. Decl Decl Inter Cert Cert Dúv 1 X Cert X Dúv 1 X Dúv 2 X Dúv 1 X Dúv 2 X Dúv 2 pret F0 min 0,001* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* pret F0 max 0,000* 0,000* 0,000* 0,003* 0,000* 0,000* pret IM 0,000* 0,04* 0,000* 0,009* 0,000* 0,000* pret med 0,000* 0,000* 0,000* 0,001* 0,000* 0,000* pret Dur 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,04* 0,000* Legenda: pret: pretônica IM: intervalo melódico med: média dur: duração A análise estatística mostra que todos os valores relativos à pretônica analisados neste estudo são diferentes estatisticamente. Tal fato nos mostra a importância da vogal pretônica na expressão das atitudes aqui estudadas. Lucente, Silveira e Barbosa (2006), ao propor uma diferente notação do sistema ToBI para o português brasileiro, analisaram algumas diferenças acústicas nas modalidades declarativas e interrogativas. Os autores observaram que a vogal pretônica desempenhou papéis diferentes nas modalidades analisadas, mesmo quando os valores da vogal tônica foram semelhantes. Passaremos, por fim, para a análise da vogal postônica. 159
160 5.2.5 A vogal da postônica do GC A análise da postônica nos demanda algumas considerações. Em 100% dos enunciados deste estudo, a postônica estava localizada na última sílaba do mesmo. Espera-se, então, que nem sempre ela seja pronunciada (Aragão, 2000). Resta-nos a pergunta: o falante utiliza de alguma forma a queda da produção da postônica para expressar uma atitude? Ou seja, nos perguntamos se, apesar de ser esperado a não produção da postônica em alguns casos, existe algum padrão na expressão de atitudes certeza e/ou dúvida. A tabela abaixo mostra a porcentagem de não produção da postônica por modalidade/atitude. TABELA 19: Número total de enunciados (possibilidade de ocorrência da postônica), número total de não ocorrência e sua porcentagem por modalidade/atitude no GC. Declarativa Interrogativa Certeza Dúvida 1 Dúvida 2 N p post N post NO % post NO 53,3% 50% 86,7% 0% 46,7% Legenda: N p post: número de possibilidade de ocorrência da postônica em final de enunciado N post NO: número total de não ocorrência da postônica A fim de verificar se os valores acima apresentados são diferentes estatisticamente, fizemos os cruzamentos de dados apresentados no esquema de comparação de GC (figura 22), acrescidos de outros dois: declarativa versus interrogativa e declarativa versus dúvida 2. Tal medida foi tomada por causa dos resultados peculiares encontrados na tabela 19. Separamos os dados em duas tabelas a fim de melhorar a visualização, sendo que a tabela 20 apresenta os cruzamentos com resultados diferentes estatisticamente, e a tabela 21 os demais. 160
161 TABELA 20: Valor de p (p<0,05) por meio do teste qui-quadrado para comparação entre modalidades e atitudes do GC para a (não) ocorrência da postônica primeiro cruzamento. Decl X Cert Decl X Dúv 1 Cert X Dúv 1 Cert X Dúv 2 Dúv 1 X Dúv 2 P 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* *Valores de p muito significativos, porém diferentes de 0. TABELA 21: Valor de p (p<0,05) por meio do teste qui-quadrado para comparação entre modalidades e atitudes do GC para a (não) ocorrência da postônica segundo cruzamento. Decl X Int Decl X Dúv 2 Int X Dúv 2 P 0,6 0,3 0,6 Como mostram as tabelas acima, não há diferença estatisticamente significativa entre declarativa, interrogativa e dúvida 2. No entanto, quando cruzamos qualquer um desses com certeza ou dúvida 1 (além do cruzamento entre os dois últimos), encontramos diferenças estatísticas altamente significativas em todos os resultados. Isso porque na certeza quase não se produz a postônica, enquanto na dúvida 1 há alta ocorrência. Esses resultados são um indicativo de que a (não) produção da vogal postônica é um fenômeno importante na expressão de atitudes. Resumindo, os resultados encontrados para o GC mostram claramente que as atitudes certeza e dúvida, esta última dividida em duas, são expressas com características prosódicas próprias, no que tange o nível fonético de análise. 5.3 Resultado e discussão do GC: MOMEL Para complementar o estudo do nível fonético de análise foi utilizado o algoritmo MOMEL. Tal análise nos permitiu verificar a variação do conjunto de pontos de F0 ao longo do enunciado seguindo o seguinte raciocínio: se um enunciado apresenta uma grande variação do conjunto de pontos de F0 em toda sua extensão, um programa de estilização necessitará de lançar um maior número de pontos alvo. 161
162 Celeste, Hirst e Reis (2009) verificaram essa variabilidade do conjunto de pontos alvo comparando os dois terços anteriores e o terço final de cada enunciado na expressão de dúvida e nas formas neutras declarativa e interrogativa. Os autores verificaram que a expressão de dúvida apresentou uma maior variação no conjunto de pontos da frequência fundamental. Os resultados individuais encontrados para o número de pontos alvo fornecidos pelo MOMEL são expostos nas tabelas 22 e 23, nas quais são mostradas as médias, as medianas e o desvio padrão para as modalidades e atitudes. 162
163 TABELA 22: Média, mediana em itálico e desvio padrão (entre parênteses) dos números de pontos alvo para cada terço dos enunciados declarativos e interrogativos para GC por informante. Declarativa Interrogativa NPA 1/3 A NPA 1/3 M NPA 1/3 P NPA T NPA 1/3 A NPA 1/3 M NPA 1/3 P NPA T 1 1,0 1,3 1,0 3,3 1,3 1,0 1,0 3, (0,8) (0,6) (0,1) (1,1) (0,6) (0,1) (0,2) (0,6) 2 1,6 1,0 1,2 3,8 1,0 1,2 1,2 3, (0,7) (0,5) (0,4) (0,8) (0,1) (0,4) (0,4) (0,5) 3 1,6 1,0 1,2 3,8 1,0 1,2 1,3 3, (0,7) (0,5) (0,4) (0,8) (0,1) (0,4) (0,5) (0,5) 4 1,8 1,0 1,2 4,0 1,0 1,3 1,3 3, (0,4) (0,5) (0,4) (0,5) (0,1) (0,5) (0,5) (0,5) 5 1,8 1,1 1,3 4,2 1,1 1,4 1,3 3, (0,4) (0,6) (0,5) (0,8) (0,3) (0,5) (0,5) (0,9) 6 1,9 1,0 1,3 4,2 1,2 1,4 1,3 3, (0,4) (0,5) (0,5) (0,8) (0,4) (0,5) (0,5) (0,9) 7 1,9 1,0 1,3 4,2 1,2 1,5 1,4 4, (0,3) (0,4) (0,5) (0,8) (0,4) (0,5) (0,5) (1,0) 8 1,9 1,1 1,2 4,2 1,3 1,5 1,5 4, (0,3) (0,5) (0,4) (0,8) (0,5) (0,5) (0,5) (1,1) 9 1,9 1,7 1,2 4,8 1,5 1,4 1,3 4, (0,3) (0,5) (0,4) (0,6) (0,5) (0,5) (0,5) (0,8) 10 1,9 1,5 1,1 4,5 1,4 1,5 1,3 4, (0,3) (0,5) (0,4) (0,7) (0,5) (0,5) (0,5) (0,9) 11 1,9 1,5 1,2 4,6 1,5 1,5 1,4 4, (0,3) (0,5) (0,4) (0,8) (0,5) (0,5) (0,5) (0,9) 12 1,9 1,5 1,1 4,6 1,5 1,5 1,4 4, (0,2) (0,5) (0,3) (0,6) (0,5) (0,5) (0,5) (0,9) Legenda: NPA 1/3 A: número de pontoa alvo no terço anterior NPA 1/3 M: número de pontos alvo no terço médio NPA 1/3 P: número de pontos alvo do terço posterior NPA T: número de pontos alvo total do enunciado 163
164 TABELA 23: Média, mediana em itálico e desvio padrão (entre parênteses) dos números de pontos alvo para cada terço dos enunciados da expressão de certeza e dúvida para GC por informante. Certeza Dúvida NPA 1/3A NPA 1/3 M NPA 1/3 P NPA T NPA 1/3 A NPA 1/3 M NPA 1/3 P NPA T 1 1,7 2,0 2,0 5,7 2,3 2 3, (0,6) (1,0) (0,1) (1,2) (0,6) (0,3) (1,2) (1) 2 1,6 1,7 1,8 5,0 2, , Dúvida (0,5) (0,9) (0,4) (1,3) (0,6) (0,2) (1,2) (1) 3 1,7 1,6 1,8 5,0 1,7 2 2,7 6, (0,5) (0,9) (0,4) (1,3) (0,6) (0,3) (0,5) (0,6) 4 1,6 1,5 1,7 4,8 2,7 1,4 2,5 6, (0,5) (0,7) (0,5) (1,1) (1,1) (0,2) (0,6) (2,3) 5 1,7 1,3 1,6 4,6 1 1,3 2,2 5, (0,5) (0,5) (0,5) (1,1) (0,6) (0,7) (0,6) (0,5) 6 1,6 1,2 1,5 4,3 2,1 1,9 2 6, (0,5) (0,5) (0,5) (1,1) (0,6) (0,6) (1) (1,7) 7 1,8 1,2 1,5 4,5 1,7 1, (0,6) (0,4) (0,5) (0,9) Dúvida 2 (0,6) (0,6) (0,2) (1) 8 1,9 1,2 1,5 4,5 2,3 1, (0,7) (0,4) (0,5) (1,0) (1) (0,6) (0,3) (1,5) 9 1,5 2,1 1,6 5,2 1, , (0,5) (0,7) (0,7) (1,3) (0,2) (0,1) (0,6) (0,6) 10 1,7 1,7 1,6 5,0 1, , (0,7) (0,6) (0,7) (1,2) (0,6) (0,6) (0,6) (1,7) 11 1,7 1,7 1,5 4,9 1,7 1,7 1, (0,7) (0,7) (0,6) (1,2) (0,6) (0,6) (1) (2) 12 1,6 1,7 1,5 4,8 1,3 1, (0,7) (0,7) (0,6) (1,2) (0,6) (0,3) (0,6) (1,2) Legenda: NPA 1/3 A: número de pontoa alvo no terço anterior NPA 1/3 M: número de pontos alvo no terço médio NPA 1/3 P: número de pontos alvo do terço posterior NPA T: número de pontos alvo total do enunciado 164
165 No que diz respeito aos resultados encontrados para os enunciados declarativos, os resultados mostram que os informantes 1 e 2 apresentaram desvio padrão mais elevado quando comparados ao restante do grupo. Porém, se desconsiderarmos esses dois informantes, vemos que os resultados apresentam um desvio padrão relativamente baixo. Na modalidade interrogativa, vemos que os indivíduos 1 e 12 são os que apresentam os valores mais elevados de desvio padrão. Mesmo esses, juntamente com o restante do grupo, mostram valores ainda mais baixos que para os enunciados na forma declarativa. Na expressão da certeza, a variação do desvio padrão entre os informantes é baixa, porém com registro um pouco elevado, especialmente no número total de pontos alvos. Nenhum dos informantes, no entanto, se destacou, ou seja, nenhum deles apresentou diferenças relevantes nas medidas de média, mediana e desvio padrão. Com relação à dúvida 1, o informante 3 apresentou os valores mais reduzidos de desvio padrão quando comparado aos demais. Esses, tiveram resultados de desvio padrão elevados, especialmente no número de pontos alvo no terço final dos enunciados. Por fim, para a dúvida 2, os informantes 2 e 6 se destacaram por apresentarem desvio padrão relativamente mais baixo do que os demais participantes do grupo. De uma forma geral, os informantes parecem apresentar menor variação nos enunciados neutros: modalidades declarativa e interrogativa. Para melhor visualizar os resultados por forma estudada, os gráficos de 1 a 4 apresentam a média, a mediana, o desvio padrão e a comparação das modalidades e atitudes. 165
166 GRÁFICO 1: Médias do número de pontos alvo fornecidos pelo MOMEL para cada modalidade e atitude do GC. Legenda: NPA 1/3 A: número de pontos alvo no terço anterior. NPA 1/3 M: número de pontos alvo no terço médio. NPA 1/3 P: número de pontos alvo no terço posterior. NPA T: número de pontos alvo total. Ao analisarmos o gráfico 1, que mostra as médias, percebemos que cada forma estudada apresenta sua tipologia própria. A declarativa apresenta uma escala descendente para o número de pontos alvo da estilização, seguindo do terço anterior até o terço posterior. Já a interrogativa apresenta uma distribuição mais uniforme dos pontos alvo: poucos pontos alvo no início (primeiro terço), maior concentração no terço médio e diminui, novamente, ao final do enunciado. A expressão de certeza apresenta tipologia similar a da interrogativa, porém com menor variação entre os terços, sendo quase uniforme. A dúvida 1 possui aproximadamente o mesmo número de pontos alvo nos dois primeiros terços, com maior concentração no terço final. A dúvida 2, como a dúvida 1, também apresenta muitos pontos no final do enunciado, no entanto os dois primeiros terços apresentam diferenças mais relevantes. 166
167 De uma forma geral, o número total de pontos alvo estilizados é maior na expressão de atitudes do que nas formas neutras, com maior quantidade na dúvida 1. GRÁFICO 2: Medianas do número de pontos alvo fornecidos pelo MOMEL para cada modalidade e atitude do GC. Legenda: NPA 1/3 A: número de pontos alvo no terço anterior. NPA 1/3 M: número de pontos alvo no terço médio. NPA 1/3 P: número de pontos alvo no terço posterior. NPA T: número de pontos alvo total. A análise da mediana (gráfico 2) mostra que a declarativa e a interrogativa se espelham : na primeira há maior concentração no primeiro terço, seguida de um platô para os dois últimos; na segunda há um platô dos dois primeiros terços seguidos de uma maior concentração no terço posterior. Ainda com base no mesmo gráfico, observamos uma forte similaridade entre a certeza e a dúvida 2: a mediana é igual para os três terços. Já a dúvida 1 apresenta a mesma tipologia da interrogativa, porém com maior número de pontos. 167
168 Quanto ao número total de pontos alvos estilizados, segue-se a seguinte ordem crescente, tendo como base a média e a mediana: interrogativa, declarativa, certeza, dúvida 2 e dúvida 1. GRÁFICO 3: Desvio padrão do número de pontos alvo fornecidos pelo MOMEL para cada modalidade e atitude do GC. Legenda: NPA 1/3 A: número de pontos alvo no terço anterior. NPA 1/3 M: número de pontos alvo no terço médio. NPA 1/3 P: número de pontos alvo no terço posterior. NPA T: número de pontos alvo total. Como já era esperado, o maior desvio padrão foi encontrado para o número total de pontos alvo, com sua linha destacada das demais. Uma informação importante verificada no gráfico acima é que, ao comparar as formas estudadas, a expressão de certeza é a que apresenta maior desvio padrão, seja com relação aos terços, seja com relação ao número total de pontos alvo. O menor desvio padrão foi encontrado para o terço médio da dúvida 1. Nesse ponto ocorreu pouca diferença entre os gráficos de média e mediana. 168
169 Os resultados do teste de comparação de médias do resultado da estilização encontram-se na tabela abaixo. TABELA 24: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GC para os números de pontos alvo estilizados pelo MOMEL Decl Decl Inter Cert Cert Dúv 1 X Cert X Dúv 1 X Dúv 2 X Dúv 1 X Dúv 2 X Dúv 2 NPA 1/3 A 0,2 0,05 0,002 0,008 0,2 0,3 NPA 1/3M 0,06 0,000 0,8 0,03 0,1 0,000 NPA 1/3 P 0,000 0,000 0,000 0,001 0,1 0,03 NPA T 0,02 0,000 0,000 0,000 0,5 0,000 Legenda: NPA 1/3 A: número de pontos alvo no terço anterior. NPA 1/3 M: número de pontos alvo no terço médio. NPA 1/3 P: número de pontos alvo no terço posterior. NPA T : número de pontos alvo total. Ao reunir as informações obtidas no gráfico 3 e na tabela 24, podemos realizar algumas constatações. Primeiramente, existe diferença estatisticamente significativa separando as formas aqui estudadas, quando não em todos os terços, no número total de pontos alvos estilizados. Temos apenas uma exceção: certeza e dúvida 2. Nessa comparação, nenhum resultado apresentou diferença estatisticamente significativa. Já na comparação entre a certeza e a dúvida 1, todos os resultados encontrados são estatisticamente significativos, sendo que a maioria dessas diferenças é estatisticamente muito significativa. A outra observação diz respeito a uma de nossas hipóteses iniciais: há uma maior variação do conjunto de pontos de F0 ao longo do enunciado na expressão de certeza e dúvida quando comparada com as formas declarativa e interrogativa. Essa hipótese foi confirmada de forma quantitativa, uma vez que o algoritmo MOMEL necessita lançar mais pontos alvo para a expressão das atitudes de certeza e dúvida do 169
170 que para a forma neutra, representada pelas modalidades declarativa e interrogativa (para enunciados com número de sílabas próximos). É interessante ressaltar que essa variação encontrada e analisada por meio do programa MOMEL não pode ser realizada através de uma ligação direta com a tessitura do enunciado: a média da tessitura dos enunciados interrogativos é superior do que a média da tessitura da expressão de certeza, mas a média do número de pontos alvo dessa atitude é superior à mesma média para os enunciados interrogativos. 5.4 Tendências gerais encontradas em GC Ao verificar os resultados de GC, foi possível ressaltar alguns resultados específicos que nos permitiram apontar possíveis tendências para esse grupo. Com relação aos pontos de F0 gerais no enunciado e à organização temporal do discurso, destacamos: Os participantes apresentaram duas formas distintas de expressão de dúvida, sendo que a distinção foi marcada por participante. No presente estudo, separamos em dúvida 1 e dúvida 2; A F0 inicial apresentou valores elevados na expressão da dúvida 2; A tessitura e o pico de F0 apresentaram valores mais altos na expressão de atitudes quando comparadas às modalidades, com diferenças estatisticamente significativas; Há presença de pausas e disfluências somente na expressão de dúvida, mais proeminente na dúvida 1, o que indica que tais elementos foram inseridos na fala de forma intencional; 170
171 A expressão de dúvida apresenta taxa de articulação mais baixa: os participantes articulam mais lentamente nessa atitude. Este resultado foi mais significativo na expressão da dúvida 1. No que diz respeito à tônica proeminente, à pretônica e à postônica, destacamos os seguintes resultados: De todos os parâmetros analisados na tônica proeminente (F0 mínimo, máximo, média e intervalo melódico), o intervalo melódico apresentouse como o parâmetro mais marcante, uma vez que apresenta diferença estatisticamente significativa em todos os cruzamentos de dados realizados. Cabe ressaltar que ao comparar a declarativa com a certeza, somente o intervalo melódico apresentou diferença estatisticamente significativa. Ao comparar as atitudes entre si (certeza X dúvida 1; certeza X dúvida 2 e dúvida 1 X dúvida 2) todos os parâmetros mostraram diferenças estatisticamente significativas na tônica proeminente, exceto ao comparar dúvida 1 e dúvida 2 quanto à F0 mínima. A produção da vogal postônica, quando está localizada em final de enunciado, pode ou não ocorrer no português brasileiro (Aragão, 2000). Verificamos neste estudo que GC praticamente não produziu a vogal postônica na expressão da certeza. Já na dúvida, observamos uma alta ocorrência da mesma. Esses resultados indicam que a (não) produção da vogal postônica é uma estratégia para expressão de atitudes. 171
172 Para finalizarmos as observações gerais do GC, voltemos a uma de nossas hipóteses iniciais: há uma maior variação do conjunto de pontos de F0 ao longo do enunciado na expressão de certeza e dúvida quando comparada com as formas declarativa e interrogativa. Tal hipótese foi confirmada quantitativamente por meio do programa MOMEL: as formas neutras (declarativa e interrogativa) apresentam menor número de pontos alvo na curva estilizada do que as atitudes (certeza e dúvida). Apresentados os resultados e discussões para o grupo controle, passemos agora para a análise do grupo experimental. 172
173 5.5 Resultado e discussão do GE: considerações De forma similar ao que foi exposto para GC, apresentaremos os resultados gerais dos enunciados e em seguida da tônica proeminente, pretônica e postônica. Por fim, será exposta a análise para o nível fonético. Porém, o cruzamento de dados entre atitudes ou modalidades não seguirá o mesmo padrão (ver detalhes no capítulo de métodos). No GE, no entanto, participaram pessoas com gagueira moderada e com gagueira severa. Tal fato nos levou a questionar se os parâmetros prosódicos deveriam ser considerados como dentro de um único grupo. Para resolver tal questão, foi realizada análise estatística para averiguar a possível diferença entre os grupos em todos os parâmetros estudados. Dividimos os resultados em cinco tabelas para facilitar a análise: 1. F0 de cada enunciado, 2. Organização temporal geral de cada enunciado, 3. Tônica, 4. Pretônica e, 5. Postônica. Os valores que não apresentam diferença estatisticamente significativa estão sombreados. TABELA 25: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para comparação entre GE com gagueira moderada e GE com gagueira severa para os valores de F0 na declarativa, certeza e dúvida. F0 inicial F0 final Tess pf0 Legenda: Tess: tessitura pf0: pico de F0 Decl 0,000* 0,001* 0,000* 0,000* Cert 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* Dúv 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 173
174 TABELA 26: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para comparação entre GE com gagueira moderada e GE com gagueira severa para os valores de organização temporal na declarativa, certeza e dúvida. TTE TTA TP Dur disf Tx E Tx A Decl 0,000* 0,000* 0,01* 0,000* 0,000* 0,000* Cert 0,000* 0,6 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* Dúv 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* Legenda.: TTE: tempo total de elocução TTA: tempo total de articulação TP: tempo total de pausas Dur disfl: duração das disfluências Tx E: taxa de elocução Tx A: taxa de articulação TABELA 27: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para comparação entre GE com gagueira moderada e GE com gagueira severa para os valores da tônica proeminente na declarativa, certeza e dúvida. TonP F0 min TonP F0 max TonP F0 IM TonP F0 med TonP dur Decl 0,001* 0,000* 0,000* 0,000* 0,7 Cert 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* Dúv 0,9 0,8 0,000* 0,1 0,6 Legenda: TonP: tônica proeminente IM: intervalo melódico Med: média Dur: duração TABELA 28: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para comparação entre GE com gagueira moderada e GE com gagueira severa para os valores da vogal pretônica na declarativa, certeza e dúvida. pret F0 min pret F0 max pret F0 IM pret F0 med pret dur Decl 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* Cert 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* Dúv 0,000* 0,009* 0,000* 0,000* 0,000* Legenda: TonP: tônica proeminente IM: intervalo melódico Med: média Dur: duração 174
175 TABELA 29: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para comparação entre GE com gagueira moderada e GE com gagueira severa para os valores da vogal pretônica na declarativa, certeza e dúvida. post F0 min post F0 max post F0 IM post F0 med post dur Decl 0,000* 0,000* 0,004* 0,000* 0,000* Cert 0,000* 0,000* 0,2 0,000* 0,000* Dúv 0,000* 0,000* 0,3 0,000* 0,000* Legenda: TonP: tônica proeminente IM: intervalo melódico Med: média Dur: duração Quanto menos diferenças estatisticamente significativas forem encontradas (valores sombreados), maior a razão para manter os grupos separados. Dessa forma, os parâmetros da tabela 25 e 28, com nenhum valor marcado, 26, com apenas um valor marcado, e 29, com dois valores marcados, serão analisados como dois grupos por razão obvias. Já a tabela 27 mostra mais valores sombreados (cinco). Isso indica que as diferenças diminuem na tônica proeminente. No entanto, como a maior parte dos valores apresenta diferença estatisticamente significativa, consideraremos o grupo experimental dividido em dois: moderado (GE 1) e severo (GE2). Dessa forma, participaram do GE1 oito indivíduos e do GE2 quatro indivíduos. Inicialmente, apresentaremos os resultados encontrados para os valores de F0 do enunciado como um todo. 5.6 Resultado e discussão do GE: pontos de F0 e organização temporal do enunciado Resultado e discussão dos pontos de F0 para o GE 175
176 Os gráficos a seguir mostram a média e o desvio padrão encontrados para os valores de F0. Cabe ressaltar que a maioria dos dados apresenta desvio padrão baixo, mostrando uma certa homogeneidade da amostra. TABELA 30: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 inicial e F0 final para GE1 e GE2. F0 inicial F0 final Inf Decl Cert Dúv Decl Cert Dúv GE Média dp 15,5 13,9 22,2 10,3 11,9 10, GE Média dp 4,9 9,9 21,4 13,4 12,9 6,8 Os resultados de GE1 indicam que há uma diferença relevante na F0 inicial entre a modalidade e as atitudes, mas não nas atitudes entre si. Já a F0 final é mais distinta entre as três formas estudadas. Para GE2, os valores se mostram mais próximos para F0 inicial. Ao comparar um grupo com o outro, vemos que GE1 apresenta valores de F0 inicial mais alto do que GE2. A diferença já não é tão evidente para F0 final da declarativa e da certeza. Ao analisarmos a tabela abaixo, referente ao intervalo melódico e ao pico de F0, vemos que a tendência se mantém: há uma maior variação nos resultados do GE1. 176
177 TABELA 31: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de tessitura e pico de F0 para GE1 e GE2. Tessitura pf0 Inf Decl Cert Dúv Decl Cert Dúv GE Média dp 15,1 22,6 17,7 17,4 15,1 20, GE Média dp 9,9 24,9 10,5 11,4 23,4 12,6 A tabela acima mostra que a tessitura do enunciado é maior em GE1, tanto para modalidade quanto para as atitudes estudadas. Assim, como esperado, o pico de F0 é também mais elevado em GE1. Cabe ressaltar que as tabelas de tessitura e pico de F0 mostram novamente uma clara separação entre os dois grupos, com GE1 mostrando maior variação melódica na frase e pico de F0 mais elevado. A tabela a seguir mostra os valores de significância na comparação das formas aqui estudadas para F0 inicial e final, tessitura e pico de F0 nos dois grupos experimentais. 177
178 TABELA 32: Valor de p (p<0,05) por meio do teste de Kruskall Wallis para comparação entre declarativa, certeza e dúvida de GE1 e GE2 referentes à F0 inicial e final, tessitura e pico de F0. Decl X Cert GE 1 GE 2 Decl Cert Decl Decl X Dúv X Dúv X Cert X Dúv Cert X Dúv F0 inicial 0,001* 0,02* 0,1 0,6 0,3 0,2 F0 final 0,05* 0,001* 0,04* 0,4 0,3 0,03* F0 tess 0,001* 0,2 0,000* 0,2 0,4 0,8 pf0 0,08 0,000* 0,000* 0,8 0,001* 0,05* Para GE1, observamos que a maioria dos dados apresenta diferença estatisticamente significativa, mostrando que os participantes tentaram diferenciar a modalidades e as atitudes nos parâmetros acima analisados. Já para GE2 o mesmo não aconteceu: a maioria dos dados não é estatisticamente significativa na comparação entre a modalidade e as atitudes; no entanto, na comparação entre as atitudes, os resultados foram, em geral, estatisticamente significativos para os valores gerais de F0. Apresentados os resultados e a discussão para os pontos locais de F0 para o GE, segue a análise da organização temporal do discurso para o mesmo grupo Resultado e discussão da organização temporal do discurso para GE Ainda com relação ao enunciado de uma forma global, a análise da organização temporal do discurso se iniciou pela verificação da presença de pausas nos enunciados (tabela 33). 178
179 TABELA 33: Número total de enunciados, número total de pausas nos enunciados, sua porcentagem de ocorrência e média em milissegundos para GE. GE 1 GE 2 Decl Cert Dúv Decl Cert Dúv N enunc N p pausas % p p 65% 85% 45% 100% 100% 97,2% MDP 0,432 0,315 0,449 0,342 0,318 0,877 Legenda: N enun: número total de enunciados N p pausas: número de enunciados com presença de pausas % p p: porcentagem de ocorrência de enunciados com pausas MDP: média de duração das pausas Foram consideradas para o cálculo da média apenas os valores maiores que 0. A tabela acima nos mostra que a presença das pausas em GE1 é mais forte na atitude de certeza, enquanto para GE2 é praticamente idêntica nos 3 tipos de produção, apenas um enunciado de dúvida não apresentou pausa. Dessa forma, concluímos que não há diferença para GE2 quanto à presença de pausas nos enunciados, mas para verificar essa diferença em GE1 fizemos análise estatística. Os resultados encontram-se na tabela a seguir: TABELA 34: Valor de p (p<0,05) por meio do teste qui-quadrado para comparação entre modalidade e atitudes do GE1 para a ocorrência de pausas nos enunciados. GE1 Decl X Cert Decl X Dúv Cert X Dúv P 0,003* 0,01* 0,000* A tabela acima mostra que todas as diferenças são estatisticamente significativas, com a presença de pausas mais longas na certeza, seguida da declarativa e, por último, da dúvida. Curiosamente, ao analisar o número de enunciados com disfluências (tabelas 35 e 36), os resultados foram parecidos com os das pausas: presença de disfluências em todos os enunciados de GE2 e em GE1 com a mesma hierarquia. 179
180 TABELA 35: Número total de enunciados, número total de pausas nos enunciados, sua porcentagem de ocorrência e média em milissegundos para GE. GE 1 GE 2 Decl Cert Dúv Decl Cert Dúv N enunc N disf % p disf 61,25 97,5 48, Média 1,006 1,591 0,541 6,871 4,265 5,151 Legenda: N enun: número total de enunciados N disf: número de enunciados com presença de disfluências % p disf: porcentagem de ocorrência de enunciados com disfluências Foram consideradas para o cálculo da média apenas os valores maiores que 0. TABELA 36: Valor de p (p<0,05) por meio do teste qui-quadrado para comparação entre modalidade e atitudes do GE1 para a ocorrência de disfluências nos enunciados. GE 1 Decl X Cert Decl X Dúv Cert X Dúv P 0,001* 0,1 0,000* Foram encontrados os seguintes tipos de disfluência no GE: Prolongamento de som; Repetição de sílaba; Repetição de fones; Intrusão de sons; Bloqueios; Hesitação. Feitas as análises das pausas e das disfluências, é possível analisar as taxas de elocução e articulação, cujas médias e desvio padrão encontram-se na tabela a seguir. 180
181 TABELA 37: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo das taxas de elocução e articulação para GE1 e GE2. TxE TxA TxA-d Inf Decl Cert Dúv Decl Cert Dúv Decl Cert Dúv 1 5,29 3,42 5,31 5,29 3,99 5,31 5,29 6,34 5,31 2 2,78 3,05 2,68 2,99 3,87 4,15 5,24 6,32 5,14 GE1 3 4,49 3,86 4,91 5,01 4,11 5,12 5,89 6,54 5,57 4 4,85 3,43 5,31 4,91 4,02 5,31 5,48 6,85 5,31 5 3,01 2,71 2,76 3,12 3,16 3,74 5,02 6,22 5,86 6 4,09 2,89 3,97 4,23 2,97 4,41 4,97 5,88 4,92 7 3,85 3,75 4,32 3,98 3,86 5,02 5,63 5,95 5,26 8 4,22 3,39 4,41 4,56 4,24 4,97 6,01 6,98 5,47 Média 3,94 3,45 4,45 4,26 3,78 4,75 5,55 6,41 5,39 dp 1,16 0,91 1,13 0,86 0,46 0,58 0,93 0,85 0,87 1 3,02 1,94 1,78 3,15 2,17 1,91 4,14 6,38 3,76 GE2 2 2,06 1,88 1,89 2,96 2,02 1,98 4,24 5,82 4,02 3 2,07 2,81 1,93 2,55 2,92 2,04 4,58 6,26 5,35 4 2,12 1,99 1,87 3,01 2,16 2,09 4,12 6,17 4,62 Média 2,09 2,17 1,81 2,92 2,32 2,01 4,18 6,14 4,44 dp 0,78 0,73 0,55 0,26 0,41 0,08 0,86 0,79 0,96 A taxa de elocução encontra-se mais elevada no GE1 do que no GE2 de forma geral, o que era esperado uma vez que as pausas e as disfluências interferem diretamente nessa medida. Já a taxa de articulação mede exatamente o tempo gasto para a articulação de cada sílaba. E é justamente essa medida que apresenta um resultado peculiar: tanto GE1 quanto GE2 apresentam alta taxa de articulação na expressão da certeza quando comparada com a declarativa e com a dúvida. Logo a atitude certeza, que apresentou muitas pausas e disfluências. Cabe ressaltar ainda que o desvio padrão para certeza é muito baixo nos dois grupos. A tabela a seguir mostra a comparação entre modalidade ou atitudes. 181
182 TABELA 38: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidades e atitudes do GE para taxa de elocução e articulação. Decl X Cert GE 1 GE 2 Decl Cert Decl Decl X Dúv X Dúv X Cert X Dúv Cert X Dúv Tx E 0,02* 0,01* 0,000* 0,8 0,03* 0,01* TxA 0,09 0,05 0,007* 0,05 0,01* 0,1 Tx Ad 0,000* 0,4 0,000* 0,000* 0,3 0,000* Legenda: Tx E: taxa de elocução Tx A: taxa de articulação Tanto para GE1 quanto para GE2 a relação da taxa de articulação sem disfluências entre declarativa e dúvida não apresentou diferença estatisticamente significativa, apesar de não termos encontrado diferença estatisticamente significativa ao comparar declarativa e dúvida nas taxas de elocução e articulação. Porém, ao comparar a certeza e a declarativa, a diferença foi estatisticamente significativa, sendo que na expressão de certeza a fala é mais rápida (tabela 38). Esses resultados mostram que apesar da dificuldade específica que as pessoas com gagueira apresentam na organização temporal do discurso, os participantes desta pesquisa utilizaram da variação da taxa de articulação como estratégia comunicativa na expressão de certeza. Apresentada a análise prosódica do enunciado, discutiremos a seguir os fenômenos encontrados na tônica proeminente, pretônica e postônica A vogal da tônica proeminente do GE A tabela a seguir mostra os valores de F0 mínimo e F0 máximo para a vogal da tônica proeminente de GE1 e GE2. 182
183 TABELA 39: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 mínimo e máximo da tônica proeminente para GE1 e GE2. F0 F0 mínimo máximo Inf Decl Cert Dúv Decl Cert Dúv GE Média dp 30,7 14,1 41,3 31,8 12,5 39, GE Média dp 10,1 9,6 12,4 9,4 13,3 11,3 A tabela acima mostra que, como para os valores de F0 gerais do enunciado, a F0 mínima para tônica proeminente é mais elevada em GE1, com a dúvida de GE1 mais próxima de GE2. O mesmo é observado para F0 máximo. Com isso, observa-se, mais uma vez, que GE1 apresenta maior variação dos valores do que GE2. Com F0 mínimo mais baixo e F0 máximo mais alto para GE1 do que para GE2, a tabela 40 confirma o esperado para intervalo melódico e média. 183
184 TABELA 40: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de intervalo melódico e média da tônica proeminente para GE1 e GE2. Intervalo Média melódico de F0 Inf Decl Cert Dúv Decl Cert Dúv GE Média Dp 9,1 6,4 10,6 32,2 15,1 41, GE Média Dp 4,6 7,5 4,4 10,4 12,1 12,5 Os resultados encontrados com relação à F0 na tônica proeminente mostram que não houve variação para GE2 entre declarativa/certeza/dúvida. Já para GE1, as diferenças são mais evidentes com relação aos valores de média da tônica proeminente da dúvida com relação a certeza e a declarativa. No entanto, para o intervalo melódico, GE1 apresentou comportamento similar à GE2: não houve muita variação entre a modalidade e as atitudes. Essa homogeneidade encontrada até aqui na tônica proeminente para GE2 já não é observada nos valores de duração (tabelas 41 e 42). 184
185 TABELA 41: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de duração da tônica proeminente para GE1 e GE2. Duração Inf Decl Cert Dúv 1 0,204 0,185 0, ,164 0,138 0,149 GE1 3 0,175 0,157 0, ,199 0,178 0, ,182 0,160 0, ,179 0,155 0, ,195 0,168 0, ,189 0,159 0,174 Média 0,192 0,161 0,179 dp 0,075 0,069 0, ,131 0,167 0,188 GE2 2 0,101 0,142 0, ,115 0,151 0, ,142 0,174 0,192 Média 0,119 0,158 0,173 dp 0,031 0,039 0,048 Observamos nos resultados de duração da tônica proeminente que GE1 e GE2 não apresentam a mesma tendência. GE1 tem maior duração das tônicas nos enunciados declarativos, seguidos dos enunciados com expressão de dúvida e, por último, os enunciados com expressão de certeza. Em GE2, a duração mais longa foi na expressão da dúvida e a mais curta na modalidade declarativa. Ainda com relação ao GE2, vemos que, pela primeira vez dentro da tônica proeminente, a diferença entre as formas aqui estudadas apresentaram diferenças estatisticamente significativas. 185
186 TABELA 42: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidade e atitudes do GE para os valores mínimo, máximo, intervalo melódico e média de F0 e duração na tônica proeminente. Decl X Cert GE 1 GE 2 Decl Cert Decl Decl X Dúv X Dúv X Cert X Dúv Cert X Dúv Ton F0 min 0,3 0,09* 0,001* 0,8 0,1 0,09 Ton F0 max 0,09 0,003* 0,05 0,9 0,4 0,9 Ton IM 0,1 0,9 0,08 0,9 0,2 0,6 Ton med 0,1 0,09 0,01* 0,7 0,5 0,5 Ton Dur 0,000* 0,008* 0,000* 0,000* 0,000* 0,002* Legenda: Ton: tônica IM: intervalo melódico Med: média Dur: duração A tabela acima mostra que GE1 diferenciou mais as atitudes entre si do que entre uma atitude e uma modalidade. Mas o parâmetro que apresentou diferenças estatisticamente significativas em todas as comparações, para os dois grupos experimentais, foi apenas a duração. Em seguida, iremos analisar os mesmos parâmetros apresentados na tônica proeminente para a pretônica A vogal da pretônica no GE As tabelas a seguir mostram os resultados encontrados neste estudo dos valores de F0 mínimo e máximo da vogal pretônica nos GE1 e GE2. 186
187 TABELA 43: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 mínimo e máximo da vogal pretônica para GE1 e GE2. F0 F0 mínimo máximo Inf Decl Cert Dúv Decl Cert Dúv GE Média dp 22,7 12,5 29,5 21,1 11,3 31, GE Média dp 7,4 18,4 20,4 8,5 25,8 13,5 Os valores de F0 mínimo máximo não variam muito dentro do GE1 entre a modalidade e as atitudes. Em GE2, a variação é um pouco maior, mas também não é relevante. Como para a tônica, os valores de GE1 para F0 mínimo e máximo de F0 da vogal pretônica estão mais elevados em relação a GE2. Essa baixa variação é mantida nos valores de intervalo melódico e de média de F0, como mostra a tabela a seguir: 187
188 TABELA 44: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de intervalo melódico e média da vogal pretônica para GE1 e GE2. Intervalo melódico Média Inf Decl Cert Dúv Decl Cert Dúv GE Média dp 6,1 4,4 9,9 21,8 13,1 29, GE Média dp 5,1 11,1 10,6 16,8 21,5 13,2 Com base nas tabelas 43 e 44, podemos dizer que a variação de F0 dentro da vogal postônica apresenta-se de forma sutil quando comparamos os resultados das formas neutras, certeza e dúvida. Para encerrar a análise da vogal pretônica, a duração dessa é maior em GE2, especialmente na atitude de certeza (que apresenta seus índices mais elevados em GE2 e mais baixos em GE1). No entanto, ressalta-se que a diferença de duração dessas vogais é muito pequena, provavelmente imperceptível para os ouvintes. Os resultados encontram-se na tabela
189 TABELA 45: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de duração da vogal pretônica para GE1 e GE2. Duração Inf Decl Cert Dúv 1 0,055 0,058 0, ,061 0,059 0,056 GE1 3 0,035 0,042 0, ,044 0,041 0, ,039 0,037 0, ,049 0,046 0, ,038 0,038 0, ,042 0,045 0,038 Média 0,041 0,039 0,043 dp 0,007 0,009 0, ,082 0,078 0,067 GE2 2 0,077 0,067 0, ,044 0,055 0, ,053 0,059 0,051 Média 0,065 0,062 0,057 dp 0,005 0,012 0,005 A tabela a seguir mostra a comparação dos parâmetros de F0 e duração na vogal pretônica do GE. TABELA 46: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidade e atitudes do GE para os valores mínimo, máximo, intervalo melódico e média de F0 e duração na vogal pretônica. Decl X Cert GE 1 GE 2 Decl X Cert X Decl X Decl X Dúv Dúv Cert Dúv Cert X Dúv pret F0 min 0,1 0,2 0,09 0,8 0,6 0,6 pret F0 max 0,8 0,08 0,3 0,1 0,08 0,07 pret IM 0,07 0,1 0,06 0,3 0,5 0, 1 pret med 0,3 0,08 0,07 0,06 0,1 0,1 pret Dur 0,4 0,3 0,06 0,08 0,05 0,3 Legenda: pret: pretônica IM: intervalo melódico Med: média Dur: duração 189
190 A tabela acima mostra que para GE1 os resultados não foram estatisticamente significativos em nenhuma das comparação realizadas, tanto para as medidas de F0 quanto para duração. Resultado similar foi encontrado para GE2. A única diferença está na comparação da duração da vogal pretônica entre a declarativa e a expressão de dúvida, sendo a duração da dúvida menor do que a declarativa. Em contraste, os resultados da postônica foram bem variados A vogal postônica no GE A primeira observação a ser realizada sobre a postônica é que, apesar de se encontrar sempre no final dos enunciados analisados, elas foram sempre produzidas. Os resultados encontrados para a postônica foram, de certa forma, surpreendentes. Especialmente nos valores de F0 do GE2 na expressão de certeza. As tabelas a seguir mostram os valores de F0 encontrados para a postônica. TABELA 47: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de F0 mínimo e máximo da vogal postônica para GE1 e GE2. F0 F0 mínimo máximo Inf Decl Cert Dúv Decl Cert Dúv GE Média dp 21,2 23,3 18,5 20,7 21,1 19, GE Média
191 dp 6,7 10,4 7,4 6,4 11,1 6,1 Tanto os valores de F0 máximo quanto de F0 mínimo mostram que GE1 variou menos na produção da vogal postônica do que GE2, em especial a expressão da certeza. Ainda com relação à F0 máximo e mínimo, observa-se um desvio padrão pequeno. TABELA 48: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de intervalo melódico e média de F0 da vogal postônica para GE1 e GE2. Intervalo Média melódico de F0 Inf Decl Cert Dúv Decl Cert Dúv GE Média dp 3,4 3,9 1,9 21,1 24,8 18, GE Média dp 1,6 3,8 2,1 6,8 11,4 10,8 Por meio dos resultados apresentados na tabela acima, podemos considerar que o intervalo melódico da vogal postônica não variou de forma considerável na produção neutra e nas atitudes. Já os valores da média retomam o resultado observado nos valores de F0 mínimo e máximo, novamente com uma variação considerável na expressão da certeza de GE2, que se encontra mais agudo. 191
192 Ainda com relação à postônica, a duração da mesma foi diferenciada para cada modalidade/atitude de GE1 e GE2. No entanto, os dois grupos experimentais apresentaram tendências diferentes: os resultados de GE1 mostram que a vogal postônica mais longa foi produzida na certeza, seguida da declarativa e por último da dúvida; já GE2 apresentou a vogal postônica produzida na dúvida como a mais longa, seguida da declarativa e, por último, da certeza. Os resultados relativos à duração da vogal postônica no GE encontram-se na tabela a seguir. TABELA 49: Valores de média individuais, média e desvio padrão do grupo de duração da vogal postônica para GE1 e GE2. Duração Inf Decl Cert Dúv 1 0,039 0,047 0, ,043 0,048 0,041 GE1 3 0,053 0,064 0, ,032 0,042 0, ,046 0,051 0, ,049 0,058 0, ,044 0,048 0, ,051 0,059 0,045 Média 0,045 0,053 0,037 dp 0,012 0,013 0, ,097 0,088 0,0107 GE2 2 0,087 0,099 0, ,089 0,074 0, ,094 0,081 0,099 Média 0,091 0,083 0,101 dp 0,007 0,025 0,012 Ao calcular o valor de p para os aspectos analisados da vogal postônica, foi possível observar que GE1 não apresentou diferenças estatisticamente significativas, com uma única exceção: a comparação entre certeza e dúvida no parâmetro duração. No entanto, GE2 diferenciou a produção da vogal postônica ao compararmos as atitudes 192
193 entre si: com exceção do intervalo melódico, todos os demais parâmetros analisados na vogal postônica apresentaram diferença estatisticamente significativa. Apesar de separar claramente a dúvida e a certeza, quando comparamos uma atitude coma modalidade declarativa, não encontramos resultados com diferenças estatisticamente significativas (exceto para o parâmetro F0 mínimo na comparação entre declarativa e certeza). TABELA 50: Valor de p (p<0,05) por meio do teste não paramétrico de Kruskall Wallis para comparação entre modalidade e atitudes do GE para os valores mínimo, máximo, intervalo melódico e média de F0 e duração na postônica Decl X Cert GE 1 GE 2 Decl X Cert X Decl Decl Dúv Dúv X Cert X Dúv Cert X Dúv post F0 min 0,08 0,07 0,09 0,005* 0,07 0,001* post F0 max 0,6 0,09 0,1 0,04* 0,2 0,001* post IM 0,1 0,8 0,06 0,1 0,4 0,08 post med 0,7 0,1 0,06 0,08 0,6 0,005* Dur 0,09 0,09 0,01* 0,07 0,06 0,003* Legenda: Ton: tônica IM: intervalo melódico Med: média Dur: duração Para finalizar o estudo do nível físico de análise proposto neste estudo, foi aplicado o programa de estilização da curva de F0 no GE. 5.7 Resultado e discussão do GE: MOMEL O programa MOMEL tem como uma de suas principais características remover os efeitos micromelódicos 16 produzidos na fala encadeada. No entanto, as disfluências produzidas pelo grupo de pessoas que apresentam gagueira influenciaram negativamente na estilização da curva de F0. Tais momentos não foram considerados 16 Os efeitos micromelódicos são as interferências segmentais na curva de F0. 193
194 pelo programa como efeitos micromelódicos, sendo consequentemente considerados na análise realizada pelo MOMEL. O exemplo abaixo mostra o resultado encontrado, com os momentos de disfluências marcados dentro dos retângulos vermelhos. Figura 39: Resultado do MOMEL/INTSINT para o GE1 da frase eu entreguei o documento. Como consequência, praticamente todos os enunciados do GE sofreram alterações na proposta inicial de pontos alvo. Além disso, na maioria dos enunciados, as interferências aconteceram em diversos pontos da curva, prejudicando toda a análise do enunciado. Apesar da possibilidade de alteração manual dos pontos alvo fornecidos pelo MOMEL, os efeitos micromelódicos influenciaram de tal maneira que a estilização perdeu seu caráter automático. Por esse motivo, optou-se por não considerar os resultados apresentados pelo programa MOMEL para GE1 e GE2. 194
Fonoaudióloga Mestranda Ana Paula Ritto Profa. Dra. Claudia Regina Furquim de Andrade
 Fonoaudióloga Mestranda Ana Paula Ritto Profa. Dra. Claudia Regina Furquim de Andrade Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em Fluência, Funções da Face e Disfagia (LIF-FFFD) Departamento de Fisioterapia,
Fonoaudióloga Mestranda Ana Paula Ritto Profa. Dra. Claudia Regina Furquim de Andrade Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em Fluência, Funções da Face e Disfagia (LIF-FFFD) Departamento de Fisioterapia,
CONFIGURAÇÃO GERAL DA CURVA MELÓDICA E EXPRESSÃO DE DÚVIDA E CERTEZA: REFLEXÕES PRELIMINARES
 CELESTE, Leticia Correa ; REIS, Cesar. Configuração geral da curva melódica e expressão de dúvida e certeza: reflexões preliminares. ReVEL, v. 8, n. 15, 2010. [www.revel.inf.br]. CONFIGURAÇÃO GERAL DA
CELESTE, Leticia Correa ; REIS, Cesar. Configuração geral da curva melódica e expressão de dúvida e certeza: reflexões preliminares. ReVEL, v. 8, n. 15, 2010. [www.revel.inf.br]. CONFIGURAÇÃO GERAL DA
O Tom na fala: estratégias prosódicas
 O Tom na fala: estratégias prosódicas Marígia Ana de Moura Aguiar marigia.aguiar@gmail.com Agradeço a contribuição de meus alunos e companheiros do Grupo de Prosódia da UNICAP na construção desta apresentação.
O Tom na fala: estratégias prosódicas Marígia Ana de Moura Aguiar marigia.aguiar@gmail.com Agradeço a contribuição de meus alunos e companheiros do Grupo de Prosódia da UNICAP na construção desta apresentação.
Condições de variabilidade da fluência de fala
 DIA INTERNACIONAL DE ATENÇÃO À GAGUEIRA 9º EVENTO DA CIDADE DE SÃO PAULO GAGUEIRA: Apoiando-nos mutuamente DIAG 2013 Condições de variabilidade da fluência de fala Fonoaudióloga Mestranda Ana Paula Ritto
DIA INTERNACIONAL DE ATENÇÃO À GAGUEIRA 9º EVENTO DA CIDADE DE SÃO PAULO GAGUEIRA: Apoiando-nos mutuamente DIAG 2013 Condições de variabilidade da fluência de fala Fonoaudióloga Mestranda Ana Paula Ritto
Variação melódica na expressão de atitudes de indivíduos com gagueira*
 Variação melódica na expressão de atitudes de indivíduos com gagueira* Melodic variation in the expression of attitudes of individuals who stutter Resumo Leticia Correa Celeste Centro de Gestão Empreendora
Variação melódica na expressão de atitudes de indivíduos com gagueira* Melodic variation in the expression of attitudes of individuals who stutter Resumo Leticia Correa Celeste Centro de Gestão Empreendora
AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE TONICIDADE E DISTINÇÃO DE OCLUSIVAS SURDAS E SONORAS NO PB
 3661 AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE TONICIDADE E DISTINÇÃO DE OCLUSIVAS SURDAS E SONORAS NO PB INTRODUÇÃO Francisco De Oliveira Meneses (UESB/ FAPESB) Vera PACHECO (UESB) As oclusivas são sons consonânticos
3661 AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE TONICIDADE E DISTINÇÃO DE OCLUSIVAS SURDAS E SONORAS NO PB INTRODUÇÃO Francisco De Oliveira Meneses (UESB/ FAPESB) Vera PACHECO (UESB) As oclusivas são sons consonânticos
ESTUDO FONÉTICO-EXPERIMENTAL DA INFLUÊNCIA DA PAUSA NA DURAÇÃO DE VOGAIS ACOMPANHADAS DE OCLUSIVAS SURDAS E SONORAS *
 57 de 297 ESTUDO FONÉTICO-EXPERIMENTAL DA INFLUÊNCIA DA PAUSA NA DURAÇÃO DE VOGAIS ACOMPANHADAS DE OCLUSIVAS SURDAS E SONORAS * Francisco Meneses (UESB) Vera Pacheco (UESB) RESUMO A duração das vogais
57 de 297 ESTUDO FONÉTICO-EXPERIMENTAL DA INFLUÊNCIA DA PAUSA NA DURAÇÃO DE VOGAIS ACOMPANHADAS DE OCLUSIVAS SURDAS E SONORAS * Francisco Meneses (UESB) Vera Pacheco (UESB) RESUMO A duração das vogais
AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL DOS CORRELATOS ACÚSTICOS DE TONICIDADE DAS VOGAIS MÉDIAS BAIXAS EM POSIÇÃO PRETÔNICA E TÔNICA *
 45 de 297 AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL DOS CORRELATOS ACÚSTICOS DE TONICIDADE DAS VOGAIS MÉDIAS BAIXAS EM POSIÇÃO PRETÔNICA E TÔNICA * Juscélia Silva Novais Oliveira ** (UESB) Marian dos Santos Oliveira ***
45 de 297 AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL DOS CORRELATOS ACÚSTICOS DE TONICIDADE DAS VOGAIS MÉDIAS BAIXAS EM POSIÇÃO PRETÔNICA E TÔNICA * Juscélia Silva Novais Oliveira ** (UESB) Marian dos Santos Oliveira ***
Avaliação de crianças com disfluência
 Avaliação de crianças com disfluência Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Fala e da Audição Ana Rita dos Santos Valente Orientador: Professor
Avaliação de crianças com disfluência Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Fala e da Audição Ana Rita dos Santos Valente Orientador: Professor
Todo o conteúdo deste site exceto quando identificado, utiliza uma Licença de Atribuição Creative Commons.
 Todo o conteúdo deste site www.scielo.br, exceto quando identificado, utiliza uma Licença de Atribuição Creative Commons. All the contents of this site www.scielo.br, except where otherwise noted, is licensed
Todo o conteúdo deste site www.scielo.br, exceto quando identificado, utiliza uma Licença de Atribuição Creative Commons. All the contents of this site www.scielo.br, except where otherwise noted, is licensed
PADRÃO FORMÂNTICA DA VOGAL [A] REALIZADA POR CONQUISTENSES: UM ESTUDO COMPARATIVO
![PADRÃO FORMÂNTICA DA VOGAL [A] REALIZADA POR CONQUISTENSES: UM ESTUDO COMPARATIVO PADRÃO FORMÂNTICA DA VOGAL [A] REALIZADA POR CONQUISTENSES: UM ESTUDO COMPARATIVO](/thumbs/97/132090921.jpg) Página 47 de 315 PADRÃO FORMÂNTICA DA VOGAL [A] REALIZADA POR CONQUISTENSES: UM ESTUDO COMPARATIVO Tássia da Silva Coelho 13 (UESB) Vera Pacheco 14 (UESB) RESUMO Este trabalho visou a avaliar a configuração
Página 47 de 315 PADRÃO FORMÂNTICA DA VOGAL [A] REALIZADA POR CONQUISTENSES: UM ESTUDO COMPARATIVO Tássia da Silva Coelho 13 (UESB) Vera Pacheco 14 (UESB) RESUMO Este trabalho visou a avaliar a configuração
Processamento fonológico e habilidades iniciais. de leitura e escrita em pré-escolares: enfoque no. desenvolvimento fonológico
 Renata Maia Vitor Processamento fonológico e habilidades iniciais de leitura e escrita em pré-escolares: enfoque no desenvolvimento fonológico Dissertação de mestrado apresentada ao curso de Pós-Graduação
Renata Maia Vitor Processamento fonológico e habilidades iniciais de leitura e escrita em pré-escolares: enfoque no desenvolvimento fonológico Dissertação de mestrado apresentada ao curso de Pós-Graduação
Análise das rupturas de fala de gagos em diferentes tarefas
 Análise das rupturas de fala de gagos em diferentes tarefas Descritores: Gagueira, Leitura, Adulto. Introdução As rupturas têm sido utilizadas como parâmetro para descrever, definir e medir a gravidade
Análise das rupturas de fala de gagos em diferentes tarefas Descritores: Gagueira, Leitura, Adulto. Introdução As rupturas têm sido utilizadas como parâmetro para descrever, definir e medir a gravidade
VI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS. Luiz Carlos da Silva Souza** (UESB) Priscila de Jesus Ribeiro*** (UESB) Vera Pacheco**** (UESB)
 61 de 119 UMA ANÁLISE DE F0 DAS VOGAIS NASAIS E NASALIZADAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 1 Luiz Carlos da Silva Souza** Priscila de Jesus Ribeiro*** Vera Pacheco**** RESUMO: Este trabalho tem por objetivo fornecer
61 de 119 UMA ANÁLISE DE F0 DAS VOGAIS NASAIS E NASALIZADAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 1 Luiz Carlos da Silva Souza** Priscila de Jesus Ribeiro*** Vera Pacheco**** RESUMO: Este trabalho tem por objetivo fornecer
TONICIDADE E COARTICULAÇÃO: UMA ANÁLISE INSTRUMENTAL
 225 de 667 TONICIDADE E COARTICULAÇÃO: UMA ANÁLISE INSTRUMENTAL Dyuana Darck Santos Brito 61 (UESB) Vera Pacheco 62 (UESB) Marian Oliveira 63 (UESB) RESUMO considerando que a tonicidade é um aspecto importante
225 de 667 TONICIDADE E COARTICULAÇÃO: UMA ANÁLISE INSTRUMENTAL Dyuana Darck Santos Brito 61 (UESB) Vera Pacheco 62 (UESB) Marian Oliveira 63 (UESB) RESUMO considerando que a tonicidade é um aspecto importante
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS BLENDA STEPHANIE ALVES E CASTRO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS BLENDA STEPHANIE ALVES E CASTRO PERFIL DA FLUÊNCIA: COMPARAÇÃO ENTRE FALANTES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO E DO PORTUGUÊS EUROPEU Belo Horizonte 2015 BLENDA STEPHANIE ALVES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS BLENDA STEPHANIE ALVES E CASTRO PERFIL DA FLUÊNCIA: COMPARAÇÃO ENTRE FALANTES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO E DO PORTUGUÊS EUROPEU Belo Horizonte 2015 BLENDA STEPHANIE ALVES
TIPOLOGIAS DE RUPTURAS DE FALA EM INDIVÍDUOS GAGOS E FLUENTES: DIFERENÇAS ENTRE FAIXAS ETÁRIAS
 TIPOLOGIAS DE RUPTURAS DE FALA EM INDIVÍDUOS GAGOS E FLUENTES: DIFERENÇAS ENTRE FAIXAS ETÁRIAS Palavras-chave: Fluência, Gagueira, rupturas de fala. Introdução Um ponto central para o diagnostico e tratamento
TIPOLOGIAS DE RUPTURAS DE FALA EM INDIVÍDUOS GAGOS E FLUENTES: DIFERENÇAS ENTRE FAIXAS ETÁRIAS Palavras-chave: Fluência, Gagueira, rupturas de fala. Introdução Um ponto central para o diagnostico e tratamento
VOGAL [A] PRETÔNICA X TÔNICA: O PAPEL DA FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL E DA INTENSIDADE 86
![VOGAL [A] PRETÔNICA X TÔNICA: O PAPEL DA FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL E DA INTENSIDADE 86 VOGAL [A] PRETÔNICA X TÔNICA: O PAPEL DA FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL E DA INTENSIDADE 86](/thumbs/80/80652224.jpg) Página 497 de 658 VOGAL [A] PRETÔNICA X TÔNICA: O PAPEL DA FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL E DA INTENSIDADE 86 Jaciara Mota Silva ** Taise Motinho Silva Santos *** Marian Oliveira **** Vera Pacheco ***** RESUMO:
Página 497 de 658 VOGAL [A] PRETÔNICA X TÔNICA: O PAPEL DA FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL E DA INTENSIDADE 86 Jaciara Mota Silva ** Taise Motinho Silva Santos *** Marian Oliveira **** Vera Pacheco ***** RESUMO:
Fonética acústica: Propriedades suprassegmentais APOIO PEDAGÓGICO. KENT, Ray, READ, Charles. Análise acústica da Fala São Paulo : Cortez, 2015
 Fonética acústica: Propriedades suprassegmentais KENT, Ray, READ, Charles. Análise acústica da Fala São Paulo : Cortez, 2015 APOIO PEDAGÓGICO Prof. Cecília Toledo ceciliavstoledo@gmail. com Segmentos da
Fonética acústica: Propriedades suprassegmentais KENT, Ray, READ, Charles. Análise acústica da Fala São Paulo : Cortez, 2015 APOIO PEDAGÓGICO Prof. Cecília Toledo ceciliavstoledo@gmail. com Segmentos da
Laboratório de Investigação Fonoaudiológica da Fluência, Motricidade e Funções Orofaciais do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da
 RESPUESTA ELECTROMIOGRÁFICA EN NIÑOS TARTAMUDOS Y NO TARTAMUDOS Laboratório de Investigação Fonoaudiológica da Fluência, Motricidade e Funções Orofaciais do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina
RESPUESTA ELECTROMIOGRÁFICA EN NIÑOS TARTAMUDOS Y NO TARTAMUDOS Laboratório de Investigação Fonoaudiológica da Fluência, Motricidade e Funções Orofaciais do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina
O PAPEL DAS EXPRESSÕES FACIAIS E MOVIMENTOS CORPORAIS NA PRODUÇÃO DE INTERROGATIVAS
 565 de 663 O PAPEL DAS EXPRESSÕES FACIAIS E MOVIMENTOS CORPORAIS NA PRODUÇÃO DE INTERROGATIVAS Karina Dias 180,Vera Pacheco 181 (UESB) Marian Oliveira 182 (UESB) RESUMO Durante a nossa fala realizamos
565 de 663 O PAPEL DAS EXPRESSÕES FACIAIS E MOVIMENTOS CORPORAIS NA PRODUÇÃO DE INTERROGATIVAS Karina Dias 180,Vera Pacheco 181 (UESB) Marian Oliveira 182 (UESB) RESUMO Durante a nossa fala realizamos
A EFETIVIDADE DA REALIMENTAÇÃO NO TRATAMENTO DA GAGUEIRA DE DESENVOLVIMENTO: ESTUDOS COMPARATIVOS
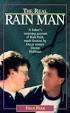 A EFETIVIDADE DA REALIMENTAÇÃO NO TRATAMENTO DA GAGUEIRA DE DESENVOLVIMENTO: ESTUDOS COMPARATIVOS Introdução A literatura aponta que existem vantagens consideráveis nos tratamentos da gagueira que contam
A EFETIVIDADE DA REALIMENTAÇÃO NO TRATAMENTO DA GAGUEIRA DE DESENVOLVIMENTO: ESTUDOS COMPARATIVOS Introdução A literatura aponta que existem vantagens consideráveis nos tratamentos da gagueira que contam
Oitavo encontro do Dia Internacional de Atenção à Gagueira na Cidade de São Paulo
 Oitavo encontro do Dia Internacional de Atenção à Gagueira na Cidade de São Paulo 2012 Oitavo encontro do Dia Internacional de Atenção à Gagueira na Cidade de São Paulo Eliana Maria Nigro Rocha Diretora
Oitavo encontro do Dia Internacional de Atenção à Gagueira na Cidade de São Paulo 2012 Oitavo encontro do Dia Internacional de Atenção à Gagueira na Cidade de São Paulo Eliana Maria Nigro Rocha Diretora
AS VOGAIS PRETÔNICAS [-BX] NO DIALETO CARIOCA: UMA ANÁLISE ACÚSTICA
![AS VOGAIS PRETÔNICAS [-BX] NO DIALETO CARIOCA: UMA ANÁLISE ACÚSTICA AS VOGAIS PRETÔNICAS [-BX] NO DIALETO CARIOCA: UMA ANÁLISE ACÚSTICA](/thumbs/73/68335043.jpg) II Simpósio sobre Vogais 21 a 23 de maio de 2009 Belo Horizonte- MG AS VOGAIS PRETÔNICAS [-BX] NO DIALETO CARIOCA: UMA ANÁLISE ACÚSTICA Luana Machado Universidade Federal do Rio de Janeiro Orientadores:
II Simpósio sobre Vogais 21 a 23 de maio de 2009 Belo Horizonte- MG AS VOGAIS PRETÔNICAS [-BX] NO DIALETO CARIOCA: UMA ANÁLISE ACÚSTICA Luana Machado Universidade Federal do Rio de Janeiro Orientadores:
Andréa Morato A CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTINADA AOS EXCEPCIONAIS NO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA DÉCADA DE 1930
 Andréa Morato A CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTINADA AOS EXCEPCIONAIS NO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA DÉCADA DE 1930 Belo Horizonte 2008 Andréa Morato A CONSTITUIÇÃO DA
Andréa Morato A CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTINADA AOS EXCEPCIONAIS NO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA DÉCADA DE 1930 Belo Horizonte 2008 Andréa Morato A CONSTITUIÇÃO DA
MOVIMENTOS FACIAIS E CORPORAIS E PERCEPÇÃO DE ÊNFASE E ATENUAÇÃO 1
 MOVIMENTOS FACIAIS E CORPORAIS E PERCEPÇÃO DE ÊNFASE E ATENUAÇÃO 1 Vera PACHECO (Laboratório de Pesquisa e Estudos em Fonética e Fonologia/UESB) vera.pacheco@gmail.com Durante uma conversa, os falantes
MOVIMENTOS FACIAIS E CORPORAIS E PERCEPÇÃO DE ÊNFASE E ATENUAÇÃO 1 Vera PACHECO (Laboratório de Pesquisa e Estudos em Fonética e Fonologia/UESB) vera.pacheco@gmail.com Durante uma conversa, os falantes
A QUESTÃO FLUENTE VERSUS DISFLUENTE NO CONTEXTO DAS AFASIAS
 141 de 368 A QUESTÃO FLUENTE VERSUS DISFLUENTE NO CONTEXTO DAS AFASIAS Rita de Cássia Silva-Tagliaferre * (Uesb) RESUMO Este estudo tem como objetivo apresentar algumas discussões sobre a noção de fluência/disfluência
141 de 368 A QUESTÃO FLUENTE VERSUS DISFLUENTE NO CONTEXTO DAS AFASIAS Rita de Cássia Silva-Tagliaferre * (Uesb) RESUMO Este estudo tem como objetivo apresentar algumas discussões sobre a noção de fluência/disfluência
Perfil familial da gagueira: estudo lingüístico, eletromiográfico e acústico
 Perfil familial da gagueira: estudo lingüístico, eletromiográfico e acústico Palavras-chave: gagueira; eletromiografia; genética. Introdução A gagueira é um distúrbio de causa desconhecida que se caracteriza
Perfil familial da gagueira: estudo lingüístico, eletromiográfico e acústico Palavras-chave: gagueira; eletromiografia; genética. Introdução A gagueira é um distúrbio de causa desconhecida que se caracteriza
Análise fonológica da entoação: estudo constrastivo entre o português e. o espanhol
 Análise fonológica da entoação: estudo constrastivo entre o português e o espanhol Kelly Cristiane Henschel Pobbe de Carvalho (FCL/ UNESP-Assis) Introdução Este trabalho consiste na apresentação de um
Análise fonológica da entoação: estudo constrastivo entre o português e o espanhol Kelly Cristiane Henschel Pobbe de Carvalho (FCL/ UNESP-Assis) Introdução Este trabalho consiste na apresentação de um
A PROSÓDIA NA EXPRESSÃO DAS ATITUDES DE DÚVIDA, INCERTEZA E INCREDULIDADE NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Faculdade de Letras A PROSÓDIA NA EXPRESSÃO DAS ATITUDES DE DÚVIDA, INCERTEZA E INCREDULIDADE NO PORTUGUÊS BRASILEIRO Belo Horizonte 2011 Bruna Ferreira Valenzuela
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Faculdade de Letras A PROSÓDIA NA EXPRESSÃO DAS ATITUDES DE DÚVIDA, INCERTEZA E INCREDULIDADE NO PORTUGUÊS BRASILEIRO Belo Horizonte 2011 Bruna Ferreira Valenzuela
A LINGUAGEM DISÁRTRICA DO SUJEITO RA E AS SUAS PARTICULARIDADES 119
 399 de 665 A LINGUAGEM DISÁRTRICA DO SUJEITO RA E AS SUAS PARTICULARIDADES 119 Daniela Pereira de Almeida Ruas (UESB) 120 Nirvana Ferraz Santos Sampaio 121 (UESB) RESUMO Buscaremos, neste trabalho, descrever
399 de 665 A LINGUAGEM DISÁRTRICA DO SUJEITO RA E AS SUAS PARTICULARIDADES 119 Daniela Pereira de Almeida Ruas (UESB) 120 Nirvana Ferraz Santos Sampaio 121 (UESB) RESUMO Buscaremos, neste trabalho, descrever
Marina Emília Pereira Andrade
 Marina Emília Pereira Andrade Estudo da relação entre o processamento temporal e a consciência fonológica Trabalho apresentado à banca examinadora para a conclusão do Curso de Fonoaudiologia da Universidade
Marina Emília Pereira Andrade Estudo da relação entre o processamento temporal e a consciência fonológica Trabalho apresentado à banca examinadora para a conclusão do Curso de Fonoaudiologia da Universidade
Estudos atuais Transtorno Fonológico
 Estudos atuais Transtorno onológico Profa Dra Haydée iszbein Wertzner Profa Associada do Departamento de isioterapia, onoaudiologia e Terapia Ocupacional MUSP Wertzner, H TRANSTORNO ONOÓGICO Alteração
Estudos atuais Transtorno onológico Profa Dra Haydée iszbein Wertzner Profa Associada do Departamento de isioterapia, onoaudiologia e Terapia Ocupacional MUSP Wertzner, H TRANSTORNO ONOÓGICO Alteração
Perfil epidemiológico dos distúrbios da comunicação humana atendidos em um ambulatório de atenção primária à saúde
 Perfil epidemiológico dos distúrbios da comunicação humana atendidos em um ambulatório de atenção primária à saúde Epidemiologia Descritiva, Fonoaudiologia, Atenção Primária à Saúde INTRODUÇÃO É importante
Perfil epidemiológico dos distúrbios da comunicação humana atendidos em um ambulatório de atenção primária à saúde Epidemiologia Descritiva, Fonoaudiologia, Atenção Primária à Saúde INTRODUÇÃO É importante
Carla Vasconcelos. A prosódia na expressão das atitudes de dúvida e certeza em indivíduos com perda auditiva bilateral
 Carla Vasconcelos A prosódia na expressão das atitudes de dúvida e certeza em indivíduos com perda auditiva bilateral Belo Horizonte Faculdade de Letras da UFMG 2011 Carla Vasconcelos A prosódia na expressão
Carla Vasconcelos A prosódia na expressão das atitudes de dúvida e certeza em indivíduos com perda auditiva bilateral Belo Horizonte Faculdade de Letras da UFMG 2011 Carla Vasconcelos A prosódia na expressão
Análise da fluência de fala em Síndrome de Williams
 Análise da fluência de fala em Síndrome de Williams Natalia Freitas Rossi, Adriana Sampaio, Óscar F. Gonçalves, Célia Maria Giacheti Apresentado por: Ana Carolina Rocha Dara Letícia Zaura Maristela P.
Análise da fluência de fala em Síndrome de Williams Natalia Freitas Rossi, Adriana Sampaio, Óscar F. Gonçalves, Célia Maria Giacheti Apresentado por: Ana Carolina Rocha Dara Letícia Zaura Maristela P.
ANÁLISE DA LEITURA EM VOZ ALTA: CARACTERÍSTICAS PROSÓDICAS DE FALANTES DA CIDADE DE ARAPIRACA/AL
 ANÁLISE DA LEITURA EM VOZ ALTA: CARACTERÍSTICAS PROSÓDICAS DE FALANTES DA CIDADE DE ARAPIRACA/AL Lisandra Paola Santos de Oliveira 1 (UFAL) Lisandra.3000@gmail.com INTRODUÇÃO Atualmente o problema com
ANÁLISE DA LEITURA EM VOZ ALTA: CARACTERÍSTICAS PROSÓDICAS DE FALANTES DA CIDADE DE ARAPIRACA/AL Lisandra Paola Santos de Oliveira 1 (UFAL) Lisandra.3000@gmail.com INTRODUÇÃO Atualmente o problema com
Thalita Evaristo Couto Dias
 Thalita Evaristo Couto Dias ANÁLISE DA VARIAÇÃO PROSÓDICA EM DIFERENTES ESTILOS DE REPORTAGENS TELEJORNALÍSTICAS Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal de Minas Gerais - Faculdade
Thalita Evaristo Couto Dias ANÁLISE DA VARIAÇÃO PROSÓDICA EM DIFERENTES ESTILOS DE REPORTAGENS TELEJORNALÍSTICAS Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal de Minas Gerais - Faculdade
Prevalência de desvio fonológico em crianças de 4 a 6 anos de escolas públicas municipais de Salvador BA
 Prevalência de desvio fonológico em crianças de 4 a 6 anos de escolas públicas municipais de Salvador BA Palavras-chaves: Distúrbio da fala, avaliação do desempenho, criança Na população infantil, o desvio
Prevalência de desvio fonológico em crianças de 4 a 6 anos de escolas públicas municipais de Salvador BA Palavras-chaves: Distúrbio da fala, avaliação do desempenho, criança Na população infantil, o desvio
VOGAIS NASAIS E NASALIZADAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: PRELIMINARES DE UMA ANÁLISE DE CONFIGURAÇÃO FORMÂNTICA
 Página 27 de 315 VOGAIS NASAIS E NASALIZADAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: PRELIMINARES DE UMA ANÁLISE DE CONFIGURAÇÃO FORMÂNTICA Luiz Carlos da Silva Souza 7 (UESB/Fapesb) Vera Pacheco 8 (UESB) RESUMO Este
Página 27 de 315 VOGAIS NASAIS E NASALIZADAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: PRELIMINARES DE UMA ANÁLISE DE CONFIGURAÇÃO FORMÂNTICA Luiz Carlos da Silva Souza 7 (UESB/Fapesb) Vera Pacheco 8 (UESB) RESUMO Este
EFEITO DA ESTIMULAÇÃO VESTIBULAR NO PERFIL SENSORIAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO ALEATORIZADO
 1 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UnB FACULDADE DE CEILÂNDIA-FCE CURSO DE FISIOTERAPIA YASMIN SANTANA MAGALHÃES EFEITO DA ESTIMULAÇÃO VESTIBULAR NO PERFIL SENSORIAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL: ENSAIO
1 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UnB FACULDADE DE CEILÂNDIA-FCE CURSO DE FISIOTERAPIA YASMIN SANTANA MAGALHÃES EFEITO DA ESTIMULAÇÃO VESTIBULAR NO PERFIL SENSORIAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL: ENSAIO
Características da duração do ruído das fricativas de uma amostra do Português Brasileiro
 Estudos da Língua(gem) Características da duração do ruído das fricativas de uma amostra do Português Brasileiro Characteristics of the duration of the fricative noise of a sample of Brazilian Portuguese
Estudos da Língua(gem) Características da duração do ruído das fricativas de uma amostra do Português Brasileiro Characteristics of the duration of the fricative noise of a sample of Brazilian Portuguese
IMPLICAÇÕES DA AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DO VOT NA PERCEPÇÃO DE CONSOANTES OCLUSIVAS 1
 31 de 368 IMPLICAÇÕES DA AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DO VOT NA PERCEPÇÃO DE CONSOANTES OCLUSIVAS 1 Renato Abreu Soares * (Uesb) Vera Pacheco ** (Uesb) RESUMO Modificações na constituição intrínseca dos segmentos
31 de 368 IMPLICAÇÕES DA AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DO VOT NA PERCEPÇÃO DE CONSOANTES OCLUSIVAS 1 Renato Abreu Soares * (Uesb) Vera Pacheco ** (Uesb) RESUMO Modificações na constituição intrínseca dos segmentos
O papel da prosódia na expressão. de atitudes do locutor em questões. Leandra Batista Antunes
 Leandra Batista Antunes O papel da prosódia na expressão de atitudes do locutor em questões Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos da Faculdade de Letras da Universidade
Leandra Batista Antunes O papel da prosódia na expressão de atitudes do locutor em questões Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos da Faculdade de Letras da Universidade
Marisa Cruz & Sónia Frota. XXVII Encontro Nacional da APL
 Marisa Cruz & Sónia Frota Laboratório de Fonética (CLUL/FLUL) Universidade de Lisboa XXVII Encontro Nacional da APL FCSH, Universidade Nova de Lisboa, 28 de Outubro de 2011 Para a prosódia do foco em variedades
Marisa Cruz & Sónia Frota Laboratório de Fonética (CLUL/FLUL) Universidade de Lisboa XXVII Encontro Nacional da APL FCSH, Universidade Nova de Lisboa, 28 de Outubro de 2011 Para a prosódia do foco em variedades
Oficina de. Expressividade. Orientação: Fga. Millena Vieira. Apresentação: Ana Júlia Passos Bárbara Camilo
 Oficina de Orientação: Fga. Millena Vieira Expressividade Apresentação: Ana Júlia Passos Bárbara Camilo Como a voz é produzida? A voz... Expressa nossas emoções Sentimentos e personalidade Enriquece o
Oficina de Orientação: Fga. Millena Vieira Expressividade Apresentação: Ana Júlia Passos Bárbara Camilo Como a voz é produzida? A voz... Expressa nossas emoções Sentimentos e personalidade Enriquece o
Avaliação Fonoaudiológica em Neurologia / Educação: Linguagem e Fonologia.
 Avaliação Fonoaudiológica em Neurologia / Educação: Linguagem e Fonologia. Fgo. Dr. Fábio Henrique Pinheiro Fonoaudiológo. Doutor em Educação UNESP/SP. Pós Doutor Universidad Católica de Valencia/ESP.
Avaliação Fonoaudiológica em Neurologia / Educação: Linguagem e Fonologia. Fgo. Dr. Fábio Henrique Pinheiro Fonoaudiológo. Doutor em Educação UNESP/SP. Pós Doutor Universidad Católica de Valencia/ESP.
Variação prosódica no Português Europeu: um falar, uma identidade
 Marisa Cruz Laboratório de Fonética (CLUL/FLUL) Universidade de Lisboa Compreensão e Produção do Português Oral Professora Doutora Sónia Frota 4 de Dezembro de 2012 Variação prosódica no Português Europeu:
Marisa Cruz Laboratório de Fonética (CLUL/FLUL) Universidade de Lisboa Compreensão e Produção do Português Oral Professora Doutora Sónia Frota 4 de Dezembro de 2012 Variação prosódica no Português Europeu:
Prof ª Drª Dilma Tavares Luciano Universidade Federal de Pernambuco
 Prof ª Drª Dilma Tavares Luciano Universidade Federal de Pernambuco dilma.tavares@ufpe.br Dificuldades e desordens Patologias Conhecer e tratar manifestações anormais Habilidades desenvolvidas pelo terapeuta
Prof ª Drª Dilma Tavares Luciano Universidade Federal de Pernambuco dilma.tavares@ufpe.br Dificuldades e desordens Patologias Conhecer e tratar manifestações anormais Habilidades desenvolvidas pelo terapeuta
REALIZAÇÕES DAS VOGAIS MÉDIAS ABERTAS NO DIALETO DE VITÓRIA DA CONQUISTA BA
 19 de 107 REALIZAÇÕES DAS VOGAIS MÉDIAS ABERTAS NO DIALETO DE VITÓRIA DA CONQUISTA BA Juscélia Silva Novais Oliveira * (Uesb) Priscila de Jesus Ribeiro ** (UESB) Vera Pacheco *** (Uesb) RESUMO O PB, segundo
19 de 107 REALIZAÇÕES DAS VOGAIS MÉDIAS ABERTAS NO DIALETO DE VITÓRIA DA CONQUISTA BA Juscélia Silva Novais Oliveira * (Uesb) Priscila de Jesus Ribeiro ** (UESB) Vera Pacheco *** (Uesb) RESUMO O PB, segundo
Comparação das variações acústicas da fala entre famílias fluentes e famílias com diagnóstico de gagueira
 Comparação das variações acústicas da fala entre famílias fluentes e famílias com diagnóstico de gagueira Palavras-chave: fonoaudiologia, fala, voz Introdução Estudos genéticos direcionados à compreensão
Comparação das variações acústicas da fala entre famílias fluentes e famílias com diagnóstico de gagueira Palavras-chave: fonoaudiologia, fala, voz Introdução Estudos genéticos direcionados à compreensão
4 Metodologia. 4.1 Metodologia naturalista: produção da fala espontânea
 4 Metodologia 4.1 Metodologia naturalista: produção da fala espontânea O presente estudo fez uso de dados naturalistas ou ecológicos coletados para um estudo longitudinal (Martins, 2007). Um estudo naturalista
4 Metodologia 4.1 Metodologia naturalista: produção da fala espontânea O presente estudo fez uso de dados naturalistas ou ecológicos coletados para um estudo longitudinal (Martins, 2007). Um estudo naturalista
UMA ANÁLISE SOCIOFUNCIONALISTA DA DUPLA NEGAÇÃO NO SERTÃO DA RESSACA
 Página 143 de 511 UMA ANÁLISE SOCIOFUNCIONALISTA DA DUPLA NEGAÇÃO NO SERTÃO DA RESSACA Savanna Souza de Castro Julinara Silva Vieira Valéria Viana Sousa Jorge Augusto Alves Silva RESUMO A negação é um
Página 143 de 511 UMA ANÁLISE SOCIOFUNCIONALISTA DA DUPLA NEGAÇÃO NO SERTÃO DA RESSACA Savanna Souza de Castro Julinara Silva Vieira Valéria Viana Sousa Jorge Augusto Alves Silva RESUMO A negação é um
Fatores de risco em crianças disfluentes sem recorrência familial: comparação entre o gênero masculino e feminino
 Fatores de risco em crianças disfluentes sem recorrência familial: comparação entre o gênero masculino e feminino Introdução A gagueira é um distúrbio multifatorial resultante de inúmeros fatores de risco
Fatores de risco em crianças disfluentes sem recorrência familial: comparação entre o gênero masculino e feminino Introdução A gagueira é um distúrbio multifatorial resultante de inúmeros fatores de risco
Mismatch Negativity (MMN) é um potencial evocado auditivo endógeno, que reflete o processamento
 TCC em Re vista 2009 109 BURANELLI, Gabriela; BARBOSA, Marcella Brito. 21 Verificação das respostas do Mismatch Negativity (MMN) em sujeitos idosos. 2008. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
TCC em Re vista 2009 109 BURANELLI, Gabriela; BARBOSA, Marcella Brito. 21 Verificação das respostas do Mismatch Negativity (MMN) em sujeitos idosos. 2008. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
O PAPEL DOS MOVIMENTOS DA CABEÇA NA MARCAÇÃO DE INTERROGATIVAS
 Página 285 de 481 O PAPEL DOS MOVIMENTOS DA CABEÇA NA MARCAÇÃO DE INTERROGATIVAS Karina Dias (UESB/ PPGLin/ CAPES) Vera Pacheco (UESB/ PPGLin) Marian Oliveira (UESB/ PPGLin) RESUMO Partindo do pressuposto
Página 285 de 481 O PAPEL DOS MOVIMENTOS DA CABEÇA NA MARCAÇÃO DE INTERROGATIVAS Karina Dias (UESB/ PPGLin/ CAPES) Vera Pacheco (UESB/ PPGLin) Marian Oliveira (UESB/ PPGLin) RESUMO Partindo do pressuposto
A RELAÇÃO ENTRE ATOS DE FALA E PROSÓDIA
 247 de 665 A RELAÇÃO ENTRE ATOS DE FALA E PROSÓDIA Polliana Teixeira Alves (UESB) Vera Pacheco (UESB) Alcione Santos (UESB) RESUMO Nas mais variadas situações de comunicação, nas quais se realizam os atos
247 de 665 A RELAÇÃO ENTRE ATOS DE FALA E PROSÓDIA Polliana Teixeira Alves (UESB) Vera Pacheco (UESB) Alcione Santos (UESB) RESUMO Nas mais variadas situações de comunicação, nas quais se realizam os atos
ESTUDOS QUE COMPARARAM DIFERENTES EXERCÍCIOS NA MUSCULAÇÃO
 ALEXANDRE DE SOUZA AVELAR ESTUDOS QUE COMPARARAM DIFERENTES EXERCÍCIOS NA MUSCULAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 2010 1 ALEXANDRE
ALEXANDRE DE SOUZA AVELAR ESTUDOS QUE COMPARARAM DIFERENTES EXERCÍCIOS NA MUSCULAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 2010 1 ALEXANDRE
em que medida esse tipo de estruturação narrativa reflete ou não a estrutura da narrativa espontânea proposta por Labov?
 ESTUDO PROSÓDICO DE NARRATIVAS SEMIESPONTÂNEAS PRODUZIDAS POR BRASILEIROS APRENDIZES DE INGLÊS COMO LE Camila da Silva Ornellas camilaornellas@gmail.com Fernanda Memória 1. Introdução A motivação deste
ESTUDO PROSÓDICO DE NARRATIVAS SEMIESPONTÂNEAS PRODUZIDAS POR BRASILEIROS APRENDIZES DE INGLÊS COMO LE Camila da Silva Ornellas camilaornellas@gmail.com Fernanda Memória 1. Introdução A motivação deste
RELAÇÃO ENTRE DURAÇÃO SEGMENTAL E PERCEPÇÃO DE FRICATIVAS SURDAS E SONORAS
 3378 RELAÇÃO ENTRE DURAÇÃO SEGMENTAL E PERCEPÇÃO DE FRICATIVAS SURDAS E SONORAS Audinéia Silva (UESB/ FAPESB) Vera PACHECO (UESB) 1) CONSIDERAÇÕES GERAIS 1.1) Duração segmental Em algumas línguas, como
3378 RELAÇÃO ENTRE DURAÇÃO SEGMENTAL E PERCEPÇÃO DE FRICATIVAS SURDAS E SONORAS Audinéia Silva (UESB/ FAPESB) Vera PACHECO (UESB) 1) CONSIDERAÇÕES GERAIS 1.1) Duração segmental Em algumas línguas, como
Percurso da Aquisição dos Encontros Consonantais e Fonemas em Crianças de 2:1 a 3:0 anos de idade
 Percurso da Aquisição dos Encontros Consonantais e Fonemas em Crianças de 2:1 a 3:0 anos de idade Palavras-Chave: Desenvolvimento Infantil, Medida da Produção da Fala, Distribuição por Idade e Sexo. INTRODUÇÃO:
Percurso da Aquisição dos Encontros Consonantais e Fonemas em Crianças de 2:1 a 3:0 anos de idade Palavras-Chave: Desenvolvimento Infantil, Medida da Produção da Fala, Distribuição por Idade e Sexo. INTRODUÇÃO:
Nome: F.F.D. Data de nascimento:20/04/2000. Idade : 12 anos e 11 meses. Encaminhado por: Clínica de Linguagem Escrita em 2011.
 Nome: F.F.D. Data de nascimento:20/04/2000 Idade : 12 anos e 11 meses Encaminhado por: Clínica de Linguagem Escrita em 2011. Síndrome de Silver Russel Herança Autossômica Dominante ou Recessiva Múltiplas
Nome: F.F.D. Data de nascimento:20/04/2000 Idade : 12 anos e 11 meses Encaminhado por: Clínica de Linguagem Escrita em 2011. Síndrome de Silver Russel Herança Autossômica Dominante ou Recessiva Múltiplas
Comparação da fluência e da compreensão de leitura em crianças com e sem gagueira
 Comparação da fluência e da compreensão leitura em crianças com e sem gagueira Palavras Chaves: gagueira, leitura, compreensão Introdução: A leitura fluente po ser finida inicialmente como o senvolvimento
Comparação da fluência e da compreensão leitura em crianças com e sem gagueira Palavras Chaves: gagueira, leitura, compreensão Introdução: A leitura fluente po ser finida inicialmente como o senvolvimento
INFLUÊNCIAS PROSÓDICAS, ACÚSTICAS E GRAMATICAIS SOBRE A PONTUAÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS
 Página 21 de 315 INFLUÊNCIAS PROSÓDICAS, ACÚSTICAS E GRAMATICAIS SOBRE A PONTUAÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS José Júnior Dias da Silva 5 (UESB) Vera Pacheco 6 (UESB) RESUMO O presente trabalho visa analisar redações
Página 21 de 315 INFLUÊNCIAS PROSÓDICAS, ACÚSTICAS E GRAMATICAIS SOBRE A PONTUAÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS José Júnior Dias da Silva 5 (UESB) Vera Pacheco 6 (UESB) RESUMO O presente trabalho visa analisar redações
APRENDENDO MAIS SOBRE A GAGUEIRA
 APRENDENDO MAIS SOBRE A GAGUEIRA Material desenvolvido na Oficina de Fluência por Bianca Ribeiro, Izadora Zanini, João Marcelo Boccia, Marcela Gottlieb e Mariana Ribeiro O QUE É A GAGUEIRA? A gagueira
APRENDENDO MAIS SOBRE A GAGUEIRA Material desenvolvido na Oficina de Fluência por Bianca Ribeiro, Izadora Zanini, João Marcelo Boccia, Marcela Gottlieb e Mariana Ribeiro O QUE É A GAGUEIRA? A gagueira
Desenvolvimento de algoritmo de análise automática da curva de frequência por meio de convoluções gaussianas do histograma de alturas 15
 http://dx.doi.org/10.4322/978-85-99829-84-4-15 Desenvolvimento de algoritmo de análise automática da curva de frequência por meio de convoluções gaussianas do histograma de alturas 15 André Ricardo de
http://dx.doi.org/10.4322/978-85-99829-84-4-15 Desenvolvimento de algoritmo de análise automática da curva de frequência por meio de convoluções gaussianas do histograma de alturas 15 André Ricardo de
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA MEMÓRIA OPERACIONAL FONOLÓGICA EM CRIANÇAS COM
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA MEMÓRIA OPERACIONAL FONOLÓGICA EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO FONOLÓGICO Mônica Araújo Almeida Monografia apresentada
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA MEMÓRIA OPERACIONAL FONOLÓGICA EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO FONOLÓGICO Mônica Araújo Almeida Monografia apresentada
Um Estudo das Funções Executivas em Indivíduos Afásicos
 Um Estudo das Funções Executivas em Indivíduos Afásicos 1. Cognição. 2. Neuropsicologia. 3. Linguagem Introdução Cerca de um terço da população afetada por acidente vascular encefálico pode apresentar
Um Estudo das Funções Executivas em Indivíduos Afásicos 1. Cognição. 2. Neuropsicologia. 3. Linguagem Introdução Cerca de um terço da população afetada por acidente vascular encefálico pode apresentar
DIAG 2012 AUTOPERCEPÇÃO DA GAGUEIRA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA
 DIAG 2012 AUTOPERCEPÇÃO DA GAGUEIRA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA Fga. Eliane Lopes Bragatto NIFF- Núcleo de Investigação Fonoaudiológica da Fluência - UNIFESP Qualidade de Vida percepção do indivíduo
DIAG 2012 AUTOPERCEPÇÃO DA GAGUEIRA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA Fga. Eliane Lopes Bragatto NIFF- Núcleo de Investigação Fonoaudiológica da Fluência - UNIFESP Qualidade de Vida percepção do indivíduo
PERCEPÇÃO AUDITIVA E VISUAL DAS FRICATIVAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO
 Página 291 de 499 PERCEPÇÃO AUDITIVA E VISUAL DAS FRICATIVAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO Audinéia Ferreira-Silva (CAPES/UESB) Vera Pacheco (UESB) Luiz Carlos Cagliari (UNESP) RESUMO Neste trabalho, nosso objetivo
Página 291 de 499 PERCEPÇÃO AUDITIVA E VISUAL DAS FRICATIVAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO Audinéia Ferreira-Silva (CAPES/UESB) Vera Pacheco (UESB) Luiz Carlos Cagliari (UNESP) RESUMO Neste trabalho, nosso objetivo
Carolina Gomes da Silva CNPq/PIBIC/UFRJ Rio de Janeiro, Brasil
 Pedidos de Informação e Pedidos de Ação em Português do Brasil, fala carioca e em Espanhol Europeu, fala madrilena: variantes ou padrões entonacionais distintos? Carolina Gomes da Silva CNPq/PIBIC/UFRJ
Pedidos de Informação e Pedidos de Ação em Português do Brasil, fala carioca e em Espanhol Europeu, fala madrilena: variantes ou padrões entonacionais distintos? Carolina Gomes da Silva CNPq/PIBIC/UFRJ
O papel da prosódia na expressão da certeza e da incerteza em português brasileiro: respostas ao questionário ALiB em cidades do norte, nordeste e sul
 O papel da prosódia na expressão da certeza e da incerteza em português brasileiro: respostas ao questionário ALiB em cidades do norte, nordeste e sul Linda Desirée Pires Fernandes 1 ; Leandra Batista
O papel da prosódia na expressão da certeza e da incerteza em português brasileiro: respostas ao questionário ALiB em cidades do norte, nordeste e sul Linda Desirée Pires Fernandes 1 ; Leandra Batista
Introdução Introduction 4. Programa Programme 6. Conferência I Conférence I 10. Conferência II Conférence II 13. Conferência III Conférence III 14
 LIVRO DE RESUMOS Índice Table des matières Introdução Introduction 4 Programa Programme 6 Conferências Conférences Conferência I Conférence I 10 Conferência II Conférence II 13 Conferência III Conférence
LIVRO DE RESUMOS Índice Table des matières Introdução Introduction 4 Programa Programme 6 Conferências Conférences Conferência I Conférence I 10 Conferência II Conférence II 13 Conferência III Conférence
LINGUAGEM E AFASIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM EM UM ESTUDO DE CASO 1
 159 de 368 LINGUAGEM E AFASIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM EM UM ESTUDO DE CASO 1 Tauana Nunes Paixão (Uesb) Nirvana Ferraz Santos Sampaio (Uesb) RESUMO Neste trabalho, apresentamos alguns
159 de 368 LINGUAGEM E AFASIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM EM UM ESTUDO DE CASO 1 Tauana Nunes Paixão (Uesb) Nirvana Ferraz Santos Sampaio (Uesb) RESUMO Neste trabalho, apresentamos alguns
Linguagem. Dr. Fábio Agertt
 Dr. Fábio Agertt Linguagem Mecanismos não-verbais Linguagem é qualquer e todo sistema de sinais que serve de meio de comunicação de idéias ou sentimentos (sonoros, gráficos, gestuais) Embora os animais
Dr. Fábio Agertt Linguagem Mecanismos não-verbais Linguagem é qualquer e todo sistema de sinais que serve de meio de comunicação de idéias ou sentimentos (sonoros, gráficos, gestuais) Embora os animais
sintaticamente relevante para a língua e sobre os quais o sistema computacional opera. O resultado da computação lingüística, que é interno ao
 1 Introdução A presente dissertação tem como tema a aquisição do modo verbal no Português Brasileiro (PB). Tal pesquisa foi conduzida, primeiramente, por meio de um estudo dos dados da produção espontânea
1 Introdução A presente dissertação tem como tema a aquisição do modo verbal no Português Brasileiro (PB). Tal pesquisa foi conduzida, primeiramente, por meio de um estudo dos dados da produção espontânea
Prosódia de declarativas e interrogativas totais no falar marianense e belorizontino no âmbito do Projeto AMPER
 Prosódia de declarativas e interrogativas totais no falar marianense e belorizontino no âmbito do Projeto AMPER César Reis Phonetic Laboratory Universidade Federal de Minas Gerais Belo Horizonte, Brasil
Prosódia de declarativas e interrogativas totais no falar marianense e belorizontino no âmbito do Projeto AMPER César Reis Phonetic Laboratory Universidade Federal de Minas Gerais Belo Horizonte, Brasil
ÍNDICE LISTA DE QUADROS... III LISTA DE TABELAS... V LISTA DE ANEXOS... VII AGRADECIMENTOS... IX RESUMO... XI INTRODUÇÃO...1
 ÍNDICE LISTA DE QUADROS........ III LISTA DE TABELAS........ V LISTA DE ANEXOS........ VII AGRADECIMENTOS........ IX RESUMO......... XI INTRODUÇÃO..........1 CAPITULO I - REVISÃO DA LITERATURA......5 1.
ÍNDICE LISTA DE QUADROS........ III LISTA DE TABELAS........ V LISTA DE ANEXOS........ VII AGRADECIMENTOS........ IX RESUMO......... XI INTRODUÇÃO..........1 CAPITULO I - REVISÃO DA LITERATURA......5 1.
A percepção de variação em semitons ascendentes em palavras isoladas no Português Brasileiro 1
 http://dx.doi.org/10.4322/978-85-99829-84-4-2 A percepção de variação em semitons ascendentes em palavras isoladas no Português Brasileiro 1 Fernanda Consoni; Waldemar Ferreira Netto Introdução O trabalho
http://dx.doi.org/10.4322/978-85-99829-84-4-2 A percepção de variação em semitons ascendentes em palavras isoladas no Português Brasileiro 1 Fernanda Consoni; Waldemar Ferreira Netto Introdução O trabalho
AULA 8: A PROSÓDIA DO PORTUGUÊS: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, ORGANIZAÇÃO RÍTMICA E DOMÍNIOS PROSÓDICOS
 AULA 8: A PROSÓDIA DO PORTUGUÊS: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, ORGANIZAÇÃO RÍTMICA E DOMÍNIOS PROSÓDICOS...os latinos pártem a sua Grammatica em quátro partes: em Ortografia, que tráta da letera; em Prosodia,
AULA 8: A PROSÓDIA DO PORTUGUÊS: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, ORGANIZAÇÃO RÍTMICA E DOMÍNIOS PROSÓDICOS...os latinos pártem a sua Grammatica em quátro partes: em Ortografia, que tráta da letera; em Prosodia,
CRIAÇÃO LEXICAL: O USO DE NEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS FALADO EM DOURADOS
 CRIAÇÃO LEXICAL: O USO DE NEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS FALADO EM DOURADOS Paulo Gerson Rodrigues Stefanello ¹; Elza Sabino da Silva Bueno². ¹Aluno do 4º ano do Curso de Letras Português/Espanhol. Bolsista
CRIAÇÃO LEXICAL: O USO DE NEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS FALADO EM DOURADOS Paulo Gerson Rodrigues Stefanello ¹; Elza Sabino da Silva Bueno². ¹Aluno do 4º ano do Curso de Letras Português/Espanhol. Bolsista
Palavras-Chave: Gênero Textual. Atendimento Educacional Especializado. Inclusão.
 O GÊNERO TEXTUAL BILHETE COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E DA ESCRITA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UMA EXPERIÊNCIA NA APAE BELÉM Albéria Xavier de Souza Villaça 1 Bruna
O GÊNERO TEXTUAL BILHETE COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E DA ESCRITA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UMA EXPERIÊNCIA NA APAE BELÉM Albéria Xavier de Souza Villaça 1 Bruna
Ana Cristina de Abreu Oliveira. Justiça e Ética no pensamento de Jacques Derrida
 Ana Cristina de Abreu Oliveira Justiça e Ética no pensamento de Jacques Derrida Tese de Doutorado Tese de Doutorado apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor pelo Programa de
Ana Cristina de Abreu Oliveira Justiça e Ética no pensamento de Jacques Derrida Tese de Doutorado Tese de Doutorado apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor pelo Programa de
AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ELETROESTIMULAÇÃO EM MULHERES COM NÓDULOS VOCAIS
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE MEDICINA AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ELETROESTIMULAÇÃO EM MULHERES COM NÓDULOS VOCAIS JUSCELINA KUBITSCHECK DE OLIVEIRA SANTOS Belo Horizonte 2015 JUSCELINA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE MEDICINA AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ELETROESTIMULAÇÃO EM MULHERES COM NÓDULOS VOCAIS JUSCELINA KUBITSCHECK DE OLIVEIRA SANTOS Belo Horizonte 2015 JUSCELINA
SÍNDROME DE DOWN E LINGUAGEM: ANÁLISE DOS ASPECTOS APRÁXICOS NA FALA DE UMA CRIANÇA
 Página 225 de 513 SÍNDROME DE DOWN E LINGUAGEM: ANÁLISE DOS ASPECTOS APRÁXICOS NA FALA DE UMA CRIANÇA Laíse Araújo Gonçalves (LAPEN/UESB/FAPESB) Micheline Ferraz Santos (LAPEN/UESB) Carla Salati Almeida
Página 225 de 513 SÍNDROME DE DOWN E LINGUAGEM: ANÁLISE DOS ASPECTOS APRÁXICOS NA FALA DE UMA CRIANÇA Laíse Araújo Gonçalves (LAPEN/UESB/FAPESB) Micheline Ferraz Santos (LAPEN/UESB) Carla Salati Almeida
ASSIMETRIA INTERHEMISFÉRICA
 ASSIMETRIA INTERHEMISFÉRICA ~ 200 milhões de axônios cruzam para o hemisfério oposto através do corpo caloso Cirurgia de Comissurotomia ou Split-brain Campo visual direito hemisfério esquerdo Campo visual
ASSIMETRIA INTERHEMISFÉRICA ~ 200 milhões de axônios cruzam para o hemisfério oposto através do corpo caloso Cirurgia de Comissurotomia ou Split-brain Campo visual direito hemisfério esquerdo Campo visual
Multiculturalismo e Interculturalidade Propostas de exploração de textos de potencial recepção leitora
 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR Artes e Letras Multiculturalismo e Interculturalidade Propostas de exploração de textos de potencial recepção leitora Ricardo Manuel Ferreira Nunes Cravo Dissertação para
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR Artes e Letras Multiculturalismo e Interculturalidade Propostas de exploração de textos de potencial recepção leitora Ricardo Manuel Ferreira Nunes Cravo Dissertação para
RELAÇÃO ENTRE SINAL ACÚSTICO E INFORMAÇÃO VISUAL NA PERCEPÇÃO DE ASPECTOS PROSÓDICOS
 Página 23 de 507 RELAÇÃO ENTRE SINAL ACÚSTICO E INFORMAÇÃO VISUAL NA PERCEPÇÃO DE ASPECTOS PROSÓDICOS Raveni J. Silva (UESB) Marian (UESB/PPGLin) Vera (UESB/PPGLin) RESUMO O presente estudo busca conferir
Página 23 de 507 RELAÇÃO ENTRE SINAL ACÚSTICO E INFORMAÇÃO VISUAL NA PERCEPÇÃO DE ASPECTOS PROSÓDICOS Raveni J. Silva (UESB) Marian (UESB/PPGLin) Vera (UESB/PPGLin) RESUMO O presente estudo busca conferir
Linguagem e Fala nos Distúrbios de Aprendizagem
 Linguagem e Fala nos Distúrbios de Aprendizagem Disciplina - Aspectos Fonoaudiológicos nos Distúrbios de Aprendizagem Fga. Ms. Adriana de Souza Batista adrianabatista@gmail.com CRDA Curso de Pós-Graduação
Linguagem e Fala nos Distúrbios de Aprendizagem Disciplina - Aspectos Fonoaudiológicos nos Distúrbios de Aprendizagem Fga. Ms. Adriana de Souza Batista adrianabatista@gmail.com CRDA Curso de Pós-Graduação
VOZ E PROCESSAMENTO AUDITIVO: TEM RELAÇÃO??
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO VOZ E PROCESSAMENTO AUDITIVO: TEM RELAÇÃO?? Apresentação: Caroline Pascon (2º ano) Daniele Istile (3º ano) Bárbara Camilo (4ºano) Orientação: Fga. Janine Ramos (Mestranda) Profaª
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO VOZ E PROCESSAMENTO AUDITIVO: TEM RELAÇÃO?? Apresentação: Caroline Pascon (2º ano) Daniele Istile (3º ano) Bárbara Camilo (4ºano) Orientação: Fga. Janine Ramos (Mestranda) Profaª
O PAPEL DOS CONTEXTOS FONÉTICOS NA DELIMITAÇÃO DA TONICIDADE DE FALA ATÍPICA
 Página 51 de 510 O PAPEL DOS CONTEXTOS FONÉTICOS NA DELIMITAÇÃO DA TONICIDADE DE FALA ATÍPICA Flávia de A. Conceição (UESB/UESB) Letícia M. S. da Silva (UESB/FAPESB) Luana A. Ferraz (UESB/CNPq) Marian
Página 51 de 510 O PAPEL DOS CONTEXTOS FONÉTICOS NA DELIMITAÇÃO DA TONICIDADE DE FALA ATÍPICA Flávia de A. Conceição (UESB/UESB) Letícia M. S. da Silva (UESB/FAPESB) Luana A. Ferraz (UESB/CNPq) Marian
Análise comparativa da eficiência de três diferentes modelos de terapia fonológica******
 Helena Bolli Mota* Márcia Keske-Soares** Tatiana Bagetti*** Marizete Ilha Ceron**** Maria das Graças de C. Melo Filha***** Análise comparativa da eficiência de três diferentes modelos de terapia fonológica******
Helena Bolli Mota* Márcia Keske-Soares** Tatiana Bagetti*** Marizete Ilha Ceron**** Maria das Graças de C. Melo Filha***** Análise comparativa da eficiência de três diferentes modelos de terapia fonológica******
Le texte multimodal dans les manuels scolaires au Brésil: une approche méthodologique pour la construction et l analyse d un corpus de discours
 Le texte multimodal dans les manuels scolaires au Brésil: une approche méthodologique pour la construction et l analyse d un corpus de discours Jocenilson Ribeiro Universidade Federal de São Carlos UFSCar-Brasil
Le texte multimodal dans les manuels scolaires au Brésil: une approche méthodologique pour la construction et l analyse d un corpus de discours Jocenilson Ribeiro Universidade Federal de São Carlos UFSCar-Brasil
A RELAÇÃO ENTRE POSIÇÃO DE ÊNFASE SENTENCIAL/PROXIMIDADE DE PAUSA E DURAÇÃO SEGMENTAL NO PB: O CASO DAS FRICATIVAS
 7 de 107 A RELAÇÃO ENTRE POSIÇÃO DE ÊNFASE SENTENCIAL/PROXIMIDADE DE PAUSA E DURAÇÃO SEGMENTAL NO PB: O CASO DAS FRICATIVAS Paula Ferraz Oliveira ** (Uesb) Vera Pacheco *** (Uesb) RESUMO A duração segmental
7 de 107 A RELAÇÃO ENTRE POSIÇÃO DE ÊNFASE SENTENCIAL/PROXIMIDADE DE PAUSA E DURAÇÃO SEGMENTAL NO PB: O CASO DAS FRICATIVAS Paula Ferraz Oliveira ** (Uesb) Vera Pacheco *** (Uesb) RESUMO A duração segmental
RAFAELA CALLEGARI CARNEIRO. PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM IDOSOS NO BRASIL: Uma Revisão de Literatura
 RAFAELA CALLEGARI CARNEIRO PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM IDOSOS NO BRASIL: Uma Revisão de Literatura Belo Horizonte 2010 RAFAELA CALLEGARI CARNEIRO PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM IDOSOS NO BRASIL: Uma Revisão
RAFAELA CALLEGARI CARNEIRO PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM IDOSOS NO BRASIL: Uma Revisão de Literatura Belo Horizonte 2010 RAFAELA CALLEGARI CARNEIRO PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM IDOSOS NO BRASIL: Uma Revisão
Prevalência da gagueira em familiares de probandos com gagueira desenvolvimental persistente familial
 Prevalência da gagueira em familiares de probandos com gagueira desenvolvimental persistente familial Palavras chave: gagueira, prevalência, genética. Introdução Gagueira desenvolvimental é uma interrupção
Prevalência da gagueira em familiares de probandos com gagueira desenvolvimental persistente familial Palavras chave: gagueira, prevalência, genética. Introdução Gagueira desenvolvimental é uma interrupção
ria em indivíduos duos com problemas de gaguez
 Tecnologias de apoio à fluência oratória ria em indivíduos duos com problemas de gaguez Joaquim Matos / José Lopes Jornadas Interdisciplinares sobre Tecnologias de Apoio Escola Superior de Tecnologia da
Tecnologias de apoio à fluência oratória ria em indivíduos duos com problemas de gaguez Joaquim Matos / José Lopes Jornadas Interdisciplinares sobre Tecnologias de Apoio Escola Superior de Tecnologia da
