Anatomofisiologia e fisiopatologia da micção de cães e o uso da cistometria como ferramenta diagnóstica e prognóstica: revisão da literatura
|
|
|
- Artur de Almeida Peixoto
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 [T] Anatomofisiologia e fisiopatologia da micção de cães e o uso da cistometria como ferramenta diagnóstica e prognóstica: revisão da literatura Morphophysiology and pathophysiology of dog s urination and cystometry use as a diagnostic and prognostic tool: literature review [A] doi: /academica Licenciado sob uma Licença Creative Commons Thais Gabrielle de Sousa Lopes da Silva [a], José Ademar Villanova Junior [b] [a] [b] Médica Veterinária, Mestre em Ciência Animal, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Curitiba, PR - Brasil, bizoide@hotmail.com Médico Veterinário, Doutor em Ciências Veterinárias, Professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Curitiba, PR - Brasil, jose.villanova@pucpr.br [Rw Resumo A micção é o mecanismo que permite a eliminação coordenada da urina, em resposta a uma distensão gradual da bexiga urinária. Todo o sistema nervoso está envolvido neste mecanismo, tanto do ponto de vista puramente anatômico: periférico e central, como funcional por meio dos sistemas somático, simpático e parassimpático. O músculo detrusor contém receptores adrenérgicos e colinérgicos (muscarínicos), importantes no enchimento e na contração da bexiga, respectivamente. Os principais receptores para a inervação autônoma eferente do corpo da bexiga são: a) receptores beta-adrenérgicos, responsáveis pela indução do relaxamento do músculo detrusor, permitindo o enchimento da bexiga, e b) receptores colinérgicos (muscarínicos), responsáveis pela sensibilidade vesical e contração do músculo e consequente esvaziamento da bexiga. Em termos práticos, o colo da bexiga pode ser considerado a porção proximal da uretra. O músculo liso da uretra é inervado principalmente pelo nervo hipogástrico e, com frequência, é considerado como um esfíncter interno, embora não seja um esfíncter verdadeiro. O esfíncter externo da uretra é composto de músculos estriados que circundam a uretra distal. O esfíncter externo da uretra é inervado pelo nervo pudendo, que é um nervo motor somático. Os principais receptores para a inervação eferente da uretra são: a) receptores alfa-adrenérgicos - receptores simpáticos responsáveis pela contração do músculo liso do colo da bexiga e da uretra. Essa contração muscular se contrapõe ao fluxo urinário pela uretra e, desse modo, facilita o enchimento da bexiga, e b) receptores colinérgicos nicotínicos - receptores motores somáticos responsáveis pela contração do esfíncter, facilitando o enchimento da bexiga. A cistometria que é, em última análise, o exame neurológico da bexiga, pode ser útil para o diagnóstico de afecções sediadas em todo o neuroeixo, desde o córtex cerebral até as raízes da cauda equina, complementando assim, o exame neurológico; em certas circunstâncias, na vigência de um exame neurológico normal, o exame cistométrico poderá fornecer, por si só, elementos para o diagnóstico. Esta revisão de literatura visa justificar a necessidade de incluir a cistometria no exame neurológico, não apenas como simples complemento, mas como elemento semiótico de real valor e, mesmo, indispensável em determinados casos. [P] Palavras-chave: Bexiga. Inervação. Incontinência urinária. Urodinâmica.
2 84 Silva TGSL, Villanova Jr. JA Abstract Urination is a mechanism that allows the coordinate elimination of urine in response to a progressive distension of the urinary bladder. The entire nervous system is involved in this mechanism, both from a purely anatomical point of view: peripheral and central, and as functional through somatic, sympathetic and parasympathetic systems. The detrusor muscle contains adrenergic and cholinergic (muscarinic), important in the filling and bladder contraction, respectively. The main receptor for autonomous efferent innervation of the body of the bladder are: a) beta-adrenergic, receptors responsible for inducing relaxation of the detrusor muscle, allowing bladder filling, and b) cholinergic (muscarinic), receptors responsible for bladder sensitivity and muscle contraction and consequent emptying of the bladder. In practical terms, the bladder neck may be considered the proximal portion of the urethra. Urethral smooth muscle is innervated mainly by hypogastric nerve and often is considered as an internal sphincter, although not a true sphincter. The urethral external sphincter is composed of striated muscles surrounding the distal urethra. The pudendal nerve, which is a somatic motor nerve, innervates the external sphincter of the urethra. The main receptor for efferent innervation of the urethra are: a) alpha-adrenergic receptors sympathetic receptors responsible for contraction of smooth muscle of the bladder neck and urethra (this muscle contraction is opposed to urine flow through the urethra and thereby facilitates filling the bladder); and b) nicotinic cholinergic receptor - receptor somatic motor responsible for contraction of the sphincter, facilitating the filling of the bladder. The cystometry, which is ultimately neurological examination of the bladder, may be useful for the diagnosis of conditions based on the entire neuraxis from the cerebral cortex to the roots of the cauda equina, thereby complementing the neurological examination; in certain circumstances, in the presence of a normal neurological examination, the examination can provide cystometric alone, elements for diagnosis. This literature review aims to justify the need to include cystometry in neurological examination, not only as a simple addition, but also as semiotic element of real value and even indispensable in certain cases. Keywords: Bladder. Innervation. Urinary incontinence. Urodynamics. Introdução Embora constitua elemento de real importância para o diagnóstico topográfico de afecções do sistema nervoso, o estudo do funcionamento da bexiga por meio da cistometria ainda não é considerado com a devida atenção por grande número de clínicos, neurologistas e urologistas. Poucos são os hospitais veterinários vinculados ou não ao ensino que tem esta ferramenta diagnóstica e prognóstica apesar de ser de fácil execução e de ter grande valor prático. Os mecanismos neurais de controle da micção são muito complexos e é sabido entre os clínicos que nem todos os casos, de início semelhantes entre si, evoluem da mesma maneira (Olby et al., 2003; Fawcett et al., 2007; Lorenz e Kornegay, 2004; Prada, 2014). A cistometria que é, em última análise, o exame neurológico da bexiga pode ser útil para o diagnóstico de afecções sediadas em todo o neuroeixo, desde o córtex cerebral até as raízes da cauda equina, complementando assim, o exame neurológico; em certas circunstâncias, na vigência de um exame neurológico normal, o exame cistométrico poderá fornecer, por si só, elementos para o diagnóstico (Fernández e Bernardini, 2010; Lorenz e Kornegay, 2004). A função anormal pode refletir uma mudança patológica no sistema nervoso, entretanto, a importância do controle nervoso da víscera frequentemente é negligenciada (Chrisman et al., 2005; Fernández e Bernardini, 2010). O exame cistométrico exige conhecimentos, às vezes bastante amplos, da anatomia e fisiopatologia do sistema nervoso central e periférico. Além do exposto, em muitos casos, o exame deverá ser associado ao exame urológico, o qual, mediante a cistoscopia e a cistografia, fornecerá dados sobre o estado da musculatura vesical e sobre a estruturação do órgão (D Ancona, 2015). Esta revisão de literatura visa justificar a necessidade de incluir a cistometria no
3 Anatomofisiologia e fisiopatologia da micção de cães e o uso da cistometria como ferramenta diagnóstica e prognóstica: revisão da literatura 85 exame neurológico, não apenas como simples complemento, mas como elemento semiótico de real valor e, mesmo, indispensável em determinados casos (D Ancona, 2015). Anátomo-fisiologia dos mecanismos de micção Mecanismos neurais e controle da micção A micção é o mecanismo que permite a eliminação coordenada da urina, em resposta a uma distensão gradual da bexiga urinária. Todo o sistema nervoso (SN) está envolvido neste mecanismo, tanto do ponto de vista puramente anatômico: central e periférico, como funcional por meio dos sistemas parassimpático, simpático e somático (Fernández e Bernardini, 2010; Fitzmaurice, 2011). A forma da bexiga é variável, o órgão vazio poderá ter a forma esférica no caso de estar contraído ou apresentar-se achatado quando estiver relaxado. A bexiga cheia tem a forma ovoide. Distingue-se na bexiga uma porção maior e cranial, o corpo, e uma porção menor e caudal, o colo. A região situada entre o orifício uretral e os dois orifícios ureterais constitui o trígono vesical. A bexiga é constituída principalmente de três camadas de músculo liso, coletivamente denominadas músculo detrusor. Há também as camadas mucosa, submucosa e serosa. O músculo detrusor contém receptores adrenérgicos e colinérgicos (muscarínicos), importantes no enchimento e contração da bexiga, respectivamente (Dewey, 2006). Os principais receptores para a inervação autônoma eferente do corpo da bexiga são: Receptores beta-adrenérgicos receptores simpáticos inervados pelo nervo hipogástrico que, em cães, se origina no segmento L1-L4 da medula espinhal, em gatos, no segmento L2-L5. O estímulo desses receptores induz ao relaxamento do músculo detrusor, permitindo o enchimento da bexiga. Receptores colinérgicos muscarínicos receptores parassimpáticos inervados pelo nervo pélvico, que se origina no segmento sacral S1-S3 da medula espinhal. O estímulo desses receptores induz à contração do músculo detrusor e consequente esvaziamento da bexiga. Na parede da bexiga há também receptores sensitivos (estiramento e dor). Os receptores de estiramento são inervados pelos axônios aferentes que passam pelo nervo pélvico, em direção aos segmentos sacrais da medula espinhal. Os receptores da dor são inervados pelos axônios aferentes que passam pelo nervo pélvico e, principalmente, pelo nervo hipogástrico (Sharp e Wheeler, 2005; Prada, 2014). Em termos práticos, o colo da bexiga pode ser considerado a porção proximal da uretra. O músculo liso da uretra é inervado principalmente pelo nervo hipogástrico e, com frequência, é considerado como um esfíncter interno, embora não seja um esfíncter verdadeiro. O esfíncter externo da uretra é composto de músculos estriados que circundam a uretra distal. O esfíncter externo da uretra é inervado pelo nervo pudendo, que é um nervo motor somático cujos corpos celulares se localizam em segmentos sacrais da medula espinhal (principalmente S1 e S2). Os principais receptores para a inervação eferente da uretra são: Receptores alfa-adrenérgicos: receptores simpáticos inervados pelo nervo hipogástrico. O estímulo desses receptores induz à contração do músculo liso do colo da bexiga e da uretra. Essa contração muscular se contrapõe ao fluxo urinário pela uretra e, desse modo, facilita o enchimento da bexiga. Receptores colinérgicos nicotínicos: receptores motores somáticos localizados no esfíncter externo da uretra e são inervados pelo nervo pudendo. O controle desse nervo é voluntário, porém os seus corpos celulares neuronais localizados na porção sacra da medula espinhal também recebem estímulo aferente involuntário. O estímulo desses receptores induz à contração do esfíncter, facilitando o enchimento da bexiga (Sharp e Wheeler, 2005). De modo semelhante à bexiga, a parede da uretra contém receptores sensitivos que transmitem informação a respeito da distensão (estiramento), de dor e do fluxo urinário. Esses receptores são inervados por axônios aferentes que passam pelo nervo pudendo e alcançam os segmentos sacrais da medula espinhal (Fernández e Bernardini, 2010; Prada, 2014).
4 86 Silva TGSL, Villanova Jr. JA Vias neurais envolvidas no preenchimento da bexiga O preenchimento da bexiga resulta da constante chegada de urina pelos ureteres. Ao contrário do que pode parecer, é um processo ativo, pois o relaxamento e consequente distensão da bexiga urinária depende de um mecanismo ativo a cargo do sistema nervoso simpático. Os neurônios pré-ganglionares simpáticos encontram-se na coluna lateral dos segmentos L1-L4 da substância cinzenta da medula espinhal e seus axônios abandonam a medula pela raiz ventral dos nervos espinhais. Via ramo comunicante branco chegam ao tronco simpático e então se dirigem ao plexo aorticoabdominal, onde fazem sinapse no gânglio mesentérico caudal. Os axônios dos neurônios pós-ganglionares formam os nervos hipogástricos esquerdo e direito que contribuem para a formação do plexo pélvico, terminando em receptores beta da parede da bexiga, inibindo o tono da musculatura lisa e em receptores alfa do colo da bexiga, incrementando o tono da musculatura lisa (Fernández e Bernardini, 2010; Prada, 2014). Via aferente da sensação de plenitude vesical À medida que a bexiga vai se distendendo, passam a ser estimulados receptores sensoriais localizados em sua parede, sendo essa informação transmitida pelo nervo pélvico à raiz dorsal dos nervos espinhais dos segmentos S1-S3 a medula espinhal. Essas fibras sensitivas efetuam sinapses com: Interneurônios que se comunicam ao sistema proprioceptivo multissináptico dos fascículos próprios e alcançam os corpos dos neurônios simpáticos dos segmentos L1-L4 e os corpos dos neurônios motores somáticos do corno ventral da substância cinzenta da medula espinhal, denominado neurônio motor inferior (NMI), cujo axônio irá inervar o músculo uretral (somático voluntário) que funciona à maneira de esfíncter, favorecendo a retenção urinária. Estabelece-se, assim, um arco reflexo relacionado ao mecanismo de preenchimento da bexiga. Interneurônios que fazem sinapse inibitória com neurônios pré-ganglionares parassimpáticos de segmentos sacrais da medula espinhal, envolvidos no mecanismo de esvaziamento da bexiga. Neurônios da formação reticular que transmitem a sensação de plenitude ao tronco encefálico, cerebelo e tálamo, por uma via espinorreticular. Neurônios que formam o trato espinotalâmico e constituem, com a formação reticular, uma via de acesso bilateral ao tálamo e aos centros superiores. Assim, tem-se a ideia de que a sensação de plenitude tem caráter proprioceptivo, pois resulta do grau de distensão das fibras lisas que compõem a parede da bexiga (músculo detrusor), sendo transmitida por uma via espinorreticular ao tronco encefálico (Pellegrino et al., 2003; Prada, 2014). De Lahunta e Glass (2009) afirmam que essa sensação é transmitida ao tronco encefálico pelo fascículo grácil. Por sua vez, a sensação de plenitude acompanha a sensação de desconforto nos estados de intenso preenchimento da bexiga, sensação esta que é transmitida, via trato espinotalâmico, aos centros superiores. Uma vez atingido determinado grau de distensão da parede da bexiga urinária, essa informação chega ao tálamo, pelas vias neurais já consideradas e, em seguida, ao córtex cerebral, tornando-se consciente. A região sensorial cortical específica para o músculo detrusor encontra-se no córtex frontal, em correspondência ao joelho do corpo caloso (Prada, 2014). Mecanismo de esvaziamento da bexiga urinária Existem duas vias motoras que se acham implicadas no mecanismo de esvaziamento da bexiga, sendo uma motora somática voluntária, que se inicia no córtex motor e termina no músculo uretral (esfíncter somático) e outra motora visceral parassimpática que se inicia no hipotálamo e termina no músculo detrusor da parede da bexiga. Esses dois centros mantêm interconexões com a área cortical pré-frontal (transdutora de estados psíquicos) e com estruturas do sistema límbico (relacionado à expressão de comportamentos acompanhados de emoções), motivo pelo qual o mecanismo da micção sofre profundas influências de estados psíquicos e emocionais. Esses centros
5 Anatomofisiologia e fisiopatologia da micção de cães e o uso da cistometria como ferramenta diagnóstica e prognóstica: revisão da literatura 87 mantêm ainda conexões com núcleos do sistema somático extrapiramidal e áreas da formação reticular do tronco encefálico, conhecidas como centros motores detrusores subcorticais (De Lahunta e Glass, 2009; Lorenz e Kornegay, 2004; Prada, 2014). A partir do tronco encefálico, os impulsos corticais voluntários para a micção alcançam, com atuação inibitória, os corpos dos neurônios motores somáticos da coluna ventral dos segmentos sacrais da substância cinzenta da medula espinhal. Os axônios desses neurônios motores inferiores (NMI) chegam diretamente ao músculo uretral, inibindo seu tono, promovendo, portanto, o seu relaxamento e permitindo, assim, o fluxo da urina pelo canal uretral. Por sua vez, a ação autonômica do hipotálamo no processo de esvaziamento da bexiga também se vale das suas conexões com a formação reticular e, via trato reticuloespinhal, alcança os neurônios préganglionares parassimpáticos localizados na porção lateral da lâmina VII, nos segmentos S1- S3 da substância cinzenta da medula espinhal. As fibras desses neurônios abandonam a medula espinhal pela raiz ventral dos nervos espinhais, formando os nervos pélvicos esquerdo e direito (De Lahunta e Glass, 2009; Lorenz e Kornegay, 2004; Prada, 2014). Em gânglios viscerais muito próximos à bexiga ou mesmo intramurais, efetuam sinapses com os neurônios pós-ganglionares, cuja atuação estimula a contração do músculo detrusor, iniciando-se assim, o processo de esvaziamento da bexiga. Nesse processo é importante considerar que as fibras lisas componentes do músculo detrusor dispõem-se na parede da bexiga e estendem-se para o seu colo, de tal maneira que, uma vez contraindo-se, dilatam sua luz, o que possibilita o fluxo da urina para fora da bexiga. Ao contrário da existência de um esfíncter de musculatura somática, constituído pelo músculo uretral, não existe um esfíncter correspondente de musculatura lisa no colo da bexiga. A própria disposição de fibras do músculo detrusor é que mantêm o colo fechado durante a etapa de preenchimento da bexiga (De Lahunta e Glass, 2009; Lorenz e Kornegay, 2004; Prada, 2014). Como mecanismo auxiliar, também pode ser acionada voluntariamente a participação dos músculos abdominais. Quanto à participação do cerebelo, aceita-se que ele tenha ação moduladora no processo de esvaziamento da bexiga (De Lahunta e Glass, 2009; Lorenz e Kornegay, 2004). Além dessas estruturas cerebrais envolvidas no mecanismo de esvaziamento da bexiga (córtex motor e hipotálamo), é importante lembrar que esse processo também pode ocorrer por uma ação reflexa e automática, envolvendo apenas a medula espinhal e a inervação periférica. Neste caso, os neurônios sensoriais procedentes da bexiga e que caminham pelos nervos pélvicos esquerdo e direito entram pela raiz dorsal dos nervos espinhais da região sacral da medula espinhal e efetuam sinapse com interneurônios que passam a ter o seguinte comportamento: Incorporam-se ao sistema proprioceptivo multissináptico (fascículo próprio) para alcançarem os segmentos L1-L4 da medula espinhal, onde efetuam sinapse com os neurônios pós-ganglionares simpáticos localizados na coluna lateral da substância cinzenta, com ação inibitória sobre eles, isto é, impedindo a continuidade do processo de preenchimento da bexiga. Realizam-se sinapse com ação facilitatória, com os neurônios pré-ganglionares parassimpáticos da porção lateral da lâmina VII da substância cinzenta dos segmentos sacrais da medula espinhal, estimulando, assim, a contração do músculo detrusor da bexiga. Efetuam sinapse com ação inibitória, com motoneurônios alfa do corno ventral da substância cinzenta dos segmentos sacrais da medula espinhal, que inervam o músculo uretral (estriado), relaxando-o e permitindo assim o fluxo de urina (Prada, 2014; D Ancona, 2015). Para finalizar esta sumária recapitulação anátomo-fisiológica será necessário lembrar que as vísceras, quando privadas de seu sistema nervoso extrínseco simpático e parassimpático podem continuar a funcionar, graças aos plexos nervosos intramurais. A bexiga possui também um aparelho nervoso autônomo intraparietal capaz de, por meio de reflexos curtos, assegurar parcialmente o funcionamento do órgão quando este estiver isolado do sistema nervoso central. São as células nervosas, uni ou multipolares, existentes em grande número na parede vesical, que constituem
6 88 Silva TGSL, Villanova Jr. JA os pequenos centros nervosos periféricos, dos quais depende a autonomia do músculo liso vesical, quando este se achar desligado da medula. No entanto, esse funcionamento será imperfeito e insuficiente (Lorenz e Kornegay, 2004; Prada, 2014; D Ancona, 2015). Fisiopatologia da micção Distúrbios miccionais decorrentes de lesões intracranianas Pellegrino et al. (2003), De Lahunta e Glass (2009) e Lorenz e Kornegay (2004), estudaram os distúrbios vesicais nas lesões cerebrais e concluíram que, para poder instalar-se um distúrbio da micção em indivíduos portadores de lesões cerebrais, é necessário que estas sejam bilaterais, ainda que somente funcionais e apenas comprovadas por alterações do eletroencefalograma. Nas lesões unilaterais é indispensável que o estado da consciência esteja bastante comprometido para que ocorram repercussões na micção. Esses autores encontraram, na maior parte dos doentes com lesões expansivas cerebrais unilaterais, diminuição da capacidade fisiológica da bexiga devido ao aumento do tono postural, e acentuada contratilidade, característica da bexiga não inibida. Entretanto, mediante estudos eletroencefalográficos, tais pesquisas verificaram que a disfunção vesical só se manifesta quando existe comprometimento pelo menos funcional de ambos os hemisférios, ou quando estejam alteradas as estruturas profundas diencefálicas, sede de importantes centros da representação vegetativa vesical. Esses autores não puderam fazer correlação exata entre o local da lesão expansiva e o caráter e intensidade da disfunção vesical. Sinais clínicos relacionados a lesões das vias neurais envolvidas no controle da micção Apresentam diferenças nos sinais relacionados a lesões dos centros superiores com aqueles decorrentes de lesões de estruturas periféricas. Lesões de centros superiores (neurônios motores superiores NMS) Os sinais mais característicos são os seguintes: Perda do controle voluntário da micção; Perda da sensação de repleção vesical; Retenção urinária e distensão vesical; Hipertonia do esfíncter uretral (somático); Eliminação da urina em gotas ou pequenos jatos; Permanência de pequeno resíduo de urina, após o esvaziamento da bexiga. De modo geral, em poucos dias, o reflexo se restabelece, havendo parcial eliminação de urina. Nestes casos, ajudaria bastante a atuação da pressão abdominal, o que no ser humano consciente é investido como recurso auxiliar. Este quadro é conhecido como bexiga automática ou espinal, pois o esvaziamento do reservatório depende da integridade do arco reflexo (Sharp e Wheeler, 2005; Prada, 2014). Lesões periféricas (neurônios motores inferiores - NMI) Abaixo, são relacionados os sinais mais característicos: Perda de arco reflexo; Bexiga denervada arreflexia; Perda de controle voluntário; Eliminação por reflexo intramural (o músculo liso quando denervado não se atrofia); Incontinência, grande resíduo de urina após micção; Hipotonia do esfíncter uretral (somático). Este quadro é conhecido como bexiga autônoma (Sharp e Wheeler, 2005; Prada, 2014). O controle da micção envolve diversas estruturas neurais e, inclusive, fatores emocionais, caracterizando-se, portanto, como mecanismo complexo sobre o qual não há absoluto consenso na literatura pertinente. Entretanto, vale considerar que o conceito de arreflexia do músculo detrusor em lesões do NMS sobre os segmentos lombares, ainda que amplamente empregado, não é correto, uma vez que o reflexo de esvaziamento implica
7 Anatomofisiologia e fisiopatologia da micção de cães e o uso da cistometria como ferramenta diagnóstica e prognóstica: revisão da literatura 89 sobretudo os segmentos sacrais, e se estes não se encontram lesados, o reflexo permanece. Também não é correto empregar os conceitos de NMS e NMI quando nos referimos ao SNA (Prada, 2014). Concluindo, a perda da capacidade de esvaziamento da bexiga deve-se especialmente à lesão do NMS sobre o músculo estriado uretral e a perda de sensação de plenitude, nos centros superiores, por interrupção das vias conscientes de acesso (De Lahunta e Glass, 2009; Lorenz e Kornegay, 2004). Cistometria em cães A cistometria é o registro da pressão vesical durante a fase de enchimento (Figura 1). As primeiras medidas da pressão vesical foram realizadas por Mosso e Pelacani em 1881, e somente em 1927 iniciou-se o enchimento artificial da bexiga. Na década de 1950, começouse a utilizar aparelhos delicados ao estudo urodinâmico e nos anos 1980 e 1990, com a incorporação do computador, houve um grande avanço dos aparelhos (Platt e Olby, 2013; D Ancona, 2015). A pressão vesical (PVes) é o registro da pressão dentro da bexiga e representa a pressão da bexiga acrescida da pressão abdominal (Pabd). A medida pode ser feita através de cateter uretral ou suprapúbico, conectado a transdutor de pressão, que amplifica o sinal e é registrado no aparelho de urodinâmica (De Lahunta e Glass, 2009; D Ancona, 2015). A bexiga tem a propriedade de armazenar grande volume à baixa pressão, e à medida que vai sendo realizado o enchimento vesical, ocorre pequeno aumento da pressão. Inicialmente, aumenta a Pves devido à resistência viscoelástica à distenção vesical. Continuando o enchimento, verifica-se discreto aumento da Pves com grande aumento de volume. Quando atinge a capacidade vesical máxima, ocorre discreto aumento da Pves devido ao estiramento das fibras colágenas da bexiga (Platt e Olby, 2013). Durante a cistometria, com a mobilização do paciente, ocorre aumento da Pves e para confirmar se tem alguma atividade do detrusor é necessário medir a pressão abdominal (Pabd). A Pabd é registrada através de um cateter com balão na extremidade, induzido no reto. O balão é utilizado para que o material fecal ou a mucosa retal não obstrua o orifício do cateter; portanto, o balão não deve exercer pressão. A pressão vesical menos a pressão abdominal é igual a pressão do detrusor (Pdet). O cateter de balão é preenchido com líquido, com o cuidado de retirar as bolhas de ar [Pdet = Pves - Pabd] (D Ancona, 2015). Parâmetros Através da cistometria obtêm-se as seguintes informações: Figura 1 - Cão com paraplegia e incontinência urinária submetido à avaliação cistométrica. Nota: As sondas retal e uretral que estão inseridas no paciente estão ligadas à transdutores do aparelho de urodinâmica que está conectado ao notebook. Atividade do detrusor; Capacidade vesical; Complacência vesical; Sensibilidade vesical (Goldstein e Westropp, 2005). Detrusor normal Durante a fase de enchimento vesical, a Pves mantém-se baixa e não são observadas contrações involuntárias do detrusor, mesmo após manobras
8 90 Silva TGSL, Villanova Jr. JA provocativas. O detrusor normal também é chamado de estável (Goldstein e Westropp, 2005; De Lahunta e Glass, 2009). Detrusor hiperativo Caracteriza-se por apresentar contrações involuntárias que podem ser espontâneas ou desencadeadas por manobras provocativas que o paciente não consegue inibir. Quando as contrações involuntárias estão relacionadas com lesão neurológica, considera-se como hiperreflexia do detrusor e nos casos em que não existe lesão neurológica, denomina-se instabilidade do detrusor (Goldstein e Westropp, 2005; Groat e Yoshimura, 2012; D Ancona, 2015). As manobras provocativas incluem enchimento rápido, mudança de decúbito, tossir, pular e outras. Nos pacientes com lesão neurológica as contrações são, muitas vezes, assintomáticas. Nos pacientes sem lesão neurológica, apresentam sinais de polaciúria, nictúria, urgência urinária. Caso o paciente sem lesão neurológica não tenha sintomas, não deve ser considerado o diagnóstico de instabilidade do detrusor. Considerava-se que as contrações devem ser maiores de 15cm de H 2 O (Goldstein e Westropp, 2005; De Lahunta e Glass, 2009; D Ancona, 2015). Capacidade vesical e sua relação clínica Representa a quantidade de urina que a bexiga pode conter. No cão adulto, a capacidade vesical varia muito. Para saber a capacidade vesical antes de realizar a cistometria, a bexiga é esvaziada por sondagem (Goldstein e Westropp, 2005). O diagnóstico de instabilidade detrusora idiopática é obtido por cistometria. Como visto na Figura 1, durante este teste, um cateter é colocado na bexiga, a qual é lentamente preenchida com solução salina. A bexiga canina normal irá permitir o enchimento sem interrupção até um volume limiar de 22 ml/ kg. Cães com instabilidade detrusor idiopática iniciam contrações vesicais involuntárias em volume da bexiga bastante reduzido (Acierno e Senior, 2009). Os autores desta revisão, têm observado em estudos cistométricos experimentais, realizados em cães hígidos, a ocorrência de desconforto e desejo de micção a partir dos 10-12ml/kg. Volume vesical residual Volume vesical residual (VVR) é definido como o volume de urina remanescente na bexiga imediatamente após a conclusão da micção. Este volume tem sido usado como índice da capacidade de esvaziamento da bexiga (Sharp e Gookin, 1995; Atalan et al., 1999). Atalan et al. (1999) observaram em seus estudos que o VVR de cães normais variou de 0,1 a 3,4 ml/kg, e que o VVR de cães normais era significativamente menor do que o de cães com distúrbios neurológicos ou doenças obstrutivas. Complacência vesical (C) É a capacidade da bexiga de armazenar urina sob baixa pressão. A complacência é medida por meio da divisão do volume infundido pela diferença de pressão vesical ou do detrusor. C = (V1 - V0) (P1 - P0) V1 V0 V1 é o volume infundido na bexiga, e V0 é o volume que está na bexiga no início do exame. P1 P0 P1 é a pressão no final da fase de enchimento vesical e P0 a pressão no início do exame. Considera-se complacência normal quando a resultante for maior de 10ml/cm de H 2 O, mas os valores absolutos ainda não estão bem estabelecidos. Baixa complacência é quando a bexiga perde a capacidade de distensibilidade e a resultante é menor de 10ml/cmH 2 O (Goldstein e Westropp, 2005; Platt e Olby, 2013; D Ancona, 2015). Sensibilidade vesical É um dado subjetivo e difícil de ser avaliado. Geralmente, a sensibilidade é avaliada durante a fase de enchimento vesical, quando o cão se mostra agitado e precede contrações vigorosas abdominais e micção (Lorenz e Kornegay, 2004).
9 Anatomofisiologia e fisiopatologia da micção de cães e o uso da cistometria como ferramenta diagnóstica e prognóstica: revisão da literatura 91 Conclusão A cistometria permite o registro contínuo da relação volume/pressão na bexiga urinária durante a fase de enchimento vesical. É, indubitavelmente, um importante meio para avaliar a complacência, sensibilidade, capacidade vesical e as pressões vesicais, abdominais e detrusoras. Isso nos indica se o paciente possui ou se recuperou a funcionalidade vesical e/ou esfincteriana. Referências Acierno MJ, Senior DF. Urinary disorders. In: Schaer M. Clinical medicine of the dog and cat. 2. ed. Boca Raton, FL: CRC Press. 2009; Atalan G, Barr FJ, Holt PE. Frequency of urination and ultrasonographic estimation of residual urine in normal and dysuric dogs. Research in Veterinary Science. 1999; 67(3): Chrisman C, Mariani C, Platt S, Clemmons R. Neurologia para o clínico de pequenos animais. São Paulo: Editora Roca; D Ancona CAL. Avaliação urodinâmica e suas aplicações clínicas. São Paulo: Editora Atheneu; De Lahunta A, Glass EN. Veterinary neuroanatomy and clinical neurology. 3. ed. St. Louis, MO: Elsevier Saunders; Dewey CW. Neurologia de cães e gatos: guia prático. São Paulo: Editora Roca; Fawcett JW, Curt A, Steeves JD, Coleman WP, Tuszynski MH, Lammertse D et al. Guidelines for the conduct of clinical trials for spinal cord injury as developed by the ICCP panel: spontaneous recovery after spinal cord injury and statistical power needed for therapeutic clinical trials. Spinal Cord. 2007; 45(3): Fernández VL, Bernardini M. Neurologia em cães e gatos. São Paulo: MedVet; Fitzmaurice SN. NMS: fratura da coluna vertebral. In: Fitzmaurice SN. Neurologia em pequenos animais. Rio de Janeiro: Elsevier. 2011; Goldstein RE, Westropp JL. Urodynamic testing in the diagnosis of small animal micturition disorders. Clinical Techniques in Small Animal Practice. 2005, 20(1): doi: /j.ctsap Groat WC, Yoshimura N. Plasticity in reflex pathways to the lower urinary tract following spinal cord injury. Experimental Neurology. 2012; 235(1): doi: /j.expneurol Lorenz MD, Kornegay JN. Handbook of veterinary neurology. 4. ed. St. Louis, MO: Elsevier Saunders; Olby N, Levine J, Harris T, Muñana K, Skeen T, Sharp N. Long-term functional outcome of dogs with severe injuries of the thoracolumbar spinal cord: 87 cases ( ). Journal of the American Veterinary Medical Association. 2003; 222(6): doi: /javma Pellegrino F, Suraniti A, Garibaldi l. Síndromes neurológicas em cães e gatos: avaliação clínica, diagnóstico e tratamento. São Caetano do Sul: Interbook; Platt S, Olby N. BSAVA Manual of canine and feline neurology. 4. ed. London: British Small Animal Veterinary Association; Prada I. Neuroanatomia funcional em Medicina Veterinária com correlações clínicas. São Paulo: Editora Terra Molhada; Sharp NJH, Wheeler SJ. Small animal spinal disorders: diagnosis and surgery. 2. ed. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier; Sharp NJH, Gookin J. Visceral and bladder dysfunction dysautonomia. In: Wheeler SJ (Ed.). BSAVA Manual of small animal neurology. 2. ed. London: British Small Animal Veterinary Association. 1995; Recebido em: 10/04/2016 Received in: 04/10/2016 Aprovado em: 03/06/2016 Approved in: 06/03/2016
Anatomia e Fisiologia da Micção. José Carlos Truzzi Doutor em Urologia UNIFESP Chefe do Departamento de Uroneurologia da SBU
 Anatomia e Fisiologia da Micção José Carlos Truzzi Doutor em Urologia UNIFESP Chefe do Departamento de Uroneurologia da SBU Urotélio Epitélio do TUI (pelve bexiga) Camada basal Camada intermediária Camada
Anatomia e Fisiologia da Micção José Carlos Truzzi Doutor em Urologia UNIFESP Chefe do Departamento de Uroneurologia da SBU Urotélio Epitélio do TUI (pelve bexiga) Camada basal Camada intermediária Camada
ANATOMIA HUMANA. Faculdade Anísio Teixeira Prof. João Ronaldo Tavares de Vasconcellos Neto
 ANATOMIA HUMANA Faculdade Anísio Teixeira Prof. João Ronaldo Tavares de Vasconcellos Neto Do ponto de vista funcional pode-se dividir o sistema nervoso em SN somático e SN visceral. Sistema Nervoso somático
ANATOMIA HUMANA Faculdade Anísio Teixeira Prof. João Ronaldo Tavares de Vasconcellos Neto Do ponto de vista funcional pode-se dividir o sistema nervoso em SN somático e SN visceral. Sistema Nervoso somático
REGULAÇÃO E COORDENAÇÃO
 SISTEMA NERVOSO REGULAÇÃO E COORDENAÇÃO Sistema nervoso x Sistema hormonal Interpretar estímulos e gerar respostas Percepção das variações do meio (interno e externo) Homeostase = equilíbrio Tecido nervoso
SISTEMA NERVOSO REGULAÇÃO E COORDENAÇÃO Sistema nervoso x Sistema hormonal Interpretar estímulos e gerar respostas Percepção das variações do meio (interno e externo) Homeostase = equilíbrio Tecido nervoso
Síndromes medulares. Amilton Antunes Barreira Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica FMRP - USP
 Síndromes medulares Amilton Antunes Barreira Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica FMRP - USP Transsecção completa da medula espinal *Interrupção dos tratos motores e sensitivos
Síndromes medulares Amilton Antunes Barreira Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica FMRP - USP Transsecção completa da medula espinal *Interrupção dos tratos motores e sensitivos
MEDULA ESPINHAL FUNÇÃO. Prof. João M. Bernardes. A medula desempenha duas funções principais:
 MEDULA ESPINHAL Prof. João M. Bernardes FUNÇÃO A medula desempenha duas funções principais: Conduz os impulsos nervosos do encéfalo para a periferia e vice-versa; Processa informações sensitivas de forma
MEDULA ESPINHAL Prof. João M. Bernardes FUNÇÃO A medula desempenha duas funções principais: Conduz os impulsos nervosos do encéfalo para a periferia e vice-versa; Processa informações sensitivas de forma
Encéfalo. Aula 3-Fisiologia Fisiologia do Sistema Nervoso Central. Recebe informações da periferia e gera respostas motoras e comportamentais.
 Aula 3-Fisiologia Fisiologia do Sistema Nervoso Central Sidney Sato, MSC Encéfalo Recebe informações da periferia e gera respostas motoras e comportamentais. 1 Áreas de Brodmann Obs: Áreas 1,2,3 : área
Aula 3-Fisiologia Fisiologia do Sistema Nervoso Central Sidney Sato, MSC Encéfalo Recebe informações da periferia e gera respostas motoras e comportamentais. 1 Áreas de Brodmann Obs: Áreas 1,2,3 : área
Sistema Nervoso. Biologia. Tema: Sistema Nervoso
 Biologia Tema: Sistema Nervoso Estrutura de um neurônio Células de Schawann 1) Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar
Biologia Tema: Sistema Nervoso Estrutura de um neurônio Células de Schawann 1) Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar
Fisiologia Animal. Sistema Nervoso. Professor: Fernando Stuchi
 Fisiologia Animal Sistema Nervoso Professor: Fernando Stuchi Sistema Nervoso Exclusivo dos animais, vale-se de mensagens elétricas que caminham pelos nervos mais rapidamente que os hormônios pelo sangue.
Fisiologia Animal Sistema Nervoso Professor: Fernando Stuchi Sistema Nervoso Exclusivo dos animais, vale-se de mensagens elétricas que caminham pelos nervos mais rapidamente que os hormônios pelo sangue.
Sistema Nervoso Central Quem é o nosso SNC?
 Controle Nervoso do Movimento Muscular Sistema Nervoso Central Quem é o nosso SNC? 1 SNC Encéfalo Medula espinhal Encéfalo - Divisão anatômica Cérebro Cerebelo Tronco encefálico 2 Condução: Vias ascendentes
Controle Nervoso do Movimento Muscular Sistema Nervoso Central Quem é o nosso SNC? 1 SNC Encéfalo Medula espinhal Encéfalo - Divisão anatômica Cérebro Cerebelo Tronco encefálico 2 Condução: Vias ascendentes
1) Introdução. 2) Organização do sistema nervoso humano. Sistema Nervoso Central (SNC) Sistema Nervoso Periférico (SNP) Cérebro Cerebelo.
 1) Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do
1) Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do
SISTEMA NERVOSO. Prof.ª Leticia Pedroso
 SISTEMA NERVOSO Prof.ª Leticia Pedroso SISTEMA NERVOSO Formado por bilhões de NEURÔNIOS, células especializadas, que transmitem e recebem mensagens interligando os centros nervosos aos órgãosgerando impulsos
SISTEMA NERVOSO Prof.ª Leticia Pedroso SISTEMA NERVOSO Formado por bilhões de NEURÔNIOS, células especializadas, que transmitem e recebem mensagens interligando os centros nervosos aos órgãosgerando impulsos
Desenvolvimento Embrionário
 Desenvolvimento Embrionário SISTEMA NERVOSO Desenvolvimento Embrionário Telencéfalo Cérebro Meninges + Ossos Todo o sistema nervoso central é envolvido por três camadas de tecido conjuntivo, denominadas
Desenvolvimento Embrionário SISTEMA NERVOSO Desenvolvimento Embrionário Telencéfalo Cérebro Meninges + Ossos Todo o sistema nervoso central é envolvido por três camadas de tecido conjuntivo, denominadas
Prof. Me. Alexandre Correia Rocha
 Prof. Me. Alexandre Correia Rocha www.professoralexandrerocha.com.br alexandre.personal@hotmail.com Ementa Apresentar um corpo de conhecimento para melhor entender as respostas fisiológicas mediante a
Prof. Me. Alexandre Correia Rocha www.professoralexandrerocha.com.br alexandre.personal@hotmail.com Ementa Apresentar um corpo de conhecimento para melhor entender as respostas fisiológicas mediante a
Tronco Encefálio e Formação Reticular. Msc. Roberpaulo Anacleto
 Tronco Encefálio e Formação Reticular Msc. Roberpaulo Anacleto TRONCO ENCEFÁLICO -Área do encéfalo que estende-se desde a medula espinhal até o diencéfalo TRONCO ENCEFÁLICO = BULBO + PONTE + MESENCÉFALO
Tronco Encefálio e Formação Reticular Msc. Roberpaulo Anacleto TRONCO ENCEFÁLICO -Área do encéfalo que estende-se desde a medula espinhal até o diencéfalo TRONCO ENCEFÁLICO = BULBO + PONTE + MESENCÉFALO
Sistema Nervoso. Aula Programada Biologia. Tema: Sistema Nervoso
 Aula Programada Biologia Tema: Sistema Nervoso 1) Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas,
Aula Programada Biologia Tema: Sistema Nervoso 1) Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas,
Sistema nervoso central (SNC) Sistema nervoso periférico (SNP) Neurônio
 Introdução ao Estudo Sistema Nervoso nos Animais Domésticos Sistema nervoso central (SNC) Medula espinhal Sistema nervoso periférico (SNP) Nervos Gânglios associados Profa. Rosane Silva encéfalo Medula
Introdução ao Estudo Sistema Nervoso nos Animais Domésticos Sistema nervoso central (SNC) Medula espinhal Sistema nervoso periférico (SNP) Nervos Gânglios associados Profa. Rosane Silva encéfalo Medula
SISTEMA NERVOSO FUNÇÕES
 SISTEMA NERVOSO SISTEMA NERVOSO Sempre vivo com eletricidade, o SN é a principal rede de comunicação e coordenação do corpo. É tão vasta e complexa que numa estimativa reservada, todos os nervos de um
SISTEMA NERVOSO SISTEMA NERVOSO Sempre vivo com eletricidade, o SN é a principal rede de comunicação e coordenação do corpo. É tão vasta e complexa que numa estimativa reservada, todos os nervos de um
SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO
 SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PROF. PEDRO OLIVEIRA HISTÓRICO FUNÇÃO HOMEOSTÁTICA * CLAUDE BERNARD (1813 1878) ANATOMIA * WALTER GASKELL (1847 1925) * JOHN LANGLEY (1852
SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PROF. PEDRO OLIVEIRA HISTÓRICO FUNÇÃO HOMEOSTÁTICA * CLAUDE BERNARD (1813 1878) ANATOMIA * WALTER GASKELL (1847 1925) * JOHN LANGLEY (1852
Fisiologia Humana Sistema Nervoso. 3 ano - Biologia I 1 período / 2016 Equipe Biologia
 Fisiologia Humana Sistema Nervoso 3 ano - Biologia I 1 período / 2016 Equipe Biologia ! Função: processamento e integração das informações.! Faz a integração do animal ao meio ambiente! Juntamente com
Fisiologia Humana Sistema Nervoso 3 ano - Biologia I 1 período / 2016 Equipe Biologia ! Função: processamento e integração das informações.! Faz a integração do animal ao meio ambiente! Juntamente com
Plano de Aula Medula espinal Diagnóstico topográfico
 Plano de Aula Medula espinal Diagnóstico topográfico Prof. Dr. José Carlos B. Galego 1-Introdução: A medula espinal estende-se da base do crânio até o nível da segunda vértebra lombar, por onde cursam
Plano de Aula Medula espinal Diagnóstico topográfico Prof. Dr. José Carlos B. Galego 1-Introdução: A medula espinal estende-se da base do crânio até o nível da segunda vértebra lombar, por onde cursam
Fisiologia. Iniciando a conversa. Percebendo o mundo. Sistema Nervoso
 Fisiologia 2 Sistema Nervoso Iniciando a conversa Percebendo o mundo Na aula desta semana, vamos abordar um dos sistemas mais relacionados ao processo ensino-aprendizagem: o sistema nervoso. Iniciaremos
Fisiologia 2 Sistema Nervoso Iniciando a conversa Percebendo o mundo Na aula desta semana, vamos abordar um dos sistemas mais relacionados ao processo ensino-aprendizagem: o sistema nervoso. Iniciaremos
Síndromes medulares. Amilton Antunes Barreira Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica FMRP - USP
 Síndromes medulares Amilton Antunes Barreira Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica FMRP - USP Transsecção completa da medula espinal *Interrupção dos tratos motores e sensitivos
Síndromes medulares Amilton Antunes Barreira Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica FMRP - USP Transsecção completa da medula espinal *Interrupção dos tratos motores e sensitivos
Coordenação Nervosa Cap. 10. Prof. Tatiana Outubro/ 2018
 Coordenação Nervosa Cap. 10 Prof. Tatiana Outubro/ 2018 Função Responsável pela comunicação entre diferentes partes do corpo e pela coordenação de atividades voluntárias ou involuntárias. Neurônios A célula
Coordenação Nervosa Cap. 10 Prof. Tatiana Outubro/ 2018 Função Responsável pela comunicação entre diferentes partes do corpo e pela coordenação de atividades voluntárias ou involuntárias. Neurônios A célula
SISTEMA NERVOSO neurônio dendrito, corpo celular, axônio e terminações do axônio sinapses
 SISTEMA NERVOSO SISTEMA NERVOSO Responsável pela maioria das funções de controle de um organismo, integrando todos os sistemas, coordenando e regulando as atividades corporais. Unidade funcional:neurônio.
SISTEMA NERVOSO SISTEMA NERVOSO Responsável pela maioria das funções de controle de um organismo, integrando todos os sistemas, coordenando e regulando as atividades corporais. Unidade funcional:neurônio.
Subdivide-se em: Sistema Nervoso Central (SNC) Encéfalo e medula espinal. Sistema Nervoso Periférico (SNP) Nervos e gânglios
 O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo
O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo
Sistema Nervoso Visceral
 Sistema Nervoso Visceral Divisão funcional do Sistema Nervoso Somático ( da vida de relação ) Visceral ( da vida vegetativa ) aferente eferente = divisão autônoma do sistema nervoso parte simpática parte
Sistema Nervoso Visceral Divisão funcional do Sistema Nervoso Somático ( da vida de relação ) Visceral ( da vida vegetativa ) aferente eferente = divisão autônoma do sistema nervoso parte simpática parte
CÉLULAS NERVOSAS NEURÔNIO. O tecido nervoso é constituído de dois tipos de células: neurônio e neuróglia (células da glia)
 CÉLULAS NERVOSAS O tecido nervoso é constituído de dois tipos de células: neurônio e neuróglia (células da glia) NEURÔNIO Corpo celular local onde estão presentes o núcleo, o citoplasma e estão fixados
CÉLULAS NERVOSAS O tecido nervoso é constituído de dois tipos de células: neurônio e neuróglia (células da glia) NEURÔNIO Corpo celular local onde estão presentes o núcleo, o citoplasma e estão fixados
Sensibilidade 1. Organização geral, receptores, padrões de inervação Vias ascendentes e córtex somatossensorial. Luiza da Silva Lopes
 Sensibilidade 1 Organização geral, receptores, padrões de inervação Vias ascendentes e córtex somatossensorial Luiza da Silva Lopes Sensibilidade As informações sensitivas sobre os meios interno e externo
Sensibilidade 1 Organização geral, receptores, padrões de inervação Vias ascendentes e córtex somatossensorial Luiza da Silva Lopes Sensibilidade As informações sensitivas sobre os meios interno e externo
Sistema Nervoso. Aula Programada Biologia
 Aula Programada Biologia Tema: 1) Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as
Aula Programada Biologia Tema: 1) Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as
Anatomia e Fisiologia Animal Sistema Nervoso
 O que é o sistema nervoso? Como é constituído? Quais são suas funções? Qual é a sua importância para o organismo? : Anatomia e Fisiologia Animal É uma rede de comunicações Capacitam animal a se ajustar
O que é o sistema nervoso? Como é constituído? Quais são suas funções? Qual é a sua importância para o organismo? : Anatomia e Fisiologia Animal É uma rede de comunicações Capacitam animal a se ajustar
Fisiologia do Sistema Nervoso. Cláudia Minazaki
 Fisiologia do Sistema Nervoso Cláudia Minazaki Conteúdo para estudar: 1. SNC e SNP 2. Classificação fisiológica: sistema nervoso somático e visceral (órgãos e estruturas de constituição e funções) 3. Organização
Fisiologia do Sistema Nervoso Cláudia Minazaki Conteúdo para estudar: 1. SNC e SNP 2. Classificação fisiológica: sistema nervoso somático e visceral (órgãos e estruturas de constituição e funções) 3. Organização
Sistema Nervoso Cap. 13. Prof. Tatiana Setembro / 2016
 Sistema Nervoso Cap. 13 Prof. Tatiana Setembro / 2016 Função Responsável pela comunicação entre diferentes partes do corpo e pela coordenação de atividades voluntárias ou involuntárias. Neurônios A célula
Sistema Nervoso Cap. 13 Prof. Tatiana Setembro / 2016 Função Responsável pela comunicação entre diferentes partes do corpo e pela coordenação de atividades voluntárias ou involuntárias. Neurônios A célula
Sistema Nervoso. BIOLOGIA YES, WE CAN! Prof. Thiago Moraes Lima
 BIOLOGIA YES, WE CAN! Prof. Thiago Moraes Lima 1) Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas,
BIOLOGIA YES, WE CAN! Prof. Thiago Moraes Lima 1) Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas,
CURSO DE IRIDOLOGIA APRESENTANDO SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO E PARASSIMPÁTICO. Prof. Dr. Oswaldo José Gola
 CURSO DE IRIDOLOGIA APRESENTANDO SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO E PARASSIMPÁTICO Prof. Dr. Oswaldo José Gola SISTEMA NERVOSO AUTONOMO - Sistema responsável pelo controle das funções viscerais como pressão arterial,
CURSO DE IRIDOLOGIA APRESENTANDO SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO E PARASSIMPÁTICO Prof. Dr. Oswaldo José Gola SISTEMA NERVOSO AUTONOMO - Sistema responsável pelo controle das funções viscerais como pressão arterial,
Sistemas Humanos. Sistema Nervoso
 Sistemas Humanos Prof. Leonardo F. Stahnke NEURÔNIOS: São células especializadas na condução de impulsos nervosos. Quanto a sua função podem ser classificados em: sensitivos, motores ou associativos. 1
Sistemas Humanos Prof. Leonardo F. Stahnke NEURÔNIOS: São células especializadas na condução de impulsos nervosos. Quanto a sua função podem ser classificados em: sensitivos, motores ou associativos. 1
Avaliação Urodinâmica
 Avaliação Urodinâmica Redigido por Dra. Miriam Dambros Objetivo: Possibilitar ao aluno o aprendizado dos conhecimentos básicos do estudo urodinâmico, dando condições ao mesmo de compreender e interpretar
Avaliação Urodinâmica Redigido por Dra. Miriam Dambros Objetivo: Possibilitar ao aluno o aprendizado dos conhecimentos básicos do estudo urodinâmico, dando condições ao mesmo de compreender e interpretar
Sistema nervoso - II. Professora: Roberta Paresque Anatomia Humana CEUNES - UFES
 Sistema nervoso - II Professora: Roberta Paresque Anatomia Humana CEUNES - UFES Nervo olfatório Nervo óptico Nervo oculomotor, troclear e abducente Nervo trigêmeo Nervo facial Nervo vestíbulo-coclear Nervo
Sistema nervoso - II Professora: Roberta Paresque Anatomia Humana CEUNES - UFES Nervo olfatório Nervo óptico Nervo oculomotor, troclear e abducente Nervo trigêmeo Nervo facial Nervo vestíbulo-coclear Nervo
ENSINO MÉDIO SISTEMA NERVOSO
 ENSINO MÉDIO SISTEMA NERVOSO O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes
ENSINO MÉDIO SISTEMA NERVOSO O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes
SISTEMA NERVOSO HUMANO
 SISTEMA NERVOSO Consiste de células que processam e transmitem a informação Células sensoriais: transduzem a informação proveniente do meio ambiente e do corpo e enviam comandos para os efetores,como os
SISTEMA NERVOSO Consiste de células que processam e transmitem a informação Células sensoriais: transduzem a informação proveniente do meio ambiente e do corpo e enviam comandos para os efetores,como os
Estrutura e Função dos Nervos Periféricos
 FACULDADE DE MEDICINA/UFC-SOBRAL MÓDULO SISTEMA NERVOSO NEUROANATOMIA FUNCIONAL Estrutura e Função dos Nervos Periféricos Prof. Gerardo Cristino Aula disponível em: www.gerardocristino.com.br Objetivos
FACULDADE DE MEDICINA/UFC-SOBRAL MÓDULO SISTEMA NERVOSO NEUROANATOMIA FUNCIONAL Estrutura e Função dos Nervos Periféricos Prof. Gerardo Cristino Aula disponível em: www.gerardocristino.com.br Objetivos
SISTEMA NERVOSO. Prof.ª Enf.ª Esp. Leticia Pedroso
 SISTEMA NERVOSO Prof.ª Enf.ª Esp. Leticia Pedroso SISTEMA NERVOSO Formado por células altamente especializadas, os neurônios transmitem mensagens elétricas interligando os centros nervosos aos órgãos-
SISTEMA NERVOSO Prof.ª Enf.ª Esp. Leticia Pedroso SISTEMA NERVOSO Formado por células altamente especializadas, os neurônios transmitem mensagens elétricas interligando os centros nervosos aos órgãos-
Prof. Rodrigo Freitas
 Sistema Nervoso Autônomo Prof. Rodrigo Freitas rodrigo_rfmb@yahoo.com.br DIVISÃO DO SISTEMA NERVOSO COM BASE EM CRITÉRIOS FUNCIONAIS 1 Sistema Nervoso Somático - Aferente Exterocepção está relacionado
Sistema Nervoso Autônomo Prof. Rodrigo Freitas rodrigo_rfmb@yahoo.com.br DIVISÃO DO SISTEMA NERVOSO COM BASE EM CRITÉRIOS FUNCIONAIS 1 Sistema Nervoso Somático - Aferente Exterocepção está relacionado
Fonte: Anatomia Humana 5 edição: Johannes W. Rohen
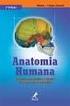 Prof. Bruno Pires MORFOLOGIA Divisões: Sistema Nervoso Central: formado por encéfalo e medula espinhal Encéfalo: Massa de tecido nervoso presente na região do crânio. Composta por tronco encefálico, cérebro
Prof. Bruno Pires MORFOLOGIA Divisões: Sistema Nervoso Central: formado por encéfalo e medula espinhal Encéfalo: Massa de tecido nervoso presente na região do crânio. Composta por tronco encefálico, cérebro
U N I T XI. Chapter 60: SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO. Organização do Sistema Nervoso Autônomo. Organização do sistema nervoso autônomo
 U N I T XI Textbook of Medical Physiology, 11th edition Chapter 60: SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO Slides by David J. Dzielak, Ph.D. GUYTON & HALL Organização do Sistema Nervoso Autônomo Sistema motor dos órgãos
U N I T XI Textbook of Medical Physiology, 11th edition Chapter 60: SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO Slides by David J. Dzielak, Ph.D. GUYTON & HALL Organização do Sistema Nervoso Autônomo Sistema motor dos órgãos
URODINÂMICA Proteus Prof. Dra. Ana Paula Bogdan Disciplina de Urologia Faculdade de Medicina de SJRP FUNFARME
 URODINÂMICA Proteus 2016 Prof. Dra. Ana Paula Bogdan Disciplina de Urologia Faculdade de Medicina de SJRP FUNFARME Good urodynamic practices: uroflowmetry, filling cystometry, and pressure-flow studies.
URODINÂMICA Proteus 2016 Prof. Dra. Ana Paula Bogdan Disciplina de Urologia Faculdade de Medicina de SJRP FUNFARME Good urodynamic practices: uroflowmetry, filling cystometry, and pressure-flow studies.
Sistema Límbico. Prof. Gerardo Cristino. Aula disponível em:
 FACULDADE DE MEDICINA/UFC-SOBRAL MÓDULO SISTEMA NERVOSO NEUROANATOMIA FUNCIONAL Sistema Límbico Prof. Gerardo Cristino Aula disponível em: www.gerardocristino.com.br Objetivos de Aprendizagem Sistema Límbico
FACULDADE DE MEDICINA/UFC-SOBRAL MÓDULO SISTEMA NERVOSO NEUROANATOMIA FUNCIONAL Sistema Límbico Prof. Gerardo Cristino Aula disponível em: www.gerardocristino.com.br Objetivos de Aprendizagem Sistema Límbico
Sistema Nervoso Somático ou voluntário
 Sistema Nervoso periférico Divisão e organização Constituintes Função Prof. A.Carlos Centro de Imagens e Física Médica - FMRP Aferente Nervos, raízes e gânglios da raiz dorsal SNP Somático Sistema nervoso
Sistema Nervoso periférico Divisão e organização Constituintes Função Prof. A.Carlos Centro de Imagens e Física Médica - FMRP Aferente Nervos, raízes e gânglios da raiz dorsal SNP Somático Sistema nervoso
Anatomia e Fisiologia Sistema Nervoso Profª Andrelisa V. Parra
 Tecido nervoso Principal tecido do sistema nervoso Anatomia e Fisiologia Sistema Nervoso Profª Andrelisa V. Parra Tipos celulares: - Neurônios condução de impulsos nervosos - Células da Glia manutenção
Tecido nervoso Principal tecido do sistema nervoso Anatomia e Fisiologia Sistema Nervoso Profª Andrelisa V. Parra Tipos celulares: - Neurônios condução de impulsos nervosos - Células da Glia manutenção
SISTEMA NERVOSO. Prof. Fernando Belan - BIOLOGIA MAIS
 SISTEMA NERVOSO Prof. Fernando Belan - BIOLOGIA MAIS SISTEMA NERVOSO encéfalo Sistema nervoso central (SNC) medula espinal nervos Sistema nervoso periférico (SNP) gânglios SISTEMA NERVOSO TECIDO NERVOSO
SISTEMA NERVOSO Prof. Fernando Belan - BIOLOGIA MAIS SISTEMA NERVOSO encéfalo Sistema nervoso central (SNC) medula espinal nervos Sistema nervoso periférico (SNP) gânglios SISTEMA NERVOSO TECIDO NERVOSO
SISTEMA NEURO-HORMONAL. Ciências Naturais 9º ano Prof. Ana Mafalda Torres
 SISTEMA NEURO-HORMONAL 1 Ciências Naturais 9º ano Prof. Ana Mafalda Torres CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA NEURO-HORMONAL O sistema neuro-hormonal é formado pelo sistema nervoso e pelo sistema hormonal. 2 SISTEMA
SISTEMA NEURO-HORMONAL 1 Ciências Naturais 9º ano Prof. Ana Mafalda Torres CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA NEURO-HORMONAL O sistema neuro-hormonal é formado pelo sistema nervoso e pelo sistema hormonal. 2 SISTEMA
Síndrome caracterizada por: Urgência miccional (principal sintoma) COM ou SEM incontinência, Também associada a: Polaciúria. Noctúria......
 27/06/16 Síndrome caracterizada por: Urgência miccional (principal sintoma) COM ou SEM incontinência, Também associada a: Polaciúria. Noctúria...... na ausência de causa infecciosa ou outra doença que
27/06/16 Síndrome caracterizada por: Urgência miccional (principal sintoma) COM ou SEM incontinência, Também associada a: Polaciúria. Noctúria...... na ausência de causa infecciosa ou outra doença que
BIOLOGIA. Identidade do Seres Vivos. Sistema Nervoso Humano Parte 1. Prof. ª Daniele Duó
 BIOLOGIA Identidade do Seres Vivos Parte 1 Prof. ª Daniele Duó O sistema nervoso é o mais complexo e diferenciado do organismo, sendo o primeiro a se diferenciar embriologicamente e o último a completar
BIOLOGIA Identidade do Seres Vivos Parte 1 Prof. ª Daniele Duó O sistema nervoso é o mais complexo e diferenciado do organismo, sendo o primeiro a se diferenciar embriologicamente e o último a completar
BIOLOGIA IV - Cap. 25 Profa. Marcela Matteuzzo. Sistema Nervoso
 Sistema Nervoso Dispões de mensagens elétricas que caminham por nervos; Coordena diversas funções do organismo; Reação rápida aos estímulos; Equilíbrio e movimento. Sistema Nervoso Central - SNC Medula
Sistema Nervoso Dispões de mensagens elétricas que caminham por nervos; Coordena diversas funções do organismo; Reação rápida aos estímulos; Equilíbrio e movimento. Sistema Nervoso Central - SNC Medula
Drogas que atuam no Sistema Nervoso Autônomo. Astria Dias Ferrão Gonzales 2017
 Drogas que atuam no Sistema Nervoso Autônomo Astria Dias Ferrão Gonzales 2017 SNC Todos os estímulos do nosso ambiente causam, nos seres humanos, sensações como dor e calor. Todos os sentimentos, pensamentos,
Drogas que atuam no Sistema Nervoso Autônomo Astria Dias Ferrão Gonzales 2017 SNC Todos os estímulos do nosso ambiente causam, nos seres humanos, sensações como dor e calor. Todos os sentimentos, pensamentos,
Fisiologia do Sistema Motor Somático
 Fisiologia do Sistema Motor Somático Controle Motor Efetores executam o trabalho (músculos); Ordenadores transmitem aos efetores o comando para a ação (ME, TE e CC); Controladores garantem a execução adequada
Fisiologia do Sistema Motor Somático Controle Motor Efetores executam o trabalho (músculos); Ordenadores transmitem aos efetores o comando para a ação (ME, TE e CC); Controladores garantem a execução adequada
Sistema Nervoso Autônomo. Homeostasia. Sistema Nervoso Autônomo SNA X MOTOR SOMÁTICO. Sistema Nervoso Autônomo 04/10/2011. Julliana Catharina
 Universidade Federal do Ceará Departamento de Fisiologia e Farmacologia Disciplina: Fisiologia Humana Você levanta subitamente de manhã, acordado pelo despertador. Sua cabeça que estava no mesmo nível
Universidade Federal do Ceará Departamento de Fisiologia e Farmacologia Disciplina: Fisiologia Humana Você levanta subitamente de manhã, acordado pelo despertador. Sua cabeça que estava no mesmo nível
PSICOLOGIA. Sistema Nervoso
 CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS PSICOLOGIA Neuroanatomia Sistema Nervoso Foz do Iguaçu, outubro de 2017 É um conjunto de órgãos responsáveis pela coordenação e integração dos demais sistemas
CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS PSICOLOGIA Neuroanatomia Sistema Nervoso Foz do Iguaçu, outubro de 2017 É um conjunto de órgãos responsáveis pela coordenação e integração dos demais sistemas
Controla funções orgânicas e é responsável pela interação do animal com o meio ambiente.
 Sistema Nervoso Controla funções orgânicas e é responsável pela interação do animal com o meio ambiente. Muitas funções dependem da vontade e muitas são inconscientes. Divisão Sistema Nervoso Central constituído
Sistema Nervoso Controla funções orgânicas e é responsável pela interação do animal com o meio ambiente. Muitas funções dependem da vontade e muitas são inconscientes. Divisão Sistema Nervoso Central constituído
Aula 20 Sistema nervoso
 Aula 20 Sistema nervoso O sistema nervoso coordena o funcionamento dos diversos sistemas dos animais; permite reações dos animais quando são estimulados pelo meio ambiente. Ele integra todas as partes
Aula 20 Sistema nervoso O sistema nervoso coordena o funcionamento dos diversos sistemas dos animais; permite reações dos animais quando são estimulados pelo meio ambiente. Ele integra todas as partes
MEDULA ESPINAL. Profa. Dra. Tatiane Rondini MEDULA ESPINAL
 Profa. Dra. Tatiane Rondini Medula significa miolo. Estrutura cilíndrica de tecido nervoso, ligeiramente achatada no sentido ântero-posterior. Dilatada em duas regiões (intumescências cervical e lombar)
Profa. Dra. Tatiane Rondini Medula significa miolo. Estrutura cilíndrica de tecido nervoso, ligeiramente achatada no sentido ântero-posterior. Dilatada em duas regiões (intumescências cervical e lombar)
TÁLAMO E HIPOTÁLAMO TÁLAMO 04/11/2010. Características Gerais
 TÁLAMO E HIPOTÁLAMO Características Gerais TÁLAMO - localizado no diencéfalo, acima do sulco hipotalâmico - constituído de 2 grandes massas ovóides de tecido nervoso: tubérculo anterior do tálamo e pulvinar
TÁLAMO E HIPOTÁLAMO Características Gerais TÁLAMO - localizado no diencéfalo, acima do sulco hipotalâmico - constituído de 2 grandes massas ovóides de tecido nervoso: tubérculo anterior do tálamo e pulvinar
Neuroanatomia. UBM 4 Anatomia Dentária 15 de Dezembro de 2009 Octávio Ribeiro
 Neuroanatomia UBM 4 Anatomia Dentária 15 de Dezembro de 2009 Octávio Ribeiro UBM 4 Anatomia Dentária ANATOMIA E FUNÇÃO DO SISTEMA NEUROMUSCULAR Músculos unidade motora Músculos unidade motora O componente
Neuroanatomia UBM 4 Anatomia Dentária 15 de Dezembro de 2009 Octávio Ribeiro UBM 4 Anatomia Dentária ANATOMIA E FUNÇÃO DO SISTEMA NEUROMUSCULAR Músculos unidade motora Músculos unidade motora O componente
ANATOMIA MACROSCÓPICA DA MEDULA ESPINHAL
 ANATOMIA MACROSCÓPICA DA MEDULA ESPINHAL I. Generalidades A Medula Espinhal (ME) e seus nervos associados têm imensa importância funcional. Essas estruturas atuam para: Receber fibras aferentes, oriunda
ANATOMIA MACROSCÓPICA DA MEDULA ESPINHAL I. Generalidades A Medula Espinhal (ME) e seus nervos associados têm imensa importância funcional. Essas estruturas atuam para: Receber fibras aferentes, oriunda
Sistema Nervoso. Prof. TOSCANO. Biologia. Tema: SISTEMA NERVOSO
 Prof. TOSCANO Biologia Tema: SISTEMA NERVOSO TECIDO NERVOSO PRINCIPAL TECIDO do sistema nervoso Tipos celulares: - NEURÔNIOS condução de impulsos nervosos - CÉLULAS DA GLIA manutenção dos neurônios NEURÔNIOS
Prof. TOSCANO Biologia Tema: SISTEMA NERVOSO TECIDO NERVOSO PRINCIPAL TECIDO do sistema nervoso Tipos celulares: - NEURÔNIOS condução de impulsos nervosos - CÉLULAS DA GLIA manutenção dos neurônios NEURÔNIOS
Neurofisiologia do Movimento. Dr. Fábio Agertt
 Neurofisiologia do Movimento Dr. Fábio Agertt Córtex Motor Planejamento, iniciação, direcionamento do movimento Núcleos da base Ajuste da iniciação Centros do tronco cerebral Movimentos básicos e controle
Neurofisiologia do Movimento Dr. Fábio Agertt Córtex Motor Planejamento, iniciação, direcionamento do movimento Núcleos da base Ajuste da iniciação Centros do tronco cerebral Movimentos básicos e controle
CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS
 CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS Psicologia SISTEMA NERVOSO Profa. Dra. Ana Lúcia Billig Foz do Iguaçu, setembro de 2017 O SNP, junto com SNC, são responsáveis por comandar nosso corpo. O que
CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS Psicologia SISTEMA NERVOSO Profa. Dra. Ana Lúcia Billig Foz do Iguaçu, setembro de 2017 O SNP, junto com SNC, são responsáveis por comandar nosso corpo. O que
Módulo: Neuroanatomofisiologia da Deglutição e da Comunicação Verbal Conteúdo: Tronco Encefálico
 Módulo: Neuroanatomofisiologia da Deglutição e da Comunicação Verbal Conteúdo: Tronco Encefálico M.Sc. Prof.ª Viviane Marques Fonoaudióloga, Neurofisiologista e Mestre em Fonoaudiologia Coordenadora da
Módulo: Neuroanatomofisiologia da Deglutição e da Comunicação Verbal Conteúdo: Tronco Encefálico M.Sc. Prof.ª Viviane Marques Fonoaudióloga, Neurofisiologista e Mestre em Fonoaudiologia Coordenadora da
SISTEMA CARDIOVASCULAR II
 SISTEMA CARDIOVASCULAR II PRESSÃO ARTERIAL Pressão arterial na circulação sistêmica Pressão Arterial PA = DC x RPT Vs x Freq. Fluxo Pressão Resistência Medida da pressão arterial Medida indireta Ritmo
SISTEMA CARDIOVASCULAR II PRESSÃO ARTERIAL Pressão arterial na circulação sistêmica Pressão Arterial PA = DC x RPT Vs x Freq. Fluxo Pressão Resistência Medida da pressão arterial Medida indireta Ritmo
SISTEMA NERVOSO. BIOLOGIA keffn Arantes
 SISTEMA NERVOSO BIOLOGIA keffn Arantes Conceito: O sistema nervoso representa uma rede de comunicações do organismo. Funções: centralizar as informações e definir as respostas que daremos a elas; captar
SISTEMA NERVOSO BIOLOGIA keffn Arantes Conceito: O sistema nervoso representa uma rede de comunicações do organismo. Funções: centralizar as informações e definir as respostas que daremos a elas; captar
SISTEMA EPICRÍTICO X SISTEMA PROTOPÁTICO CARACTERÍSTICAS GERAIS
 SISTEMA EPICRÍTICO X SISTEMA PROTOPÁTICO CARACTERÍSTICAS GERAIS Características Sistema epicrítico Sistema protopático Submodalidades Tato fino, propriocepção consciente Tato grosseiro, termossensibilidade,
SISTEMA EPICRÍTICO X SISTEMA PROTOPÁTICO CARACTERÍSTICAS GERAIS Características Sistema epicrítico Sistema protopático Submodalidades Tato fino, propriocepção consciente Tato grosseiro, termossensibilidade,
CONTROLE MOTOR: DA ATIVIDADE REFLEXA AOS MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS I - TRONCO CEREBRAL -
 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOLOGIA HUMANA TURMA 11-2014 CONTROLE MOTOR: DA ATIVIDADE REFLEXA AOS MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS I - TRONCO CEREBRAL - PROFª DRª VILMA G. 2. NÍVEL DE CONTROLE INTERMEDIÁRIO O
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOLOGIA HUMANA TURMA 11-2014 CONTROLE MOTOR: DA ATIVIDADE REFLEXA AOS MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS I - TRONCO CEREBRAL - PROFª DRª VILMA G. 2. NÍVEL DE CONTROLE INTERMEDIÁRIO O
07/03/2018. Tronco Encefálico. M.Sc. Profª Viviane Marques. Profª Viviane Marques. Profª Viviane Marques. Telencéfalo. Diencéfalo
 Tronco Encefálico M.Sc. Telencéfalo Diencéfalo M P B 1 O Tronco Encefálico limita-se superiormente com o diencéfalo e inferiormente com a medula. M P B Na constituição do T.E. estão corpos de neurônios,
Tronco Encefálico M.Sc. Telencéfalo Diencéfalo M P B 1 O Tronco Encefálico limita-se superiormente com o diencéfalo e inferiormente com a medula. M P B Na constituição do T.E. estão corpos de neurônios,
Sistema Renal. Profa Msc Melissa Kayser
 Sistema Renal Profa Msc Melissa Kayser Componentes anatômicos Rins Ureteres Bexiga urinária Uretra O sangue é filtrado nos rins, onde os resíduos são coletados em forma de urina, que flui para pelve renal,
Sistema Renal Profa Msc Melissa Kayser Componentes anatômicos Rins Ureteres Bexiga urinária Uretra O sangue é filtrado nos rins, onde os resíduos são coletados em forma de urina, que flui para pelve renal,
Sistema Nervoso Central - SNC Sistema Nervoso Central Quem é o nosso SNC?
 Sistema Nervoso Central - SNC Sistema Nervoso Central Quem é o nosso SNC? 1 Divisão funcional do SN SNC Encéfalo Medula espinhal 2 Composição do sistema nervoso central HEMISFÉRIOS CEREBRAIS O Encéfalo
Sistema Nervoso Central - SNC Sistema Nervoso Central Quem é o nosso SNC? 1 Divisão funcional do SN SNC Encéfalo Medula espinhal 2 Composição do sistema nervoso central HEMISFÉRIOS CEREBRAIS O Encéfalo
VIAS CENTRAIS ASSOCIADAS AO TRIGÊMEO
 VIAS CENTRAIS ASSOCIADAS AO TRIGÊMEO Dr. Peter Reher, CD, CD, MSc, PhD PhD Especialista e Mestre em CTBMF - UFPel-RS Doutor (PhD) em CTBMF - University of London Professor Adjunto da UFMG VIAS CENTRAIS
VIAS CENTRAIS ASSOCIADAS AO TRIGÊMEO Dr. Peter Reher, CD, CD, MSc, PhD PhD Especialista e Mestre em CTBMF - UFPel-RS Doutor (PhD) em CTBMF - University of London Professor Adjunto da UFMG VIAS CENTRAIS
SISTEMA NERVOSO NOS INVERTEBRADOS
 COORDENAÇÃO NERVOSA GARANTE A CORRESPONDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS DIVERSOS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM AS ATIVIDADES ORGÂNICAS E ESTABELECE UM ADEQUADO RELACIONAMENTO DO ORGANISMO E O MEIO AMBIENTE. SISTEMA
COORDENAÇÃO NERVOSA GARANTE A CORRESPONDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS DIVERSOS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM AS ATIVIDADES ORGÂNICAS E ESTABELECE UM ADEQUADO RELACIONAMENTO DO ORGANISMO E O MEIO AMBIENTE. SISTEMA
Divisão anatômica 15/09/2014. Sistema Nervoso. Sistema Nervoso Função. Sistema Nervoso Estrutura. Cérebro Cerebelo Tronco encefálico ENCÉFALO
 Função o sistema nervoso é responsável pelo controle do ambiente interno e seu relacionamento com o ambiente externo (função sensorial), pela programação dos reflexos na medula espinhal, pela assimilação
Função o sistema nervoso é responsável pelo controle do ambiente interno e seu relacionamento com o ambiente externo (função sensorial), pela programação dos reflexos na medula espinhal, pela assimilação
RCG0212 Estrutura e Função do Sistema Nervoso FMRP - USP
 RCG0212 Estrutura e Função do Sistema Nervoso FMRP - USP Disciplinas do 3 º Semestre: RCG0212 Estrutura e Função do Sistema Nervoso RCG0214 Fisiologia I Depto. Anatomia Depto. Fisiologia RCG0243 Imunologia
RCG0212 Estrutura e Função do Sistema Nervoso FMRP - USP Disciplinas do 3 º Semestre: RCG0212 Estrutura e Função do Sistema Nervoso RCG0214 Fisiologia I Depto. Anatomia Depto. Fisiologia RCG0243 Imunologia
Se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. (Madre Teresa de Calcutá)
 ESPECIALIZAÇÃO TURMA 11-2014 Se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. (Madre Teresa de Calcutá) Prof Vilma Godoi CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOLOGIA HUMANA TURMA 11-2014 CONTROLE MOTOR: DA
ESPECIALIZAÇÃO TURMA 11-2014 Se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. (Madre Teresa de Calcutá) Prof Vilma Godoi CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOLOGIA HUMANA TURMA 11-2014 CONTROLE MOTOR: DA
O surgimento do sistema nervoso está associado ao aumento da complexidade e do tamanho dos animais.
 INTRODUÇÃO O surgimento do sistema nervoso está associado ao aumento da complexidade e do tamanho dos animais. Atua na coordenação das múltiplas atividades do organismo, na integração das diversas partes
INTRODUÇÃO O surgimento do sistema nervoso está associado ao aumento da complexidade e do tamanho dos animais. Atua na coordenação das múltiplas atividades do organismo, na integração das diversas partes
Noções Básicas de Neuroanatomia
 Noções Básicas de Neuroanatomia OBJETIVO: Apresentar o Sistema Nervoso (SN) e suas possíveis divisões didáticas. O SN é um todo. Sua divisão em partes tem um significado exclusivamente didático, pois várias
Noções Básicas de Neuroanatomia OBJETIVO: Apresentar o Sistema Nervoso (SN) e suas possíveis divisões didáticas. O SN é um todo. Sua divisão em partes tem um significado exclusivamente didático, pois várias
O encéfalo é o centro da razão e da inteligência: cognição, percepção, atenção, memória e emoção. Também é responsável pelo.
 Sistemanervoso O encéfalo é o centro da razão e da inteligência: cognição, percepção, atenção, memória e emoção Também é responsável pelo controle da postura e movimentos Permite o aprendizado cognitivo,
Sistemanervoso O encéfalo é o centro da razão e da inteligência: cognição, percepção, atenção, memória e emoção Também é responsável pelo controle da postura e movimentos Permite o aprendizado cognitivo,
REABILITAÇÃO FÍSICA EM LESÃO MEDULAR TRAUMÁTICA NA FASE AGUDA
 90 REABILITAÇÃO FÍSICA EM LESÃO MEDULAR TRAUMÁTICA NA FASE AGUDA Cristiana Gomes da Silva Orientação: Fisioterapeuta Serginaldo José dos Santos Orientação Metodológica: Prof. Ms. Heitor Romero Marques
90 REABILITAÇÃO FÍSICA EM LESÃO MEDULAR TRAUMÁTICA NA FASE AGUDA Cristiana Gomes da Silva Orientação: Fisioterapeuta Serginaldo José dos Santos Orientação Metodológica: Prof. Ms. Heitor Romero Marques
ENFERMAGEM ANATOMIA. SISTEMA NERVOSO Aula 2. Profª. Tatiane da Silva Campos
 ENFERMAGEM ANATOMIA SISTEMA NERVOSO Aula 2 Profª. Tatiane da Silva Campos O liquor forma-se a partir do sangue, nos plexos corioides localizados nos ventrículos. O plexo corioide é uma estrutura vascular,
ENFERMAGEM ANATOMIA SISTEMA NERVOSO Aula 2 Profª. Tatiane da Silva Campos O liquor forma-se a partir do sangue, nos plexos corioides localizados nos ventrículos. O plexo corioide é uma estrutura vascular,
Neurofisiologia. Profa. Dra. Eliane Comoli Depto de Fisiologia da FMRP
 Neurofisiologia Profa. Dra. Eliane Comoli Depto de Fisiologia da FMRP ROTEIRO DE AULA TEÓRICA: SENSIBILIDADE SOMÁTICA 1. Codificação da informação sensorial: a. transdução, modalidade sensorial, receptores
Neurofisiologia Profa. Dra. Eliane Comoli Depto de Fisiologia da FMRP ROTEIRO DE AULA TEÓRICA: SENSIBILIDADE SOMÁTICA 1. Codificação da informação sensorial: a. transdução, modalidade sensorial, receptores
Sistema neuro-hormonal
 Unidade 4 Sistema neuro-hormonal 9.º ano O que é o sistema neuro-hormonal? + Sistema nervoso Sistema hormonal 9.º ano O Sistema Nervoso- que função Ver Pensar Sentir emoções Comunicar Executar movimentos
Unidade 4 Sistema neuro-hormonal 9.º ano O que é o sistema neuro-hormonal? + Sistema nervoso Sistema hormonal 9.º ano O Sistema Nervoso- que função Ver Pensar Sentir emoções Comunicar Executar movimentos
SEU VALOR NO DIAGNÓSTICO DE AFECÇÕES NEUROLÓGICAS
 CISTOMETRIA. SEU VALOR NO DIAGNÓSTICO DE AFECÇÕES NEUROLÓGICAS JOSÉ ANTONIO LEVY * Embora constitua elemento de real importância para o diagnóstico topográfico de afecções do sistema nervoso, o estudo
CISTOMETRIA. SEU VALOR NO DIAGNÓSTICO DE AFECÇÕES NEUROLÓGICAS JOSÉ ANTONIO LEVY * Embora constitua elemento de real importância para o diagnóstico topográfico de afecções do sistema nervoso, o estudo
SISTEMA NERVOSO PARTE II
 SISTEMA NERVOSO PARTE II 2014 Meninges è Dura-Máter è Aracnóide Máter è Pia Máter Paquimeninge ] Leptomeninge Aracnóide máter Aracnóide máter Meninges Aracnóide máter Meninges è Espaços Epidural (canal
SISTEMA NERVOSO PARTE II 2014 Meninges è Dura-Máter è Aracnóide Máter è Pia Máter Paquimeninge ] Leptomeninge Aracnóide máter Aracnóide máter Meninges Aracnóide máter Meninges è Espaços Epidural (canal
CONTROLE MOTOR: DA ATIVIDADE REFLEXA AOS MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS II - CEREBELO e NÚCLEOS BASAIS -
 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOLOGIA HUMANA TURMA 11-2014 CONTROLE MOTOR: DA ATIVIDADE REFLEXA AOS MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS II - CEREBELO e NÚCLEOS BASAIS - PROFª DRª VILMA G. Controle do Movimento: Geradores:
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOLOGIA HUMANA TURMA 11-2014 CONTROLE MOTOR: DA ATIVIDADE REFLEXA AOS MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS II - CEREBELO e NÚCLEOS BASAIS - PROFª DRª VILMA G. Controle do Movimento: Geradores:
MAPAS SOMATOTÓPICOS NOS DIFERENTES NÍVEIS SOMESTÉSICOS HOMÚNCULO SOMATOTÓPICO. Tato- muito preciso Dor- pouco preciso
 MAPAS SOMATOTÓPICOS NOS DIFERENTES NÍVEIS SOMESTÉSICOS HOMÚNCULO SOMATOTÓPICO Tato- muito preciso Dor- pouco preciso MAPAS SOMATOTÓPICOS EM OUTROS ANIMAIS COELHO GATO MACACO Porém os mapas são dinâmicos!
MAPAS SOMATOTÓPICOS NOS DIFERENTES NÍVEIS SOMESTÉSICOS HOMÚNCULO SOMATOTÓPICO Tato- muito preciso Dor- pouco preciso MAPAS SOMATOTÓPICOS EM OUTROS ANIMAIS COELHO GATO MACACO Porém os mapas são dinâmicos!
Generalidades e Classificação do Sistema Nervoso
 FACULDADE DE MEDICINA/UFC-SOBRAL MÓDULO SISTEMA NERVOSO NEUROANATOMIA FUNCIONAL Generalidades e Classificação do Sistema Nervoso Prof. Gerardo Cristino Aula disponível em: www.gerardocristino.com.br Sistema
FACULDADE DE MEDICINA/UFC-SOBRAL MÓDULO SISTEMA NERVOSO NEUROANATOMIA FUNCIONAL Generalidades e Classificação do Sistema Nervoso Prof. Gerardo Cristino Aula disponível em: www.gerardocristino.com.br Sistema
CURSO INCONTINÊNCIA URINÁRIA 25 MAIO 2013 COIMBRA
 CURSO INCONTINÊNCIA URINÁRIA 25 MAIO 2013 COIMBRA Urodinâmica Paulo Temido CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA E.P.E. SERVIÇO DE UROLOGIA Director: Prof. Dr Alfredo Mota. Classificação fisiopatológica
CURSO INCONTINÊNCIA URINÁRIA 25 MAIO 2013 COIMBRA Urodinâmica Paulo Temido CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA E.P.E. SERVIÇO DE UROLOGIA Director: Prof. Dr Alfredo Mota. Classificação fisiopatológica
I Data: 24/05/05. II Grupo de Estudo: III Tema: IV Especialidade(s) envolvida(s):
 Parecer do Grupo Técnico de Auditoria em Saúde 016/05 Tema: Ultra-sonografia dinâmica de vias urinárias I Data: 24/05/05 II Grupo de Estudo: Silvana Márcia Bruschi Kelles Lélia Maria de Almeida Carvalho
Parecer do Grupo Técnico de Auditoria em Saúde 016/05 Tema: Ultra-sonografia dinâmica de vias urinárias I Data: 24/05/05 II Grupo de Estudo: Silvana Márcia Bruschi Kelles Lélia Maria de Almeida Carvalho
Sistema Nervoso Periférico. Anatomofisiologia do Sistema Nervoso Central. Sistema Nervoso Central. Medula espinhal.
 Sistema Nervoso Periférico Anatomofisiologia do Sistema Nervoso Central Profa Geanne Matos Cunha Departamento de Fisiologia e Farmacologia Interface entre o SNC e o ambiente Receptores sensoriais Neurônios
Sistema Nervoso Periférico Anatomofisiologia do Sistema Nervoso Central Profa Geanne Matos Cunha Departamento de Fisiologia e Farmacologia Interface entre o SNC e o ambiente Receptores sensoriais Neurônios
Fisiologia animal Regulação sistêmica
 Percepção sensorial Fisiologia animal Regulação sistêmica 1 Estímulo interno ou externo; Receptores - células sensoriais - órgãos sensoriais; olhos, orelhas, nariz, língua, pele, entre outros. Receptores
Percepção sensorial Fisiologia animal Regulação sistêmica 1 Estímulo interno ou externo; Receptores - células sensoriais - órgãos sensoriais; olhos, orelhas, nariz, língua, pele, entre outros. Receptores
CONTROLE MOTOR: DA ATIVIDADE REFLEXA AOS MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS I - MEDULA ESPINAL -
 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOLOGIA HUMANA TURMA 11-2014 CONTROLE MOTOR: DA ATIVIDADE REFLEXA AOS MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS I - MEDULA ESPINAL - PROFª DRª VILMA G. 1. NÍVEL DE CONTROLE LOCAL A MEDULA ESPINAL:
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOLOGIA HUMANA TURMA 11-2014 CONTROLE MOTOR: DA ATIVIDADE REFLEXA AOS MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS I - MEDULA ESPINAL - PROFª DRª VILMA G. 1. NÍVEL DE CONTROLE LOCAL A MEDULA ESPINAL:
Sistema Nervoso. 1) Introdução
 1) Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do
1) Introdução O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do
Sistema Nervoso Cefalorraquidiano
 Sistema Nervoso Cefalorraquidiano Também denominado cérebro espinhal, é formado por neurônios e pelas neuróglias (células glias). O neurônio tem cor cinzenta, é formado pelo corpo celular (forma estrelada),
Sistema Nervoso Cefalorraquidiano Também denominado cérebro espinhal, é formado por neurônios e pelas neuróglias (células glias). O neurônio tem cor cinzenta, é formado pelo corpo celular (forma estrelada),
